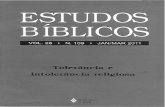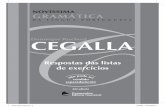D. Domingos do Loreto Couto e a construção de modelos de santidade feminina na época colonial
Transcript of D. Domingos do Loreto Couto e a construção de modelos de santidade feminina na época colonial
Revista do Mestrado em História da Universidade Severino Sombra
Reitor da USSProf. José Antônio da Silva
Vice-reitor da USSProfa. Therezinha Coelho de Souza
Coordenadora do Programa de Mestrado em HistóriaCláudia Regina Andrade dos Santos
Editores ResponsáveisEduardo Vieira da Cruz e Rosangela de Oliveira Dias
Conselho Editorial Ana DietrichAna Maria Moura Cláudia SantosCláudio MonteiroEduardo ScheidtEduardo Vieira da CruzFábio LopesFernando Silva Gisele SanglardJosé Jorge SiqueiraNancy CardosoRosangela DiasWilliam Martins
Conselho ConsultivoCristina Maria Teixeira Martinho, Eulália L. Lobo Francisco Carlos Teixeira da Silva João José Reis José Flávio Sombra Manolo Florentino Maria Gabriela Dávila Maria Lígia Coelho Prado Sílvia Petersen
Preparação de originaisÉdio Pullig
Revisão Rosangela Dias e Sérgio do Val
DiagramaçãoDébora Souza
Capa Clara Silva e Débora Souza
CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
R349 Revista do Mestrado de História / da Universidade Severino Sombra. - V. 1, n.1- . - Vassouras, RJ : Universidade Severino Sombra, 1998-. Anual : il. Descrição baseada em: V.11, n. 1/2 (2009) Inclui bibliografia ISSN 1415-92011. História - Periódicos. 2. Universidade Severino Sombra - Periódicos. I. Universidade Severino Sombra. 10-1031. CDD: 900
CDU: 93/9409.03.10 16.03.10 017986
Apresentação do Número 1
É com satisfação que apresento a Revista do Mestrado de História da USS, volume 11, número 1. Mais uma vez, contamos com textos de qualidade e de novos historiadores, o que demonstra a vitalidade e a renovação da produção historiográfica brasileira. O primeiro artigo da revista é Historiografia e pós-modernidade, de José d´Assunção Barros, professor de Teoria da História da UFRRJ. Nesse texto, Assunção discute a pós-modernidade na história. “Quais são as principais características da historiografia pós-moderna e que historiadores podemos trazer como exemplos possíveis de se enquadrarem nessa categoria?”, pergunta o professor, que busca as respostas entre pesquisadores e pensadores contemporâneos.
Ainda sobre historiografia, segue-se o texto Arte e imagem na Idade Média: um debate historiográfico, de duas mestrandas em História Antiga da UFRJ, Cinthia Rocha e Rachel Amaro. As autoras se voltam para o debate sobre o conceito da arte no medievo. Seria “lícito utilizarmos esse termo para o período? Haveria, de fato, uma arte medieval?” O texto nos mostra que tais questões “têm sido debatidas pela historiografia ao longo de séculos e as respostas encontradas variam enormemente”.
Terminamos esta primeira parte com o artigo de Fernanda Fioravante, também doutoranda em História pela UFRJ, Rendas da Câmara e formas de enriquecimento em uma sociedade em formação – Vila Rica, 1711-1736. Através de pesquisa exaustiva e minuciosa, Fernanda trata de questão problemática em nossa sociedade: a atuação dos homens públicos. Através da análise dos dados da arrecadação da Câmara de Vila Rica no início do século XVIII, a autora nos mostra os “meios de enriquecimento dos oficiais camarários, assim como a influência dos ganhos no órgão municipal na conformação de suas fortunas”.
A segunda parte da revista apresenta o dossiê História e Religiosidade. Atualmente, vários são os historiadores que, ligados à História do Cotidiano, da Vida Privada e/ou da História Cultural, utilizam a manifestação religiosa como fonte para suas análises e reflexões. O primeiro texto do dossiê, A relação entre Caridade e Conhecimento na vida de Juliana do Monte Cornillon (1258), da professora de História Medieval da UERJ Ana Paula Lopes Pereira, trabalha o discurso, produzido por homens, sobre as religiosas do movimento beguinal. Segundo Paula, essas hagiografias “acabam por refletir sobre como essas mulheres simples conhecem os mistérios divinos e sentem perfeitamente a Caridade, vivida plenamente como amor do Cristo e amor do próximo. Esse comportamento místico maravilhoso permite pesquisar a alma, o intelecto, o amor, a razão, a vontade e, finalmente, a ‘natureza’ dessas mulheres”. Ainda segundo Paula, esses textos hagiográficos “nos fornecem uma verdadeira ‘antropologia hagiográfica’, uma antropologia da santidade”.
O segundo artigo, Mistérios da Fé: doenças e religiosidade popular na Corte imperial, é do professor doutor Marcio de Souza Soares, da UFT (Universidade Federal do Tocantins). Marcio nos mostra como a população da Corte imperial brasileira buscava se proteger das doenças e enfermidades na cidade do Rio de Janeiro, por meio da religiosidade. O artigo evidencia a existência de uma “crença amplamente generalizada de que a Virgem, os santos católicos e, acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso, eram capazes de intervir nos destinos humanos e afastar a ameaça representada pela epidemia reinante”.
O terceiro texto, Espaços de interação, espaços de conflito: a representação sobre os muçulmanos em Castela no século XIII, da professora doutora da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro Renata Vereza, trabalha as questões relacionadas à interação entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica. O artigo trata das diferentes representações que muçulmanos e cristãos faziam do “outro”. Segundo Renata, “o levantamento e análise deste conjunto de representações são fundamentais para a compreensão das relações entre estes grupos sociais e na percepção da postura castelhana, durante o século XIII, em relação aos muçulmanos, tanto residentes, quanto
externos ao reino”. O texto ganha representatividade e atualidade quando nos deparamos, até hoje, com este “outro” muçulmano, ainda visto por alguns com animosidade e temor.
O último artigo do dossiê, D. Domingos do Loreto Couto e a construção de modelos de santidade feminina na época colonial, é de outro professor doutor da USS, William de Souza Martins. Seu texto apresenta os primeiros resultados de sua pesquisa sobre os modelos de santidade feminina no Brasil colônia e se volta para o século XVIII pernambucano. Através da análise textual do escritor D. Domingos, William dialoga com outros pesquisadores que discutem o tema, além “de confrontar ideais de santidade feminina presentes em diversas regiões coloniais”.
Finalizamos o número 1 da revista com duas resenhas. Uma delas é sobre obra de autor da Severino Sombra, Fábio Lopes, Suicídio e saber médico, resultado de sua tese de doutorado. O livro analisa o discurso médico produzido sobre o suicídio no final do século XIX, tema polêmico e instigante. Ana Dietrich, professora doutora da USS, fez uma leitura atenta do livro e chama a atenção para o fato de Fabio ter conseguido nos mostrar “como é possível reunir em um mesmo texto elementos científicos e metodológicos muito bem embasados e sedimentados, com uma escrita dinâmica e prazerosa e além de tudo, sensível, sensibilidade essa mais que necessária para um assunto delicado e controverso”.
A segunda resenha, elaborada pelo professor doutor William de Souza Martins, é do livro Os convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1822), de autoria de Sergio Chahon. O resenhista, estudioso do tema, dialoga com o autor e nos expõe como este desenvolve sua abordagem fazendo “uma História Social das práticas religiosas”.
A todos, boa leitura!
Rosangela de Oliveira Dias
Sumário
Artigos
Historiografia e Pós-Modernidade .................................................. 11José D’assunção Barros
Arte e Imagem na Idade Média: Um Debate Historiográfico .......63Cinthia M. M. Rocha e Rachel J. R. Amaro
Rendas da Câmara e formas de enriquecimento em uma sociedade em formação – Vila Rica, 1711 – 1736 .............................................83Fernanda Fioravante
Dossiê – História e Religiosidade
A Relação entre caridade e conhecimento na vida de Juliana do Monte Cornillon ..............................................................................123Ana Paula Lopes Pereira
Mistérios da fé: doenças e religiosidade popular na Corte Imperial ...........................................................................................135Márcio de Sousa Soares
Espaços de interação, espaços de conflitos: a representação sobre os muçulmanos em Castela no século XIII ...................................169Renata Vereza
D. Domingos do Loreto Couto e a construção de modelos de santidade feminina na época colonial ............................................193William de Souza Martins
10
Resenhas
CHAHOn, Sergio. Os convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1822). São Paulo: Edusp, 2008, 444p. ...............231William De Souza Martins
LOPES, Henrique Fábio. Suicídio & saber médico: estratégias históricas de domínio, controle e intervenção no brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008 ...............................................241Ana Maria Dietrich
aRTIGOs
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE
José D" Assunção Barros (UFRRJ)
Resumo:Busca-se discutir o conceito de Pós-Modernidade em sua
aplicabilidade relativa à historiografi a, além de apresentar um panorama envolvendo as diversas posições dos historiadores com relação ao pós-modernismo historiográfi co. Quais são as principais características da historiografi a pós-moderna, e que historiadores podemos trazer como exemplos possíveis de se enquadrarem nesta categoria? Qual o estado do atual debate sobre o Pós-Modernismo Historiográfi co? Qual o contexto de surgimento e atualização deste debate nas décadas recentes? O artigo procura situar estas questões diante de referências bibliográfi cas que se tem tornado já clássicas para o tema.
Palavras chaves:
Pós-Modernidade – historiografi a Pós-Modernista – historiografi a Contemporânea
Pós-Modernidade: referências iniciais“Pós-Modernismo”, e seu correlato “Pós-Modernidade”,
constituem conceitos que têm se apresentado de maneira polissêmica, e não raro com ambiguidades, na intrincada polêmica que se inicia nas últimas décadas do século XX e que, nos anos 1980, atinge o seu nível mais intenso. Há livros que se ocuparam de discutir estas noções e de
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE12
historicizar a polêmica, tal como o pequeno ensaio de Perry Anderson, publicado em 1998 com o título As Origens da Pós-Modernidade. Há também os que oferecem visões panorâmicas e setoriais sobre as várias teorias e esferas de aplicação envolvidas na Pós-Modernidade, como a obra Cultura Pós-Moderna, publicada em 1989 por Steven Connor. E não há como esquecer o lúcido ensaio de Boaventura de Souza Santos, que procura balizar certos aspectos metodológicos que apontariam para um novo paradigma científi co discutido em sua Introdução a uma Ciência Pós-Moderna (1989).
Da mesma forma, a polêmica da Pós-Modernidade já tem os seus clássicos, tal como a provocativa obra publicada em 1979 por Jean-François Lyotard com o título A Condição Pós-Moderna – na verdade um dos primeiros ensaios fi losófi cos a adotarem esta noção que já adentrara há algum tempo o campo da arte e da arquitetura, e que já tinha registrado aparições isoladas em outros campos do saber. Clássicos, também, são os livros de Fredric Jameson, a começar pela primeira conferência do historiador marxista sobre o Pós-Modernismo em 1982, mais tarde desenvolvida em um ensaio mais extenso que foi publicado pela revista New Left (1984) sob o título “Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio” (2006). O ensaio de Jameson é uma resposta veemente ao livro de Lyotard, e ambos constituem o núcleo mínimo da já histórica discussão sobre o Pós-Modernismo. Mas posteriormente adentrariam o debate outros autores, também no âmbito do Materialismo Histórico, que procuraram aprofundar as linhas mestras levantadas por Jameson em três direções de estudo: a Política, com o texto “Contra o Pós-Modernismo” de Alex Callinicos (1989), a Economia, com o ensaio Condições da Pós-Modernidade de David Harvey (1990), e a Ideologia, com o livro “As Ilusões do Pós-Modernismo” de Terry Eagleton (1996). Outras referências importantes estão nas obras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a partir do ensaio “Mal Estar da Pós Modernidade” publicado em 1997, ou no nome do sociólogo francês Jean Baudrillard, com obras como Simulacros e Simulação (1981).
O texto que aqui desenvolveremos buscará refl etir sobre as relações entre História e Pós-Modernidade, de modo que são incontornáveis –
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
13
para além da óbvia menção a Michel Foucault – os textos historiográfi cos que discutem a interação entre História e Discurso, ou mesmo reduzem uma instância à outra, de modo que estaremos nos aproximando refl exivamente de obras como A Meta-História, publicada em 1973 por Hayden White, ou como o pequeno livro publicado em 1991 por Keith Jenkins com o título A História Repensada, ou ainda o provocativo artigo “historiografi a e Pós-Modernismo”, publicado em 1989 na Revista History and Theory por Ankersmit, com a consequente geração de réplicas que polarizaram uma discussão com Perez Zagorin.
O objetivo principal será pontuar algumas questões que fazem parte do circuito de polêmicas historiográfi cas pós-modernas, como a aproximação entre História e Ficção, a multiplicação de modelos narrativos e outras formas de exposição para trabalhos historiográfi cos, o crédito ou descrédito da historiografi a como texto que projeta um referente sobre o Passado Vivido, a Crise dos grandes paradigmas historiográfi cos, ou a pulverização da História em objetos desconectados, e que de acordo com François Dosse teria conduzido a “Uma História em Migalhas” (1987). Partiremos, inicialmente, de um clareamento do campo conceitual correlacionado à Pós-Modernidade.
Pós-Modernismo: o conceito, e algumas análises clássicas
Não é fácil defi nir o conceito de Pós-Modernismo, como já bem notavam Willem Van Reijen (1947-1987) e W. Hudson em um paralelo contrastante elaborado em 1986 com vistas a opor “Modernos e Pós-Modernos” (HUDSON e REIJEN, 1986)1. O primeiro clareamento conceitual a ser trabalhado, em nosso entender, diz respeito à diferença entre Pós-Modernidade – muito habitualmente referida a um período específi co no limite da História Contemporânea – e Pós-Modernismo,
1 Um panorama bastante completo dos diversos sentidos que veio a assumir a expressão Pós-Modernismo no decorrer do século XX pode ser encontrado no pequeno ensaio Origens da Pós-Modernidade, de Perry Anderson (1999), que remonta à primeira aparição da expressão à década de 1930, quando a expressão foi utilizada para se referir a um refl uxo conservador dentro do próprio Modernismo. A maior difusão da expressão, por outro lado, só irá ocorrer a partir dos anos 1970 (ANDERSON, 1999, p.10-20).
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE14
que diz respeito a um campo ou circuito cultural2. Lyotard, em seu texto inaugural, também já havia introduzido um elemento complicador, pois ao se referir a uma “condição pós-moderna”, generaliza o predomínio de uma certa tendência comportamental, mercadológica e cognitiva para todo o mundo humano capitalista pós-industrial, ou seja, aquele que corresponde ao contexto do período que chamou de pós-modernidade3. Mas a verdade é que se pode postular que Pós-Modernidade e Pós-Modernismo não se recobrem necessariamente em todas as análises. Assim como se entende que, no interior do período ou ambiente histórico denominado “modernidade” – aquele que se inicia com a Revolução Industrial – apenas cerca de 100 anos depois o Modernismo veio a se expressar enquanto movimento artístico ou tendência cultural, e mesmo assim sem abarcar o todo e constituir a única alternativa, pode-se igualmente postular que “nem tudo é pós-modernista na época pós-moderna”, e que em nosso Presente convivem o moderno, o pós-moderno, ou mesmo o tradicional.
Esse ponto será particularmente importante para a nossa posterior discussão sobre História Pós-Moderna. Se considerarmos a
2 Terry Eagleton (1998) também estabelece uma distinção entre pós-modernismo e pós-modernidade nos mesmos moldes. “Pós-Modernismo” corresponderia a "uma forma de cultura contemporânea"; já “pós-modernidade” remontaria a um "período histórico específi co". Como visão de mundo, o pós-moderno implica em uma "linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos defi nitivos de explicação" (EAGLETON, 1998, p.7). De todo modo, embora reconheça a distinção entre pós-modernidade e pós-modernismo, Eagleton irá optar por utilizar a palavra “pós-modernismo” em sentido mais amplo, abranger também o signifi cado de “pós-modernidade” ("Optei por adotar o termo mais trivial "pós-modernismo" para abranger as duas coisas, dada a evidente e estreita relação entre elas") (EAGLETON, 1998, p.7). Ainda com relação ao uso de “pós-moderno” como um período que se contrapõe ao “moderno”, podemos lembrar a análise de Lechte, para quem o período moderno estava baseado na "produção", e o pós-moderno na "reprodução" (LECHTE, 2002, p. 257).3 Keith Jenkins acompanha a proposta de Lyotard de tratar a Pós-Modernidade como condição. Diz ele: “vivemos na condição geral da "pós-modernidade" [...] [esta] não é uma ideologia ou uma postura à qual possamos escolher aderir ou não” (JENKINS, 1995, p.6). A argumentação é análoga à de Alun Munslow (2000, p.188). Já Fredric Jameson, na “Introdução” da coletânea de ensaios sobre o Pós-Modernismo publicada em 1991 com o título Pós-Modernismo – a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio (2006), e que inclui o texto do artigo de 1982 de mesmo título, confronta-se contra a possibilidade de que se tenha com a Pós-Modernidade um período realmente novo (uma nova época), ao afi rmar que na verdade trata-se de uma fase do Capitalismo (a fase tardia): “o pós-moderno não é dominante cultural de uma época totalmente nova (sob o nome de sociedade pós-industrial, esse boato alimentou a mídia por algum tempo), mas é apenas refl exo e aspecto concomitante de mais uma modifi cação sistêmica do próprio capitalismo” (JAMESON, 2006, p.16).
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
15
historiografi a pós-moderna como uma das tendências historiográfi cas possíveis no mundo contemporâneo, veremos que, aqui, não são de fato co-extensivos a Pós-Modernidade – se aceitarmos esta denominação como equivalente a um período específi co – e o Pós-Modernismo, enquanto adjetivo que se cola a um sujeito produtor de arte ou conhecimento, a uma certa prática ou a determinada corrente cultural, tal como é o caso, por exemplo, de uma pretensa historiografi a pós-moderna. Por este viés, torna-se perfeitamente legítimo o debate e contraposição entre historiadores pós-modernos e historiadores pertencentes a outras propostas historiográfi cas, que questionam a ideia de que o pós-modernismo histórico tenha se tornado ou vá se tornar a corrente historiográfi ca predominante em nosso tempo. O historiador inglês Michael Bentley, por exemplo, compara e contrapõe o uso de pós-moderno para defi nir um certo repertório de “ferramentas e enfoques” ao uso de “iluminista” ou “romântico” para designar homens do século XVIII ou XIX, mostrando que na verdade as convicções iluminista e romântica já não alcançavam senão um parcial domínio sobre as especulações de seus séculos. Menos abrangente ainda, o pós-moderno deveria ser relacionado mais adequadamente a uma “fase particular do pensamento” (BENTLEY, 1999, p.140). O questionamento do Pós-Moderno como extensivo a uma faixa maior da cultura contemporânea também é recolocado por Terry Eagleton4. Por fi m, vale lembrar que poucos historiadores assumem explicitamente o rótulo de pós-modernistas, embora certamente haja um modo específi co de fazer a história para o qual a designação parece ser razoavelmente adequada.
A Condição Pós-Moderna (1979), de François Lyotard, foi um dos primeiros livros a abordarem como uma mudança geral na condição humana o Pós-Moderno, caracterizado pelo autor, entre outros aspectos, pela “morte dos centros” e por uma signifi cativa perda da credibilidade nas grandes meta-narrativas ou explicações totalizadoras
4 Terry Eagleton (n.1943), em sua obra Ilusões do Pós-Modernismo (1996), busca enxergar os limites do Pós-Moderno como padrão dominante. Conforme o fi lósofo inglês, o Pós-Modernismo apresenta alguns traços marcantes: além de intermesclar cultura "elitista" e cultura "popular", a arte torna-se “superfi cial, descentrada, infundada, auto-refl exiva, divertida, caudatária, eclética e pluralista”. Com relação à questão que indaga se o Pós-Moderno encontra "acolhimento geral ou constitui apenas um campo restrito da vida contemporânea”, Eagleton situa-a como “objeto de controvérsia" (EAGLETON, 1998, p. 7).
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE16
que procuravam dar conta da história ou de outras instâncias do mundo humano. Relativamente à História, as meta-narrativas mais conhecidas eram aquelas que traçavam a História como um grande movimento coerente e teleológico do Singular Coletivo – em especial a meta-narrativa Iluminista e as derivações da meta-narrativa Hegeliana, mas também a Meta-narrativa Marxista. A meta-narrativa Iluminista, gestada no século XVIII, como também a sua contraparente Positivista no século XIX, contava a história do progressivo avanço do Conhecimento e situava a Humanidade como sujeito triunfante a caminho da plena Liberdade no futuro; a meta-narrativa Hegeliana contava a história igualmente progressiva (mas também dialética) da aventura do Espírito Absoluto como sujeito universal que tomava conhecimento de si na sua igualmente triunfante caminhada para a Verdade. A fi losofi a da História proposta pelo Materialismo Histórico incluía na sua meta-narrativa a inevitável caminhada da Humanidade para a sociedade sem classes, considerando-a um pouco, por assim dizer, como uma caminhada olímpica na qual a “tocha da liberdade” deve ser entregue a cada período histórico para a classe revolucionária da ocasião. Vale ainda dizer, as meta-narrativas condenadas à morte histórica pela pós-modernidade lyotardiana incluíam também a Psicanálise, já que esta também tinha a pretensão de tudo explicar, só que através da decifração do Inconsciente.
É uma longa e polêmica discussão a que se pode estabelecer sobre as razões para o descrédito das meta-narrativas, e não procuraremos esgotá-las aqui. Para além de crises diversas que abalam a primeira metade do século XX como a Segunda Guerra Mundial, os Totalitarismos à Direita e à Esquerda, as crises no Socialismo Real, e de movimentos vários como o da Contra-Cultura, podem ser indicadas também outras razões. Frank Ankersmit, em seu artigo sobre “historiografi a e Pós-Modernismo” (1989), menciona o fato de que, à medida que a Europa deixava de ser o centro do mundo, no segundo pós-guerra – e que a História da Europa não podia mais ser vendida como a História do Mundo – as grandes meta-narrativas sobre o "triunfo da Razão" ou sobre a "emancipação do Proletariado" revestiram-se de importância
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
17
apenas local, e portanto deixavam de ser “meta-narrativas apropriadas” (ANKERSMIT, 1989, p.129).
Há os autores que chegam a falar, mais do que em uma “crise das meta-narrativas”, em uma “crise das ideologias”5. Remo Bodei, por outro lado, sustenta no seu ensaio A História tem um Sentido? (BODEI, 1997, p. 76), que o que entra em crise nas últimas décadas do século XX não são propriamente as ideologias ou mesmo as fi losofi as da história, mas sim a aliança estabelecida desde fi ns do século XVIII entre “história e utopia”. O que estaria sendo questionado, nos tempos recentes, seria um antigo padrão historiográfi co que se fora formando e no qual as utopias haviam deixado de serem irrealizáveis “não-lugares” aprisionados no imaginário literário (a Cocanha medieval) ou então espacialmente apartados (a Atlântida, de Platão, ou a Utopia, de Morus), para se converterem em “não-lugares” temporalizados, situados no futuro, e agora não mais realidades impossíveis de serem atingidas. As utopias que a certo momento foram transformadas em projetos realizáveis a longo prazo, ou ao menos em pontos modelares para a direção dos quais a história deveria apontar, haviam constituído todo um grande padrão historiográfi co que abrangia inúmeras variações – das positivistas às historicistas e marxistas – e agora era esta aliança entre história e utopia que se via contestada. Um mundo historiográfi co descrente das utopias, mas não necessariamente sem ideologias, seria essencialmente a faceta do pós-moderno, de acordo com a análise desenvolvida por Remo Bodei6.5 A percepção de uma crise das ideologias já remonta, na verdade, aos anos 1950. H. Stuart Hughes (1916-1994), em 1951, teria sido um dos primeiros autores a formularem a ideia de um “Fim das Ideologias Políticas”, sendo mais tarde seguido por Judtih Shklar (1928-1992), que publica em 1957 o ensaio After Utopia: the decline of political faith. Também o sociólogo norte-americano Daniel Bell (n.1919), em 1960, publicaria o seu The End of ideologies (1960).6 Remo Bodei (n.1938) observa que, desde o século III a. C, as utopias eram concebidas geografi camente, como “lugares” – muito habitualmente ilhas – nos quais existiam sociedades perfeitas, mas não pertencentes ao mundo conhecido (BODEI, 1997, p.74). A estes mundos espacialmente apartados os náufragos e viajantes iam dar por acaso, e as “utopias” antigas eram de fato mundos impossíveis e irrealizáveis, que serviam para confrontar o Presente e seus limites, tal como havia feito Platão com sua República ou como faria Thomas Morus com a sua utopia. Contudo, no século XVIII surge a primeira utopia temporalizada, situada no futuro: a que é descrita no romance de Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) intitulado “O ano 2440” (1771). A partir daí a ideia adentra a história. A utopia deixa de ser “impossível” para ser “realizável”, e deixa de ser um não-lugar no espaço para ser um lugar no futuro, em cuja direção a história caminha. A História passa a ser dotada então de um telos. Este poderia ser um paraíso na terra ou um mundo sem desigualdades, ou ainda o Império da Razão. Teria sido este grande padrão
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE18
Dependendo do conceito central no qual se fundamente a nossa análise das crises da modernidade e da pós-modernidade, reconfi gura-se certamente, a avaliação dos impasses e dilemas da historiografi a contemporânea. "Crise das meta-narrativas", "crise das ideologias", "crise da aliança entre utopia e história" apresentam certamente nuances importantes que podem reorientar as análise do pós-modernismo historiográfi co em uma direção ou outra. Do mesmo modo, é possível deslocar o olhar analítico para o que está por trás das "meta-narrativas" ou da "aliança entre utopia e história", conforme o caso. Surge então a ideia de que a pós-modernidade introduz a "Crise da ideia de Progresso". A ideia de Progresso, como tão bem esclarece Robert Nisbet em seu ensaio sobre A História da Ideia de Progresso (1985), passara a desempenhar no século XVIII um papel central na maior parte das visões de mundo desenvolvidas no Ocidente, constituindo um fator importante para a Identidade das sociedades, grupos e indivíduos (DIEHL, 2002, p.21-44). Deste modo, conforme observa Alain Tourraine em seu artigo “Modernidade e Especifi cidades Culturais” (TOURRAINE, 1989, p. 43-57), a "Crise da ideia de Progresso" não poderia deixar de levar à Crise da Identidade, repercutindo em setores diversos e dando origens a outras crises, tal como a Crise da Legitimidade dos Sistemas Políticos. Estas ideias também foram bem desenvolvidas por Tourraine em seu ensaio Crítica da Modernidade (1995), e certamente ilumina aspectos importantes do complexo contexto social, cultural e político dos tempos recentes.
A mais brilhante análise da pós-modernidade encontra-se provavelmente nas teses de Fredric Jameson sobre a temática, estas que procuram enxergar, como já diz o título de seu principal livro: o “Pós Modernismo como Lógica Cultural do Capitalismo Tardio”7. Não poderemos nos deter demasiado nesta precisa análise, uma vez
o que entra em crise em tempos recentes, e não propriamente as ideologias. Ver BODEI, 2001, p.74-76.7 A periodização proposta por Jameson – um período chamado “Capitalismo Tardio” – parte da formulação do economista belga Ernest Mandel (1923-1995) na obra com este mesmo título (1972). O Capitalismo Tardio – que hoje corresponde à chamada “globalização” – seria correspondente ao atual e terceiro estágio do sistema capitalista (que já teria conhecido duas fases anteriores, a do “capitalismo de mercado” e a do capitalismo monopolista ou imperialista (MANDEL, 1982).
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
19
que logo teremos que abordar a questão da História e Pós-Modernidade, contudo, lembraremos o vivo quadro que Jameson desenha de um mundo no qual, em um novo momento do capitalismo multinacional, ocorrera uma extraordinária expansão tecnológica e comunicacional que passara a se tornar a principal fonte de lucro e inovação sob o contexto do predomínio empresarial das corporações multinacionais e o concomitante deslocamento do trabalho industrial para o universo de baixos salários dos países periféricos. Nesse mundo que incluía um poder sem precedentes da mídia, a cultura expandira-se a ponto de se tornar coextensiva à economia, gerando uma sociedade globalizada na qual todo objeto material ou serviço imaterial transforma-se em produto vendável. Guardemos este ponto, pois vai nos ajudar mais adiante a explicar porque a historiografi a se transforma ela mesma em produto de consumo que, em alguns casos, predispõe alguns dos sujeitos produtores do conhecimento histórico a toda ordem de concessões à grande mídia, pulverizando seus objetos de estudo para oferecer às diferentes faixas do público consumidor o produto historiográfi co de sua predileção em um novo padrão de operação historiográfi ca no qual por vezes se deslocam para segundo plano instâncias que até então sempre haviam sido centrais para a história, como a precisão no trabalho com a base documental ou a obrigação de se ater a enunciados verdadeiros (embora mediados pelas diversas subjetividades que o historicismo moderno e outras correntes haviam reconhecido como inerentes ao trabalho do historiador).
A Cultura, agora convertida na carne e na trama da vida e da coexistência no capitalismo avançado, transformava-se em uma “segunda natureza” (JAMESON, 2006, p.13). Afi rmavam-se nos setores mais relativistas, céticos e desiludidos da intelectualidade ocidental, a “Morte do Sujeito”, o rompimento das identidades tradicionais, os abalos violentos naquilo que Koselleck chama em seu livro Futuro Passado de “campo da experiência” e “horizonte de expectativas”, ocasionando na pós-modernidade capitalista a sensação de um passado sem memória e um futuro sem esperança como tendência existencial predominante8. Estamos aqui diante de uma das principais características
8 Em uma outra perspectiva, John Harold Plumb (1911-2001) já havia falado em uma “Morte do Passado”, no ensaio que recebeu este mesmo nome (1970): “A força do passado em todos os aspectos da vida está distante; distante e muito mais fraca do que há uma geração [...] Na
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE20
do Pós-Moderno apontadas por Jameson: a “perda da historicidade” (JAMESON, 2006, p. 13 e 14). Como poderia a historiografi a, tão dependente do senso de passado e das expectativas de futuro, atravessar este vendaval sem produzir os seus questionáveis simulacros de História, prontamente incorporados pelo mercado mundial como agradáveis objetos de consumo? Tinha-se também aqui, de acordo com um dos desdobramentos analisados por Jameson, “a ascendência do espacial sobre o temporal”, consequência da instituição cotidiana da simultaneidade de eventos através da unifi cação virtual do planeta. Como não ver aí mais contragolpes a serem enfrentados criativamente pela historiografi a contra um mundo de superfi cialidades e de ausência de afetos, agora fascinado pelo “Histérico Sublime”? Oscilando entre a euforia do entusiasmo consumidor e a depressão niilista, o mundo pós-moderno encontra aqui a sua patologia existencial.
Uma parte importante da análise de Jameson, e que talvez seja útil para a análise de certos setores pós-modernos da historiografi a contemporânea, foi a identifi cação do “Pastiche” como uma forma pós-moderna privilegiada. Em uma refl exão sobre este aspecto da análise jamesoniana, Perry Anderson assinala em seu livro As Origens da Pós-Modernidade a emergência de algumas tendências literárias:
[...] baralhar não apenas estilos mas as próprias épocas à vontade, revolvendo e emendando passados artifi ciais, misturando o documental com o fantástico, fazendo proliferar anacronismos, numa revitalização do que – ainda deve ser chamado de – romance histórico (ANDERSON, 1998, p.73).
Sem registrar aqui um posicionamento em favor ou contra esta ou aquela alternativa historiográfi ca, vale aqui examinar o mercado livresco para verifi car como tem crescido o número de historiadores que, ainda que sem possuir uma boa formação literária, tem se arriscado a experimentar uma espécie de romance histórico na qual não fi ca claro para o leitor se ele está atuando como historiador – de acordo verdade, poucas sociedades chegaram a ter passado, numa dissolução tão galopante como esta” (PLUMB, 1970, p.15).
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
21
com os parâmetros habituais da prática disciplinar – ou como literato. Naturalmente que, entre aqueles que são por natureza polivalentes e capazes tanto para a história como para a literatura, há também soluções extremamente interessantes. Mas deixemos este aspecto para outro momento da análise.
Fenômeno também abordado por Jameson é o do esboroamento dos limites da investigação cultural no ambiente intelectual pós-moderno. Aqui, o crítico marxista expressa-se em termos de uma “diluição das fronteiras entre as disciplinas”9. Disciplinas as mais diversas parecem, segundo a perspectiva de Jameson, “cruzar-se em investigações híbridas e transversas que não mais podiam ser situadas em um ou em outro domínio” (ANDERSON, 1998, p.73)10. Eis, enfi m, alguns dos aspectos assinalados por Fredric Jameson em uma das mais lúcidas análises elaboradas sobre o contexto da Pós-Modernidade Capitalista e alguns de seus resultados no mundo da Cultura. Para além dos aspectos mencionados, seria possível trazer para este contexto ainda outros fatores, como a “revolução informacional” examinada por Jean Lojkine, dez anos depois, no livro que leva este nome (LOJKINE, 1995), e que avalia para as décadas recentes o aparecimento de uma nova época, já distinta do período industrial, na qual se interpenetram informação e produção. Passaremos,em seguida, a abordar algumas questões já mais propriamente historiográfi cas. Será oportuno iniciar a discussão com algumas questões lançadas por Ankersmit no seu texto sobre “historiografi a e pós-modernismo” (1989).
9 Jameson refere-se aqui ao mesmo fenômeno que François Dosse, em A História em Migalhas (1987), avalia como “um perigoso exagero da interdisciplinaridade” – esta mesma interdisciplinaridade que havia sido tão bem articulada pelas duas primeiras gerações da escola dos Annales, e que agora, na Nouvelle Histoire, parece a Dosse uma ameaça de esboroamento da história em um campo indefi nido, anulando-a.10 Jameson, a este respeito, faz uma crítica à obra de Michel Foucault. Vale também checar os comentários de Culler em um texto de 1985 intitulado On Desconstruction: “Os praticantes de algumas disciplinas particulares reclamam que textos que consideram da sua modalidade têm sido estudados fora da matriz disciplinar que lhes é própria: estudantes de teoria lêem Freud sem se perguntar se a pergunta posterior em Psicologia possa vir a ter discordado de seus postulados; lêem Derrida sem possuir embasamento na tradição fi olófi ca; lêem Marx sem estudar as descrições alternativas de situações econômicas e políticas” (p.8)
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE22
historiografi a e Pós-Modernismo: a polêmica de Ankersmit
Frank Ankersmit (n.1945), no artigo que publicou na revista History and Theory em 1989 sobre “historiografi a e Pós-Modernismo”, conseguiu ao mesmo lançar no meio acadêmico uma polêmica que teve bastante repercussão, levantar algumas expectativas e propostas para as décadas seguintes, e também estabelecer um bom balanço de algumas questões importantes que se fi zeram incidir na prática historiográfi ca através das vertentes pós-modernistas e as tendências comportamentais da Pós-Modernidade como um todo. Antes de abordá-las, vale a pena lembrar a data em que foi escrito: 1989.
O ano de 1979 havia sido um momento primordial para as nascentes refl exões sobre o Pós-Modernismo e outras radicais críticas à racionalidade contemporânea. Daquele ano podemos citar o próprio texto de Lyotard sobre a Condição Pós-Moderna, mas também a publicação de uma conferência de Michel Foucault intitulada A Verdade e as Formas Jurídicas, o artigo de Oliver Stone sobre “O Retorno da Narrativa” e o lançamento do livro O Retorno de Martim Guerre, de Natalie Davis, com um Prefácio de Carlo Ginzburg denominado “Provas e Possibilidades” no qual são encaminhadas algumas críticas à Meta História de Hayden White (1973). Uma década depois, 1989 logo se transformaria em um importante ano de balanços, referenciando esta polêmica sobre pós-modernidade que fora tão intensa nos anos 80. São deste ano não apenas o balanço de Ankersmit, do qual aqui trataremos, como também outro polêmico artigo de David Harlan, que teceu para a American History Review inquietantes considerações sobre os abalos provocados na História por aquilo que chamou de “Retorno da Literatura” (1989). De igual maneira, o mercado editorial receberia neste mesmo ano o livro Cultura Pós-Moderna, de Steven Connor, e o ensaio “Contra o Pós-Modernismo” de Alex Callinicos, que logo seria seguido, em 1990, pelo ensaio Condições da Pós-Modernidade de David Harvey. Dois anos antes, François Dosse havia publicado seu livro A História em Migalhas (1987), e é oportuno lembrar que 1989 – para aproveitar o já emblemático bicentenário da Revolução Francesa – também seria alçado a data comemorativa em torno dos
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
23
sessenta anos da Escola dos Annales, o que também motivaria novos balanços historiográfi cos importantes sobre o movimento da Nouvelle Histoire. Naturalmente que, à contraluz deste ambiente intelectual, também estariam as repercussões da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, que também forçariam uma rediscussão sobre os caminhos históricos do Socialismo Real e que constituíam o lance fi nal de um processo que já havia motivado Francis Fukuyama a publicar no mesmo ano de 1989 o seu bombástico artigo no qual anunciara “O Fim da História” (1989)11.
Para além do contexto social e editorial acima citado, 1989 também foi o ano de publicação de uma importante obra de Frank Ankersmit intitulada O Efeito de Realidade na Escrita da História (1989), obra na qual o autor incorpora o conceito de “efeito da realidade” que havia sido proposto por Roland Barthes nos ensaios “O Efeito de Realidade” e “O Discurso da História”, ambos publicados no livro O Rumor da Língua, também editado no ano de 1989. O ano de publicação do polêmico artigo de Ankersmit sobre “historiografi a e Pós-Modernismo”, portanto, é um marco que explicita a sua adesão a interesses temáticos voltados para as relações entre História e discurso, e isto se refl etiria por toda a sua produção historiográfi ca e fi losófi ca subsequente através de obras que se movimentam entre noções como “metáfora” e “representação”, tal como nos seus ensaios mais recentes sobre “A Representação Histórica” (2001) e “A Representação Política” (2002).
Naquele momento de grandes balanços que foi o ano de 1989, Ankersmit resolve escrever o seu artigo sobre “historiografi a e Pós-Modernismo”. Irá situar entre os grandes traços da pós-modernidade (uma época) a tendência ao “anti-essencialismo” e ao “anti-fundacionalismo” (ANKERMAN, 1989, p.130), o que de alguma maneira dialoga com a ideia de que a crise das meta-narrativas seria o traço principal da Condição Pós-Moderna, tal como proposta dez anos antes por Lyotard (1979). Mas, ao mesmo tempo, Ankersmit irá falar nesse
11 A crise do pensamento marxista já vinha sendo examinada desde 1979 no próprio seio das refl exões elaboradas pelo Materialismo Histórico. Paul Sweezy, em um artigo para a Mensual-Monthly Review que recebeu o título de “Socialismo Real e crise da teoria marxista” (1979), e Perry Anderson, com seu ensaio “A Crise da Crise do Marxismo” (1984), deram-lhe análises bem acabadas.
artigo de “pós-modernismo” e de uma “historiografia pós-modernista”. Isto é, pretende abordar uma tendência de quebra de paradigma que se relaciona a uma nova postura historiográfica que é gerada nesta pós-modernidade, mas que não exclui outras posturas nesta mesma época (embora, ao final do seu artigo, Ankersmit deixe no ar uma espécie de conclamação aos historiadores para aderirem ao novo tipo de história, que é precisamente o que provocou réplicas como a de Zagorin). Vejamos, antes de mais nada, a parte do artigo de Frank Ankersmit que constitui o balanço do momento atual, e que começa por discutir a questão da super-produção na área de História, até certo ponto uma consequência da própria superpopulação de historiadores, já que haveria nos dias de hoje mais historiadores em atividade do que o total efetivo de historiadores desde Heródoto até os anos 60 (ANKERSMIT, 1989, p.115).
O ponto de partida desta primeira querela pós-moderna é uma questão que já havia sido tratada por Michel Foucault e que logo seria retomada pelo filósofo francês em A Ordem do Discurso (1992) em uma passagem na qual ressaltava a crescente afirmação de um gênero na ordem do discurso: o dos “Comentários”. As últimas duas décadas haviam trazido, de acordo com as colocações iniciais de Ankersmit, uma proliferação de ensaios sobre outras obras. Para se aproximar de um determinado pensador, não mais se abordava diretamente a obra deste, mas tinha-se à disposição um grande número de textos sobre o texto: infindáveis discussões sobre a interpretação da obra dos vários autores iconizados como significativos. O Comentário do Comentário – e as suas infindáveis cadeias de réplicas e tréplicas – tornara-se um gênero que seduzia bastante a intelectualidade, e o texto original que motivara uma determinada guerra de interpretações praticamente parecia desaparecer, soterrado por inúmeros outros textos e transformado em mero pretexto – fetichizado, sim, mas esboroado e empalidecido ou, para utilizar a metáfora empregada por Ankersmit, “uma aquarela na qual as linhas se fundem” (ANKERSMIT, 1989, p.113).
O efeito mais imediato desta superprodução incentivada pela academia e pelo mercado parece ser, desta maneira, a inevitável cobertura de qualquer texto ou tema mais significativo por uma “espessa e opaca crosta de interpretações”. Resumindo a primeira questão indicada por
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
25
Ankersmit, “não temos mais texto, mais passado, apenas interpretações deste” (ANKERSMIT, 1989, p.113). Realizava-se, na Pós-Modernidade, a questão para a qual Nietzsche lançara um fatídico alerta em 1874, nas suas Considerações Extemporâneas sobre as “Os Usos e Desvantagens da História para a Vida”: a historiografi a em si parecia impedir a visão sobre o passado, convertendo-se na própria realidade (ANKERSMIT, 1989, p.114).
A superprodução historiográfi ca recente, que seguiu pelas duas décadas posteriores ao ensaio de Ankersmit, foi apenas um dos aspectos tratados em “historiografi a e Pós-Modernismo”, que entre outros assuntos buscou refl etir sobre os caminhos da especialização na pós-modernidade, os usos e o fetiche da informação, a desconstrução da discussão sobre a cientifi cidade da História, os imbricamentos entre Linguagem e História, ou o rompimento com a tradicional distinção entre “forma” e “conteúdo” – aspecto que traz para primeiro plano a questão da escolha ou da importância do estilo narrativo e das escolhas formais para os historiadores que se aproximam do viés pós-modernista (mas também para outros).
Os pontos mais polêmicos do artigo de Ankersmit, contudo, e que provocaram uma réplica de Zagorin na mesma revista History and Theory, em 1990, referem-se ao paralelo fi nal entre historiografi a modernista e historiografi a pós-modernista, com algumas implicações que o levaram a propor um caminho para o futuro. Os três pontos principais, replicados por Zagorin e com suas próprias palavras críticas, seriam respectivamente (1) a ideia de que o historiador, daqui em diante, deveria renunciar à ideia de explicação e ao princípio de causalidade; (2) a renúncia à Verdade Histórica; e (3) a redução da historiografi a a uma atividade estética (Zagorin, 2001, p.140). Vejamos, contudo, como o próprio Ankersmit encaminha sua argumentação,
Ankersmit sustenta, antes de mais nada, uma posição distinta de modernistas e pós-modernistas no que se refere ao trato ou à maneira de conceber as fontes históricas (“evidências”, segundo o seu vocabulário). A historiografi a modernista sempre teria se baseado fundamentalmente na ideia de que o historiador utiliza as evidências para encontrar por trás dela uma realidade histórica, que é o seu objetivo último. Já para o olhar
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE26
pós-modernista, as evidências não apontariam para o passado, mas para interpretações do passado (ANKERSMIT,1989, p.124).
Ankersmit utiliza como exemplifi cação o posicionamento transmitido por George Duby em uma célebre entrevista a Lardreau datada de 1980. Nesta, Duby afi rma que a principal evidência, para ele, está no não-dito, naquilo que uma época não diz a respeito de si mesma. Exatamente o que é mais característico a uma época (como a água para um peixe, segundo uma metáfora de Ankersmit) é o que uma época não pode perceber sobre si mesma, de modo que o historiador deve buscar essa apreensão da essência de uma época precisamente através “do que não foi dito, do que foi apenas sussurrado, ou do que foi expresso em detalhes insignifi cantes” (ANKERSMIT, 1989, p.125). Esta perspectiva apresentada por George Duby parece se aproximar, de alguma maneira, de algumas das proposições dos micro-historiadores italianos, uma vez que também estes incluem entre seus procedimentos a possibilidade de reconhecer um período, uma sociedade ou uma prática não através daquilo que lhe é mais característico, mas sobretudo daquilo que lhe escapa, como a pista que o criminoso deixa inadvertidamente no local de um crime depois de falsifi car todos os aspectos importantes da cena do crime, ou como o falsifi cador de quadros que, ao imitar um artista, copia rigorosamente todos os gestos estilísticos mais característicos mas termina por deixar uma abertura para que se perceba a falsifi cação em um detalhe de menor importância. Esta argumentação sobre a necessidade de atentar para o detalhe revelador é desenvolvida por Carlo Ginzburg em seu famoso texto “Raízes de um Paradigma Indiciário” (1986).
Voltando às refl exões de Georges Duby sobre o trato dos historiadores contemporâneos com as evidências do passado – e à releitura que delas faz Ankersmit em uma sequencia na qual comparará a historiografi a pós-moderna à psicanálise – essa maneira singular de lidar com as evidências não aponta para algo que se esconde por trás destas evidências no passado, mas sim para algo que “adquire signifi cado e importância quando confrontado com a mentalidade da época posterior, na qual vive o historiador” (ANKERSMIT, 1989, p.125). Os traços essenciais de uma época revelam-se apenas por contraste com um outro período, e o historiador estaria apto a apreender algo do passado
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
27
a partir das evidências precisamente no momento em que “projeta um padrão sobre os vestígios”. O interesse, então, recai na interpretação, e não em algo que já existe por trás das fontes independentemente da ação do historiador.
A perspectiva proposta por Duby, enfi m, aponta para a possibilidade de construir a História através do não-dito, do que foi suprimido (intencionalmente ou não), do detalhe, do que teria parecido irrelevante para uma época mas que se torna revelador para outra. Extrair conclusões de um silêncio, por fi m, introduz o historiador diretamente em uma perspectiva de interação com as fontes, já que não é possível simplesmente buscar uma verdade escondida atrás de um silêncio, sendo necessário fazer incidir uma pergunta, um padrão sobre este silêncio para que ele fale a uma outra época e revele traços que a própria época histórica examinada não percebeu sobre si mesma, não quis perceber, ou buscou suprimir, seja a partir dos caminhos intencionais, involuntários, conscientes, ou inconscientes. E mais, se tal abordagem pôde (e teve que ser utilizada necessariamente) com o silêncio, é perfeitamente possível estendê-la também para o dito, mas examinando-o agora de uma nova maneira: a evidência seria examinada não para dar perceber o que já está escondido previamente atrás dela pela própria época, mas para dar a perceber o que também só adquirirá visibilidade através do padrão sobre ela lançado pelo historiador.
Naturalmente que algumas críticas devem ser feitas, em outros pontos, ao texto de Ankersmit. A certa altura ele parece delinear a história pós-moderna como a das mentalidades. Isto não coincide com os desenvolvimentos historiográfi cos das últimas décadas: as mentalidades, ou a “História das Mentalidades” (ANKERSMIT, 1989, p.126), foi se confi gurando mais em um campo histórico, como a História Cultural ou a História Econômica. Já uma história pós-moderna deveria ser entendida como uma outra maneira de conceber a história, independente da modalidade de história ou dimensão pela qual se interessa o historiador (a Cultura, a Política, a Economia, as Mentalidades, etc). Difi cilmente poderia se chamar de “pós-moderno” ao historiador marxista Michel Vovelle, que a si mesmo se defi ne como historiador das mentalidades. Uma História Pós-Moderna (ou
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE28
melhor dizendo, uma História Pós-Modernista) deveria ser considerada como a proposta de um outro paradigma, em contraste com a História Modernista (ela mesma também podendo se interessar pelos campos da Cultura, Economia, Mentalidades, e outros). O pós-Moderno – a História Pós-Moderna – poderia e deveria ser comparado a alternativas no âmbito de paradigmas como o Positivista, o Historicista, o Modernista-Estruturalista, e outros12.
Isso, destarte, acaba sendo empreendido por Ankersmit na continuidade do seu artigo, já que opõe o “paradigma pós-moderno” ao conjunto de todos os paradigmas anteriores, cuja marca teria sido a busca de identifi cação de uma “essência do passado”, e que Ankersmit unifi ca sob o rótulo de uma "tradição essencialista" (e, em outro momento, um tanto contraditoriamente, de um “existencialismo historiográfi co”) (ANKERSMIT, 1989, p. 127 e 128). O paradigma pós-modernista para Ankersmit, que utiliza a metáfora da árvore, não recai mais sobre o tronco ou sobre os galhos, mas sobre as folhas. Ou sobre o que ele também chama de as “migalhas”, embora não pejorativamente. A expressão, é claro, referencia o termo “História em Migalhas” que se popularizara dois anos antes através da extraordinária repercussão da tenaz crítica de François Dosse contra a Nouvelle Histoire (a terceira geração dos Annales) que ele via em ruptura com relação à Escola dos Annales propriamente dita (DOSSE, 1987). Na verdade, a expressão “história em migalhas” havia sido proferida em uma entrevista por Pierre Nora, o principal organizador de livros do grupo da Nouvelle Histoire, que não a utilizara depreciativamente, é claro. Também não haverá uso depreciativo da expressão da parte de Ankersmit. De todo modo, teria chegado o momento de pensar o passado, mais que de investigá-lo, e Ankersmit propõe a ideia de que “o nosso insight sobre o passado e a nossa relação com ele serão, no futuro, de natureza metafórica, e não real” (ANKERSMIT, 1989, p.131).
12 Em uma outra passagem do seu artigo, por outro lado, Ankersmit já se refere à história das mentalidades como um campo que se abre favoravelmente ao pós-modernismo, mas já dá a entende que pós-modernismo e mentalidades não se recobrem um ao outro: “Através da historiografi a pós-modernista, encontrada especialmente na história das mentalidades, uma ruptura é feira, pela primeira vez, em relação a essa tradição essencialista centenária” (ANKERSMIT, 1989, p.128).
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
29
Narrativa e Cognição História: interações e confl itosA História, bem como qualquer outra das ciências sociais ou
humanas, expressa-se através de uma linguagem, da construção de um discurso. Era uma posição bastante tradicional entre os cientistas sociais e historiadores separar de um lado “conteúdo”, e de outro “forma” ou “estilo”. A argumentação mais frequente era a de que o estilo – por exemplo a qualidade literária do texto ou as decisões relacionadas ao modo de apresentação do texto – não interfere no conteúdo. Ankersmit, em seu artigo sobre “historiografi a e Pós-Modernismo” (1989, p.122), ilustra esta concepção com a posição de Bertels, que em certa ocasião frisara que o refi namento literário não acrescentava “um átimo de verdade” à pesquisa histórica ou ao seu resultado. Esta posição, continua Ankersmit, afi rma bem claramente a separação entre “conteúdo” e “forma” que habitualmente fora preconizada pelo discurso da historiografi a modernista, e que, obviamente, ainda é plenamente representada nos dias de hoje.
Por outro lado, uma nova atenção à linguagem e ao discurso, considerados como fundadores e refundadores de conteúdos, foi trazida nas últimas décadas para uma parte importante do cenário historiográfi co. Para isto contribuiu uma complexa rede de produções intelectuais que, em alguns casos e em outros não, passaram a ser associadas ao pós-modernismo. Não nos deteremos no ambiente intelectual que permitiu que a questão da linguagem e do discurso passasse a ser considerada como central para entender as ciências humanas – e neste caso seria preciso examinar a imprescindível contribuição de Michel Foucault – mas passaremos a evocar a questão já diretamente no seio dos historiadores.
As últimas décadas do século XX intensifi cam cada vez mais o reconhecimento da interação entre discurso e História, não mais apenas ao nível das fontes e sim das próprias subjetividades que circunscrevem o historiador e a prática historiográfi ca, e também o reconhecimento da dimensão estética da historiografi a. Surgem muitas vozes a partir dos anos 70, vindas de várias direções, que contribuem para que a temática das relações entre História e Discurso torne-se altissonante. O
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE30
estilo, frisaria Peter Gay em seu conjunto de ensaios intitulado O Estilo na História (1974), implica também em uma decisão de conteúdo; é também o que pensam os micro-historiadores italianos (LEVI, 1991, p.153). Jacques Revel, em seu ensaio de 1996 intitulado “Microanálise e construção do social”, chama atenção para o fato de que, na verdade, mesmo uma série de preços constitui de alguma maneira uma forma de narrativa, uma vez que esta organiza o tempo e produz uma forma de representação; em outro passo da mesma obra, Revel destaca a posição dos micro-historiadores como uma espécie de vanguarda nesta questão, pois estes consideram que “uma escolha narrativa decorre da experimentação histórica tanto quanto os próprios procedimentos de pesquisa” (REVEL, 1996, p.35). Desta maneira, a experiência formal e narrativa não é apanágio da chamada historiografi a pós-modernista – sendo amplamente praticada por historiadores culturais de variadas tendências e pelos micro-historiadores, alguns críticos em relação às posições mais radicais dos pós-modernistas – mas de todo modo, ela aqui adquire um papel particularmente importante.
A ideia de que não necessariamente o estilo é derivado do conteúdo, mas que o conteúdo pode ser derivado do estilo, é ilustrada pelas argumentações de Goodman em seu ensaio sobre O Estatuto do Estilo (1978), entre as quais a ação de que escolher um determinado objeto é já de si mesmo um discurso, frequentemente uma maneira de conceber uma questão mais ampla ou de outra ordem: Assim, as escolhas entre estudar as “batalhas renascentistas” ou as “artes renascentistas”, no período que inicia a modernidade, constituem, desde o primeiro instante, em maneiras distintas de falar sobre a Renascença (GOODMAN, 1978, p.26). Está claro, de todo modo, que após décadas de um discurso anti-literário reivindicado pela e para a historiografi a profi ssional, a refl exão sobre a dimensão literária da historiografi a precisou progredir passo a passo até conquistar um setor mais signifi cativo da historiografi a.
Em “Provas e Possibilidades”, um texto datado de 1979, mas revisto em 1989, Carlo Ginzburg também lembrava que, não havia muito tempo, “a maioria dos historiadores via uma nítida incompatibilidade entre a acentuação do caráter científi co da historiografi a (tendenci-almente assimilada às ciências sociais) e o reconhecimento de sua dimensão literária (GINZBURG, 1989, p.194). Tinha provavelmente
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
31
em mente, além de outros setores, a grande vaga de historiadores infl uenciada pelas primeira e segunda geração da Escola dos Annales, que haviam veementemente rejeitado a tradicional narrativa historicista em favor de um estilo dominado amplamente pela análise estrutural, interdição que seguiu com bastante intensidade desde a fundação do Annales e até os anos Braudel.
Os anos 1980 – ao mesmo tempo em que trariam imprecisões interdisciplinares, pastiches vários e literatura historiográfi ca de ocasião para a venda em “migalhas” no mercado de consumo – abririam também possibilidades até então impensadas para a introdução de uma maior criatividade literária no estilo do historiador, e acompanhando este movimento já começavam a aparecer contribuições fi losófi cas fundamentais para a questão das interações entre Narrativa e História, e, para além disto, para a compreensão dos mútuos imbricamentos entre História e Discurso. Exemplo notório de contribuição relacionada à compreensão sistemática de aspectos relacionados à narrativa historiográfi ca é o magistral ensaio de Paul Ricoeur que leva o título da Narrativa e História (1983/1985).
Exemplo de contribuição para a compreensão das relações entre Discurso e História – e através deste viés as relações entre Discurso e Poder – está na vasta e impactante obra de Michel Foucault, que para além disto também contribuíra para o grande movimento que redimensionou o papel do conhecimento em relação às possibilidades de construção de um discurso que propõe tangenciar ou mesmo apreender a verdade ou a Realidade. Com relação a este aspecto, o pequeno ensaio intitulado A Verdade e as Formas Jurídicas (1979), que recupera uma das Considerações Extemporâneas (1873-1874) de Friedrich Nietzsche, constitui-se em uma síntese particularmente esclarecedora sobre a relatividade de qualquer ponto de vista relacionado à intenção de apreender ou enunciar a verdade.
Com uma série de obras que começavam a invadir nos anos 1970, e mais particularmente nos anos 1980, o cenário historiográfi co, trazendo proposições que se distanciavam dos já clássicos padrões da análise estrutural, via-se signifi cativamente impregnado de novas possibilidades historiográfi cas o chamado Retorno da Narrativa,
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE32
expressão consolidada a partir de um artigo de grande repercussão escrito por Oliver Stone para a revista Past and Present, naquele mesmo ano de 1979 em que Ginzburg escrevia seu ensaio de apresentação para o livro de Natalie Davis. O “Retorno da Narrativa”, um assunto tão polêmico e contemporâneo que gerou em seguida uma réplica de Eric Hobsbawm para a mesma Past and Present (1980), era apenas a ponta de um movimento maior que trazia o Discurso para o centro das refl exões nas ciências humanas, e na História em particular.
Com o crescente reconhecimento o papel do discurso e dos recursos literários na constituição do texto historiográfi co, e, com o crescente reconhecimento da dimensão estética da historiografi a, outro desdobramento importante se afi rmava. Já que a historiografi a e a arte compartilhavam uma mesma natureza em comum, isto é, a sua sobressalente dimensão estética, era lícito não mais situar necessariamente a História no campo das ciências; uma possibilidade muito percorrida pelo olhar historiográfi co pós-modernista foi a de agrupar historiografi a e arte por contraste em relação à ciência. Igualmente possível era sustentar que a historiografi a combinava em uma única prática e modo de conhecimento as duas coisas: ciência e arte. Para dar um exemplo entre tantos, já destacando um historiógrafo brasileiro, Durval Muniz propõe em seu ensaio “História – a arte de inventar o passado”, a possibilidade de considerar a historiografi a como uma “proto-arte próxima da Ciência e da Filosofi a” (MUNIZ, 1997, p. 64). Ou seja, sem se confundir com as instâncias da Arte, da Filosofi a e da Ciência, a História-Conhecimento construiria a partir de uma conexão entre estas áreas o seu próprio espaço de delimitação, a sua identidade em um mundo no qual já não haveria a imposição de um modelo de cientifi cidade para a História.
Em um novo contexto historiográfi co no qual a historiografi a permite a si mesma considerar a sua dimensão estética e a vislumbrar a possibilidade de, senão ser uma Arte, ao menos combinar a forma de expressão artística com outras modalidades de conhecimento, deve-se retornar mais uma vez à questão da legitimidade do trabalho do historiador. Para que a história não se dissolva em pura literatura ou fi cção, surge como contraponto importante a sempre atualizada
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
33
discussão sobre suas fontes. Mesmo no campo dos historiadores que se colocam a meia distância do que consideram exageros pós-modernistas, o cuidado com a dimensão literária e a experimentação estilística pode surgir, desde que bem amparado nesta que é a mais irredutível dimensão do trabalho dos historiadores: o diálogo com as fontes. Traremos um exemplo de crítica contra certos exageros pós-modernistas sem que, necessariamente se tenha de abrir mão da conquista de um maior cuidado com a forma, de uma dimensão artística, de um estilo criativo.
Um distanciamento interessante em relação aos exageros pós-modernistas de redução da História a mero discurso, que ameaça esboroar completamente a distinção entre História e Ficção, pode ser representado pela posição de Carlo Ginzburg em relação a esta questão. A posição deste micro-historiador italiano pode ser evocada a partir de um texto de 1979 intitulado “Provas e Possibilidades”, que é incluído como sexto ensaio do livro de Ginzburg que traz o título A Micro-História e outros Ensaios (1989). A propósito de um prefácio para o livro O Retorno de Martim Guerre, de Natalie Davis – que aliás é uma obra signifi cativa para demonstrar a busca da historiografi a por novos padrões literários – Ginzburg procura desenvolver uma discussão que se coloca criticamente em relação a historiadores como o Hayden White de A Meta-História (1973)13 ou o Hartog de O Espelho de Heródoto (1980). Ele procura mostrar neste ensaio que “uma maior conscientização da dimensão narrativa não implica uma diminuição das possibilidades cognitivas da historiografi a, mas, antes pelo contrário, a sua intensifi cação” (GINZBURG, 1989, p.196)14.
Buscaremos trazer agora alguns exemplos de narrativa historiográfi ca que expressam criativamente novos modos de exposição do texto, de modo a mostrar também o outro lado da questão. Magnus Enzenberger (1929 ...) pode exemplifi car bem o modelo mais positivo do livre-pensador inserido em uma pós-modernidade que assiste à possibilidade de rompimento entre as fronteiras dos tradicionais gêneros literários e ensaísticos. Tendo se notabilizado por importantes ensaios de
13 Para uma crítica a Hyden White, ver ainda MANDELBAUM, Maurice. “The pressuppositions of Metha-history” In Methahistory: Six Critiques, History and Theory. Beihelft,. n°19. 1980.14 Em outro momento, o próprio Hayden White procurou deixar claro que não é sua intenção reduzir a História a mera narrativa (WHITE 1991, p. 21-48)
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE34
análise política, mas apresentando uma invejável polivalência que lhe tem permitido explorar uma multiplicidade criadora de vai do romance e do teatro à poesia, Enzenberger adentra a experiência pós-moderna da narrativa historiográfi ca mais livre com um signifi cativo livro intitulado “O Curto Verão da Anarquia” (1972), que toma como fi o condutor a história de vida de Buenaventura Durruti, anarquista espanhol que viveu o período revolucionário da Guerra Civil Espanhola (1936-1939).
A História, de acordo com a concepção de Enzenberger, é por ele entendida como um “romance coletivo”, e por isso ele buscará uma forma literária inteiramente inovadora que incluirá como materiais centrais os depoimentos resgatados através da História Oral, mas também utilizando a documentação escrita de época de tal maneira disposta que, em contraposição recíproca e liberada em diversos momentos da interferência da análise do historiador, também logra contribuir para trazer à tona a pluralidade de vozes que irá compor a visão coletiva.
A escolha da narrativa se aproxima em alguns momentos do romance, mas também incorpora o inovador processo de “colagem” de documentos e depoimentos que vão formando sentido através da sua sucessão, e permitindo emergir da “memória coletiva” a fi gura do ator histórico examinado. Além disto, o autor incorpora a poesia em suas próprias interferências, e investe por vezes no humor.
Esta complexa inovação formal e metodológica não seria gratuita, mas decorrente da própria percepção de seu objeto de estudo. Assim, para Enzenberger, a vida do anarquista Buenaventura Durruti seria “tão aventurosa que ninguém ousaria escrever sua biografi a, com receio que fosse confundida com fi cção”. Deste modo, ele apresenta a sua justifi cativa, ou melhor dizendo, a sua motivação, para dar à sua obra a forma de um romance histórico. Um romance histórico através do qual ele busca orquestrar as múltiplas vozes capazes de narrar, de maneira mais rica, a história vivida:
Desconhecidos e anônimos são os que falam aqui: um discurso coletivo. No entanto, o conjunto dessas expressões anônimas, contraditórias, unifi ca-se e ganha nova qualidade: faz nascer a história.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
35
Nem todos, certamente, teriam os politalentos necessários para escrever uma obra como esta, que consegue explorar de maneira satisfatória o atravessar de fronteiras interdisciplinares e também realizar algo que não deixa de lembrar o “pastiche” evocado por Jameson de maneira particularmente interessante.
Os anos 1980 também trazem algumas ousadias criadoras relacionadas a novas formas de tratar o tempo. Aqui, alguns historiadores foram pioneiros na incorporação de técnicas narrativas introduzidas pela literatura e pelo cinema moderno, e ousaram retomar a narrativa historiográfi ca mas sem deixar de assegurar a libertação em relação a uma determinada imagem de tempo mais linear ou mais fatalmente progressiva na apresentação de suas histórias (ou seja, na elaboração fi nal dos seus textos).
Uma tentativa, citada por Peter Burke em artigo que examina precisamente os novos modelos de elaboração de narrativas (BURKE, 1992. p.327-348), é a de Norman Davies em Heart of Europe. Nesta obra, o autor focaliza uma História da Polônia encadeada da frente para trás em capítulos que começam no período posterior à Segunda Guerra Mundial e recuam até chegar ao período situado entre 1795 e 1918 (DAVIES, 1984)15. Trata-se, enfi m, não apenas de uma história investigada às avessas, como também de uma história representada às avessas.
Outras tentativas são recolhidas por Peter Burke neste excelente apanhado de novas experiências de elaborar uma narrativa ou descrição historiográfi ca. As experiências vão desde as histórias que se movimentam para frente e para trás e que oscilam entre os tempos público e privado16, até as experiências de captação do fl uxo mental dos agentes históricos ou da expressão de uma “multivocalidade” que estabelece um diálogo entre os vários pontos de vista17, sejam os
15 Esta e algumas das referências que se seguem devem ser creditadas ao artigo supracitado de Burke.16 Alguns exemplos podem ser encontrados nas obras sobre a China do historiador Jonathan Spence (Emperor of China, 1974; The Death of Woman Wang, 1978; The Gate of Heavenly Peace, 1982; e The Memory of Palace of Matteo Ricci, 1985).17 Como exemplo deste tipo de experiência, Peter Burke cita a obra de Richard Price, que discutiremos mais adiante, na qual o autor constrói um estudo do Suriname setecentista a partir de quatro vozes que são simbolizadas por quatro padrões tipográfi cos (PRICE, R. Alabi"s World. Baltimore: 1990. Apud. BURKE, op.cit. p.337).
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE36
oriundos dos vários agentes históricos, dos vários grupos sociais, ou mesmo de culturas distintas18.
Todas estas experiências narrativas pressupõem formas criativas de visualizar o tempo, ancoradas em percepções várias como as de que o tempo psicológico difere do tempo cronológico convencional, de que o tempo é uma experiência subjetiva (que varia de agente a agente), de que o tempo do próprio narrador externo diferencia-se dos tempos implícitos nos conteúdos narrativos19, e de que mesmo o aspecto progressivo do tempo é apenas uma imagem a que estamos acorrentados enquanto passageiros da concretude cotidiana, mas que pode ser rompida pelo historiador no ato de construção e representação de suas histórias.
Traços do Pós-Modernismo: alguma sínteseComo resultado da crise de referencialidade e representatividade
da História, que já discutimos no item sobre a consciência da “narratividade histórica” e sobre a estetização da História – surge um primeiro traço, multipartido, que pode ser agregado às características gerais que permitiriam falar em um Pós-Modernismo histórico. A História seria essencialmente construção e representação, com pouca ou nenhuma ligação em relação a uma realidade externa, ou, ao menos, com uma relação a esta referencialidade externa que precisa ser intensamente problematizada. Daí surgem posições diversas, que vão desde o reconhecimento na historiografi a deste radical caráter de construção mas sem inviabilizar o projeto histórico, até posições que resultam em ceticismo historiográfi co ou na alternativa de dissolver a História em fi cção. Há também posturas diversifi cadas: entre os que relacionam esta construção historiográfi ca aos sistemas de poderes, práticas disciplinares e outras forças em ação, há os que escolhem por tematizar a decifração destes poderes, a sua desconstrução, a sua análise criteriosa de modo a verifi car como o Poder imiscui-se no Discurso. Mas há também os
18 Referência para o estudo do encontro de culturas, abordado no sentido de conceder uma exposição de dois ou mais pontos de vista culturais, encontra-se nas obras de Marshall Sahlins, que estudou as sociedades do Havaí e das ilhas Fuji (SAHLINS, 1981).19 Hayden White chama atenção para a questão da descontinuidade entre os acontecimentos do mundo exterior e a sua representação sob a forma narrativa em “The Burden of History” (1966).
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
37
que, ao reconhecerem o jogo de poderes que inviabilizaria falar em uma História, mas sim em histórias, comprazem-se com a proposta de que sejam escritas histórias para grupos específi cos, para determinados destinatários. A História (ou as histórias) torna-se aqui profundamente subjetivada no que se refere a suas destinações. E, mais ainda, ao escrever uma história dirigida para um público específi co, o historiador pode pensar isto socialmente – direcionando-a a grupos que cultivem identidades específi cas, como a negritude, o feminismo, o ecologismo, o movimento gay, as identidades religiosas – ou simplesmente pensar a destinação do seu trabalho em termos de públicos consumidores, pois o mercado editorial contemporâneo até mesmo o estimula a isto. Keith Jenkins se refere a este fenômeno em seu livro Repensando a História, publicado em 1991:
Hoje, mais do que nunca, há pessoas querendo coisas. No rastro destes centros ausentes e metanarrativas ruídas, encontramos por toda a parte em nossas sociedades democráticas/consumistas uma massa de gêneros (“histórias com griffe”). Para usar e abusar a gosto (JENKINS, 2001, p.101).
Diante da multiplicidade que se abre com a complacência do pós-modernismo editorial, mas também de um quadro de indefi nições no qual os vários atores envolvidos costumam não se defi nir para evitar a chamada “rotulagem” – esta que para o pensamento pós-modernista é habitualmente vista com desconfi ança por ser um recurso algo racionalista – é por vezes bastante difícil localizar univocamente os atores que funcionam como sujeitos na produção do conhecimento pós-moderno. Classifi car ou livrar a um autor da qualifi cação de Pós-Moderno, assumir ou não uma identidade intelectual no âmbito do Pós-Modernismo, restringir ou ampliar a extensão do campo de infl uências que incide sobre a pós-modernidade – estamos aqui em um campo de operações razoavelmente delicado e complexo, que muitos transformam em território de disputas. Apenas para trazer um exemplo da Filosofi a, poderíamos discutir o caso de Michel Foucault, um autor que é ele mesmo avesso a classifi cações mas que muitos chegam a situar no circuito pós-moderno, tal como faz Alex Callinicos no capítulo 3 de
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE38
seu livro Contra o Pós-Modernismo, publicado em 1989. Também há uma complexidade a mais, que é o fato de que autores como Foucault, e antes dele Nietzsche e Heidegger, sejam constantemente reivindicados como infl uência ou mesmo como precursores por grupos com os quais não tiveram ligação. Em Foucault, um fi lósofo que, no seu próprio dizer, estava frequentemente se reinventando, há difi culdades ainda maiores quando se procura relacionar esta ou aquela posição do fi lósofo francês a proposições pós-modernistas.
No campo da historiografi a, poucos assumem explicitamente o rótulo de historiador pós-modernista. É mais comum, ao historiador simpático aos traços gerais do pós-modernismo histórico, falar na “história pós-moderna” como uma tendência de concepção historiográfi ca de nossa época que pretensamente já dominaria o quadro geral ou tenderia a se expandir. Por outro lado, também não é incomum que historiadores situados em posições radicalmente refratárias a certas inovações historiográfi cas (pós-modernas ou não) utilizem esta designação de forma depreciativa para alvejar o que consideram o campo adversário. Não que estejam sendo insinceros ao utilizarem a designação de “pós-modernismo” contra esta ou aquela corrente, pois geralmente buscam fundamentar a sua classifi cação em argumentação coerente, mas a questão é que por vezes cria-se uma falsa dicotomia paradigmática (“nós” contra os “pós-modernos”) como se no campo da historiografi a atual só existissem dois grandes paradigmas. Enxergar o mundo historiográfi co sob a partição entre dois grandes paradigmas parece ser a proposta de Ciro Flamarion Cardoso, no prefácio para o livro Domínios da História e também em outros textos, como “Epistemologia Pós-Moderna e conhecimento: visão de um historiador” (2005). Ali vemos se delinear de um lado um “paradigma iluminista” – que incluiria os materialistas históricos, as duas primeiras gerações dos Annales, e diversas outras correntes integradas a uma vasta tradição que se apoia nas ideias de cientifi cidade da História e no racionalismo; de outro, haveria um “paradigma pós-moderno”, que incluiria não apenas os historiadores que se declaram pós-modernos mas também certos setores da Micro-História, Foucault e os foucaultianos, e toda a Nouvelle Histoire. Em
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
39
certa passagem do artigo “Epistemologia Pós-Moderna”, podemos ler as seguintes palavras proferidas por este grande historiador a quem todos os historiadores brasileiros devem reconhecimento e gratidão por ter explorado de maneira pioneira o âmbito da refl exão brasileira sobre historiografi a:
Cabe-nos tratar das bases epistemológicas em que repousa a concepção Pós-Moderna da História, também conhecida como “Nova História” [grifo nosso], embora não no sentido em que esta última expressão se aplicava, por exemplo – bem mais legitimamente, aliás –, aos Annales nas décadas que vão de Marc Bloch e Lucien Febvre a Fernando Braudel (CARDOSO, 2005, p.85).
É difícil fazer com que se recubram, um ao outro, Pós-Modernismo e Nouvelle Histoire (terceira geração dos Annales em diante). Em primeiro lugar, há muitas correntes em jogo que não se ajustariam nem ao rótulo de “pós-moderno” nem à categorização como “Nova História”. Em segundo lugar há muitos historiadores que se associam ao Pós-Modernismo, explícita ou implicitamente, mas que nada têm a ver com a Nova História francesa, seja por fi liação, seja por infl uência. Por fi m, o próprio campo da Nouvelle Histoire nos oferece uma variedade relevante de práticas e posicionamentos, de modo que a Nova História não poderia ser convocada em bloco para o lado do paradigma pós-moderno. Por fi m, os posicionamentos encaminhados pela Revista dos Annales, que é o veículo de comunicação por excelência da Nouvelle Histoire, não legitimam os padrões pós-modernos como aqueles que a historiografi a deveria seguir. Quando há confl uências entre as maneiras de pensar a História de um historiador da Nova História e um pós-modernista, que geralmente nunca é uma confl uência em todos os aspectos, isto é, uma posição que se coloca ao nível individual deste ou daquele historiador. Não há um posicionamento de grupo da Nouvelle Histoire com relação a parâmetros que podem ser associados ao pós-modernismo. Por fi m, seria preciso dizer que, mesmo que fosse possível dicotomizar o atual presente historiográfi co em um Paradigma Iluminista e um Paradigma Pós-Moderno, o paradigma pós-moderno não é necessariamente o paradigma ruim. Há historiadores
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE40
que trabalham com a perspectiva racionalista nas várias correntes imagináveis que fazem excelente trabalhos, e também trabalhos nem sempre tão bons, e há pós-modernistas que escreveram obras-primas, e outros que produzem obras não tão boas. Mesmo que fosse possível a dicotomia, que em nossa opinião não é possível, não há uma “boa e correta história” do lado iluminista e uma “história ruim e desprezível” do lado pós-moderno.
Posto isto, é bastante adequada a síntese de Ciro Flamarion Cardoso com relação à confi guração de aspectos que constituiriam esse modo pós-modernista de fazer a História, ou o que ele chama de “paradigma pós-moderno”. Segundo sua análise, o Pós-Moderno reuniria, embora com variações possíveis e eventuais não-adesões a um ou outro aspecto, cinco principais características: (1) a desvalorização da Presença em favor da Representação; (2) a crítica da origem; (3) a rejeição da unidade em favor da pluralidade; (4) crítica da transcendência das normas, em favor da sua imanência; (5) uma análise centrada na “alteridade constitutiva”. Nos próprios termos que poderiam representar a concepção dos pós-modernos, cada um destes traços corresponde a um pilar racionalista ou modernista contra o qual os pós-modernos se defrontam; respectivamente: a “Crença no Referente Externo”; o “Mito das Origens”; a “Ilusão da Unidade”; o “Autoritarismo Normativo”; “O Texto Oni-Coerente”.
Estes traços gerais nos parecem perfeitamente válidos para um esforço de visualizar uma primeira confi guração de aspectos que constituiriam o padrão do "fazer historiográfi co pós-moderno". Está claro que não signifi ca que estar identifi cado com um ou dois dos aspectos mencionados situará um historiador no campo da pós-modernidade. A crítica da unidade em favor da pluralidade aparece em diversas outras confi gurações de pensamento, que não apenas a do pós-modernismo historiográfi co, como seria o caso, acreditamos, do “paradigma da complexidade”, ao estilo de Edgar Morin. Ciro Flamarion Cardoso cita inclusive Michel Foucault, para quem não seria aplicável a ideia de que a realidade não existe, ou de que “nada existe fora do texto”, já
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
41
que o fi lósofo francês admite a existência extra-textual de “práticas” ou “dispositivos” (CARDOSO, 2005, p.85).
Para além dos traços apontados, são de igual maneira importantes como delineadores do Pós-Moderno as dimensões mais gerais que já haviam sido apontadas por Fredric Jameson, e que não se referem apenas à historiografi a como prática específi ca (e sim ao todo), mas que certamente a afetam. “Uma nova falta de profundidade” e “um novo tipo de matiz emocional básico”, caracterizado pela perda do afeto e da emoção em favor daquilo a que Jameson denomina “intensidades”, são algumas destas características apontadas por Fredric Jameson para os novos tempos do Capitalismo Tardio, mas também é particularmente notável a “perda da historicidade” com a consequente desintegração do “sentido de tempo” (JAMESON, 2006, p.14)20, e aqui caímos em um curioso paradoxo: como fazer historiografi a em um caldo cultural geral no qual se perdeu a “historicidade”? O historiador pós-moderno enfrenta heroicamente, porque não dizer, o desafi o de sobreviver nesse horizonte cultural sem passado nem futuro, e luta com extrema criatividade para não se tornar contraditório sob este permanente risco de lhe ser negado precisamente aquilo que deveria defi nir a sua natureza mais íntima: a historicidade21. Mas, por outro lado, nesta mesma época em que a “cultura tornou-se ela mesma um produto”, há muito espaço nas prateleiras para esse atraente produto cultural que é o livro de história, e aqui vemos como as contradições se entrelaçam inesperadamente
20 Eis uma passagem de "A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio”, na qual Jameson sintetiza alguns aspectos do Pós-Modernismo: “uma nova falta de profundidade, que se vê prolongada tanto na "teoria" contemporânea quanto em toda essa cultura da imagem e do simulacro; um consequente enfraquecimento da historicidade, tanto em nossas relações com a história pública quanto em nossas novas formas de temporalidade privada, cuja estrutura "esquizofrênica" (seguindo Lacan) vai determinar novos tipos de sintaxe e de relação sintagmática nas formas mais temporais da arte; um novo tipo te Mariz emocional básico – a que denominarei de "intensidades" –, que pode ser bem mais estendido se nos voltarmos para as teorias mais antigas do sublime; a profunda relação constitutiva disto tudo com a tecnologia,que é uma das fi guras de um novo sistema econômico mundial ...” (JAMESON, 2006, p.32) 21 “ [...] é difícil discutir a “teoria do pós-modernismo” de modo geral sem recorrer à questão da surdez histórica, uma condição exasperante (desde que se tenha consciência dela), que deter-mina uma série intermitente de tentativas espasmódicas, ainda que desesperadas, de recupe-ração. A teoria do pós-modernismo é uma destas tentativas: o esforço de medir a temperatura de uma época sem os instrumentos e em uma situação em que nem mesmo estamos certos de que ainda exista algo com a coerência de uma “época”, ou Zetgeist, ou “sistema”, ou “situação corrente”” (JAMESON, 2006, p.13 e 14).
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE42
na pós-modernidade. Mas voltemos aos cinco primeiros traços atrás apontados.
Para entender o primeiro traço – que em termos pós-modernistas poderia ser chamado de crítica à “Crença no Referente Externo”22, ou então de crítica à “efi cácia representacional” – e apoiando-nos na própria análise de Ciro Flamarion Cardoso (CARDOSO, 2005, p.86), a “Presença” corresponderia aos objetos e aspectos que se apresentam imediatamente dados na experiência; devendo ser contrastada com a Representação, que corresponderia a toda uma série de mediações inventadas pelo homem para apreender e se aproximar da realidade, tal como os signos e conceitos. A Presença se oferece ao homem através da percepção, da mediação sensorial; para o historiador, a Presença do Passado se manifesta através das fontes históricas, desde que devidamente criticadas e considerando que – não há como contornar isto – uma fonte também envolve na verdade a própria Representação elaborada por outros, de modo que ao historiador caberia perceber através da fonte a Presença e a Representação, podendo se valer de uma e outra para compreender a época ou a sociedade examinada. Já o Pós-Modernismo tenderia a questionar ou, no limite, mesmo rejeitar esta distinção entre a Presença e a Representação. Para o campo de propostas que passou a ser conhecido como “giro linguístico”, nada seria independente de uma linguagem que precede o próprio Pensamento, o que também traz implicações para determinadas metodologias semióticas nas quais se considera que “nada está fora do texto”. A crítica do referente externo também remete ao que Fredric Jameson discutiu como um abandono do conceito de Verdade, ou de sua busca, e àquilo a que Ankersmit, no seu polêmico texto “historiografi a e Pós-Modernismo”, havia se referido como uma combinação de “anti-essencialismo” e “anti-fundacionalismo” (ANKERSMIT, 1989, p.129).
O segundo e terceiro pilares dos habituais sistemas cognitivos que seriam diretamente confrontados pelo "modo pós-moderno" são o do “Mito de Origens” e o da “Ilusão da Unidade” (expressões evocadas de 22 “referente” → o que um signo representa; aquilo para o qual um enunciado remete. Existiriam fundamentalmente duas modalidades de referentes de um enunciado: de um lado as instâncias da enunciação; de outro lado as coisas, fatos, pessoas, estados das coisas, dos fatos e das pessoas (tanto reais como imaginários) a que o enunciado se refere.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
43
modo a sempre recolocar a questão nos próprios termos que poderiam ser proferidos de uma perspectiva pós-modernista). Ambos os aspectos remetem à velha “crise das meta-narrativas”, que já vimos na Condição Pós-Moderna proposta por Lyotard (1979), mas também à crise das meta-descrições sistêmicas. Afi nal, se não há uma meta-narrativa, com um herói coletivo que caminha teleologicamente para o seu triunfo utópico, ou se não existem mesmo micro-narrativas coerentes e organizadas neste mundo feito de hesitações, descontinuidades e rupturas, não há uma “origem” a ser buscada para cada processo. De igual maneira, se não há um sistema dentro do qual tudo se encaixa como uma engrenagem neste mesmo mundo descontínuo, não há como decifrar por trás de tudo essa grande “unidade” que se traduzia em sistemas fechados e extremamente coerentes.
Para entender a crítica pós-modernista ao “mito das origens” – este segundo pilar da racionalidade que o Pós-Modernismo vem abalar – podemos acompanhar a análise de Ciro Flamarion Cardoso. O que os pós-modernos criticam não é apenas a busca de origens em uma cadeia de acontecimentos, mas também a busca daquilo que está por trás dos fenômenos – uma causa ou conjunto de fatores que, juntos e em determinadas condições, teriam produzido o fenômeno que está sendo estudado. Para Cardoso, essa rejeição da busca de origens, ou do que “está por trás dos fenômenos” (para retomar a expressão de Ankersmit, esse “levantar o azulejo para ver o que está por debaixo”), traria à postura pós-moderna uma tendência à superfi cialidade, ao descritivismo (CARDOSO, 2005, p.86). Os sistemas não existem, e portanto a postura mais adequada a um “realismo pós-modernista” (se pudermos evocar esta aparentemente paradoxal expressão) seria a de descrever a superfície de um mundo sem profundidades, ou de realizar o inventário das descontinuidades e diferenças, talvez o retrato do caos. Daí a crítica à busca da causalidade, que Ankersmit expressa no texto já discutido de 1989 (p.119), e que Zagorin considera incoerente na sua réplica de 1990 ao mesmo texto de Ankersmit (p.144 e 145). A crítica à “Ilusão da Unidade”, naturalmente, caminha na mesma direção. O próprio “eu”, unidade irredutível e absoluta que antes se encontrava soberanamente encastelada no indivíduo, não mais existiria nesta
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE44
concepção segundo a qual a pluralidade adentra o próprio indivíduo humano e legitima a sua incoerência interna. No plano geral, a unidade holística do modernismo estruturalista e do realismo historicista rompe-se defi nitivamente do ponto de vista pós-moderno, gerando no lugar da História muitas histórias que corresponderiam às migalhas denunciadas por François Dosse (1987), para já introduzir aqui este tenso e belicoso diálogo que contrapõe dois mundos que não se compreendem um ao outro.
O “Autoritarismo Normativo” corresponde ao quarto pilar que o pós-modernismo pretende abalar. Pretende-se encaminhar aqui uma crítica às pretensões normativas – que se queiram impor como transcendentes ou universais – a partir da “exposição dos processos de pensamento, escrita, negociação e poder que produziram aquelas pretensões normativas” (CARDOSO, 2005, p.89). Categorias e sistemas de categorias que cotidianamente são aceitos como dados e irrefutáveis, como a dicotomia sexual que reparte os seres humanos em apenas dois sexos, são submetidas à crítica; e se as normas de gentileza e cavalheirismo são submetidas à possibilidade de serem decifradas como “dominação masculina”, também à implacável Escravidão se permite analisar como suave e negociável. Se a pós-modernidade se abre como espaço de expressão ao feminismo, ao ecologismo, ao movimento negro, às diversas tribos urbanas, às análises multi-culturalistas, também se oferece como mundo possível para os neo-nazistas e para as gangs de rua. Se nenhum sistema normativo é transcendente e nenhum padrão de comportamento pode ser imposto como consensual, torna-se também possível ao historiador pós-moderno, dentre a sua pluralidade de histórias, historiar o neo-nazimo do ponto de vista do próprio neo-nazista, dar voz ao serial killer como narrador de suas próprias atrocidades, ou tecer a rede de discursos que se estabelece em torno de um crime de parricídio. Eu, Pierre Rivière, que Degolei Minha Mãe, Minha Irmã e Meu Irmão (1977)23.
23 A obra coordenada por Michel Foucault aborda a problemática do sujeito submergido pelo discurso. Entre o relato de Rivière – um jovem de 20 anos de idade que em 1835 havia degolado sua mãe, sua irmã e seu irmão – e o relato das testemunhas do crime, discursam os médicos e os magistrados,que oscilam entre enxergar o criminoso do ponto de vista da alienação mental ou da cruel racionalidade.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
45
O último pilar modernista que é submetido à crítica pós-moderna é o do “Texto Oni-Coerente”. Tem-se aqui uma proposta metodológica, da parte dos pós-modernistas, à qual Cardoso se referiu como “Alteridade Constitutiva”, ilustrando com a metáfora de que “as margens é que constituem o texto” (CARDOSO, 2005, p.90). A mesma questão também foi tratada por Ankersmit, no texto já discutido (1989). Todo texto, na sua busca de onicoerência, empurra para as suas margens o que lhe é estranho ou não desejável. Ilustra-se na Psicanálise com o discurso do paciente que é analisado, este que empurra para os cantos do seu discurso o que não cabe na representação que conscientemente faz de si mesmo, mas que através do inconsciente escapa através de atos falhos, dos não-ditos e entreditos que devem ser sistematicamente postos a falar pelo psicanalista. Na historiografi a, lembraremos a perspectiva que já foi discutida por Ankersmit (1989) a respeito da metodologia de análise de evidências utilizada por Georges Duby. Este apontava, na entrevista já discutida, para a possibilidade de construir a História através do não-dito, do que foi suprimido (intencionalmente ou não), do detalhe, do que teria parecido irrelevante para uma época mas que, posteriormente, torna-se revelador para outra. Surge também aqui a possibilidade de apreender aspectos importantes através dos lapsos de linguagem, tal como propõe Ankersmit e replica Zagorin na crítica ao primeiro (ZAGORIN, 1990, p.149). O Texto "Oni-Coerente", enfi m, precisa ser desmontado pelo analista, posto a falar – através dos detalhes e das margens que escapam ao seu controle – das alteridades que excluiu ou segregou. Esta seria uma postura metodológica sintonizável com o Pós-Modernismo, mas não exclusiva dela, já que historiadores distintos têm se valido da inquirição dos detalhes, lapsos e margens historiográfi cas, o que ocorre, por exemplo, com a Micro-História, independente da posição do micro-historiador na querela entre Modernismo e Pós-Modernismo.
Uma síntese da postura Pós-Modernista mais radical, e de suas implicações quando da aplicação à historiografi a, poderia avançar ainda por outros aspectos. Um deles, que já fora salientado por Jameson em “A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio” (1984), refere-se ao esboroamento ou desconstrução entre as fronteiras dos gêneros
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE46
de texto, inclusive entre as modalidades disciplinares. Isso estava a ocorrer a partir da Arte Contemporânea dos anos 60, quando passaram a surgir objetos artísticos que já não eram uma pintura, uma escultura, uma arquitetura, mas tudo isso junto, ou que diluíam fronteiras entre Arte e Filosofi a, tal como ocorria com a Arte Conceitual. No campo do conhecimento, surgia aquele território comum no qual se aventuraria um autor, ao construir um único texto sem que fosse possível defi ni-lo por uma História, uma Crítica Literária, uma Filosofi a, ou mesmo uma peça de Literatura, nos casos extremos. Estes rompimentos entre fronteiras, artísticas ou disciplinares, renderam desde obras magistrais (como as de Foucault) até obras por vezes desastrosas. Nesse mundo de liberdades com relação aos campos de conhecimento, também surgiria a possibilidade de profi ssionais de um determinado campo adentrarem audaciosamente um outro, por vezes sem preparo ou domínio dos conceitos e práticas típicos do seu novo campo de experiências. Admitindo-se que tenha havido experiências positivas, também ocorreram as desastrosas. Apenas para dar um exemplo, não é difícil localizar obras de jornalistas que se lançaram avidamente ao estudo dos objetos históricos vários como se estivessem tratando de uma investigação jornalística – que no fi nal das contas era o que eles aprenderam a fazer no seu período de formação e experiência prática. Obras por vezes com falhas conceituais, anacronismos, perspectivas já superadas, modos de trabalhar a fonte apenas na superfície, e outros tantos problemas podem aparecer aqui como um dos desdobramentos da abertura pós-moderna. Isso não quer dizer, naturalmente, que não haja importantes obras historiográfi cas produzidas sob a perspectiva do Pós-Modernismo. Vejamos algo nesta direção, tentando nos perguntar pelos historiadores pós-modernos.
Quem são os Pós-Modernos?Alguns exemplos de historiadores, nos quais despontam menos
ou mais claramente a tendência pós-modernista, pode ser citados. Alain Corbin (n.1936), com obras como O Território do Vazio: a praia e o imaginário ocidental (1989) pode ser talvez um bom exemplo. A si mesmo, ele defi ne-se a partir de uma designação que se refere a um
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
47
campo histórico, ou mais especifi camente a um domínio temático: o da “história das sensibilidades” – o que é adequado, no sentido de que em sua obra procura examinar as mudanças ou permanências nos modos de sentir. Os temas explorados por Alain Corbin sinalizam o gosto pelo inesperado, pelo exótico, pela investigação daquilo que ainda não fora até então constituído como objeto por nenhum outro historiador. Essa perseguição da originalidade é um traço característico de Alain Corbin, que elegeu entre seus temas de investigação uma História da Paisagem Sonora (Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle), publicada em 1994 – obra na qual afi rma a pretensão de dar uma particular atenção “ao inatual, ao insólito, ao que é decretado irrisório [...] tentar um estudo da gênese da insignifi cância, depois da evolução e da difusão das formas da incompreensão".
Uma História do Olfato é o que busca Corbin com a obra intitulada Le miasme et la jonquille: odorat et imaginaire social, publicada em 1986 e logo tomada por Patrick Suskind como fonte de inspiração para seu Best-Seller O Perfume. Para mencionar outras das temáticas inventadas pelo historiador francês, podemos citar uma história da miséria sexual masculina, ou a história da sensibilidade ao “tempo que faz”. Entre os temas mais recorrentes, acham-se as investigações sobre a História da Paisagem, percorridas em obras como Le territoire du vide: l"Occident et le désir de rivage (1990), ou, ainda L"homme dans le paysage (2001). Em A Vila dos Canibais (1989), investiga a história de um acontecimento – uma sangrenta revolta de camponeses – a partir da qual buscou recuperar a lógica de cada um dos atores envolvidos no episódio ou, como ele mesmo afi rma em uma entrevista concedida a Laurent Vidal, procurando “colocar-se na pele dos próprios atores” de modo a reconstituir a lógica de cada um deles ou de cada um dos grupos envolvidos, bem como os seus sistemas de representação do mundo e do além, de modo a melhor entender o enfrentamento e os resultados.
Tipicamente pós-moderna, por aceitar e buscar mais enfaticamente a intrusão da fi cção para preenchimento de lacunas, parece ser a obra O mundo reencontrado de Louis-François Pinagot: no rastro de um desconhecido (1998). Nela Corbin declara o desejo de investigar "a atonia de uma existência comum", o que o levou a procurar obsessivamente,
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE48
durante três anos, um indivíduo que não tivesse deixado nenhum vestígio no curso de sua existência, com o que pretendia "apoiar-se sobre o vazio e o silêncio a fi m de aproximar um Jean Valjean que nunca teria roubado pão". A técnica utilizada é por ele mesmo referida como emprestada Cinema, e visou utilizar uma câmera subjetiva de modo a recriar "o possível e o provável, esboçar uma história virtual da paisagem, da sociedade habitual e dos ambientes”. Assim explica Corbin, ao seu entrevistador, a experiência realizada:
Trata-se, efetivamente, de uma experiência. Entrei pela primeira vez em arquivos em 1956, e você está falando de 1995, ou seja, 40 anos depois: você sabe que não se pode fazer sempre a mesma coisa - seria maçante. E se a gente não se dá prazer, está perdido. Como a ideia me veio? Foi no departamento da Orne, no pequeno município de onde vem minha família: entro um dia no cemitério, e vejo que metade dos túmulos tinham sido destruídos por um trator. Tive medo, em primeiro lugar, que túmulos que me dizem respeito, aqueles de meus antepassados, fi zessem parte do lote. Não era o caso. Mas pensei, mesmo assim: aqueles túmulos, eu os via com minha avó quando era pequeno, e agora estão destruídos. Não sobrou nada deles, ora, não eram tão longínquos aqueles que estavam enterrados aí. Fui então levado a uma meditação sobre o desaparecimento. Quase dei este nome ao livro: "Viagem ao domínio das sombras", como Virgílio indo aos infernos! Nossos bisavós - conseguimos apreender. Tataravós - começa a fi car complicado. E, se for o caso de ir mais além, você não sabe mais sobre seus antepassados do que sobre as pessoas da pré-história: estão desaparecidos, defi nitivamente. É o que leva tantas dezenas de milhares de genealogistas aos depósitos de arquivos. Vão reencontrar avô, bisavô, desse jeito eles conseguem voltar no tempo, mas só obtêm nomes. Quis, então, tomar um daqueles e tirá-lo da sombra. Uma ressurreição, em suma. Mas você sabe que eu fui criticado, a esse respeito? Lembro-me de uma estudante de mestrado que me retorquiu, eu não tinha o direito de fazer aquilo: "não tenho a menor
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
49
vontade de que, daqui a 150 anos" me disse, "alguém venha me buscar assim.
Talvez, é possível aventar, esteja aqui um bom exemplo de obra historiográfi ca pós-moderna. O método é bastante peculiar. O acaso é assumido como recurso para produzir a escolha do personagem a ser examinado. Quem pensaria nisto no âmbito de uma historiografi a racionalista à maneira dos Annales, que seleciona a documentação em função de um problema que deverá gerar todas as escolhas?
O que fazer, então? O melhor, pensei, é talvez ir aos arquivos e proceder ao acaso. Tinha achado isso divertido. É fácil deixar agir o acaso: nos arquivos da Orne, em Alençon, estão conservados os registros de estado civil, por município. Você não olha, coloca o dedo sobre um nome: "zás! pronto". Caio sobre o pequeno município de Origny-le-Butin. Era perfeito. Quatrocentos habitantes na época, 250 hoje. Há, aliás, só - ou quase - parisienses que compraram casas de campo no município. O mais engraçado é que os arquivistas haviam pedido que eu preenchesse uma fi cha de inscrição: "sobre o que o senhor trabalha? - Não sei, mas vou lhe dizer daqui a quinze minutos". Então pedi as tabelas decenais - casamentos, óbitos etc. - e escolhi três nomes. Um morreu com vinte e poucos anos, portanto não me interessava. E havia aquele Louis-François Pinagot, que viveu 76 anos e que tinha atravessado o século, praticamente. Pensei: "é ele". Não se toma uma tal decisão sem emoção: "Agora vou trabalhar - quanto tempo, não sei, sem dúvida vários meses -, sobre esse senhor que estava ali, completamente adormecido". E não conseguia me impedir de pensar: "se há uma outra vida e eu a encontrar, será surpreendente". Procurei, portanto, tudo que eu poderia saber.
Enfi m, fariam de Alain Corbin um provável candidato à classifi cação no âmbito da historiografi a pós-moderna alguns aspectos como a opção pelos temas exóticos, pela viva reconstrução lacunar através de uma imaginação romanesca, pela incorporação do acaso como procedimento, pela pesquisa do anônimo desconhecido que se
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE50
torna importante pela sua insignifi cância – mas não em uma perspectiva como a da Micro-História, que é a de utilizar esse anônimo ou o detalhe pouco percebido como caminho para chegar a uma questão mais ampla. Em Corbin, o que se busca é o insignifi cante pelo prazer de investigar o insignifi cante. Estaria talvez aqui um bom exemplo de historiografi a pós-moderna no que se refere a alguns aspectos que têm sido criticados pelos historiadores que ainda buscam o sentido na história, a ligação com contextos mais amplos, a problematização.
Richard Price, autor de um interessante livro sobre os Saramakas do Suriname (1990), também pode ser associado à prática historiográfi ca pós-modernista, e é assim que Hobsbawm o apresenta na sua resenha “Pós-Modernismo na Floresta” (1990), incluída na coletânea de ensaios Sobre a História (1997). O interessante na obra Alibi"s World, de Richard Price (1990), é a originalíssima experimentação em torno de um novo padrão de análise das fontes, e de exposição dos resultados, que poderemos denominar “Polifonia”. O livro busca examinar as sociedades quilombolas do Suriname nos séculos XVIII e XIX. Para compreender a história dos saramakas – que é como no Suriname eram chamados os quilombolas que construíram sociedades às margens do sistema escravista – Richard Price procura apreender estas sociedades através da vida e contexto de um chefe quilombola chamado Alabi (1740-1820). Mas o que importa é o método proposto. Price procura construir a sua polifonia de vozes trazendo, para além da sua própria voz de autor, as vozes dos vários atores sociais que são entrevistos nas fontes. Cada uma destas vozes é identifi cada no texto escrito por Richard Price com uma fonte tipográfi ca distinta, sendo este o singular recurso visual disponibilizado para o leitor, de modo a que este não se perca naquilo a que Eric Hobsbawm parece entrever como uma espécie de “fl oresta de vozes” construída por este audacioso ensaio que foi objeto de considerações da parte de Hobsbawm em uma resenha intitulada “Pós Modernismo na Floresta” (1990). A experiência polifônica de Richard Price, embora criticada na sua realização fi nal por Hobsbawm, é certamente material de extremo interesse para se pensar as futuras possibilidades da História no que se refere a novos modos de lidar com as fontes e a novos modos de expor o texto.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
51
Pesquisas e experiência na escritura da história, como a empreendida por Price, devem ser relacionadas a multiplicação de abordagens e modos de exposição que os novos tempos trouxeram. Esta expansão metodológico-expositiva caminha ao lado, certamente, da expansão temática em direção a novos objetos e a novas possibilidades de leituras miniaturizadas de certos aspectos da realidade social, econômica, política e cultural – incluindo também aquilo que Dosse chamou de uma “história em migalhas”. Entre historiadores renomados, aparecem estudos que, no passado teriam despertado ainda mais estranheza, como por exemplo uma “história das notas de pé-de-página”, escrita por Anthony Grafton (1997)24.
Exemplo de investimento nas leituras fragmentadas pode ser ilustrado com a obra Citizens: a chronicle of the French Revolution, de Simon Schama, um historiador britânico particularmente bem articulado com a Mídia, que busca examinar o período da Revolução Francesa a partir de histórias de vida pessoais, alternando-as com afi rmações polêmicas que mereceram críticas de especialistas, apesar do estrondoso sucesso editorial da obra, quem em cero momento se arrisca a explicar o Terror e a Violência como “corolário lógico da linguagem universalista da Declaração de Direitos Humanos”25. É também um investimento nos horizontes da experiência pessoal o estudo de Sean Wilentz sobre um profeta urbano da Nova York do início do século XIX (1999). Argumenta-se que, nesta recuperação de histórias pessoais do passado, sem uma ligação maior ao contexto ou sem o contraponto de problematizações, tal tipo de historiografi a pouco acrescentaria em relação à literatura mais livre, resultando que a própria identidade da História enquanto gênero com especifi cidades próprias se veja ameaçada.
É verdade ainda que, co-habitando o mesmo universo que os historiadores profi ssionais, uma série de outros escritores de histórias invadiu o mercado editorial pós-moderno, que também oferece como dimensão possível a “superfi cialidade” já identifi cada por Jameson.
24 Anthony Grafton também investiu no estudo de temas mais clássicos da História Cultural, examinando o classicismo renascentista.25 Uma crítica às afi rmações de Schama podem ser encontradas em Tackett (2003).
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE52
Benefi ciando-se da tendência a uma estetização da historiografi a, não é raro que surjam profi ssionais de outras áreas que trabalham com a elaboração literária prontos a acrescentar a sua lantejoula historiográfi ca no mercado editorial, superfi cial mas escrita em texto fl uente, capaz de seduzir um público leitor mais amplo e, desta maneira, agradar os editores. “Surgem histórias” como a “História Íntima do Beijo” (ENFIELD, 2008), a “Breve História das Nádegas” (HENNIG, 1997), a “História do Estupro” (VIGARELLO, 1998). Há uma história para cada objeto – dos clipes, garfos e latas aos zíperes – como nos mostra o ensaio de Henry Petroski sobre A Evolução das Coisas Úteis (2007). No mundo editorial pós-moderno, parece ser esta a tendência, há espaço para tudo nas prateleiras dos livros de História.
Historiography and Postmodernity
Abstract:This article aims to discuss the concept of “Post-Modernity” in its
applicability related to Historiography, beyond to present a panoramic view involving the various positions of the historians in relation to the historiographical postmodernism. What are the main features of the post-modern historiography, and which historians can be proposed as examples of this category? What is the situation of this dabet about post-modern historiography? What is the context of emergence and maintenance of this debate in recent decades? The article aims to bring this questions acompainned by the references that had already become classics for the theme.
Key-Words:
Post-Modernism – Post-Modern Historiography – Contemporary Historiography
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
53
BIBLIOGRAFIA:ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999 [original: 1998]
______. A crise da crise do marxismo: introdução a um debate contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
ANKERSMIT, Frank R. “historiografi a e Pós-Modernismo” In Topoi – Revista de História. V.2. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001 [“Historiography and Postmodernism”, History and Theory, n°28, 1989, 137-153].
______. The Reality Effect in the Writing of History: the Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam: Noord-Hollandsche, 1989.
______. The Aesthetic Politics: Political Philosofy Beyond Fact and Value. Stanford: Stanford University Press, 1996.
______. The historical representation. Stanford: Stanford University Press, 2001.
______. The political representation. Stanford: Stanford University Press, 2002.
BARTHES, Roland. “O Efeito de Realidade” e “O Discurso da História”, in O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.163-190 [original: 1989].
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D"Água, 1991 [origina: 1981].
BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 [original: 1997].
BELL, Daniel. The End of Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. New York: The Free Press of Glencoe, 1960.
BENTLEY, Michael. Modern historiography: an introduction. London: Routledge, 1999.
BURKE, Peter. “A História dos Acontecimentos e o Renascimento da Narrativa” in A Escrita da História – novas perspectivas. S. Paulo: UNESP, 1992. p.327-348.
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE54
CALLINICOS, Alex. Against Pos-Modernism: a marxist critique. Cambridge: Polity Press, 1989.
CARDOSO, Ciro Flamarion. “Epistemologia Pós-Moderna e conhecimento: visão de um historiador” In Um Historiador fala de Metodologia. Bauru: EDUSC, 2005. p,73-94.
CONNOR, Steven. Cultura Pós-Moderna: introdução às teorias do contemporâneo. São Paulo: Edições Loyola, 2000 [original: 1989].
CORBIN, Alain. Alain Corbin: o prazer do historiador (Entrevista concedida à Revista Brasileira de História). Revista Brasileira de História, volume 25, n°49, São Paulo: jan/jun de 2002.
______. Território do Vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
______. Le miasme et la jonquille: odorat et imaginaire sócial. Paris: Albin Michel, 1994.
______. Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Paris: Flammarion, 1986.
______. Le territoire du vide: l"Occident et le désir de rivage. Paris: Flammarion, 1990.
______. L"homme dans le paysage. Paris: Textuel, 2001.
______. Le village des "cannibales". Paris: Aubier, 1990.
______. Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: sur les traces dun inconnu (1798-1876). Paris : Flamarion, 1998.
CULLER, K. On Desconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. Londres: 1985.
DAVIS, Natalie Zemon. O Retorno de Martim Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 [original de publicação: 1982].
DAVIES, Norman. Heart of Europe: a Short History of Poland. Oxford: 1984.
DIEHL, Astor. Aspectos da desilusão da ideia de progresso na História e suas implicações. in Cultura Histórica – memória, identidade e representação. Bauru: EDUSC, 2002. p.21-44.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
55
DOSSE, François. L"histoire em miettes: dês Annales à La Nouvelle Historie. Paris: La Découverte, 1987.
DUBY, Georges e LARDREAU, G. Dialogues. Paris: Flamarion. 1980.
DUBY, Georges. “A História: um meio de divertimento, um meio de evasão, um meio de formação” In Le Goff, Duby, Le Roy Ladurie e outros. A Nova História. Lisboa: edições 70, 1991 [original: Magazine Literaire n°123, 1977].
EAGLETON, Terry. As ilusões do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 [original: 1996).
ENFIELD, Julie. História Íntima do Beijo. São Paulo: Matrix: 2008.
ENZENBERGER, Hans Magnus, O curto Verão da Anarquia: Buenaventura Durruti e a Guerra Civil Espanhola. trad. Márcio Suzuki. São Paulo: Companhia das letras, 1987.
FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: PUC, 1979.
______. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
______. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
______. (Org.). Eu, Pierre Rivière, que Degolei Minha Mãe, Minha Irmã e Meu Irmão:Um caso de parricídio do século XIX apresentado por Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1977 [original: 1973].
FUKUYAMA, Francis. The End of History. The National Interest. N°16, Summer 1989, p.3-18.
GAY, Peter. O Estilo na História. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 [original: 1974].
GINZBURG, Carlo. “Provas e Possibilidades” In A Micro-História e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1989. p.179-202 [original: 1979]
______. “Raízes de um paradigma indiciário” In Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p.143-179 [original italiano: 1986]
GOODMAN, Nelson. “The Status of Style” In Ways of Worldmaking. Cambridge Mass: 1983.
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE56
GRAFTON, Anthony. Footnote: a curious history. Harvard: Harvard University Press, 1997.
HABERMAS, Jurgen. La modernité: un projet inachevé. Critique, n°413. Paris: Minuit, octobre 1981.
HARLAN, David. Intellectual History and the Return of Literature. American History Review, n°94, junho de 1989, p.879-907.
HARTOG, François. O Espelho de Heródoto. Belo Horizonte: UFMG, 1999 [original: 1980]
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1993 [original: 1990].
HENNIG, Jean-Luc. Breve História das Nádegas. São Paulo: Terramar, 1997.
HOBSBAWM, Eric. “The Revival of Narrative: some comments”, n°86, fevereiro de 1980, p.3-8 [republicado em: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.201-206 – original: 1997].
_________________. Escaped Slaves of the Forest. New York Review of Books, 6 de dezembro de 1990, p.46-48 (republicado em “Pós-Modernismo na Floresta”, In Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.201-206) [original do livro: 1997; original do artigo: 1990].
HUDSON, W. “The Question of Postmodern Philosophy” in HUDSON, W e REIJEN, W. (orgs). Modernen versus Postmodernen. Ultrech: Het Spectrum, 1986, p.51-91.
HUGHES, Stuart. The End of Political Ideology. Measure 2, n°2. 1951. p.146-158.
JAMESON, Fredric. “Introdução” in Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Ática, 2006. p.13-25 [original: 1991]JAMESON, Fredric. “Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio” in Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Ática, 2006. p.27-79 [original: 1984]
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
57
JENKINS, Keith. A História Repensada. São Paulo: Contexto, 2001 [original: 1991]
JENKINS, Keth. On "What is History". From Carr and Elton to Rorty and White. London: Routledge, 1995.
KELLEY, Donald R. “El giro cultural en La investigación histórica” In OLABARRI, Ignácio; CAPISTEGUI, F. J. (orgs). La "nueva" historia cultural: La infl uencia del pos-estructuralismo y el auge de la interdisciplinaridad. Madrid: Complutense, 1996. p.35-48.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006 [original: 1979].
LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo. Rio de Janeiro: Imago, 1983 [original: 1979].
LECHTE, John. 50 pensadores contemporâneos essenciais: do estruturalismo à pós-modernidade. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002.
LEVI, Giovanni. “Sobre a Micro-História” in BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP. 1992 [original: 1991]
LOJKINE, Jean. A revolução informacional. São Paulo: Cortês, 1995.
LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1998 [original: 1979]
MANDEL, Ernst. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural (coleção Os Economistas), 1982 [original: 1972].
MEGILL, Allan. Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida. Los Angeles: University of California Press, 1985.
MUNSLOW, Alun. The Routledge companion to historical studies. London: Routledge, 2000.
NIETZSCHE, Friedrich. "Considerações extemporâneas 1873-1874" In: Obras incompletas. Seleção de textos de Gérard Lebrun. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
NISBET, Robert. História da ideia de Progresso. Brasília: UNB, 1985.
PLUMB, John Harold. Dead of the Past. Boston: Houghton Miffl in Company , 1970.
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE58
PRICE, Richard. Alabi"s World. Baltimore: John Hopkins University Press, 1990.
REIJEN, Willem van. “Postscriptum” in HUDSON, W e REIJEN, W. (Orgs). Modernen versus Postmodernen. Ultrech: Het Spectrum, 1986, p.9-51.
REVEL, Jacques. “A microanálise e a organização do social” In Jogos de Escalas – a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. p.15-38.
RICOEUR, Paul Temps et Récit. Paris: Seuil: 1983/1985 [Tempo e Narrativa. São Paulo: Papirus, 1994].
SAHLINS, M. Historical Metaphors and Mythical Realities. Ann Arbor: 1981.
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à Ciência Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
SCHAMA, Simon. Citizens: a chronicle of the French Revolution. New York: Alfred A. Knopf, 1989 [Cidadãos: Uma Crônica da Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989].
SHKLAR, Judith N. After Utopia: The Decline of Political Faith. Princeton: Princeton UP, 1957.
SPENCE, Jonathan. Emperor of China. Londres: 1974
______. The Death of Woman Wang. Londres: 1978.
______. The Gate of Heavenly Peace. Londres: 1982.
______. The Memory of Palace of Matteo Ricci, Londres: 1985.
STONE, Oliver. The Revival of Narrative: Refl ections on a new Old History. Past and Present, n°85, novembro de 1979. p.3-24.
TACKETT, Timothy. When the King Took Flight. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2003.
TOURRAINE, Alain. Modernity and cultural specifi cities. International Social Science Journal, n°40, 1989, p.43-457.
TOURRAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1995.
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
59
SWEEZY, Paul. Socialismo real" y crisis de la teoria marxista. Monthly Review. Vol.2, n°12, p.19-24, jul/ago de 1979.
VIGARELLO, Georges. História do Estupro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
WHITE, Hayden. A Meta-História: a Imaginação Histórica no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1972[original inglês: 1973].
______. The Burden of History. History and Theory, 5, 1966.
______. Teoria literária e escrita da história. Estudos históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1991, p. 21-48.
WILENTZ, Sean. The Kingdom of Mathias: a story of sex and salvation in the 19th Century America. Oxford: Oxford University Press, 1999.
ZAGORIN, Perez. historiografi a e Pós-Modernismo: reconsiderações. Topoi. Rio de Janeiro: março de 2001. p.137-152.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL:
ANKERSMIT, Frank. “The origins of postmodernist historiography” in TOPOLSKI, Jerry (org.). Historiography between modernism and postmodernism. Amsterdam: Rodopi, 1994. p.87-117.
______. “Historism and Postmodernism – a phenomenology of historic experience” in ANKERSMIT, Frank (org.). History and topology – the rise and fall of metaphor. Bekeley: University of California Press, 1994. p.182-238.
______. e KELLNER, Hans. A new philosopy of history. London: Reaktion Books, 1995.
AUGÉ, Marc. Non-places: Introduction to na anthropology of Supermodernity. London: Verso, 1995, p.7-41.
CAHOONE, Lawrence. (org.) From Modernism to Posmodernism. Cambridge Ma: Blackwell, 1996.
DIEHL, Astor. Vinho novo em pipa velha: o Pós-Modernismo e o Fim da História. Passo Fundo: EDIUPF, 1997.
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADE60
FONTANA, Joseph. História depois do Fim da História. São Paulo: EDUSP, 1998.
HARTOG, F. Le miroir d”Hérodote. Paris: 1980.
HIMMELFARB, Gertrude. The New History and the old: Critical essays and reappraisals. Cambridge Ma: Harvard University Press, 1987.
HUYSSEN, Andreas. “Mapeando o Pós-Moderno” In: HOLLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pós-Modernismo e Política. 2a edição, Rio de Janeiro, Rocco, 1992.
IGGERS, George G. La ciência histórica em el siglo XX: las tendências actuales. Barcelona: Labor, 1995.
JOYCE, Patrick. “The end of social history” in JENKINS, K. (Org.) The postmodern history reader. London: Routledge, 1997. p.341-365.
KELLNER, Hans. Language and historical representation: getting the story crooked. Madison: University ok Wisconsin Press, 1989.
LEMERT, C. Pós-modernismo não é que você pensa. São Paulo: Loyola, 2000. p.74-75.
LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998.
MARTINS, Estevão de Rezende. História e Teoria na Era dos Extremos. Phenix – Revista de Estudos Culturais. Vol.3, Ano 3, n°2. Uverlândia: UFU, abril/junho de 2006.
MUNSLOW, Alun. Desconstructing History. London: Routledge, 1997.
NORRIS, Christipher. Desconstruction, Theory and Practice. London: Methuen, 1982.
PIPPIN, Robert B. Modernism is philosophical problem: On the dissatisfactions of Europeam high culture. Cambrige Ma: Blackwell, 1991.
RUSEN, Jörn. Conscientização Histórica frente à Pós-Modernidade: a história na era da nova intransparência. História: Questões e Debates, n°10, p.303-329. 1989. [republicado em História: Questões e Debates. Vol.10, n° 18/19. Curitiba: 1998]
HISTORIOGRAFIA E PÓS-MODERNIDADEU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
61
SARDAR, Ziauddin. Postmodernism and the other. The new imperialism of western culture. London: Pluto Press, 1998.
STONE, Lawrence. History and post-modernism. Past and Present, n°131, p.217-218, Maio 1991.
WHITE, Hayden. “Teoria literária e escrita da história”, trad. Dora Rocha, in: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol.7, número 13, 1991[pp. 21-48].
______. “La questione delle narazione nella teoria contemporânea della storiografi a” In ROSSI, P (org,) La teoria della storiografi a oggi. Milão: 1983, p.33-78.
WIDDOWSON, P. The creation of a past. The Times Higher Education Supplement. 3.11.1990.
FONTES ADICIONAISCORBIN,Alain; VIGARELLO, Georges; CURTINE, Jean-Jacques (Orgs). História do Corpo. Petrópolis : Vozes, 2008 [original : 2005]
LECOUTEUX, Claude. História dos Vampiros: autópsias de um mito. São Paulo: UNESP. 2005 [original: 1999]
PETROSKI, Henry. A Evolução das Coisas Úteis: clipes, garfos, latas, zíperes e outros objetos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
ROCHE, Daniel. A Cultura das Aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). São Paulo: SENAC, 2007.
REIS, João José. Domingos Sodré: um sacerdote africano. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 [uma micro-história cultural, que procura chegar a uma história do candomblé na Bahia].
UJVARI, Stefan Cunha. A História da Humanidade contada pelos Vírus. São Paulo: Contexto, 2008.
VIDAL-NAQUET. Atlântida:pequena história de um mito platônico. São Paulo: UNESP. 2008 [original: 2005]
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO
Cinthia M. M. RochaRachel J. R. Amaro*
“Uma boa obra de arte agrada muito a Deus”Albrecht Dürer, Tratado de Medidas e Proporções, 1526.
ResumoUma discussão bastante controversa entre os historiadores que
estudam a Idade Média é a que diz respeito ao conceito de arte. O que seria a arte para o medievo? É lícito utilizarmos esse termo para o período? Haveria, de fato, uma arte medieval? Questões como essas têm sido debatidas pela historiografi a ao longo de séculos e as respostas encontradas variam enormemente. Hoje, talvez as mais signifi cativas sejam aquelas encontradas nos trabalhos de alguns historiadores da arte, como Hans Belting e David Freedberg, que, desde a década de 1980, começaram a propor o uso do termo imagem em contraposição ao de arte. Desde então, muitos historiadores da Idade Média tem sido reticentes ao utilizar o termo “arte” e adotaram o termo imagem em praticamente todas as situações. Para todos, os argumentos que justifi cam suas opções são válidos, o que divide ainda mais o meio acadêmico e torna a discussão mais paradoxal. O objetivo desse artigo é apresentar alguns debates historiográfi cos recentes sobre este tema, buscando elucidar o estado atual da questão.
Palavras-chave:
Arte – Imagem – Historiografi a – Idade Média.
* Cinthia M. M. Rocha e Rachel J. R. Amaro são mestrandas do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pesquisadoras colaboradoras do Núcleo de História da Arte (NHA/PPGHIS/UFRJ) e bolsistas FAPERJ Nota 10 e CNPq, respectivamente.
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO64
O conceito de arteO termo arte, derivado do latim ars, comporta, em sua acepção
original advinda do grego, a ideia de habilidade, ofício, obra. Em sua acepção mais geral, utilizada por Platão, arte signifi ca todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Por isso, segundo Platão, não haveria distinção entre arte e ciência, pois ambas estariam relacionadas ao raciocínio. Já para Aristóteles a distinção entre arte e ciência estava baseada na ideia de produção. Toda arte deveria estar necessariamente relacionada ao ato de produzir algo, a uma ação, enquanto as ciências estariam relacionadas às atividades cognitivas e distantes, por essa razão, da prática. Nesse sentido, a retórica, a medicina, a arquitetura, dentre outras, seriam artes, enquanto a física e a matemática seriam ciências.
Durante a Idade Média o sentido do termo permanece ligado à ideia de habilidade e ofício. É a partir daí que surgem os vocábulos artifl ex, artisan, artistes (LE GOFF, 2002, v. 2, p. 559), atividades diretamente relacionadas à produção e a uma habilidade prática. Tomás de Aquino estabeleceu uma distinção entre o que chamou artes liberais e artes servis, ou mecânicas. A primeira destinava-se aos trabalhos da razão e do intelecto e a segunda aos trabalhos do corpo. As artes servis seriam necessárias, enquanto as liberais seriam dignas por serem realizadas pelo homem livre (AQUINO, 1996, p. 112). Dentre estas estariam a gramática, a retórica, a lógica, etc.
É também na Idade Média que a noção platônica de ideia é modifi cada. Para Platão todos os elementos do mundo sensível tinham sua origem no que chamava de Mundo das Ideias, sendo o mundo dos sentidos uma representação – ainda que imperfeita – deste. Nessa concepção, a arte estaria entre o sensível e o inteligível, pois o artista não seria o imitador de uma realidade material, mas sim aquele que teria acesso à perfeição do Mundo das Ideias que, então, tentaria reproduzir. Santo Agostinho retoma essa noção, mas localiza a origem das ideias na mente divina, acessível somente por meio daquele “olho através do qual se vêem essas coisas” (BATISTA, acesso em 2009). Assim, para Agostinho, a arte seria a projeção de uma imagem interior,
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
65
de uma visão, mais do que a reprodução de uma perfeição. A noção de reprodução fi el da realidade só é retomada no Renascimento, mas dessa vez se opondo ao platonismox, porque ao invés de inata e preexistente, passa a ser originada a partir da observação, ganhando um sentido naturalista (PANOFSKY, 1994).
Quando, em 1568, Vasari afi rmou que os homens haviam “abandonado a velha maneira de fazer as coisas e começaram novamente a imitar as obras da antiguidade tão habilmente e cuidadosamente quanto podiam” (FERNIE, 1995, p. 33, tradução nossa), ele atribuiu ao conceito de arte essa noção de reprodução da realidade, considerando, portanto, que a arte do Renascimento era sucessora dos Antigos e que a arte medieval não deveria ser considerada arte porque não partilhava desse mesmo ideal.
As infl uências de Vasari para a História da Arte foram muitas. Foi ele que associou a arte medieval aos Godos, dando origem ao termo Gótico, utilizado até hoje e que na época carregava um sentido pejorativo, relacionado ao “barbarismo” do povo em questão. Os estudos em História da Arte que se seguiram tenderam a se apoiar nas obras de Vasari e, portanto, na noção de que a arte medieval estava longe da perfeição e, por isso, representava um momento de decadência da arte. Essa ideia se propagou até o século XIX, quando o período romântico resgatou o estilo, valorizando-o.
Vasari também infl uenciou o próprio conceito de arte, que passou a estar associado às grandes criações artísticas de pintores, escultores e arquitetos que se destacaram no seu tempo por sua habilidade e maestria. Ainda hoje o conceito é muitas vezes associado às Belas Artes. Segundo Fernie:
No seu sentido mais restrito (que é também o mais frequentemente usado), Arte com um A maiúsculo se refere a um corpo de trabalho considerado como sendo inspirado e de grande importância para o nosso bem estar (como nas belas artes, obra de arte, a arte de Michelangelo, arte pela arte e galeria de arte). A essência das belas artes consiste em pintura, desenho e escultura, ou o que é ensinado em
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO66
escolas de arte como parte de uma formação da graduação em belas artes (FERNIE, 1995, p. 326, tradução nossa).
Assim, o próprio conceito de arte se altera, se distanciando da ideia de ofício e produção que possuía na Antiguidade e na Idade Média, e passa a estar associada a noção de belo e aos grandes mestres. Hoje, principalmente após a emergência das obras modernistas do século XX, o termo “arte” é de difícil defi nição, o que coloca os historiadores numa situação complicada no momento de identifi car noções e conceitos que melhor se aplicam ao seu trabalho. Para a Idade Média, a situação se revela ainda mais complexa, porque – se aproximando de uma interpretação pós-vasariana que põe em dúvida a existência de uma arte medieval – alguns historiadores questionaram o uso do conceito para o período e propuseram a utilização de outro termo, o de imagem, sobre o qual nos ateremos a seguir.
O conceito de imagemDesde a década de 1980 alguns historiadores da arte começaram
a propor a escrita de uma história da imagem, em contraposição a uma história da arte. O trabalho do historiador da arte David Freedberg tem sido muito citado nesse contexto. The Power of Images: Studies in the History and Theroy of Response, de 1989, pretende analisar as relações entre as imagens e as pessoas ao longo da História. Por isso, Freedberg diz que seu trabalho não é sobre História da Arte, mas sim sobre “todo tipo de imagem e não apenas aquelas consideradas artísticas”
(FREEDBERG, 1989, p. 19, tradução nossa). Ocorre que, para ele,
os historiadores da arte teriam praticamente menosprezado o comportamento “primitivo” no Ocidente, assim como teriam negligenciado a evidência nas sociedades não Ocidentais daquilo que tem sido presumido como uma das categorias mais sofi sticadas do pensamento Ocidental sobre arte – nominalmente, sua auto-consciência crítica e seu desenvolvimento como uma terminologia crítica (FREEDBERG, 1989, p. 21, tradução nossa).
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
67
Assim, David Freedberg critica a história da arte por ignorar o poder das imagens, sua recepção e relação com as pessoas. Nesse sentido, a história da imagem possibilitaria análises mais amplas e tomaria seu lugar “como uma disciplina central para os estudos de homens e mulheres; [em contrapartida,] a história da arte permaneceria, agora um pouco desamparadamente, como uma subdivisão da história das culturas” (FREEDBERG, 1989, p. 23, tradução nossa).
Antes de Freedberg, entretanto, o historiador da arte alemão Hans Belting há algum tempo já vinha se destacando por seus estudos sobre imagem, principalmente no âmbito da História da Idade Média e Renascimento – Freedberg também analisa os séculos XVII e XVIII. Durante as décadas de 1970 e 1980, Hans Belting se dedicou especifi camente ao estudo das imagens sagradas na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Ocidental Latina, antes de 1500. Seu livro de 1981, The Image and its Public: Form and Function of Early Passion Paintings, e uma série de outros artigos mostram essas suas refl exões e aproximações na tentativa de produzir uma história da imagem sagrada que parece ter culminado com a publicação de Likeness and Presence: a History of the Image before the Era of Art. Neste livro, Hans Belting apresenta uma interpretação sobre o lugar da imagem na história do Ocidente, procurando traça-lo a partir da análise de crenças, superstições, esperanças e medos comuns na cultura cristã medieval (FOLDA; WETTER, 2009).
A noção de “imagem”, conforme defi nida pelo historiador Jean-Claude Schmitt – e também utilizada por Belting – parece ser muito apropriada, uma vez que o termo latino imago estaria “no centro da concepção medieval de mundo” e relacionado não apenas a objetos fi gurados, mas também a metáforas e alegorias, obras literárias e pregações. Além disso, a noção de imagem diz respeito também à antropologia cristã como um todo, pois, segundo o próprio Deus, o homem teria sido feito de acordo com a sua própria “imagem e semelhança” (Gênesis 1,26) (SCHMITT, 2002, p. 592).
Por isso, imagens, para Belting, são representações carregadas de uma signifi cação religiosa intrínseca e que devem ser entendidas por essa via. Elas não apenas representam um ser espiritual, como também
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO68
eram tratadas como um ser espiritual, sendo adoradas, depreciadas, ou levadas de um lugar para outro durante rituais e procissões. Sua análise, portanto, parte da investigação das funções atribuídas a essas imagens, distinguindo, por exemplo, imagens públicas, privadas e de culto.
Em Likeness and Presence, Belting apresenta sua narrativa histórica em três partes. Nos capítulos 2 a 8 o autor analisa o período em que os cristãos teriam adotado o culto às imagens dos pagãos e começado a desenvolver suas próprias práticas ao usarem seu próprio pensamento sobre imagens sagradas. Nos capítulos 9 a 18 o autor trabalha o período medieval em que as imagens sagradas eram usadas como ícones e peças de altar. Esse é também um período em que teria havido uma mudança histórica no desenvolvimento da função da imagem sagrada. Por fi m, nos capítulos 19 e 20, o autor analisa o fi m do período medieval, quando a imagem sagrada teria entrado em crise e sido substituída pela obra de arte (FOLDA; WETTER, 2009). E é sobre este tema que nos ateremos a seguir.
Imagem versus ArteNo último capítulo de Likeness and Presence – Religião e Arte:
a crise da imagem no início da Idade Moderna (tradução sugerida) –, Hans Belting desenvolve a ideia de que a imagem sagrada, objeto principal de seu estudo, perde seu status enquanto tal para dar lugar a outro, o da obra de arte. Essa ideia já aparece explícita no subtítulo de seu livro – Uma História da Imagem antes da Era da Arte – e revela muito da posição do autor em relação ao conceito de arte. Ao afi rmar a existência de uma História da Imagem anterior à “Era da Arte”, Belting propõe que a arte só teria surgido a partir do século XVI, quando teria ocorrido uma “crise da imagem”.
Sua posição parte do princípio de que, por terem um cunho religioso muito evidente, durante a Idade Média, tais objetos não eram valorizados ou sequer considerados obras de arte. Segundo Belting, imagens desse tipo caíram de popularidade, tendo seu conteúdo religioso questionado pelas religiões protestantes, e “começaram a ser justifi cadas como obras de arte” (BELTING, 1997, p. 470, tradução nossa), dando início ao que ele chama de “Era da Arte”. De maneira mais sistemática,
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
69
sua tese é a de que imagens que teriam perdido sua função na Igreja após a Reforma, ganhavam um novo papel na sociedade e seu valor estético passaria a ser muito maior que o religioso.
A validade geral de uma imagem independente da idéia de arte se tornou inadequada a mente moderna. Sua abolição abriu caminho para uma redefi nição estética em termos de “regras de arte”. Imagens artísticas e não-artísticas agora apareceram lado a lado, endereçadas a pessoas de diferentes níveis de cultura (BELTING, 1997, p. 458 e 459, tradução nossa).
Para Belting, as imagens a que se refere como “artísticas” seriam aquelas feitas por obra de um artista, ou seja, alguém com conhecimento das regras da arte e que contaria com relativa liberdade de criação, que o permitiria representar o que tinha em mente, tornando presente uma ideia.
A nova presença da obra sucede a prévia presença do sagrado na obra. Mas o que essa presença poderia signifi car? É a presença de uma idéia que é feita visível na obra: a idéia de arte, como o artista a teve em sua mente (BELTING, 1997, p. 459, tradução nossa).
A imagem não-artística seria aquela tida como a “manifestação visível de uma pessoa sagrada” (BELTING, 1997, p. 471, tradução nossa), um objeto de culto e que nada tinha a ver com a criação artística. Assim, seguindo esse raciocínio, a arte estaria necessariamente relacionada aos grandes artistas, àqueles que passaram a ter seus nomes associados à criação e elogiados por sua habilidade. Nos casos em que o conteúdo religioso da imagem é mais valorizado do que seu conteúdo artístico ou a habilidade do artista em questão, ela deveria ser chamada de imagem, deixando claro sua função diversifi cada para aquela sociedade.
Para justifi car sua tese, Belting propõe dois argumentos centrais. Em primeiro lugar, as imagens teriam entrado em uma “crise” e sido substituídas por “arte” por causa da crítica e destruição das imagens durante a Reforma. De fato, alguns grupos protestantes criticaram o
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO70
uso da imagem, mas não podemos esquecer que nem toda a Europa foi atingida pelas ideias da Reforma Protestante; locais como a Península Itálica e a Península Ibérica permaneceram ainda ao longo de muitos anos sob o domínio da Igreja Católica, tendo mudado pouco suas práticas religiosas, inclusive após o Concílio de Trento. Além disso, o próprio Belting menciona que: 1) A crítica às imagens não ocorreu apenas durante a Reforma. Vozes de moderação e frequentes avisos eram dados contra o excessivo culto às imagens e seu mau uso para acúmulo de capital (BELTING, 1997, p. 459). 2) Nem todos os reformadores concordavam com ideias iconoclastas e sobre como deveriam lidar com as imagens. O próprio Lutero permitiu o uso de imagens por diversos motivos e tinha reservas à retirada abrupta delas (BELTING, 1997, p. 463). Para ele:
A crítica ao iconoclasmo é mais radical do que o iconoclasmo em si. O enfraquecimento das imagens [ou retirada de poder que as imagens tinham], que não mais ofereciam a salvação, jogava as pessoas contra elas mesmas. As imagens eram trabalho delas, e o culto das imagens, erros seus (BELTING, 1997, p. 463, tradução nossa, grifos nossos).
Assim, é preciso considerar que as mudanças eram muito amplas para serem adotadas e apropriadas por todos e em tão pouco tempo. E, apesar deste argumento de Belting ser válido de uma maneira geral, a “crise da imagem” fi ca descaracterizada todas as vezes que lembramos que a Reforma, mesmo sendo um movimento impulsionador e legitimador de ideias, não acabou com as práticas religiosas anteriores subitamente. Mudanças signifi cativas em relação a tais práticas ocorreram apenas após um extenso período.
Outro fator que teria levado à “crise da imagem” também se referiria às pregações e ideias protestantes. Para o autor, os protestantes teriam substituído a Imagem pela Palavra, ou seja, pela Bíblia. A Reforma teria ensinado que a Palavra era capaz de superar todos os outros sinais religiosos e, nesse sentido, as Sagradas Escrituras eram a nova autoridade, fonte de poder e exemplo máximo para as pessoas.
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
71
Assim, as imagens produzidas a partir desse momento tinham um caráter não mais devocional, mas essencialmente didático e vinculado à Bíblia. Para Belting, “os pintores agora também deveriam praticar um tipo de ‘discurso indireto’, pois a palavra escrita era mais valorizada que qualquer imagem pintada ou esculpida (BELTING, 1997, p. 464). Nesse sentido, a imagem deveria ser entendida como uma demonstração da doutrina, para que as pessoas daquele tempo não pudessem encontrar motivos para um culto da imagem (BELTING, 1997, p. 466).
Aqui, mais uma vez, a afi rmação de Belting soa como uma grande generalização ao propor, como causa de uma crise geral, exemplos de situações restritas às cidades que foram progressivamente adotando o protestantismo. O autor não menciona exemplos de lugares onde a Igreja Católica manteve seu poder de infl uência. Até então, isso daria a entender, portanto, que a “crise da imagem” teria sido local, e não geral, como proposto.
Mas nos parece que tampouco podemos falar de uma crise que estivesse relacionada apenas ao uso das imagens no norte europeu. Esse, aliás, é o objeto de estudo central da autora inglesa Bridget Heal em The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany: Protestant and Catholic Piety, 1500-1648. Heal estuda a permanência de imagens e práticas religiosas marianas em algumas cidades germânicas durante o século XVI e aponta que seus estudos sobre a cidade de Nuremberg, especifi camente, vão totalmente de encontro a tese proposta por Belting (HEAL, 2007, p. 108). Apesar de ter sido a primeira cidade germânica a adotar ofi cialmente o luteranismo – decisão tomada pelo Conselho da cidade em 1521 –, não houve destruição ou abandono de imagens e muitas das práticas religiosas relacionadas à Maria tiveram que ser mantidas, uma vez que a população cultivava grande admiração e devoção pela Virgem (HEAL, 2007). Um exemplo importante é a mudança do dia da Festa da Visitação (tema bíblico) para o dia da Festa da Assunção (tema apócrifo) no calendário litúrgico. Como uma das festas mais esperadas do ano, a proibição de celebrar o dia 15 de agosto – data original da Festa da Assunção –, poderia ocasionar um mal estar na cidade, já que esta festa, segundo o próprio Conselho, estava recebendo “muito apoio do povo comum” (HEAL, 2007, p. 86). Segundo Heal,
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO72
uma descrição anônima de 1527 das práticas litúrgicas da cidade reitera que a Assunção era tolerada por vontade da população comum.
Mais adiante, porém, Belting tenta expandir sua refl exão para o sul europeu, tentando mostrar que o desenvolvimento das técnicas artísticas e os valores estéticos do Renascimento Italiano teriam contribuído para que as imagens perdessem seu valor sagrado e ganhassem um valor artístico. Ora, saber se houve ou não uma valorização estética durante o Renascimento, parece um problema, de certa forma, anacrônico para os historiadores. De fato, para o período do Renascimento encontramos muitos documentos, tratados e livros que descrevem e buscam os valores estéticos de seu período. Entretanto, isso não signifi ca que essa preocupação não existia na Idade Média – ela existia, mas de uma forma diferente da que se viu a partir do século XV, quando a observação da natureza passou a ser mais valorizada e criou-se um novo ideal de beleza (ECO, 1989; DUBY, 1979).
Nesse sentido, o próprio Hans Belting parece se contradizer, uma vez que os exemplos citados por ele são todos anteriores ao período que ele chama de “crise da imagem” e apenas reforçam a ideia de mudanças que ocorreram ao longo de vários séculos. Afi nal, se Albrecht Dürer e Lucas Cranach tinham a Itália como referência, isso não ocorria devido aos trabalhos de Raphael e Michelangelo (BELTING, 1997, p. 470 e 471), seus contemporâneos. Ocorria porque uma longa tradição de pintores já vinha sendo reconhecida por suas inovações técnicas e pictóricas. Pelo mesmo motivo, Raphael pode empenhar tanta criatividade ao produzir sua Madonna na Capela Sistina (BELTING, 1997, p. 478-484).
Por fi m, Belting propõe que a “arte foi a mise-em-scène da imagem no tempo da Contra-Reforma” (BELTING, 1997, p. 484), ou seja, a imagem enquanto função persistiria, mas fi caria apenas em segundo plano – como uma “desculpa” para a arte, verdadeira “estrela” do momento. Essa afi rmação do autor, que também soa como um julgamento de valor, parece considerar apenas uma pequena porção da sociedade: aqueles que continuaram fi nanciando ou produzindo imagens. Mas e os grupos sociais com menor poder aquisitivo e aqueles que, independente de serem protestantes ou católicos, tinham o Cristianismo como seu modo de vida, dentre tantos outros exemplos?
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
73
Enfi m, nos parece que, por mais que “os novos valores estéticos do Renascimento” tenham permanecido ao longo dos séculos – instituindo o que Belting chama de “a era da Arte” –, a decisão da Contra-Reforma de reafi rmar o culto às imagens, perpetuou também a imagem sagrada – aquela que, para além de seu valor estético, tem como função principal representar a fi gura divina, tão facilmente encontrada, ainda hoje, em procissões e festas religiosas.
Ao propor a escrita de uma história da imagem, Belting se afasta da história da arte tradicional, vinculada à história dos estilos, e justifi ca sua posição ao afi rmar que acredita na “utilidade da narrativa histórica” para o seu propósito porque as imagens sagradas melhor “revelam seus signifi cados através de seus usos” (BELTING, 1997, p. 397). Entretanto, ao opor imagem à arte, a análise de Belting não dá conta dos casos de imagens tidas como artísticas e que foram fortes objetos de culto, mesmo após ou durante o século XVI – como ele mesmo indica ao mencionar a obra de Ticiano, citada por Vasari como sendo a mais venerada em Veneza naqueles dias (BELTING, 1997, p. 472). Nessas situações, a habilidade artística de Ticiano não parece ter sobrepujado seu aspecto religioso. Ela seria, então, uma imagem artística ou não-artística?
Nesse sentido, ao valorizar a noção de artista associada à noção de arte, Belting se aproxima da análise de Vasari, que buscou explicar a produção artística de seu período a partir da exposição da vida dos artistas em questão. Também, ao dividir os períodos em “Era da Imagem” e “Era da Arte”, tendo a primeira entrado em crise para dar lugar a segunda, Belting novamente se aproxima da análise vasariana, que instituiu ciclos para a arte, que, semelhantes aos ciclos de vida humano, nascem, crescem, se tornam antigos e morrem (FERNIE, 1995, p. 33). A frase de Belting no início de seu capítulo vinte exemplifi ca bem esse seu modo de entender a arte:
Agora não é mais sufi ciente contar a história das imagens, como foi feito nesse livro até agora. As imagens encontraram seu lugar no templo da arte e seu tempo real na história da arte. Uma fi gura não precisa mais ser entendida pelo seu tema, mas como uma contribuição
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO74
para o desenvolvimento da arte (BELTING, 1997, p. 459, tradução nossa, grifos nossos).
A aproximação com a obra de Vasari em nada diminui o trabalho de Belting, mas é preciso lembrar que esse tipo de análise já foi por muitas vezes criticado pela historiografi a durante as últimas décadas e, por essa aproximação, o trabalho de Belting também vem sendo criticado (HEAL, 2007). Desde sua publicação, Likeness and Presence e as propostas de Hans Belting vêm sendo muito comentadas por estudiosos e por vezes são apropriadas, por outras problematizadas. Alguns desses casos serão analisados a seguir.
A posição de alguns historiadoresMuitos autores têm utilizado o termo imagem para se referir a
obras que tinham um conteúdo religioso intrínseco. Talvez o principal deles seja Jean-Claude Schmitt, mencionado anteriormente. Ele dedica grande parte da introdução do livro O Corpo das Imagens para explicar o que seria a imagem para a Idade Média. Segundo ele:
A “arte” medieval não se encontra submetida à mimesis dos Antigos, e a cultura clerical associa, rejeita e condena como imitatio as “macaquices” dos mimos e jograis. As formas fi gurativas e as cores são, antes de tudo, concebidas como indícios de realidades invisíveis que transcendem as possibilidades do olhar. As imagens não saberiam “representar” – no sentido habitual do termo – essas realidades. Poderiam no máximo tentar “torná-las presentes”, “presentifi cá-las” (SCHMITT, 2007, p. 14).
Schmitt afi rma que as imagens seriam como “visões espirituais”, aparições e sonhos, a semelhança das imagens imateriais. Estaria como mediadora entre os homens e o divino. Nesse sentido, Schmitt se aproxima de Belting, mas vai além. Não se trata simplesmente de um conteúdo religioso; a imagem medieval corporifi ca o paradigma cristão da Encarnação de Cristo (SCHMITT, 2007, p. 16) e, portanto, sua análise pela História da Arte deve partir dessa consideração.
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
75
Mas Schmitt também elabora algumas críticas ao trabalho de Hans Belting. Apesar de admitir que esse historiador da arte tem “boas razões para caracterizar, senão a totalidade, ao menos uma grande parte das imagens medievais por sua função ‘cultual’”, ressalta também que é preciso nuançar mais, já que “nem todas as imagens medievais eram objeto de um ‘culto’” (SCHMITT, 2007, p. 43).
É na verdade bem difícil fazer coincidir, segundo uma relação unívoca, os três termos postos em evidência na problemática de Hans Belting: uma dada época, um tipo de imagem, uma função exclusiva. Em toda época há de fato diversos tipos de imagem tendo todos eles uma pluralidade de funções possíveis (SCHMITT, 2007, p. 45).
Assim, discordando nessa parte de Hans Belting, Schmitt justifi ca que sua preferência pelo termo imagem a propósito da Idade Média, não ocorre para fazer oposição ao termo “arte”, mas apenas para restituir-lhe todos os seus signifi cados e domínios, objetos de seu estudo (SCHMITT, 2007, p. 45).
Schmitt também deixa claro que a imagem não deve “ser julgada a partir dos padrões do Renascimento”, pois trata-se de uma relação completamente diferente com a imagem, já que a sua contemplação não se faz “mais no âmbito do sonho, mas na vida real”, pois o espectador, por meio da perspectiva, é convidado a entrar na imagem, como por uma janela e não como numa visão onírica (SCHMITT, 2007, p. 15).
Esse ponto de vista também é partilhado por Michael Camille no livro Gothic Art: Glorious Visions, de 1996. Segundo ele, a imagem seria o meio através do qual o cristão comum poderia acessar coisas que estivessem além de seu poder natural de visão, já que a visão para o medievo seria um poder ativo, capaz de infl uenciar tanto o que é visto quanto o que vê, conectando-os. Também em concordância com Schmitt, Camille afi rma que a imagem teria o poder de presentifi car as formas representadas, transportando o observador para a companhia de Cristo, Maria ou dos santos vistos na imagem.
Camille também dá certa ênfase às transformações ocorridas em relação à arte a partir do século XV (CAMILLE, 1996, p. 180). Segundo ele, teria ocorrido uma transformação na relação entre observador e pintura, assim como entre artista e produto, pois a interpenetração entre imagem e observador deixa de existir na medida em que a imagem deixa de ser uma visão e passa a ser uma cena. A imagem passou a ser uma ilusão, uma visão através de uma janela, na qual o ponto de vista do artista era idêntico ao do espectador, transformando-a numa superfície na qual não penetramos, mas, ao contrário, observamos passivamente.
Ainda que concordando em alguns pontos com as análises apresentadas por Belting e, principalmente, Schmitt, Camille se diferencia em uma questão fundamental: a utilização do termo arte. O próprio título do livro já demonstra a utilização de dois termos controversos para a historiografia: Arte Gótica. Em relação ao termo gótico, Camille inicia a introdução da obra explicando que gótico é um rótulo. Ainda que não utilizado no período em vigor desse tipo de arte, hoje o utilizamos para designar “edifícios e objetos cujas formas são baseadas a partir do arco ogival produzido a partir da metade do século XII até final do século XV em algumas partes da Europa” (CAMILLE, 1996, p. 9, tradução nossa). Assim, ainda que reconhecendo não se tratar de um termo de época, Camille se utilizou dele devido ao fato de que, atualmente, ele nos remete a um tipo específico de arte e a um período determinado para os quais sua pesquisa se volta.
Quanto ao termo arte, primeiro Camille nos lembra que a maior parte das imagens Góticas “não eram primariamente consideradas como obras de arte por seus contemporâneos, mas como algo mais poderoso e instrumental, por causa de sua capacidade não de apenas refletir o mundo, mas de transformá-lo a imagem de Deus” (CAMILLE, 1996, p. 25, tradução nossa). Mas, em seguida, o autor também nos lembra do outro significado que a arte tinha para a Idade Média e como essa noção foi se modificando com o passar dos séculos.
Claramente a condição e o status dos artistas estavam melhorando. A noção de arte como uma forma de trabalho manual, o que impedia que ela fosse uma das “artes liberais” acadêmicas, foi se erodindo à medida
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
77
que artistas habilidosos entraram no serviço da corte e serviram às cidades organizando os edifícios das catedrais (CAMILLE, 1996, p. 175, tradução nossa).
O que aparentemente se apresenta como uma contradição pode ser explicado pelas diferenças entre o conceito de arte para a Idade Média e o conceito atual de arte. Difi cilmente conseguimos desassociar a noção de “artista” e “beleza” do conceito de arte que temos hoje, enquanto para o Medievo, arte não era mais do que um trabalho manual que podia até se destacar pela habilidade de seu criador, mas cuja função em última instância se ligava mais ao espiritual do que ao material. Por isso, ao dizer que a imagem não era primariamente considerada uma obra de arte, se está afi rmando que ela não era admirada por sua forma em primeiro lugar, mas por aquilo que ela buscava representar ou presentifi car.
Em relação ao termo imagem, Camille faz uma consideração interessante. Ainda que utilizando o termo com frequência para designar tanto pinturas quanto esculturas, ele afi rma que ao longo do século XIII a especialização se ampliou e o escultor passou a ser denominado imagier ou escultor de imagens, se diferenciando do pintor. O mesmo ocorre em outras línguas latinas, como o espanhol, que distingue o imaginero – o que faz imagens – de outros artistas. Nesse sentido, para alguns períodos e algumas regiões o uso do termo imagem usado para designar pinturas e iluminuras pode se revelar pouco produtivo pela possibilidade de gerar confusão em relação à acepção atual do termo naquele idioma.
Por fi m, o último autor a ser analisado é Jeffrey Hamburger no artigo denominado The Medieval Work of Art: Wherein the “Work”? Wherein the “Art”?, de 2006. Hamburger inicia seu artigo com um questionamento semelhante ao aqui trabalhado. Ele busca compreender a validade do termo arte para os estudos que se voltam para a Idade Média em relação ao paradigma que parece ter sido criado ao redor desta noção. Segundo ele, estudos como os de Freedberg e Belting – ambos já analisados aqui – “tem produtivamente dirigido atenção para além do estilo, estética e produção, em direção à função e à
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO78
recepção” das imagens, mas ambos parecem não ter resolvido a questão (HAMBURGER, 2006, p. 374).
Para Hamburger uma questão que deve ser debatida diz respeito às diferenças que são postas entre “trabalho/obra” e arte durante a Idade Média e o que deve fazer o historiador diante desta questão.
Artesanato como oposto de artístico, no sentido moderno; o manual versus as artes liberais; a imagem versus a arte: estes são somente algumas das oposições com as quais os medievalistas lidam na tentativa de entrar em acordo com a “obra de arte” medieval. Meu argumento será que, confrontado com tais alternativas, não há necessidade de escolher (HAMBURGER, 2006, p. 375 e 376, tradução nossa).
Segundo afi rma, sua intenção é ir além da observação da recepção contra a produção, na tentativa de alcançar as maneiras como as imagens medievais se estruturavam, e, para isso, elenca uma série de exemplos que buscam mostrar como o visível e o invisível se relacionavam nas obras medievais. Sua conclusão é que a obra de arte não serviria somente para fazer presente, “mas para mediar imagem e texto, visível e invisível, presente e ausente” (HAMBURGER, 2006, p. 406, tradução nossa), numa análise que se aproxima, portanto, de Schmitt, ainda que utilizando o termo arte ao invés de imagem. Hamburger conclui, numa clara menção à obra de Belting que “a Reforma pode ter iniciado a ‘era da arte’. Medievalistas, entretanto, não tem obrigação de não dar atenção ao artístico nas imagens medievais” (HAMBURGER, 2006, p. 406, tradução nossa).
ConclusãoAs discussões acerca do uso dos termos arte e imagem têm sido
ampla entre os historiadores da arte. Esta discussão muito contribui para o desenvolvimento teórico da disciplina, na medida em que ambos os termos costumam ser problematizados pelos autores que optam por lançar mão deles na busca de uma justifi cativa para sua utilização. Em relação ao termo imagem, a proposição e uso deste permitiram
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
79
nos últimos anos aos historiadores, ainda mais do que aos historiadores da arte, colocarem-se novas questões sobre o funcionamento social, as funções ideológicas, o poder das imagens do passado. Essa evolução historiográfi ca é certamente em parte explicada pela invasão de nossa própria sociedade por “novas imagens” (SCHMITT, 2002, v. 2, p. 592).
Entretanto, o uso deste termo também deu origem a certa polarização de posicionamentos ao ser contraposto ao termo arte. Essa polarização ocorreu a partir da década de 1980, com propostas como a de Hans Belting, que afi rmam que imagem seria um termo mais adequado para a Idade Média, uma vez que a Arte só teria existido a partir do século XVI, com o Renascimento.
Ora, vimos que tanto imago quanto ars são termos de época. A principal diferença entre eles, contudo, diz respeito às características do objeto que cada um desses termos coloca em evidência. O termo imago enfatizaria a função e a recepção do objeto, nos remetendo a sua utilização como objeto religioso, tais como as imagens de culto; enquanto ars estaria relacionado à sua produção, evidenciando que, para além de suas funções, ele tem uma história a ser contada enquanto objeto feito por alguém e para alguém.
A problematização que deve ser feita ao nos utilizarmos desses termos, portanto, se relaciona ao fato de ambos terem hoje uma acepção muito diferente do que tinham durante a Idade Média. O signifi cado que o conceito de arte adquiriu após os estudos de Vasari não pode ser aplicado ao período anterior, visto – como foi – que a relação entre homem e obra de arte se alterou enormemente no período. E, mesmo quando pensamos na aplicabilidade do conceito vasariano de arte – segundo Belting, quando a valorização estética passa a ser mais importante que o caráter de culto de uma imagem –, devemos lembrar que nem todas as obras deixaram de ser objetos de culto depois de terem se transformado em “arte”, nem podemos considerar que todas as representações existentes na Idade Média fossem “imagens”, no sentido de terem um valor “cultual”, tal qual o termo carrega.
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO80
Por fi m, é importante entendermos que, se utilizados com propriedade e esclarecimentos teóricos – como bem fez Michael Camille – ambos os termos podem ser igualmente úteis, metodologicamente e conceitualmente, para nossas pesquisas históricas.
Art and Image in the Middle Age: a historiographic debate
Abstract:A controversial debate among historians who study Middle Ages
is related to the concept of art. What would be art for the medieval times? Is it permissible to use that terminology for that period? Was there, in fact, a medieval art? Questions like those have been debated for the historiography during centuries and the answers that were found vary greatly. Today, perhaps the most signifi cant answers to the problem would be those found in the works of art historians, like Hans Belting and David Freedberg, who, since the 1980s, began to propose the use of the concept of image in opposition of art. Since then, many Middle Ages historians have been reluctant to use the term “art” and adopted the term “image” in almost all situations. For everyone, the arguments that justify their options are valid, which divide even further the academy and create an even more paradoxical discussion. The main goal of this paper is to present some recent historiographical debates on this issue and to elucidate the current state of the subject.
Keywords:
Art – Image – Historiography – Middle Age.
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
81
ReferênciasAQUINO, Tomás; PEROTTO, Lorenzo Alberto. Commento alla Politica di Aristotele. Bologna: Edizioni tudio Domenicano, 1996.
BATISTA, Ângelo Fornazari. Agostinho e a noção de idéia. [S.l.]: Conciência.org, [S.d.]. Disponível em: <http://www.consciencia.org/agostinhoangelo.shtml>. Acesso em: 05 mar 2009.
BELTING, Hans. Likeness and Presence: a history of the image before the era of art. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
______. The Image and its Public: Form and Function of Early Passion Paintings. New York: New Rochelle, 1990.
CAMILLE, Michael. Gothic Art: Glorius Visions. London: Laurence King Publishing Limited, 1996.
CONWAY, William Martin. The writings of Albrecht Dürer. New York: Philosophical Library, 1958.
DUBY, Georges. O Tempo das Catedrais: a arte e a sociedade: 980-1420. Lisboa: Estampa, 1979.
ECO, Umberto. Arte e Beleza na estética medieval. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1989.
FERNIE, Eric. Art History and its Methods. London: Phaidon, 1995.
FOLDA, Jaroslav; WETTER, Kathy Jo. Resenha sobre: “Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art”. Bryn Mawr Medieval Review 9502. Disponível em: http://hegel.lib.ncsu.edu/stacks/serials/bmmr/bmmr-9502-folda-likeness Acesso em: 22 de março de 2009.
FREEDBERG, David. The power of Images. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
HAMBURGER, Jeffrey F. The Medieval Work of Art: Wherein the “Work” ? Wherein the “Art”?. In: HAMBURGER, Jeffrey F.; BOUCHÉ, Anne-Marie (ed.). The Mind's Eye: Art and Theological Argument in the Middle Ages. Princeton: Princeton University Press, 2006. p.374-412.
CINTHIA M. M. ROCHA E RACHEL J. R. AMARO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ARTE E IMAGEM NA IDADE MÉDIA: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO82
HEAL, Bridget. The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany: Protestant and Catholic Piety, 1500-1648. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
LE GOFF, Jacques. Trabalho. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Ofi cial do Estado, 2002. p. 559.
PANOFSKY, Erwin. Idea: a evolução do conceito de belo. Contribuição à l´história do conceito da antiga teoria da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
SCHMITT, Jean-Claude. Imagens. In: LE GOFF, Jacques e SCHMITT, Jean-Claude (coord.). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Volume I. São Paulo: EDUSC, 2002, p. 591-605.
_____. O corpo das imagens: ensaios sobre a cultura visual na Idade Média. São Paulo: EDUSC, 2007.
VASARI, Giorgio. The lives of the artists (1568). Apud: FERNIE, Eric. Art History and its Methods. London: Phaidon, 1995.
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO
EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Fernanda Fioravante1
ResumoO presente texto versará sobre questões econômicas atinentes
à câmara e a seus ofi ciais. Assim, em um primeiro momento, buscar-se-á realizar um estudo das contas da câmara e a atuação do órgão frente à sociedade vilarriquense. Em seguida, tratar-se-á dos meios de enriquecimento dos ofi ciais camarários, assim como a infl uência dos ganhos no órgão municipal na conformação de suas fortunas.
Palavras-chave:
Câmara de Vila Rica – receita e despesa e enriquecimento.
As contas da câmara e sua atuação frente à sociedadeAntônio Manoel Hespanha, ao defender que as câmaras detinham
certa autonomia frente ao poder régio, aponta como um dos fatores a detenção de uma receita própria por parte destes órgãos, tornando-os capazes, portanto, de arcar com as próprias despesas (HESPANHA, A. M. 1994, p. 378 e 379). Evaldo Cabral de Mello, à semelhança da análise de Maria Verônica Campos, em relação aos primeiros anos da câmara de Vila Rica, ressaltou a importância do controle da câmara de Olinda sobre a arrematação de alguns contratos, os quais colocavam sob seu domínio uma quantia na ordem de 70 a 80 mil cruzados (28:000$000 a 32:000$000, respectivamente). De acordo com o autor, tal quantia a habilitava “manter seu sistema clientelístico, pois a cobrança dos impostos era arrendada a particulares que, mediante
1 Doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Bolsista CAPES.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
84
contratos arrematados em hasta pública entregavam ao erário municipal ou real o montante combinado, embolsando a diferença” (MELLO, E. C. 2003, p. 78 e 79). O mesmo argumento perpassa a visão que Maria Verônica Campos tem sobre a câmara de Vila Rica: uma vez destituída de algumas de suas funções, dentre as quais a arrecadação dos quintos, a autora detecta uma contínua perda de poder institucional da câmara (CAMPOS, M. V. 2002, passim).
Infelizmente, não pude contar com as relações de receita e despesa da câmara para todo o período estudado. Na verdade, pude realizar a pesquisa somente entre os anos de 1721 a 1734 com algumas faltas: a relação correspondente ao ano de 1723 estava ilegível e as correspondentes aos anos de 1724 e de 1730 a 1733 não foram encontradas. Não obstante impossibilidade de traçar comparações entre este período e o momento em que a câmara detinha a arrecadação dos quintos, e de oferecer uma visão mais global da receita e despesa da câmara para todo o período a que este trabalho se propõe, acredito, que ainda assim, a análise deste documento possa contribuir para retratar a câmara frente à sociedade.
No quadro da receita da câmara de Vila Rica os rendimentos mais importantes eram os provenientes do foro, meia-pataca, cadeia e almotaçaria, tal como aponta a tabela:
Tabela 1: Quadro geral com os itens de arrecadação pela Câmara de Vila Rica entre os anos de 1711 a 1734
Foro Meia Pataca Cadeia Almotaçaria Contrato* Outras Não identifi cadoTotal
anual
1721 524$680 1:918$800 - 1:713$300 1:802$400 3:096$600 3:001$200 12:056980
1722 401$400 1:023$311 1:785$600 1:415$700 - 1:116$787 - 5:742$798
1725 439$000 2:400$000 2:550$000 8:220$000 2:550$000 439$225 161$425 16:759$650
1726 397$650 1:700$000 2:550$000 3:457$500 - - - 8:105$150
1727 337$200 1:336$000 3:145$000 2:766$000 - - 18$000 7:602$200
1728 246$000 1:570$000 - 3:134$825 - 1:600$000 - 6:550$825
1729 338$400 1:037$000 1:510$000 2:703$905 - 24$000 - 5:613$305
1734 370$650 - - 277$400 7:625$000 - - 8:273$050
Total: 3:054$980 10:985$111 11:540$600 23:688$630 11:977$400 6:276$612 3:180$625 -
Fonte: APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34. Relação de receita e despesa da Câmara de Vila Rica.
* Essa coluna deve-se aos contratos cujos tipos não foram especifi cados pelo escrivão.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
85RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Os foros diziam respeito a uma pensão anual paga diretamente à câmara a propósito dos terrenos destinados à construção, não sendo, portanto, arrematada em contrato (FIGUEIREDO, L. R. & CAMPOS, M.V. 1999, p. 100). De acordo com Maria Fernanda Bicalho, no Rio de Janeiro, o foro, constituía uma das principais rendas da câmara, uma vez que a quantia sobre o aforamento do chão era paga no ato da venda da terra. Em decorrência de seu rendimento e da possibilidade de controle do espaço urbano, levou a que o foro se tornasse, naquela cidade, “por todo o período colonial, no principal pomo de discórdia entre vereadores e autoridades régias” (BICALHO, M. F. 2003, p. 202 e 203).
Uma circunstância distinta pode ser observada para a cidade do Porto no século XVI. Conforme Maria de Fátima Machado, no Porto o foro tinha um baixo rendimento em decorrência de três fatores: a câmara tinha interesse no desenvolvimento da cidade, estipulando, dessa forma, baixos valores com o fi m de viabilizar a ocupação dos terrenos; acrescido a isso, uma vez aforado, qualquer benfeitoria realizada nos terrenos – como, por exemplo, a construção de morada de casa –, não alteraria o valor inicial da pensão paga à câmara estimulando, dessa forma, o crescimento da vila. Ademais, a autora assinala que a renda do foro sofria poucas variações, uma vez que não se costumava fazer novos aforamentos, nem mesmo atualizar o preço dos que já existiam (MACHADO, M. F. 2003, p. 154-158). Para câmara de Mochico, situada na Ilha da Madeira, ao analisar a cobrança do foro, Fátima Freitas Gomes aponta que, além de sofrer poucas oscilações, tal taxa possuía uma quantia bastante baixa uma vez que era cobrada sobre pequenas parcelas do terreno (GOMES, F. F. 1998, p. 276).
Para Vila Rica – cuja pesquisa cobre um momento de colonização que ainda se pode dizer recente –, acredito que os valores do foro apresentados na tabela revelam maior paridade com o rendimento do mesmo na cidade do Porto. Assim, é possível que durante a década de 1720 o baixo rendimento do foro estivesse atrelado à viabilização da ocupação do espaço urbano.
Outra explicação plausível para o baixo rendimento do foro relaciona-se às irregularidades em torno da cobrança dessa taxa. De
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
86
acordo com Maria Aparecida Borrego, cerca de 30 anos após a fundação de Vila Rica eram comuns os casos de sonegação, por exemplo. Contudo, com base nas várias tentativas de regulamentação da cobrança do foro implementadas pela câmara ao longo dos anos, a autora afi rma que este tributo se constituía em um dos principais rendimentos da câmara de Vila Rica (BORREGO, M. A. M. 2004, p. 115 e 116), sem que o embargo dos parcos números da receita demonstre o contrário.
As demais rendas da câmara eram postas em arrematação, ou seja, na falta de meios de arcar com todas as suas atribuições, a câmara arrendava algumas de suas funções a particulares. Para isso, realizava-se uma estimativa do quanto seria recolhido anualmente e, com base nessa projeção, abria-se concorrência de um dado contrato por um prazo que variava de três a seis anos. O arrematante deveria entregar a parte respeitante à câmara, guardando para si o restante do valor arrecadado (FIGUEIREDO, L. R. & CAMPOS, M.V. 1999, p. 88 e CAVALCANTE, N. 2005, p. 25).
Dentre as rendas arrematadas em contrato, as que possuíam menor rendimento eram as relativas à meia pataca – a qual se referia a cada cabeça de gado levado ao corte – e à cadeia. Tais rendimentos, embora representem menos da metade da renda conseguida pela almotaçaria, são bastante signifi cativas. No caso da cadeia, mesmo não havendo receita correspondente a três dos anos pesquisados, o total dos anos somam 11:540$600, sendo que para o ano de 1727 chegou a arrecadar 3:145$000.
A cadeia tratava-se do alojamento destinado aos presos alocados na câmara. O cuidado com os presos fi cava a cargo dos arrematantes. Conforme Ângela Vianna Botelho, em janeiro de 1721 uma carta régia determinou que se fi zessem casas de câmara e cadeia em todas as vilas das Minas (BOTELHO, A. V. 2003, p. 59). Assim, em 1723 teve início a construção da nova casa de câmara e cadeia de Vila Rica, feita de pau-a-pique. De acordo com Maria Aparecida Borrego, tal era a fragilidade da construção que até o fi nal da década de 1720 teriam sido vários os gastos com reformas e reparos na edifi cação (BORREGO, M. A. M, 2004, p. 160). De fato, de 1725 a 1729 somente com obras e pinturas na casa da câmara foram gastos 3:026$650 e com a cadeia
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
87RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
1:386$725. Nesse mesmo período, foram empregados 13:742$868 em obras públicas (APM, CMOP, códs. 21 e 34).
A almotaçaria abarcava funções ligadas à garantia de abastecimento de mercadorias e averiguação da qualidade das mesmas, fi xação de preços, fi scalização dos pesos e medidas, zelo pelas condições sanitárias da cidade e inspeção das obras públicas (FIGUEIREDO, L. R. & CAMPOS, M.V. 1999, p.75). A maior parte dessas funções cabia ao almotacé, um ofi cial nomeado pela câmara para a realização dessas funções. O que dizia respeito à aferição, isto é, o cotejamento das unidades de pesos e medidas, fi cava sob a responsabilidade de um arrematador de contrato, que no caso do período estudado tratava-se sempre do mesmo homem, Alexandre Pinto de Miranda (APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34).
A tabela acima aponta uma preponderância do valor arrecadado pela almotaçaria sobre os demais. Nesse sentido, há de se esclarecer que o valor angariado especifi camente pela renda de aferição somava 21:352$300 (ou seja, 90,13% frente o valor da almotaçaria) (APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34). Certamente o alto valor arrecadado por meio da aferição é um indício do interesse de Alexandre Pinto de Miranda em arrematar este contrato recorrentemente.
Por fi m, há de se chamar a atenção no que diz respeito a renda da almotaçaria no ano de 1725 e do contrato em 1734. Para o caso da almotaçaria foi verifi cado que o escrivão registrou o valor de 4:110$000 duas vezes, levando à soma de 8:220$000 na renda do contrato de aferição, contribuindo para um valor anual de 16:321$089 – superior, em muito, à maior parte dos anos pesquisados. A coincidência entre os dois valores registrados duplamente (4:110$000), assim como a brutal diferença do valor arrecadado pela aferição em relação aos outros anos, leva a crer que no momento do registro do recebimento desta renda o escrivão acabou por cometer um equívoco, registrando o mesmo valor duas vezes. Não obstante, ainda que se considere o valor de 4:110$000 apenas uma vez, a participação da almotaçaria na contabilização de todos os anos cairia para 19:578$630, o que de qualquer modo é muito elevado.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
88
Na coluna referente a contrato, reuni todas as arrematações para as quais os escrivães não especifi caram o tipo de contrato. Em decorrência disso, se observa não apenas uma irregularidade dessas rendas ao longo dos anos, mas igualmente uma grande discrepância entre os anos de 1721 e 1725 – cuja arrecadação foi de 1:802$400 e 2:550$000, respectivamente – e 1734, que correspondeu a 7:625$000. Dessa forma, e tendo em conta a ausência de valores para os demais contratos neste ano, creio que o valor encontrado para o ano de 1734 deveu-se, provavelmente, a uma opção do escrivão em não realizar um maior detalhamento em relação à receita.
Por vezes a historiografi a aponta a propensão da câmara ao gasto2. Na tabela a seguir, no entanto, se percebemos que por um lado, de fato, gastava-se muito podemos notar, por outro, que nem sempre isso representava um défi cit nas contas da câmara.
Tabela 2: Quadro com as somas anuais da receita e despesa da Câmara, 1721-1734
Receita Despesa Superávit Défi cit
1721 12:056$980 4:986$714 7:070$266 -
1722 5:742$798 5:688$900 53$898 -
1725 16:321$089 10:428$750 5:892$339 -
1726 8:105$150 8:400$539 - 295$389
1727 7:602$200 8:995$689 - 1:393$489
1728 6:550$825 7:250$852 - 700$027
1729 5:613$305 5:934$560 - 321$255
1734 8:273$050 7:473$440 799$610 -
Total: 70:265$397 58:807$944 13:816$113 2:710$160
Fonte: APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34. Relação de receita e despesa da Câmara de Vila Rica.
A tabela acima aponta que nos oito anos analisados, quatro deles apontam, com exceção do ano de 1722, para um superávit bastante alto, contra quatro anos de défi cit – estes últimos nem sempre tão representativos, como se pode observar em 1726 e 1729. Dessa forma, destaca-se o alto valor encontrado para a receita, 70:265$397, em contraposição aos 58:807$944 referentes à despesa, ocasionando, no
2 A historiografi a relaciona os altos gastos da Câmara, em especial, às festas (BOXER, C. R. 2002; SANTIAGO, C. F. G. 2001; FURTADO, J. F. 1997), dentre outros.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
89RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
fi m, um excedente de 8:747$293. Contudo, alguns aspectos merecem um maior esclarecimento.
Gráfi co 1: Quadro comparativo da renda e despesa da Câmara, 1721-1734.
Fonte: APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34. Relação de receita e despesa da Câmara de Vila Rica.
De acordo com o gráfi co 1, podemos notar que para a maior parte dos anos, há, na verdade, um equilíbrio entre a receita e a despesa. Não obstante, dois anos saltam à vista, quais sejam: 1721 e 1725. Se em 1721 a grande diferença assinalada se deve, principalmente, e como veremos mais adiante, ao fato de os ofi ciais terem despendido menos em relação aos demais anos estudados, o mesmo não pode ser dito para 1725. Novamente, faz-se a necessidade de destacar que, provavelmente em decorrência do engano cometido pelo escrivão, foi computada para a renda de aferição o valor duplicado de 4:110$000. Assim, realizando o exercício de considerar o valor sem repetição anotaremos que a receita do ano de 1725 cairia para 12:211$089, fazendo diminuir a diferença em relação à despesa de 1:782$339.
De acordo com Charles R. Boxer, em função das responsabilidades que recaíam sobre a câmara – como a realização de obras públicas, promoção de festas, ou manutenção das tropas militares, as quais eram extremamente pesadas –, “não surpreende que em pouquíssimas ocasiões as câmaras fossem capazes de equilibrar receitas e despesas, e que se encontrassem profundamente endividadas” (BOXER, C. R. 2002, p. 297).
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
90
Não obstante o período estudado seja curto, observa-se que diferentemente do apontado pelo autor, as contas da Câmara tendem, em geral, ao equilíbrio, não sendo comuns os picos, quer de receita, quer de despesa.
Tabe
la 3
: Par
ticip
ação
dos
gas
tos
em n
úmer
os a
bsol
utos
e p
erce
ntua
is n
a de
spes
ada
Câm
ara,
172
1-17
34
AB
CD
EF
GH
IJ
KTo
tal a
nual
1721
338$
800
57$0
00-
-3:
128$
400
-42
$000
1$38
777
0$02
259
9$10
5-
4:93
6$71
4
%6,
861,
15-
-63
,37
-0,
850,
0215
,59
12,1
3-
-
1722
-92
0$40
019
$200
620$
400
3:04
5$00
0-
50$4
0027
$600
737$
100
92$4
0017
6$40
05:
688$
900
%-
16,1
70,
3310
,90
53,5
2-
0,88
0,48
12,9
51,
623,
10-
1725
201$
000
3:11
3$95
01:
243$
500
333$
000
--
52$5
0042
4$20
083
8$00
023
2$35
03:
990:
250
10:4
28$7
50
%1,
9229
,85
11,9
23,
19-
-0,
504,
068,
032,
2238
,26
-
1726
183$
000
1:76
0$01
424
0$00
0-
--
52$5
001:
309$
675
3:97
4$90
038
6$05
096
$900
8:00
3$03
9
%2,
2821
,99
2,99
--
-0,
6516
,36
49,6
64,
821,
21-
1727
1:46
6$90
03:
731$
389
401$
475
590$
400
369$
825
102$
600
171$
500
539$
650
990$
300
631$
650
-8:
995$
689
%16
,30
41,4
74,
466,
504,
111,
141,
905,
9911
,00
7,02
--
1728
363$
000
2:69
0$50
062
$401
612$
000
210$
600
-52
$500
874$
500
2:21
9$60
099
$151
66$6
007:
250$
852
%5,
0037
,10
0,86
8,44
2,90
-0,
7212
,06
30,6
11,
360,
91-
1729
477$
000
909$
175
403$
200
770$
400
76$8
0011
3$40
096
$000
746$
310
1:86
5$30
045
2$97
512
0$00
06:
030$
560
%7,
9015
,07
6,68
12,7
71,
271,
881,
5912
,37
30,9
37,
511,
98-
1734
1:45
2$80
01:
537$
840
430$
000
-73
9$51
0-
-89
$830
1:24
0$60
01:
982$
860
-7:
473$
440
%19
,43
20,5
75,
75-
9,89
--
1,20
16,6
026
,53
--
Tota
l4:
482$
500
14:7
20$2
682:
799$
776
2:92
6$20
07:
570$
135
216$
000
517$
400
4:01
3$15
212
:635
$822
4:47
6$54
14:
450$
150
58:8
07$9
44
%7,
6225
,03
4,76
4,97
12,8
70,
360,
876,
8221
,48
7,61
7,56
-
Legenda: A – Propina; B
– Obra Pública; C – Gastos com Igreja; D
– Milícia; E – Rem
uneração por serviços; F – Devassas;
G – Aviam
entos; H – Miudezas ou despesas sem justifi cação; I – Festas; J – Outros; K – Não identifi cado.
Font
e: A
PM
, CM
OP,
cód
s. 1
2, 2
1 e
34. R
elaç
ão d
e re
ceita
e d
espe
sa d
a C
âmar
a de
Vila
Ric
a
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
91RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Tendo em vista tanto a gestão da municipalidade como o seu próprio funcionamento, a câmara assumia uma série de encargos, os quais podem ser visualizados na tabela 3. De acordo com a mesma, fi ca patente o destaque assumido pelas obras públicas, pelas festas e pela remuneração de serviços, gastando cada um na soma total dos anos 14:720$268, 12:635$822 e 7:570$135, respectivamente.
O ano de 1721 foi particularmente estéril para as obras públicas, representando apenas 1,15% da dos gastos decorridos. Sendo também um ano cuja despesa registrou a soma mais baixa em relação aos demais, a remuneração por serviços com 3:128$400, e as festas com 770$022 assumem uma posição dominante, correspondendo quase ao total da despesa deste ano.
A partir de 1722, contudo a obra pública recebe maior atenção por parte dos ofi ciais da câmara, representando grande fatia da despesa. Nesse sentido, pode-se notar que em 1725 chega a 3:113$950 (29,85% da despesa), em 1727 atinge seu valor mais alto, 3:731$389 (representando 41,47% dos gastos) e em 1728, alcança 2:690$500 (37,10% concernentes aos custos deste ano). Os investimentos em calçadas, pontes, chafarizes e prédios públicos acabaram por constituir, no fi nal da contas, a maior fonte de gastos pelo poder camarário, somando ao todo 14:720$268 (25,03% do total da despesa em relação à soma de todos os anos).
As festas ocupam, igualmente, um lugar destacado nas contas da câmara. Embora tenham sofrido variações, as festas, ao longo deste período, sempre tiveram um custo elevado, chegando a representar 49,66% dos gastos em 1726 – decorrente da festa realizada pelo casamento dos sereníssimos príncipes. Neste ano foram gastos 2:080$000 com propinas3 para os ofi ciais na assistência dessas festas. Outros 1:296$000 também foram despendidos com propinas, sendo parte da soma possivelmente gasta por ocasião da entrada do bispo Antônio de Guadalupe ocorrida neste mesmo ano.
Tantos gastos não poderiam passar despercebidos pelo ouvidor. No que respeita as propinas com as festividades pelo casamento dos
3 A propina era uma quantia em dinheiro dada a funcionários da Coroa, ofi ciais, ministros, dentre outros, para seu sustento. A propina também era dada pela execução de serviços extraordinários, tais como a assistência das festas (FIGUEIREDO, L. R. & CAMPOS, M. V. 1999, p. 116)
Não obstante o período estudado seja curto, observa-se que diferentemente do apontado pelo autor, as contas da Câmara tendem, em geral, ao equilíbrio, não sendo comuns os picos, quer de receita, quer de despesa.
Tabe
la 3
: Par
ticip
ação
dos
gas
tos
em n
úmer
os a
bsol
utos
e p
erce
ntua
is n
a de
spes
ada
Câm
ara,
172
1-17
34
AB
CD
EF
GH
IJ
KTo
tal a
nual
1721
338$
800
57$0
00-
-3:
128$
400
-42
$000
1$38
777
0$02
259
9$10
5-
4:93
6$71
4
%6,
861,
15-
-63
,37
-0,
850,
0215
,59
12,1
3-
-
1722
-92
0$40
019
$200
620$
400
3:04
5$00
0-
50$4
0027
$600
737$
100
92$4
0017
6$40
05:
688$
900
%-
16,1
70,
3310
,90
53,5
2-
0,88
0,48
12,9
51,
623,
10-
1725
201$
000
3:11
3$95
01:
243$
500
333$
000
--
52$5
0042
4$20
083
8$00
023
2$35
03:
990:
250
10:4
28$7
50
%1,
9229
,85
11,9
23,
19-
-0,
504,
068,
032,
2238
,26
-
1726
183$
000
1:76
0$01
424
0$00
0-
--
52$5
001:
309$
675
3:97
4$90
038
6$05
096
$900
8:00
3$03
9
%2,
2821
,99
2,99
--
-0,
6516
,36
49,6
64,
821,
21-
1727
1:46
6$90
03:
731$
389
401$
475
590$
400
369$
825
102$
600
171$
500
539$
650
990$
300
631$
650
-8:
995$
689
%16
,30
41,4
74,
466,
504,
111,
141,
905,
9911
,00
7,02
--
1728
363$
000
2:69
0$50
062
$401
612$
000
210$
600
-52
$500
874$
500
2:21
9$60
099
$151
66$6
007:
250$
852
%5,
0037
,10
0,86
8,44
2,90
-0,
7212
,06
30,6
11,
360,
91-
1729
477$
000
909$
175
403$
200
770$
400
76$8
0011
3$40
096
$000
746$
310
1:86
5$30
045
2$97
512
0$00
06:
030$
560
%7,
9015
,07
6,68
12,7
71,
271,
881,
5912
,37
30,9
37,
511,
98-
1734
1:45
2$80
01:
537$
840
430$
000
-73
9$51
0-
-89
$830
1:24
0$60
01:
982$
860
-7:
473$
440
%19
,43
20,5
75,
75-
9,89
--
1,20
16,6
026
,53
--
Tota
l4:
482$
500
14:7
20$2
682:
799$
776
2:92
6$20
07:
570$
135
216$
000
517$
400
4:01
3$15
212
:635
$822
4:47
6$54
14:
450$
150
58:8
07$9
44
%7,
6225
,03
4,76
4,97
12,8
70,
360,
876,
8221
,48
7,61
7,56
-
Legenda: A – Propina; B
– Obra Pública; C – Gastos com Igreja; D
– Milícia; E – Rem
uneração por serviços; F – Devassas;
G – Aviam
entos; H – Miudezas ou despesas sem justifi cação; I – Festas; J – Outros; K – Não identifi cado.
Font
e: A
PM
, CM
OP,
cód
s. 1
2, 2
1 e
34. R
elaç
ão d
e re
ceita
e d
espe
sa d
a C
âmar
a de
Vila
Ric
a
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
92
sereníssimos, o ouvidor recebeu 400$000 e cada um dos oito ofi ciais da Câmara recebem 200$000. Assim sendo, o ouvidor, crendo serem essas despesas excessivas, glosou o custo com as propinas dos ofi ciais. Em 1728, os novos ofi ciais eleitos, “compadecidos”4 da situação de seus companheiros que haviam servido no ano de 1726, recorreram ao Rei para pedirem que o ouvidor levasse em conta as despesas feitas uma vez que,
[...] os ditos ofi ciais em desempenho do muito gosto com que estes povos receberam esta notícia querendo fazer o mais plausível a sua celebridade, se resolveram a fazer, além das festas ordinárias, as de touros, sortilhas, comédias, e serenatas com toda a grandeza conducente [...] no que fi zeram uma larga despesa das rendas desta Câmara, presumindo com justa razão, que Vossa Majestade em atenção do zelo, e afeição com que quiseram fazer maior esta celebridade, mandaria levar em conta a despesa que fi zeram, assim das propinas que receberam, como dos demais gastos precisos para a grandeza com que se desempenhou aquela função [...] (AHU, MG, cx. 12, doc. 29)
Não obstante, diferente dos 200$000 originalmente declarados, o juiz mais velho coronel Caetano Álvares de Araújo, os vereadores sargento-mor Nicolau Carvalho de Azevedo, capitão Antônio Pimenta da Costa, Custódio Machado Lima e o procurador Francisco Rodrigues Gondim assinalaram que por ocasião dos casamentos foram despendidos com cada um dos ofi ciais, os quais serviram em 1726, somente 150$000 (AHU, MG, cx. 12, doc. 29). É possível que esta tenha sido uma manobra dos ofi ciais que serviram em 1728 para driblar a coroa. Declarando um valor mais baixo recebido em propina – e, por isso mesmo, mais fácil de ser aceito pelo rei –, esses ofi ciais certamente buscaram evitar que eles próprios tivessem de arcar com o reembolso das propinas, caso os antigos ofi ciais se recusassem a devolver o valor recebido naquela ocasião.
A solenidade de entrada por ocasião da chegada do bispo também foi alvo de repreensão por parte do ouvidor. De acordo com os ofi ciais,
4 Caso os ofi ciais que serviram no ano de 1726 não repusessem o dinheiro recebido por eles em propinas, caberia aos ofi ciais vindouros repor a quantia.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
93RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
[...] entendendo seria desaire dele, negar este obséquio tão grande Prelado o primeiro que nestas Minas entrou, e, com efeito, o fi zeram, e em Corpo de Câmara o acompanharam, até a Casa em que se recolheu, e assistiram ao se primeiro pontifi cial na Igreja Matriz de Ouro Preto, recebendo por estas duas funções as propinas aqui costumadas, no que tudo gastariam ao mais até seiscentas oitavas de ouro, e como o corregedor desta Comarca duvida levar em conta esta despesa, suplicamos muito rendidamente a Real Grandeza de Vossa Majestade, seja servido mandar que o Corregedor da Comarca leve em conta esta despesa (AHU, MG, cx. 10, doc. 53)
Outra ocasião de contenda se deu por volta de 1731, quando os ofi ciais que serviram em 1729 demonstram seu desagrado decorrente das glosas feitas pelo ouvidor no período em que atuaram na Câmara. Assim, os vereadores sargento-mor Manuel Rocha Braga e o tenente Luís Soares de Meireles argumentaram que,
[...] se lhe glosaram várias parcelas, que aliás pareciam justas, tanto pelo uso e costume observado, como pela tácita aprovação dos Ministros, que não haviam antecedentemente reprovado outras parcelas semelhantes (AHU, MG, cx, 19, doc. 33).
Além disso, alegaram que em decorrência das contendas havidas entre Gabriel Fernandes Aleixo – “inimigo capital, e declarado dos suplicantes” e escrivão que auxiliou o ouvidor na correição da câmara – e os ofi ciais que serviram a câmara naquele ano, o escrivão teria interferido contra eles, realizando glosas indevidamente “por ser homem orgulhoso e mal afeito ao suplicante” (AHU, MG, cx, 19, doc. 33).
Assim, para além dos elevados gastos as expensas com as festas, em especial com as propinas, muitas vezes se confi guravam em motivo de contenda e de confl itos de interesse entre os ofi ciais camarários e o ouvidor da comarca5.
5 Para maiores detalhes acerca da ocorrência de confl itos entre ouvidores e ofi ciais camarários, conferir SOUZA, M. E. C. 2000.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
94
Outra despesa signifi cativa fi ca por conta da remuneração de serviços. Conquanto os anos de 1727 a 1734 não ocupem um lugar tão destacado na participação da despesa, os anos de 1721 e 1722 alcançam as quantias de 3:128$400 (63,37%) e 3:045$000 (53,52%), respectivamente. Tais elevadas quantias deveram-se, principalmente, à obrigação da câmara para com o pagamento dos ofi ciais da Casa da Moeda e Fundição (os quais correspondiam a 2:637$600 para 1721 e 2:872$200 para 1722), com o qual teve de arcar até o momento de sua instituição.
Anos mais tarde, as despesas com os salários dos ofi ciais da Casa da Moeda e Fundição se mostraram de suma importância para a câmara. Em representação feita ao rei, em 1729, os camaristas deram conta que em decorrência dos altos gastos com os salários dos ofi ciais da Casa da Moeda, “foi Vossa Majestade servida [...] em carta de 6 de julho de 1723 agradecer-lhes aquele serviço, segurando-lhes fi car na real lembrança de Vossa Majestade para atender a tudo o que fosse aumento desta câmara e utilidade destes moradores”. Dessa forma, diante do pedido do capitão-mor José de Boaventura ao rei de lhe conceder a propriedade da carceragem, os ofi ciais da câmara de Vila Rica recorreram à “lembrança de Vossa Majestade não só [pelo] mesmo serviço que fez [pagando os salários dos ofi ciais da Casa da Moeda e Fundição] e que atualmente estamos fazendo em bom juízo da Real Fazenda de Vossa Majestade na fábrica de quartéis para as tropas de Dragões”, para que o rei conservasse a posse da renda da cadeia na câmara uma vez que
Todas as câmaras desta capitania estão na posse de arrendar a carceragem dos seus distritos aplicando aquela importância para as despesas do bem comum em que esta câmara não só tem excedido todos os anos, mas também nos grandes gastos que fez e está fazendo em utilidade da Real Fazenda de Vossa Majestade (AHU,MG, cx. 14, doc. 46).
Recorrendo à argumentação dos serviços prestados pela câmara em prol do interesse régio, percebe-se não apenas a intenção
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
95RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
dos camaristas em manter uma importante fonte de renda do poder municipal, mas também de resguardar a prerrogativa da câmara sobre a posse do contrato. Afi nal, como visto anteriormente em relação aos quintos, a perda da posse de contratos difi cultava a manutenção de redes de reciprocidade por meio do arrendamento a aliados.
Grande parte dos pagamentos de propina refere-se a quantias menos signifi cativas concernentes à realização de correições, sendo recompensados por isso o ouvidor e um escrivão. As maiores quantias alcançadas por esta despesa nos anos de 1727 e 1734 devem-se a propinas anuais pagas ao ouvidor e ofi ciais da câmara. Tais valores, possivelmente decorreram das pitanças6 dadas pela assistência de festas, porém, como mais uma vez o escrivão nos poupou alguns detalhes, prefi ro considerar estas somas apartadamente.
As miudezas e despesas sem justifi cação7 chamaram a atenção não apenas pela soma total dos anos, a qual contabilizou 4:013$152, mas especialmente por alguns anos em particular.
A miudeza refere-se a pequenos gastos os quais, em função mesmo do seu baixo valor, podem ser despendidos pelo tesoureiro sem ordem dos ofi ciais da câmara (MACHADO, M. F. 2003, p. 177 e 178). Para os anos de 1721 e 1722, constatei, de fato, valores muito pequenos: 1$387 e 27$600, respectivamente. Todavia, a partir daí torna-se difícil considerar as miudezas como realmente miúdas: em 1725, gastou-se 424$200 (neste caso também está incluso o gasto com cera); em 1726, aparecem 150$750 e, em 1734, 89$830. O espanto, contudo, deve-se às despesas sem justifi cação.
Em decorrência destes gastos, feitos sem maiores explicações, a câmara foi onerada em 1:309$675 (1726), em 539$650 (1727), em 874$500 (1728) e em 746$310 (1729). Não foi possível saber para quais fi ns esse dinheiro foi empregado, mas, coincidência ou não, esses
6 Termo utilizado por Maria de Fátima Machado para designar as propinas pela assistência das festas pelos ofi ciais (MACHADO, M. F. 2003, passim).7 Este termo “despesa sem justifi cação” não é um termo próprio do documento, como é “miudeza”. Utilizamos essa denominação para os casos em que a declaração do gasto aparecia sem mais explicações, contendo, por via de regra, o seguinte escrito: por várias despesas feitas por ordem do Senado.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
96
altos valores somente foram registrados para os anos em que Manoel Ferreira de Macedo serviu como tesoureiro da câmara.
Por fi m, menos pela relevância dos números do que por suas implicações no funcionamento da câmara, trataremos dos gastos com Tropas dos Dragões. Tal como observado anteriormente, os gastos feitos pela câmara em prol dos interesses régios poderiam reverter em benefícios para o próprio órgão. Não obstante, não foram poucas as ocasiões em que os ofi ciais camarários se queixaram dos custos relativos às Tropas de Dragões. Tais despesas derivavam das despesas com a manutenção do aluguel de casas para os soldados e ofi ciais de Dragões. A incumbência recaiu sobre o órgão municipal por ordem do governador D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, e depois foi confi rmada pelo governador D. Lourenço de Almeida, o qual determinou,
[...] que dos bens do conselho se pagassem os aluguéis das casas em que se acham aquartelados os ofi ciais e soldados Dragões desde o primeiro ano que para estas Minas vieram até o tempo presente e ainda continuando as mesmas despesas (AHU, MG, cx. 03, doc 64).
Em representação ao Rei de 1727, os ofi ciais assinalaram seu desagrado em continuar com os custeios das Tropas de Dragões, alegando “que nisto faz uma grande despesa, pagando cada morada a duzentas oitavas de ouro, cada ano faltando estas somas para obras, e despesas públicas”. Sendo assim, os camaristas suplicaram ao monarca que “livre esta câmara desta despesa e faça aquartelar os Dragões e seus ofi ciais por modo que se evite este grande gasto a esta câmara” (AHU, MG, cx. 10, doc. 54).
Em 1729, o governador D. Lourenço de Almeida ordenou aos ofi ciais que serviram neste ano que dessem início à construção dos quartéis evitando, dessa forma, que se gastasse com aluguéis todos os anos. De acordo com o governador, a câmara de Vila do Carmo deveria contribuir para a efetivação da obra com 1:800$000. Contudo, em 1730, os camaristas
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
97RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Quiseram duvidar em não continuarem com esta obra, fundadas em que não tinham ordem de vossa Majestade e talvez para aplicarem o ouro a obra mais conveniente para eles, que é o que se observa nestas câmaras, por cuja causa se acham todas com grandes empenhos, tendo umas rendas muito consideráveis,e fazendo poucas obras
A ausência de dados para os anos seguintes impede a visualização do impacto das obras dos quartéis sobre as contas da câmara. Em 1734, temos a única referência acerca de tais construções no campo de obras públicas que diz respeito à quantia de 247$725 de resto das obras dos quartéis.
O curto período analisado não possibilita o desenvolvimento de análises ampliadas acerca do comportamento das receitas e despesas da câmara, embora seja possível perceber uma tendência ao superávit sem grandes discrepâncias entre as rendas e as expensas. Sem embargo das limitações impostas pelo período avaliado, é possível observar a atuação da câmara frente à gestão municipal, sendo visível o empenho do órgão com relação à realização de obras públicas e de festas. Assim, no que tange às obras, para além dos custos apresentados anteriormente com a casa da câmara e a cadeia, o poder municipal também esteve empenhado no conserto e confecção de calçadas, pontes e chafarizes em atenção ao bem comum. Com relação às festas, é preciso lembrar o importante papel social desempenhado pelas festividades nesta sociedade, uma vez que tais ocasiões são apontadas como instrumento de representação e reforço do poder régio e local, introjeção de valores e instauração de preceitos de uma sociedade hierarquizada, além de se constituir uma válvula de escape para as agruras da sociedade8.
Outros aspectos importantes podem ser percebidos especialmente a partir do cruzamento das relações de receita e despesa com documentos de outra natureza. Dessa maneira, através das relações foi possível perceber dois aspectos diretamente relacionados aos interesses régios, a saber: 1) o pagamento de salários dos ofi ciais da Casa da Moeda e Fundição, com os quais a câmara deveria arcar até que as ditas casas
8 Acerca das funções da festa na sociedade colonial conferir, (FURTADO, J. F, 1997, passim; DEL PRIORE, M. 2000, passim; SANTIAGO, C. F. G. , 2001, passim).
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
98
fossem efetivamente instituídas e 2) os custos com aluguéis e posterior construção dos quartéis para as Tropas dos Dragões. A importância das Tropas foi apontada pelo governador D. Lourenço de Almeida ao assinalar que delas
[...] saem os destacamentos, que mando patrulhar as estradas para impedirem a extração de ouro, fi cando os mais soldados para guardas da Casa da Moeda e Fundição, e para minha guarda e dos Tenentes Generais, Auditor Geral, e Provedoria da Fazenda (AHU, MG, cx. 16, doc. 79).
Por outro lado, mediante as representações dos ofi ciais camarários é possível perceber a relevância de seu empenho frente a tais questões, ainda que por vezes se mostrassem contrafeitos aos gastos com as Tropas de Dragões: ao se depararem com a ameaça da perda de uma de suas rendas, os camaristas recorreram aos serviços prestados à coroa para tentarem impedir que o contrato da cadeia se tornasse propriedade do capitão-mor José de Boaventura, o que levaria a uma diminuição das prerrogativas camarárias.
Dessa forma, percebe-se, para além da negociação tramada entre a câmara e o poder régio – no sentido de impedir a perda da prerrogativa sobre uma de suas rendas –, o uso de um recurso caro aos indivíduos no Antigo Regime. Para proteger suas fi nanças, a câmara de Vila Rica lançou mão da estratégia de lembrar ao rei os serviços prestados, o que a tornaria merecedora de uma mercê, a manutenção da renda da cadeia nos quadros da receita da câmara.
Uma vez traçada a atuação da câmara frente à sociedade e aos interesses régios, assim como a sua posição frente ao contexto político e econômico no qual a câmara de Vila Rica se inseria, passarei a uma análise do perfi l econômico dos homens que serviram a câmara entre os anos de 1711 a 1736.
O peso das propinas e emolumentos nas fortunas dos ofi ciais camarários
Desafortunadamente foram encontrados inventários respeitantes a somente seis dos ofi ciais da câmara, dos quais dois, referentes a
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
99RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Manoel Mateus Tinoco – procurador da câmara em 1729 e 1730 e arrematante do contrato dos diamantes junto com João Fernandes de Oliveira – (AHU, MG, cx. 67, doc. 34) e Manoel Coelho Neto – procurador da câmara nos anos de 1720 e 1721 e vereador em 17269 encontravam-se em estado precário. Dos quatro restantes, embora a análise nem de longe permitisse o estabelecimento de um padrão, foi possível perceber que um deles, o mais desfavorecido, situava-se entre os pobres e os demais pertenciam a uma camada média da sociedade10. Dessa forma, na falta de meios mais consubstanciados no trato do perfi l econômico dos ofi ciais da câmara reuni, para além desses inventários, alguns outros dados os quais, em grande medida, são nada mais do que indícios, mas que podem fornecer algumas pistas acerca da colocação econômica desses homens. Contudo, antes de passar à reunião de dados concernentes aos aspectos do perfi l econômico dos ofi ciais camarários vale um apontamento acerca da participação dos lucros advindos da atuação na câmara – fosse por emolumentos, fosse por propinas – na viabilização do enriquecimento dos homens que passaram pela câmara de Vila Rica.
Buscando analisar o perfi l dos ofi ciais militares integrantes das tropas de ordenanças de Vila Rica entre os anos de 1735 a 1777, Ana Paula Pereira Costa identifi cou dentre 49 militares a participação de 30 em ofícios camarários, alguns dos quais também ocuparam postos em outras instâncias, tais como o setor de justiça e a Real Fazenda. De acordo com a autora, a ocupação de postos nestas instâncias de poder, além de possibilitar o exercício da autoridade, denotava uma distinção social e uma maior margem de manobra na sociedade uma vez que, detentores de informações privilegiadas, possuíam mais recursos na viabilização de seus interesses. Ademais, a autora destaca a importância da atuação desses postos como via de enriquecimento (COSTA, A. P. P. 2006, p. 64 e 65). No que respeita a atuação na Fazenda Real, reproduzo o quadro apresentado pela autora:
9 Todos os dados referentes ao ano de ocupação dos ofícios da câmara de Vila Rica se encontram em http:www.ouropreto-ourtoworld.jor.Br/cmop%2017.htm.10 Acerca da faixa de riqueza utilizada para inserir uma dada fortuna na camada pobre, média ou rica da sociedade em questão ver (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, p. 75).
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
100
Tabela 4: Rendimento dos ofícios pertencentes à Fazenda Real em termos de emolumento e propina
Ofício Ordenado anual Propinas (trienal)* Propinas extraordinárias
Provedor 1:600$000 4:275$000 135$000
Procurador da Fazenda 500$00 1:162$500 135$000
Tesoureiro 800$000 1:162$500 45$000
Ajudante de Tesoureiro 547$500 576$900 22$000
Porteiro e Guarda Livros 250$000 237$000 11$250
Meirinho 250$000 219$900 14$000
Escrivão de Meirinho 250$000 73$000 11$250
Fonte: (COSTA, A. P. P. 2006, p. 67). (*) Tais propinas são referentes a todos os contratos régios lançados na capitania e o valor colocado na tabela se refere ao triênio dos contratos, ou seja, o qual se arrecadava a cada três anos.
(**) As propinas extraordinárias são referentes às ocasiões de casamentos, aclamações, falecimentos e nascimentos de pessoas reais.
Fonte: Carta de domingos Pinheiro, provedor da fazenda de Minas, informando a Diogo de Mendonça Corte Real sobre os ordenados de alguns ofi ciais existentes nas Minas. AHU/MG/cx: 68; doc: 3.
Conforme a tabela 4, de fato, e tendo em conta, especialmente, os três primeiros cargos, não se pode negar, a representatividade dos ordenados e propinas nas fi nanças de seus ocupantes.
Segundo Ana Paula Pereira Costa, a ocupação de cargos administrativos, incluindo os camarários, “abriam espaço [...] para que estes indivíduos se inserissem nos quadros da elite econômica [...]” (COSTA, A. P. P. 2006, p. 106). Para demonstrar a possibilidade de enriquecimento por meio do exercício de um posto camarário, a autora fez uso de um requerimento de Rafael da Silva e Sousa, juiz ordinário na câmara de Vila do Carmo – situada na comarca de Vila Rica –, no qual solicitou ao Conselho Ultramerino, em 1724, o pagamento dos emolumentos referentes ao seu ofício. Segue abaixo a reprodução do trecho do documento:
[...] diz que pelas obrigações de seu ofício devia levar o seguinte: por arrematações de até 50 oitavas levará ½ oitava, de arrematações de até 100 oitavas levará 1 oitava e daí para cima levará 2 oitavas. Pelos dias de caminho levará 4 oitavas, por inquirição levará ¼, pela abertura
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
101RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
de inventários levará 8 oitavas, por tomar qualquer conta de tutores levará 30 oitavas (AHU, MG, cx. 22. doc. 23).
Rafael da Silva e Sousa ocupou o posto de juiz ordinário da câmara de Vila do Carmo nos anos de 1715, 1722 e 1724 (AHU, MG, cx. 09, doc. 70), momentos nos quais uma oitava correspondia a 1$50011. Dessa forma, convertendo o valor de cada um dos emolumentos requeridos no documento observa-se, respectivamente: 750, 1$500, 3$000 pelas arrematações; 6$000 por dias de caminho; 375 por inquirição; 12$000 pela abertura de inventários; e 45$000 por tomar contas aos tutores.
Ainda de acordo com a autora, o mesmo Rafael da Silva serviu como juiz dos órfãos por mais de cinco anos e “por cada serviço que prestava como tal arrecadava vultosas quantias” (COSTA, A. P. P. 2006, p. 65). Conforme o documento citado por Ana Paula Pereira, Rafael da Silva deveria levar
[...] 16 oitavas de ouro por cada inventário e partilha que fazia e levava também de assinatura em qualquer sentença 1$500 réis a imitação do ouvidor desta comarca e dos mandados que passava a quarta parte de uma oitava e de mandar rematar a obra do cofre para estar o dinheiro dos órfãos levou uma libra de ouro (AHU, MG, cx. 22, doc. 23).
Convertendo novamente os valores observa-se, respectivamente: 24$000 pela abertura de inventários; 375 por mandados e pela arrematação da obra do cofre o correspondente a 189$480. Embora sejam valores mais altos do que aqueles concorridos como juiz ordinário, creio não ser possível o enriquecimento por meio desses emolumentos.
Outra fonte de renda possível aos ofi ciais camarários eram as propinas decorrentes das participações em festas religiosas, além daquelas relacionadas à família real, como nascimentos, casamentos e exéquias. De acordo com a pesquisa das contas da câmara realizada entre os anos de 1721 a 1734, no ano de 1722 a festa de Corpus Christi
11 Ao longo do século XVIII, o valor da oitava em real decorria de medidas régias, ocasionando, ao longo dos anos uma série de variações: até 1725, a oitava valia 1$500.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
102
rendeu 115$200; em 1725, pelas festas realizadas naquele ano, cada ofi cial recebeu 72$000 e, em 1726, 90$000. Ainda no ano de 1726, foram registrados 200$000 de propina pelas bodas dos príncipes e 54$000 por mais festas. Por fi m, em 1728, os ofi ciais receberam 150$000 por assistirem às festas de casamento e tanto neste ano como no seguinte e auferiram 126$000 por assistência de festas12.
O ano de 1726 apresentou-se como o mais farto em termos de propinas para os ofi ciais, totalizando 344$000 para cada um. Não obstante, é preciso lembrar que neste mesmo ano a principal propina recebida foi cortada das despesas da câmara pelo ouvidor, revelando que tais fontes de renda nem sempre eram formas seguras de obter proventos. Ademais, conforme assinala Camila Guimarães Santiago, o regimento de 24 de maio de 1744 limitava o valor recebido pelos ofi ciais nas ocasiões de assistência às festas (SANTIAGO, C. F. G. 2006, p. 111). Em 1759, uma representação dos membros da Irmandade da Matriz de Nossa Senhora do Pilar solicitando que se fi zessem maiores gastos com as festas anuais deu conta de um trecho do regimento de 1744 segundo o qual,
[...] os juízes, vereadores, procurador e escrivão da câmara dessa vila cada um deles terá vinte mil réis de propina cada uma das quatro festas principais, que são Corpo de Deus, Santa Isabel, o Anjo Custódio do Reino, e o dia do Santo Orago da Igreja Matriz dessa Vila; havendo alguma ocasião de propina extraordinária aprovada por ordem minha ou estilo observado em semelhante caso seja esta propina de vinte mil réis como as referidas; nas mais festas em que por estilo dessa vila tiverem propina dos rendimentos da câmara os ofi ciais dela terá cada um dos sobreditos dez mil réis somente: e ofi ciais subalternos dos sobreditos que costumam ter propinas dos rendimentos da câmara tenham cada um de propina metade do que tem cada um dos vereadores: todas as referidas propinas se devem entender não serem maiores do que agora se costumavam levar porque a minha Real intenção é regular
12 Tais quantias não foram necessariamente registradas para todos os ofi ciais, ou seja, para determinados anos apareceram registro de propina somente para juízes ordinários, vereadores e procuradores, para outros, contudo, são registrados também os valores pagos a escrivães e tesoureiros.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
103RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
as despesas da câmara, e não aumentá-las (AHU, MG, cx. 74, doc. 52)
Embora o regimento fosse constantemente desobedecido pelos ofi ciais camarários, sendo comuns a partir de então, os embates com ouvidores – responsáveis pela correção das contas da câmara –13 as propinas, como apontado acima, não eram fontes seguras de rendimento, muito menos sufi cientes ao enriquecimento dos ofi ciais camarários. Por fi m, ressalto o período de permanência no cargo. O período máximo de permanência em um posto camarário foi de sete anos, e deu-se no posto de escrivão. Para as ocupações de postos como juiz ordinário ou vereador, o máximo encontrado foram quatro ocupações. Ademais, a atuação na câmara foi marcada muito mais por uma rotatividade do que pela permanência de determinados indivíduos em sua administração, o que difi cultaria o enriquecimento pelo exercício de suas atividades camarárias.
O enriquecimento por meio dos emolumentos e propinas parece ainda mais improvável, ao menos no caso de Vila Rica,14 caso se tenha em conta o valor e a importância do escravo nesta sociedade. Analisando todos os inventários referentes ao termo de Vila do Carmo de 1713 a 1756, Carlos Leonardo Kelmer Mathias aponta que a posse de escravos detém uma alta porcentagem frente à riqueza, representando em média, 43,4% do total da fortuna inventariada. Para além da representatividade do escravo frente aos demais bens, o que segundo o autor o torna “o bem primeiro da sociedade”, são destacados também outros importantes aspectos em torno da posse de cativos que, direta ou indiretamente, relacionam-se com a posição econômica e social do indivíduo. Conforme o autor, a posse de escravos não apenas facultava o acesso ao crédito como interferia na disponibilidade do mesmo, levando a que o maior ou menor valor do crédito variasse de acordo com o volume do plantel
13 Acerca dos embates entre ofi ciais camarários e ouvidores após o regimento de 1744, conferir (SANTIAGO, C. F. G. 2006, p. 112).14 É importante lembrar que não obstante os traços comuns que perpassavam todo o império, as diferentes regiões do mesmo podiam vivenciar contextos diversos imprimindo variações em determinados aspectos. Dessa forma, os valores obtidos em emolumentos e propinas pelos ofi ciais da comarca de Vila Rica e especifi camente no termo de Vila Rica não necessariamente ocorriam em outras paragens.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
104
daquele que contraísse a dívida, uma vez que o escravo era dado como garantia da liquidação da mesma (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, p. 67-69). Ademais, o autor ressalta a importância do escravo como “signo da riqueza e prestígio social” e o seu uso frente à manutenção da governabilidade (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, p. 89), o que poderia ser revertido em mercês.
Assinalados alguns dos elementos atinentes a aspectos econômicos e sociais envolvendo a posse de escravos, resta apontar o preço médio deste precioso bem. Tendo por base o valor do escravo nas escrituras de compra e venda presentes nos livros de nota, logo, em seu valor de mercado, têm-se, em média, os valores de 369$405 entre 1711 e 1715, 316$388 entre 1716 e 1720 e 290$416 entre 1726 e 1730. Considerando a posse dos escravos de acordo com as diferentes faixas de fortuna informada pelo preço dos cativos presentes nos inventários,15 o autor construiu a tabela abaixo:
Tabela 5: Preço médio em real dos escravos conforme faixas de fortuna no termo de Vila do Carmo, 1713-1756
Classifi cação* Faixa 1713-1730 1731-1740 1741-1756
Pobre B 1-999$999 123$293 110$900 111$684
Pobre A 1:000$000-1:999$999 146$888 141$738 119$296
Médio pobre 2:000$000-4:999$999 148$711 147$155 106$579
Médio 5:000$000-9:999$999 167$936 147$607 120$160
Médio rico 10:000$000-14:999$999 173$710 127$252 113$834
Rico C 15:000$000-19:999$999 200$003 150$142 109$446
Rico B 20:000$000-49:999$999 180$691 153$983 113$279
Rico A Acima de 50:000$000 - 147$867 -
- Média geral do período 166$780 141$429 113$056
Fonte: (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, p. 116)
(*) A coluna classifi cação foi agregada à tabela original com base na classifi cação feita pelo autor no mesmo trabalho na página 75.
Uma ressalva deve ser feita com relação aos valores dos preços dos escravos. A primeira delas diz respeito à comparação feita com os valores de propinas de festa assinalados anteriormente. Visando estabelecer uma mesma base comparativa para todo o período pesquisado, o autor considerou o valor da oitava a 1$200 não se detendo
15 Acerca do preço do escravo, conferir também (KELMER MATHIAS, C. L. , 2007B, p. 54-70).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
105RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
às variações do valor da oitava decorrentes da política econômica implementada pelo reino na capitania mineira16. Uma vez que alguns dos valores de propinas de festa foram dados de acordo com o valor citado pelo documento e, portanto, respeitando a variação da relação oitava/real, a aplicação comparativa do valor das propinas para os anos em que a oitava tem seu valor abaixo de 1$500 em relação ao preço do escravo apontado pelo autor implica, para efeitos metodológicos, em uma redução dos valores das propinas.
Assim, se considerarmos uma propina dada no valor de 200$00017 – maior valor encontrado – em um período que a oitava valesse 1$500 e tal valor fosse trabalhado na base de 1$200 a oitava, a propina passaria para 160$000. Tal valor seria insufi ciente para a compra de um escravo em qualquer dos períodos conforme o preço do cativo nos livros de nota. De acordo com os preços obtidos nos inventários, os quais se encontravam bem abaixo do valor de mercado, a propina seria sufi ciente para comprar apenas um escravo, considerando o valor mais baixo da tabela, qual seja de 106$579 no período de 1741-1756.
Considerando que os 200$000 recebidos em propina em 1726, os quais foram dados quando oitava valia 1$200, essa quantia ainda não seria sufi ciente para a aquisição de dois escravos tendo em conta os mesmos 106$579 do preço do escravo no inventário.
Por fi m, o último aspecto a ser considerado faz referência à classifi cação econômica implementada por Carlos Kelmer Mathias conforme as faixas de fortuna. Assim, de acordo com a primeira coluna da tabela 5, verifi ca-se que os indivíduos considerados ricos detinham
16 O valor da oitava em real sofreu várias alterações ao longo do século XVIII, todas elas ligadas à forma de cobrança do quinto denotando, dessa forma, uma intervenção política sobre a economia mineira. A variação da oitava se deu nos seguintes termos: até 1725, a oitava valia 1$500 réis. Com o estabelecimento das Casas de Fundição, a oitava passou a 1$200 réis. Em 1730, devido a uma intervenção de d. Lourenço de Almeida, a oitava foi elevada a 1$320 réis. Dois anos mais tarde, a oitava retornou ao valor de 1$200. Em 1735, com a instauração da capitação, a oitava retornou aos antigos 1$500 réis, perdurando este valor até o ano de 1750. Em 1751, uma vez defi nida a arrecadação do quinto por meio da Casa de Fundição o valor da oitava foi mantido defi nitivamente a 1$200. Acerca das variações e de suas implicações, conferir nota 57 de (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, p. 110).17 Observa-se que a propina de 200$000 réis foi recebida, efetivamente, pelos ofi ciais no ano de 1726, quando a oitava estava valendo 1$200 réis, estando portando na mesma base de comparação com o preço dos escravos tal como apresenta Carlos Kelmer Mathias.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
106
uma fortuna superior a 15:000$000. Segundo o autor, o número médio de escravos nesta primeira faixa classifi catória de homens ricos com base nos inventários por período era o seguinte: o número médio de escravos por plantel entre os anos de 1713 e 1730 era de 37,33 cativos; entre os anos de 1731 e 1740, era de 40,33 cativos e entre 1741 e 1756, era de 79,8 cativos.
Dessa maneira, é preciso atentar para o fato de que, embora as somas em dinheiro recebidas em emolumentos e, principalmente em propinas, tivessem, possivelmente, um dado peso nas fi nanças pessoais dos ofi ciais camarários – ao ponto de por várias ocasiões terem gerado confl itos e desrespeito às ordens régias com o fi m de receberem valores mais altos pela assistência às festas –, a participação desses ganhos não era sufi ciente para o enriquecimento dos ofi ciais. Como veremos tal enriquecimento esteve ligado, substancialmente, às várias atividades que esses homens exerciam.
Formas de enriquecimento dos ofi ciais camaráriosTal como foi dito anteriormente, dentre os inventários
encontrados, apenas quatro deles estavam em condições de serem lidos. Contudo, embora não se admita estender suas características aos demais indivíduos, os quais ocuparam postos camarários, permitem não apenas a classifi cação econômica de alguns deles, como visualização de algumas das atividades nas quais estavam envolvidos.
O mais pobre dentre os quais encontrei o inventário era Manoel Gomes de Silva. Eleito vereador mais velho em 1717, ocupou a câmara por duas outras ocasiões como juiz ordinário, em 1718 e em 1721.
Falecido no ano de 1769, dentre os bens inventariados foram encontrados ouro, prata, cobre, um número considerável de roupas, cinco cavalos e um escravo, perfazendo um modesto total de 273$140. Contudo, uma ressalva deve ser feita neste caso: em decorrência da discrepância deste monte-mor em relação aos demais encontrados e da longa distância temporal que separa a ocupação do posto na câmara e o ano de sua morte, é possível que o inventário se refi ra a um homônimo (AMP, IPM, 1o of., cód. 101, auto, 1269).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
107RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Manoel de Matos Fragoso ocupou o posto de vereador nos anos de 1717 e 1718. O inventário de Manoel de Matos data de 1734. Dentre seus bens – joias, prata e um cavalo –, constam também 44 escravos, os quais sozinhos perfaziam 5:628$480. No inventário também constam duas dívidas ativas, que juntas somam 3:750$000. O monte-mor de Manoel de Matos atinge no total 9:634$350 (AMP, IPM, 2o of., cód. 60, auto, 682).
Mateus Pereira Lima foi procurador em 1731. Seu inventário, assim como o anterior, data de 1734. Dentre os seus pertences foram encontrados dinheiro, ouro, prata, alguns utensílios, roupas, dois cavalos e sete escravos, os quais somavam 1:063$6000. O que chama a atenção no inventário de Mateus Pereira Lima são o número e o total das dívidas ativas: tratam-se de 38 dívidas, cuja soma perfaz 9:013$177, o que faz dele um homem, fundamentalmente, envolvido com atividades creditícias (AMP, IPM, 2o of., cód. 61, auto, 689).
Enfi m, João Gonçalves Batista. Licenciado, foi eleito vereador em 1721 e juiz ordinário em 1726, sendo o ofi cial mais rico entre aqueles para os quais encontrei inventário. Entre os seus bens constava ouro, prata, estanho, cobre, móveis, armas, muitas peças de vestuário, utensílios, madeira, ferramentas, mantimentos, criações e três livros. Para além desses, foram encontrados bens de raiz – roças, casas com duas senzalas, serviço de água, catas minerais e moinho – os quais somam 7:100$000. Por fi m, também havia 57 escravos, cuja soma é de 9:475$000. Percebe-se seu envolvimento tanto com atividades agrárias, como de mineração. Sua fortuna totalizava 18:215$734 (AMP, IPM, 1o of., cód. 67, auto, 802).
Conforme apontado anteriormente, diante da difi culdade de analisar o perfi l econômico dos ofi ciais camarários a partir de seus inventários, busquei reunir o maior número de informações acerca de suas atividades e transações econômicas nas quais estivessem envolvidos. Para tanto, fi z uso de documentação variada, tal como uma referência a uma carregação, dados sobre pagamentos de donativos, arrematações de contrato, doações de sesmarias e informações recolhidas a partir de um banco de dados trazendo informações relativas a escrituras de
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
108
crédito, de compra e venda e nomeações para procuração presentes nos livros de nota18.
Em 1710, consta que Fernando da Fonseca e Sá, juiz ordinário em 1711, fez petição para que a carregação mandada do Rio de Janeiro por seu sócio Manoel Casado Viana19 não continuasse apreendida em razão da acusação de assassinato que recaiu sobre Antônio Pereira Rebelo, sujeito responsável pela condução da mesma até as Minas. Tal carregação constava de 12 negros, os quais perfaziam 1:964$000, além de várias peças de vestuário, desde as mais simples às mais sofi sticadas, utensílios, papel, cera, armas – dentre as quais espadas, facas e armas de fogo – e alguns produtos alimentícios. De acordo com o documento, o valor total da mercadoria era de 3$202$540 (ACSM, cód. 156, auto, 3505, 2 of). Para além de apontar o envolvimento de Fernando da Fonseca com atividades comerciais, tal carregação indica sua ligação com a praça do Rio de Janeiro por meio de seu sócio.
Atinentes aos pagamentos de donativos, foram encontradas informações sobre dois indivíduos. Dentre eles, Antônio da Silva Porto, eleito vereador em 1734. Em 1741, Antônio da Silva foi provido no posto de escrivão dos órfãos de Vila Rica, mediante o pagamento de um donativo à coroa de 1:100$000 (AHU, MG, cx. 41, doc. 25). Em 1745, foi provido a escrivão das Execuções de Ribeirão do Carmo, entregando em donativo a quantia de 4:300$000 (AHU, MG, cx. 45, doc. 28). O donativo se referia ao pagamento feito à Fazenda Real que o serventuário dava pela provisão concedida para o exercício
18 Agradeço a Carlos Leonardo Kelmer Mathias por ter facultado a mim o acesso a seu banco de dados parcialmente inédito acerca das transações de alforria, compra e venda, crédito e procuração – das quais farei uso posteriormente –, que conta com a pesquisa de todos os “livros de nota” do primeiro ofício presentes no Arquivo da Casa Setecentista entre os anos de 1711 a 1756. Assim, esclareço que todas as referências que farei posteriormente a estas transações e às procurações presentes nos “livros de nota” dizem respeito exclusivamente aos dados concedidos pelo autor supracitado. Contudo, é preciso ressaltar que o levantamento feito por mim conta com os anos de 1711 a 1752, uma vez que à época de minha pesquisa, tal banco ainda não estava completo.19 Manoel Viana Casado era homem de negócio no Rio de Janeiro e Familiar do Santo Ofício. Agradeço ao professor Antônio Carlos Jucá de Sampaio por ter, gentilmente, cedido esta e outras informações das quais farei uso em outros momentos. Acerca do título de familiar do Santo Ofício, além de prover o indivíduo de prestígio social, por via de regra, indicava uma posição econômica favorável do indivíduo, uma vez que este era o pressuposto básico da familiatura. Para maiores detalhes conferir (SILVA, M. B. N. 2005, p. 159-165).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
109RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
de um dado cargo público. A quantia a ser paga de donativo variava conforme o cálculo do rendimento do cargo e, por defi nição, deveria ser voluntário (FIGUEIREDO, L. R. & CAMPOS, M.V. 1999, p. 92). Mas um decreto régio, datado de 18 de fevereiro de 1741, estabelecia “que os governadores e mais pessoas a que pertence nomear serventuários não passe provimento a pessoa alguma sem que esta pague donativo à proporção do que tiver pago o último provido” (AHU, MG, cx. 41, doc. 59) , levando a crer que mesmo antes de 1741 já se praticasse tal pagamento, fosse de forma voluntária ou não.
Concernente às doações de sesmaria, nem sempre é possível perceber, para além da posse de terras, as atividades desenvolvidas pelos indivíduos que atuaram na câmara. Além disso, tendo em conta que foram pesquisados 123 indivíduos, o número de sesmarias foi bastante reduzido, uma vez que encontrei somente 20 indivíduos agraciados pela doação de terras, sendo boa parte delas concedidas em torno de 1711, ano da fundação de Vila Rica. Ainda sim, creio que as sesmarias possam contribuir para o melhor entendimento do perfi l econômico dos ofi ciais camarários, ao informar algumas das atividades nas quais estavam envolvidos.
Antônio Alves Magalhães, vereador em 1716, recebeu em 1711 de D. Antônio de Albuquerque uma doação de sesmaria. As terras continham uma dimensão de quinhentas braças (APM, SC, 07, fl . 133v). Para além das informações acerca da sesmaria, vale destacar que Antônio Alves era proprietário de um sítio com 20 escravos situados na freguesia de São Sebastião, o qual fora vendido ao governador D. Pedro Miguel de Almeida e a Francisco do Amaral Coutinho20 por meio do procurador do governador, Domingos Rodrigues Cobra21. Em 1719, a propriedade e os escravos foram novamente vendidos pelo valor de 10:200$000 aos
20 Francisco do Amaral Coutinho era integrante da nobreza principal da terra no Rio de Janeiro. Foi nomeado, em 1709, governador da capitania de São Vicente, onde estabeleceu fazenda e enriqueceu. Explorou ouro e fez um engenho de açúcar nas Minas. Participou de importantes diligências e foi agraciado com as patentes de capitão-mor e coronel (KELMER MATHIAS, C. L. 2005, p. 54 e 55).21 Domingos Rodrigues Cobra era procurador do governador d. Pedro Miguel de Almeida Portugal. Para maiores detalhes (TÁVORA, M. J. & COBRA, R. Q. 1999).
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
110
sócios Caetano Álvares Rodrigues, Maximiano de Oliveira Leite 22 e Luis Gomes Leitão. Tal propriedade fazia fronteira com as terras dos últimos três compradores e o valor pelo qual fora vendida possibilita vislumbrar que Antônio Alves desfrutava de uma condição econômica favorável (ACSM, LN 09). Outra referência encontrada diz respeito à venda de uma morada de casas, um bem urbano, a qual fazia fronteira com uma propriedade de Antônio Alves, sita, igualmente, na freguesia de São Sebastião (ACSM, LN 06).
Sebastião Barbosa Prado foi eleito juiz ordinário em 1725. Anos antes, em 1711, ocupou também o posto de almotacé em Vila Rica. Conforme uma carta de sesmaria passada em 1717, Sebastião Barbosa possuía um sítio junto ao rio Passa Dez, o qual pertenceu anteriormente a Felix de Gusmão de Mendonça e Bueno, que atuou igualmente na câmara como vereador em 1711 (APM, SC, 09, 254v). Um pouco mais tarde, foi agraciado com uma sesmaria de quatro léguas no Sumidouro, na qual Sebastião Barbosa pretendia criar gado “que tinha de seus contratos reais e os que havia comprado para criar” (APM, SC, 12, fl . 23v). Mas certamente o aspecto mais interessante acerca de Sebastião Barbosa fi ca a cargo dos contratos que arrematou. O primeiro deles diz respeito ao contrato das entradas dos caminhos dos Currais e da Bahia pelo valor de 153:600$000 (AHU, MG, cx. 09, doc. 76). Maria Verônica Campos deu conta de que Sebastião Barbosa arrematou também o contrato dos dízimos por 46:039$680. Contudo, a autora aponta que Sebastião Barbosa “não detinha posses para uma arrematação no valor estipulado sendo, pois, provavelmente um testa-de-ferro” do governador D. Lourenço de Almeida (CAMPOS, M. V. 2002, p. 277).
22 Caetano Álvares Rodrigues participou de várias e importantes expedições militares, inclusive fora da América portuguesa. Foi agraciado com o manto da Ordem de Cristo e com o título de escudeiro, além de ter sido coronel das ordenanças. Mantinha alianças com importantes membros da sociedade, mas seu principal aliado e sócio foi Maximiano de Oliveira Leite. Cavaleiro professo da Ordem de Cristo e fi dalgo da Casa Real, Maximiano de Oliveira Leite esteve entre os primeiros descobridores de ouro nas Minas. Manteve várias relações sociais com importantes potentados mineiros. Para maiores detalhes (KELMER MATHIAS, C. L. 2005, p. 76 e KELMER MATHIAS, C. L. 2005, http ://www .espacoacademico .com.br /050/ 50esp _mathias .htm). Caetano Álvares e Rodrigues e Maximiano de Oliveira leite também foram ofi ciais da câmara de Vila do Carmo, comarca de Vila Rica. Caetano foi juiz ordinário, em 1721. Maximiano foi vereador nos anos de 1720 e 1749 e juiz ordinário, em 1726. Acerca da ocupação dos ofícios camarários da câmara de Vila do Carmo conferir (CHAVES, C. M. G.; PIRES, M. C. & MAGALHÂES, S. M. 2008, passim).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
111RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
Ocupante do posto de vereador em 1719, Antônio Ramos dos Reis foi eleito mais tarde para o cargo de juiz ordinário, embora não o tenha assumido. Antônio Ramos cultivara por cerca de quatorze anos umas terras no Tinguá, freguesia do distrito de Iguaçu, no Rio de Janeiro. Porém, somente em 1741 recebeu por sesmaria o título sobre essas terras (AHU, MG, cx. 41, doc. 84). Pouco mais tarde, em 1744, recebeu outra sesmaria no distrito de Passa Dez, nas Minas (APM, SC, 10, fl . 70). Em 1741, Antônio Ramos dos Reis se envolveu também em uma sociedade com o capitão Domingos Luís Pederneiras e Manuel Álvares Távora cujo capital total era de 9:600$000. A parte que cabia a Antônio Ramos e Domingos Luis era de 2:400$000 cada, e Manoel Álvares detinha os 4:800$000 restantes. Tal sociedade mercantil dizia respeito a atividades comerciais ligadas a cidade do Porto (ANRJ, CSON, L. 53, f. 164)23. Ademais, por ocasião de sua morte, Antônio Ramos possuía uma fortuna de 78:000$000 (ALMEIDA, C. M. C. 2001, p. 260), o que certamente o colocava entre os homens mais ricos de Vila Rica.
Os dados que seguem a partir daqui dizem respeito, fundamentalmente, às informações recolhidas mediante o acesso ao banco de dados relativo à pesquisa dos livros de nota. Muitas informações obtidas foram signifi cativas para o mapeamento das atividades e identifi cação das posses dos indivíduos que ocuparam a câmara.
Servindo a câmara no ano de 1720, no posto de vereador, Gaspar Gonçalves Ribeiro, em sociedade com o capitão-mor Manoel de Castro Oliveira, comprou do coronel Guilherme Meinarde da Silva um quinto de um serviço em terras minerais situado na freguesia de São Caetano, pelo preço de 10:000$000, a serem pagos no prazo de 36 meses (ACSM, LN 29). Em 1744, Gaspar Gonçalves vendeu aos sócios Félix Fernandes Guimarães e o sargento-mor Manoel de Castro de Oliveira uma roça com engenho de pilão, criações, moradas de casas, escravos e terras minerais por 28:000$000 à prazo (ACSM, LN 63). Três anos antes, Gaspar Gonçalves tomou de empréstimo a quantia de 1:746$000 a juros junto ao tutor de órfãos, Francisco da Silva Leite, o qual deveria quitar dentro de um ano (ACSM, LN 56).
23 Agradeço ao professor Antonio Carlos Jucá pela informação.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
112
Manoel Mateus Tinoco foi procurador da câmara em 1729 e 1730. Em 1737, juntamente com sua esposa, Catarina de Sousa e seu sócio, Diogo de Sousa Falcão, vendeu a Gaspar Dias Teixeira um engenho, 55 escravos, roça grande, animais, barris de água ardente e terras minerais por 21:600$000 pelo prazo de 108 meses. O engenho estava situado na freguesia de São Sebastião, na Passagem da Gama (ACSM, LN 46). Mediante as relações de fronteira de outro registro de compra e venda, depreende-se que Manoel Mateus Tinoco detinha outras duas propriedades rurais, estando uma delas situada na freguesia de Camargos (ACSM, LN 68). Por volta de 1754, Manoel Mateus Tinoco e João Fernandes de Oliveira arremataram o contato dos diamantes no Arraial do Tejuco (AHU, MG, cx. 66, doc. 07). Para além dessas informações, há ainda três registros de Manoel Tinoco atuando em atividades creditícias. Na primeira delas, em 1722, consta que parte da venda de um sítio com dez escravos no valor de 3:844$800 caberia a Manoel com o fi m de quitar uma dívida no valor de 351$000 (ACSM, LN 18). Mais tarde, em 1741, acionou os herdeiros de João Correia de Carvalho por dívida (ACSM, cód. 324, auto, 7032, 1 of ), e no ano seguinte moveu outra ação cível contra os mesmos herdeiros para que lhe fosse paga a quantia de 151$077 (ACSM, cód. 488, auto, 10888, 1 of e AHU, MG, cx. 67, doc. 34).
Por fi m, dentre os possuidores de bens rurais, destaca-se o caso de Manoel Manso da Costa Reis. Advogado, eleito para juiz ordinário nos anos de 1720 e 1737, ocupou também os postos de escrivão no ano de 1722 e de juiz dos órfãos por volta de 1767. Manoel Manso, juntamente com sua esposa Clara Maria de Castro, dou a seu fi lho Valeriano Manso da Costa Cunha e Castro propriedade em forma de morgadio, em 1767. Entre os bens doados, há casas de sobrado com seus quintais sitas na ladeira logo abaixo da Casa de Câmara de Vila Rica. A morada era toda de pedra, contendo também outras obras: oratório com imagens e altar para dizer a missa. Ao que parece Manoel Manso e sua esposa deram cem mil réis para cada um dos fi lhos e rezavam que enquanto vivessem as propriedades eram de usufruto deles. Tal doação se dá sob vínculo perpétuo sem poder “por modo algum [...] se desmembrar, vender, alhear ou hipotecar em toda ou em parte por qualquer causa que seja e, para
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
113RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
além disso, o dito donatário e qualquer que se der neste vínculo será obrigado a aumentar as ditas propriedades” e tudo o que às propriedades for agregado deverá estar sob o mesmo vínculo. Ademais, a escritura de doação determinava que o donatário tinha que conservar e aumentar a propriedade. Constava ainda que se o donatário ou seu sucessor cometesse “erro ou delito seria privado da posse e administração das ditas propriedades e vínculo”. A sucessão da propriedade deveria, por fi m, seguir a linha direta de descendentes naturais e legítimos, sendo passada para o fi lho varão. Na falta do varão, a qualquer outro fi lho legítimo (AHU, MG, cx. 94, doc. 43). Para além de ser um meio de manter e aumentar as propriedades da família, o estabelecimento de morgadio denotava um símbolo de distinção e nobreza (SILVA, M. B. N. 2005, p. 122-131).
Tal como apontado anteriormente, os dados encontrados não possibilitam, com precisão, o delineamento do perfi l econômico dos ofi ciais da câmara de Vila Rica. Contudo, as informações obtidas podem lançar luz sobre alguns importantes aspectos. O primeiro deles diz respeito às possibilidades de enriquecimento. Como apontado anteriormente, ao menos para o caso de Vila Rica, o enriquecimento por meio de propinas e emolumentos parece improvável, uma vez que os valores dos emolumentos eram baixos e os de propina, embora fossem mais signifi cativos, podiam ser alvo de glosas por parte do ouvidor. Ademais, após 1744, teve sua quantia bastante reduzida segundo o decreto régio.
Por outro lado, as informações obtidas para 4924 (39,83%) dos 123 homens que serviram na câmara entre os anos de 1711 e 1736 lançam luz sobre as atividades que podiam promover seu enriquecimento. Dessa forma, vale destacar que dentre estes 49 indivíduos, 40 (81,63%) deles estavam às voltas com propriedades rurais. Em relação ao quadro total dos 123 ofi ciais, aqueles detentores de propriedades rurais representam 32,52% dos casos. Embora tal porcentagem não deva ser estendida inadvertidamente para todos os demais casos, é possível
24 A princípio, coletei informações acerca dos bens e atividades econômicas para 51 indivíduos. Contudo, optei por excluir da análise os dois casos os quais podem se tratar de homônimos, quais sejam, Manoel Gomes da Silva e Manoel Correia Pereira.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
114
supor que, em geral, os ofi ciais camarários estivessem envolvidos com atividades rurais, o que estaria em plena conformidade com o perfi l da sociedade mineira, fortemente marcada por um caráter rural25. Dentre os proprietários de terras, foi-me facultado identifi car que pelo menos dez deles em algum momento de suas vidas foram senhores de engenho, nove estiveram envolvidos com a cata de ouro e 12 cultivavam roças e/ou possuíam criações.
Outro elemento importante diz respeito à posse de escravos. Dentre os 49 indivíduos, foi possível identifi car 16 com a posse de escravos. Embora não seja um número muito expressivo, é preciso lembrar que, possivelmente, aqueles detentores de bens rurais – especialmente os identifi cados como senhores de engenho, mineradores e roceiros e/ou criadores – eram, igualmente, possuidores de escravos. Para além desses, há de ressaltar que entre os demais ofi ciais camarários – para os quais não pude contar com informações sobre posses, transações ou atividades econômicas –, foram encontrados ainda 11 indivíduos fazendo uso de escravos como braço armado. Tal aspecto está profundamente ligado à capacidade de mando e ao perfi l social dos ofi ciais da câmara de Vila Rica, fundamentalmente marcado pela presença de militares atuantes em diligências.26
Por fi m, a percepção de outras atividades, tais como foram os casos dos arrematantes de contratos e os envolvidos com comércio, apontam para outras atividades econômicas nas quais estes indivíduos poderiam tomar parte. Ademais, as duas ocorrências de atividades comerciais dentre os 49 indivíduos lançam luz sobre as possíveis ligações dos
25 Acerca do caráter rural da comarca de Vila Rica, conferir (KELMER MATHIAS, C. L. 2007, passim).26 Em minha dissertação de mestrado demonstrei que havia um padrão de ocupação dos ofícios camarários, marcado, fundamentalmente, pela presença de militares. Havia uma relação entre a carreira militar e o posto camarário: antes de serem eleitos para os ofícios de procurador e vereador, os indivíduos deveriam ter sido providos, no mínimo, a patente de capitão; os indivíduos que também servirão como juizes ordinários tinham maior acumulação de patentes e feitos militares; os que tiveram por único ofício o posto de juiz ordinário, em geral, possuíam, no mínimo, a patente de sargento-mor, além de se destacar em feitos militares. A ocupação de outros postos administrativos antes da passagem pela câmara também contribuía para a eleição dos indivíduos para os ofícios camarários, embora fosse um fator menos representativo. Outros elementos afi ançadores no processo de tornar o indivíduo apto à ocupação dos ofícios camarários disseram respeito à posição econômica e relações sociais travadas pelos mesmos. Acerca desses aspectos, conferir (FIORAVANTE, F. 2008, passim).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
115RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
ofi ciais camarários com outros confi ns do império. Nesse sentido, vale destacar a participação dos ofi ciais da câmara nas escrituras de procuração, tanto como outorgados como outorgantes.
Dentre os 123 nomes pesquisados, foram encontrados 66 sendo nomeados como procuradores com maior incidência de atuação na comarca de Vila Rica, uma vez que destes 66 procuradores 42 foram nomeados ao menos uma vez para o termo de Vila Rica e 20 para o termo de Vila do Carmo. Outros 16 procuradores foram nomeados para atuar em diferentes partes da capitania mineira. Para as regiões do Rio de Janeiro e reino, há ocorrência de sete indivíduos e, para a Bahia, nove.
No que tange aos outorgantes, apenas 13 apareceram enquanto outorgantes. Todavia, vale destacar que somente dois homens estiveram restritos á comarca de Vila Rica (ACSM, LN 04). Para os demais são comuns as procurações para Bahia, Rio de Janeiro e mesmo cidades do reino, como Lisboa e Cidade do Porto. Em meio a esses indivíduos, alguns casos se destacam, seja por suas conexões com as paragens assinaladas acima, seja por suas vinculações com trafi cantes de escravos e homens de negócio.
Tais dados levam-nos ao campo dos indícios. Contudo, é possível supor a participação desses indivíduos, direta ou indiretamente, em importantes circuitos mercantis.
Council’s income and patterns of enrichment in a forming society – Vila Rica, 1711-1736
AbstractThe present text analyzes economic questions of the Vila Rica
council and its offi cers. In the fi rst part, the article studies the Chamber accounts and its performance in Vila Rica society. In the second part, the article analyzes the forms of enrichment of the Council offi cers and the infl uence of the profi ts proceeding from the exercise of its ranks in the chamber in conformation to its richness.
Keywords:
Council of Vila Rica – profi t and expense, enrichment.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
116
AbreviaturasCMOP – Câmara Municipal de Ouro Preto
ACSM – Arquivo da Casa Setecentista de Mariana
AHU – Arquivo Histórico Ultramarino
AMP – Arquivo Museu do Pilar
APM – Arquivo Público Mineiro
IPM – Inventário Post Mortem
LN – Livro de Notas
SC – Seção Colonial
FontesACSM, cód. 488, auto, 10888, 1 of. Execução de Manoel Mateus Tinoco contra os herdeiros de João Correia de Carvalho. Vila de Nossa Senhora do Carmo, 08/01/1742.
ACSM, cód. 156, auto, 3505, 2 of. JUSTIFICAÇÃO de Fernando da Fonseca de Sá. 02/01/1710.
ACSM, cód. 324, auto, 7032, 1 of. JUSTIFICAÇÃO de Manoel Mateus Tinoco contra os herdeiros de João Correia de Carvalho por dívida. Vila de Nossa Senhora do Carmo, 16/08/1741.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 16, doc. 79. CARTA de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, para D. João V, informando sobre o decorrer das obras de construção de quartéis das Companhias de Dragões e da recusa da nova Câmara de Vila Rica em custear as despesas. 08/05/1730.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx: 22, doc: 23. CARTA de Antônio Freire da Fonseca Osório, juiz de fora de Vila do Carmo, informando a D. João V acerca dos emolumentos cobrados por Rafael da Silva e Sousa, antigo juiz dos órfãos da referida vila, e o que ele observa a esse respeito. Vila do Carmo, 01/10/1732.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx. 41, doc. 59. CARTA de Antônio Rodrigues de Macedo, provedor da Fazenda Real de Minas Gerais, a
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
117RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
D. João V, dando cumprimento a provisão de 1741, fevereiro, 28, que ordena que se aplicasse naquela provedoria o que fora decretado para todo o Brasil, relativamente ao provimento dos ofícios e respectivos donativos. Vila Rica, 29/06/1741.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx: 66, doc. 07. CARTA do desembargador Tomás Roby de Barros Barreto, intendente dos diamantes, a D. José I, acerca dos administradores do contrato de Diamantes, José Álvares Maciel, João Fernandes de Oliveira e Manoel Mateus Tinoco. Tejuco, 05/11/1754.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx: 67, doc. 34. CARTA do desembargador Tomás Roby Barros Barreto para D. José I, enviando o requerimento dos contratadores João Fernandes de Oliveira e Manoel Mateus Tinoco, a respeito das condições do contrato, com a sua informação. Tejuco, 05/04/1755.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx. 45, doc. 28. DECRETO de D. João V, nomeando Antônio da Silva Porto na serventia de escrivão das Execuções do Carmo, por 3 anos, com faculdade de nomear serventuário. Lisboa, 14/04/1745.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx. 41, doc. 25. PARECER do Conselho Ultramarino, informando D. João V que Antônio da Silva Porto, provido na serventia de escrivão dos Órfãos de Vila Rica, por três anos, se achava também provido como escrivão da Fazenda e Matrícula do Rio de Janeiro e de que o mesmo fora culpado em erros no desempenho do ofício de escrivão da Ouvidoria de vila Rica. Lisboa, 06/02/1741.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/ MG, cx. 03, doc. 64. REPRESENTAÇÃO dos ofi ciais da Câmara de Vila Rica sobre o pagamento dos aluguéis das casas em que se acha o quartel dos ofi ciais e soldados dos Dragões e pedindo ordem para resolver o problema. 21/10/1722.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 10, doc. 53. REPRESENTAÇÃO dos ofi ciais da Câmara de Vila Rica, informando D. João V da chegada do primeiro Bispo, fr. Antônio de Guadalupe, e que desejavam construir um arco em sua honra, e solicitando o pagamento da despesa da construção do referido arco. Vila Rica, 20/04/1727.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
118
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 10, doc. 54. REPRESENTAÇÃO dos ofi ciais da Câmara de Vila Rica, sobre a falta de quartel para os Soldados de Dragões, pedindo a isenção das despesas do aquartelamento dos Dragões. Vila Rica, 20/04/1727.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 12, doc. 29. REPRESENTAÇÃO dos ofi ciais da Câmara de Vila Rica a respeito da despesa nas celebrações dos casamentos dos Príncipes, pedindo a remuneração das referidas despesas. Vila Rica, 20/04/1728.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 14, doc. 46. REPRESENTAÇÃO dos ofi ciais da Câmara de Vila Rica a respeito das rendas de mais de três mil oitavas de ouro despendidas com os salários dos ofi ciais das Casas de Fundição e Moeda e pedindo que não seja nomeado José Boaventura Vieira para carcereiro de Vila Rica. 12/07/1729.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx: 09, doc: 70. REQUERIMENTO de Rafael da silva e Sousa, capitão-mor da vila do Carmo, solicitando o ofício de juiz dos órfãos da referida vila. 14/11/A726.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx. 09, doc. 76. REQUERIMENTO de Sebastião Barbosa Prado, capitão-mor e morador nas Minas do ouro solicitando do contratador do Real Contrato dos Caminhos dos Currais e da Bahia que o provedor da Fazenda Real das Minas, Antônio Berquó Del Rio não proceda contra ele pelo "quinto e requinto", por a nova lei não se aplicar ao suplicante. 17/12/A726.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 19, doc. 33. REQUERIMENTO de Lourenço Pereira da Silva, Manuel da Rocha Braga, sargentos-mores, e Luís Soares de Meireles, solicitando a D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, que este se digne informar a D. João V sobre os irrepreensíveis procedimentos dos suplicantes no exercício dos seus ofícios. 30/07/A731.
AHU, Cons. Ultra. - Brasil/MG, cx. 41, doc. 84. REQUERIMENTO de Antônio Ramos dos Reis, capitão-mor de Vila Rica, solicitando confi rmação da carta de sesmaria de uma légua de terra em quadra, no distrito de Iguaçu, Capitania do Rio de Janeiro. 13/11/A741.
AHU, Cons. Ultra. – Brasil/MG, cx. 74, doc. 52. REQUERIMENTO do juiz e mais ofi ciais da Irmandade e Matriz de Nossa Senhora do Pilar
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
119RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
de Vila Rica, solicitando a concessão da despesa das festas anuais do Corpo de Deus, Santa Isabel e Anjo Custódio. 19/11/A759.
AHU, Cons. Ultra., Brasil/MG, cx: 94, doc: 43. REQUERIMENTO de Manoel Manso da Costa Reis e sua mulher Clara Maria de Castro, moradores em Vila Rica, pedindo provisão de aprovação e confi rmação da doação e escritura de propriedades a seu fi lho. 04/03/A769.
AMP, IPM, 1o of., cód. 67, auto, 802. INVENTÁRIO de João Gonçalves Batista
AMP, IPM, 1o of., cód. 101, auto, 1269. INVENTÁRIO de Manoel Gomes da Silva.
AMP, IPM, 2o of., cód. 60, auto, 682.INVENTÁRIO de Manoel de Matos Fragoso.
AMP, IPM, 2o of., cód. 61, auto, 689. INVENTÁRIO de Mateus Pereira Lima.
APM, CMOP, códs. 12, 21 e 34. RELAÇÃO de receita e despesa da Câmara de Vila Rica.
APM, SC, 07, fl . 133v. CARTA de sesmaria passada por D. Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho a Antônio Alves de Magalhães. Minas Gerais, 25/08/1711.
APM, SC, 09, 254v. CARTA de sesmaria passada por D. Braz Baltazar da Silveira a Sebastião Barbosa Prado. Vila de Nossa Senhora do Carmo, 30/06/1717.
APM, SC, 12, fl . 23v. CARTA de sesmaria passada por D. Pedro Miguel de Almeida Portugal a Sebastião Barbosa Prado. Vila Rica, 03/09/1720.
APM, SC, 10, fl . 70. CARTA de D. João V acerca do requerimento de Antônio Ramos dos Reis no qual solicitava a confi rmação de uma sesmaria. 16/05/1744.
Bibliografi aALMEIDA, Carla Maria de Carvalho de. Homens ricos, homens bons: produção e hierarquização social em Minas colonial, 1750-1722. Niterói: UFF, 2001, (Tese de doutorado).
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
120
BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Códigos e práticas: o processo de constituição urbana em Vila Rica colonial (1702-1748). São Paulo: Annablume: Fapesp, 2004.
BOXER, Charles R. O império marítimo português. 1415-1825. São Paulo; Companhia das Letras, 2002.
CAMPOS, Maria Verônica. Governo de Mineiro: “de como meter as Minas numa moenda e beber-lhe o caldo dourado”- 1693-1737. São Paulo: USP, 2002. (Tese de dourado).
CAVALCANTE, Nireu Oliveira. “O comércio de escravos novos no Rio setecentista”, In: FLORENTINO, Manolo (Org.) Tráfi co, cativeiro e liberdade(Rio de Janeiro, séculos XVII e XIX). Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
CHAVES, Claudia Maria Graça, PIRES, Maria do Carmo & MAGALHÂES, Sônia Maria. Casa de vereança de Mariana: 300 anos de história da Câmara Municipal. Ouro Preto: UFOP, 2008.
COSTA, Ana Paula Pereira. A atuação de poderes locais no império lusitano: uma análise do perfi l das chefi as militares dos corpos de Ordenança e de suas estratégias na construção de sua autoridade. Vila Rica, (1735-17770). Rio de Janeiro: UFRJ/PPGHIS, 2006. (Dissertação de mestrado).
DEL PRIORE, Mary. Festas e utopias no Brasil Colonial. São Paulo: Brasiliense, 2000.
FIGUEIREDO, Luciano de Almeida Rapozo & CAMPOS, Maria Verônica. (Orgs.) Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1999.
FIORAVANTE, Fernanda. “Às custas do sangue, fazenda e escravos”: formas de enriquecimento e padrão de ocupação dos ofícios da câmara de Vila Rica, c. 1711- c. 1736. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008 (Dissertação de mestrado).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDA FIORAVANTE
121RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
FURTADO, Júnia Ferreira. “Desfi lar: a procissão barroca” In: Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, vol. 17, no 33, 1997, p. 251-279.
GOMES, Fátima Freitas. “O contributo de uma fonte para o estudo das fi nanças municipais de 1614-1647 – o livro de receita e despesa da câmara municipal de Machico”. In: VIEIRA, Alberto (Org.). O município no mundo português. Seminário Internacional. Coimbra: CHA, 1998.
HESPANHA, Antonio Manoel, As vésperas do Leviathan: instituições e poder político, Portugal – século XVII. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
KELMER MATHIAS, Carlos Leonardo. Jogos de interesses e estratégias de ação no contexto da revolta mineira de Vila Rica, c. 1709 – c. 1736. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. (Dissertação de Mestrado).
___________________. A cor negra do ouro: circuitos mercantis e hierarquias sociais na formação da sociedade mineira setecentista, c. 1711-c.1756. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGHIS, 2007, p. 75 (Qualifi cação de doutorado).
___________________. “Preço e estrutura da posse de escravos no termo de Vila do Carmo (Minas Gerias), 1713-1756”. Almanack Brasiliense, São Paulo, n. 06, 2007, p. 54-70.
___________________. “Maximiano de Oliveira Leite e Caetano Álvares Rodrigues: um estudo de caso nas Minas setecentistas”. Espaço Acadêmico, n. 50, 2005. (http ://www .espacoacademico .com.br /050/ 50esp _mathias .htm).
MACHADO, Maria de Fátima. O central e o local: a vereação do Porto de D.Manuel a D. João III. Porto: Edições Afrontamento, 2003.
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres contra mascates, Perambuco, 1666-1715. São Paulo: Editora 34, 2003.
ROMEIRO, Adriana & BOTELHO, Ângela Vianna. Dicionário histórico das Minas Gerais: período colonial. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
FERNANDA FIORAVANTE
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RENDAS DA CÂMARA E FORMAS DE ENRIQUECIMENTO EM UMA SOCIEDADE EM FORMAÇÃO – VILA RICA, 1711-1736
122
SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. As festas promovidas pelo Senado da Câmara de Vila Rica (1711-1744). Belo Horizonte: UFMG, 2001(Dissertação de mestrado).
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Editora Unesp, 2005.
SOUZA, Maria Eliza de Campos. Relações de poder, justiça e administração em Minas Gerais no setecentos – a comarca de Vila Rica do Ouro Preto: 1711-1752. Niterói: UFE, 2000. (Dissertação de mestrado).
TÁVORA, Maria José & COBRA, Rubem Queiroz. Um comerciante do século XVIII: Domingos Rodrigues Cobra procurador do conde de Assumar. Brasília: Athalaia, 1999.
DOssIÊ – hIsTÓRIa e ReLIGIOsIDaDe
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA
DO MONTE CORNILLON
Ana Paula Lopes PereiraUERJ-FFP
Resumo:A relação entre Caridade, amor absoluto de Deus e Conhecimento
místico aparece como uma constante analítica na narrativa hagiográfi ca produzida na diocese de Liège no século XIII. Os hagiógrafos buscando dar conta de um novo tipo de santidade, de uma piedade laica, moderna, voluntária, acabam investigando a natureza das mulheres piedosas, seus modos de sentir e de pensar. Analisando a noção de affectus na doutrina cisterciense da Caridade e apontando alguns elementos da vida de Juliana do Monte Cornillon sobre o conhecimento místico, buscamos demonstrar que integrados no aparelho conceitual cisterciense esses clérigos, pertencentes ao início do pensamento escolástico, empreendem uma antropologia hagiográfi ca.
Palavras-chave:
Caridade – Afeto – Conhecimento Místico – Santidade – Discurso Hagiográfi co
As vitae de beguinas e monjas cistercienses da diocese de Liège, na primeira metade do século XIII, oferecem um vasto material para
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON124
a pesquisa sobre o comportamento intelectual e afetivo medieval. De acordo com vários estudos recentes, a espiritualidade mística e feminina revelada nas biografi as espirituais produzidas na diocese de Liège, resulta de uma fusão entre a teologia cisterciense da Caridade e a resposta radical dada por essas mulheres às suas necessidades sócio-religiosas.
Ao longo do século XII vemos, por um lado, o comportamento coletivo em relação ao divino, que se acha transformado, ganhando uma forma mais humana, impulsionado teoricamente pela doutrina cisterciense da Caridade que leva a procura de conhecimento sobre a pessoa humana e os elementos que a constituem, como as paixões da alma. Por outro lado, as experiências da beatitude, do amor de Deus, da plenitude do saber divino e do poder que decorre deste nas mulheres piedosas, representantes de uma nova forma de espiritualidade mística, se tornam objeto de análise. Buscando dar conta de uma piedade moderna, voluntária (o movimento beguinal1), mas destinada ao controle eclesiástico (a clausura monástica), os homens da Igreja, que se tornam hagiógrafos, acabam por refl etir sobre como essas mulheres simples conhecem os mistérios divinos e sentem perfeitamente a Caridade, vivida plenamente como amor do Cristo e do próximo. Esse comportamento místico maravilhoso permite pesquisar a alma, o intelecto, o amor, a razão, a vontade e, fi nalmente, a “natureza” dessas mulheres. Pensamos poder dizer que, nessa refl exão sobre os modos de conhecimento e de emoção, os textos hagiográfi cos, escritos por homens imbuídos pela teologia mística cisterciense, mas pertencentes à primeira escolástica, nos fornecem uma verdadeira "antropologia hagiográfi ca", uma antropologia da santidade.
Para mostrar a relação entre Caridade/Amor e Conhecimento na vida de Juliana do Monte-Cornillon (1258) é importante primeiramente compreendermos brevemente alguns elementos da refl exão cisterciense
1 O movimento beguinal surge no fi nal do século XII nas regiões do norte da França, da Bélgi-ca. Em um meio de desenvolvimento urbano homens e mulheres levam uma vida comunitária praticando a ascese, a penitência e a pobreza sem fazer votos. Seguem no mundo as virtudes monásticas. Para a Igreja, esses movimentos semi-religiosos se situam no limiar entre a ortodo-xia e a heresia. Muitas beguinas, que ganharam fama de beatas acabaram por serem colocadas nos mosteiros cistercienses da região.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA PAULA LOPES PEREIRA
125A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON
sobre os affectus, inserida na doutrina cisterciense da Caridade. Um dos teólogos cistercienses que mais refl etiu sobre a excelência da Caridade – dom divino que permite ao homem amar perfeitamente – e sobre os sentimentos implicados nas formas desse amor (amor de si próprio, amor do próximo, amizade espiritual e amor de Deus/Cristo) foi Aelred de Rievaulx2 (1110-1167). O conceito de Caridade desenvolvido pelo monge inglês e o lugar que a amizade ocupa no sistema da salvação implicam na criação de uma doutrina do affectus, do conhecimento do modo pelo qual o homem sente o amor, permitindo a expressão dos sentimentos e das emoções dentro de um sistema teológico coerente. O conceito de affectus levanta vários problemas de ordem doutrinária e teológica, pois está ligado à tradição negativa das teorias das paixões (pathos) e aos fenômenos sensíveis que se instalam no homem enquanto criatura dotada de livre arbítrio, mas maculada pelo pecado original, porém, no seu tratado Speculum Caritatis (1143) Aelred defi ne o conceito de affectus positivamente e este se torna um dos temas maiores da antropologia cisterciense.
Para Aelred, primeiramente, o affectus é “uma inclinação mental (mentis inclinatio), uma inclinação espontânea e doce em direção à alguém”3, uma atração que pode ser espiritual, racional, irracional, ligada a boas obras, natural, ou mesmo física. Esse spiritualis affectus pode ser compreendido de duas maneiras : “quando a alma é estimulada por uma atração espiritual quando tocada por uma visita secreta quase fortuita do Espírito Santo e ela se deixa levar pela doçura da divina dileção ou pela suavidade da caridade fraterna”4 implicando em desejo 2 Aelred de Rievaulx nasceu por volta de 1109 em Hexham, na Nortúmbria. Educado na corte de David, rei da Escócia, conhece a literatura clássica, sobretudo Cícero. Ocupando a função de dispensator, tinha a responsabilidade de cuidar da mesa e do tesouro reais. Em 1134 é enviado para atender ao arcebispo de York e conhece a comunidade cisterciense de Rievaulx, fundada em 1132. Decide aí permanecer e é recebido por Guilherme, secretário de Bernardo de Clairvaux. Em 1141 é mestre dos noviços, em 1143 torna-se abade de Rewsby e em 1147 abade de Rievaulx, fi lha de Cîteaux, até sua morte, em 1167. Dictionnaire de Spiritualité, t.I, 1937, col. 226.3 Para Aelred de Rievaulx Affectus "est, ut michi videtur, spontanea quedam mentis inclinatio ad aliquem cum delectatione. Hec mentis inclinatio aliquando sit in mente contra hominis voluntatem, ratione ei per omnia resistente; provocat tamen et voluntatem et rationem ut consentiant, et sic affectio transit in amorem." C.H.Talbot, Sermones. Inediti B. Aelredi Abbatis Rievallensis, p. 48, lignes 16-18. 4 "Est igitur affectus spontanea quaedam ac dulcis ipsius animi ad aliquem inclinatio. Affectus autem aut spiritualis est, aut rationalis, aut irrationalis, aut offi cialis, aut naturalis, vel certe carnalis.
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON126
e ação, visando a beatitude. Nessa acepção o affectus é a atração que o homem experimenta por Deus, e o movimento que corresponde a essa atração, a capacidade de aceitar o amor comandado pela Caridade, porque a faculdade de amor é movida para o desejo e para a ação por um affectus ordenado. Mas pode ainda ser uma instigação do demônio, um movimento egoísta de desordenado deleite. Assim, o affectus pode ser bom ou ruim, ordenado ou desordenado, comandado pela Caridade ou pelas paixões.
O exemplo dado por Aelred para explicar os dois modos de affectus é o amor que um indivíduo sente por duas pessoas: uma doce e agradável, mas menos perfeita em virtude; a outra mais virtuosa, mas com uma face mais sombria e o rosto enrugado por uma vida austera. Para amar a primeira, que apesar de não ser condenável, é a aparência do amor, o espírito é levado por uma atração espontânea, mas para amar a segunda ele faz uso da razão e da regra de uma caridade ordenada. Aelred de Rievaulx concebe então um affectus involuntário, aquele sentido espontaneamente em relação a alguém que pode não merecer o amor e um affectus racional, ordenado pela Caridade, que escolhe o bem. Assim, a Vontade funciona segundo dois critérios: o da paixão e o da ação5. De certa maneira, a vontade boa é ativa, e a vontade má se acha infl uenciada pelas paixões, que travam a liberdade da adesão da alma ao Espírito. Na sua refl exão agostiniana sobre a Vontade Aelred explica que a alma possui três faculdades que se movem juntas em direção à beatitude: memória, razão e vontade6. Pela memória (memorie celestem visionem), o homem é capaz de possuir a eternidade, de abraçar
Spiritualis affectus dupliciter potest intelligi. Nam spirituali quidem affectu animus excidatur, cum occulta et quasi improvista Spiritus sancti visitatione in divinae dilectionis dulcedinem, vel fraternae charitatis suavitatem mens compuncta resolvitur." Speculum Caritatis., PL, 195, III, XI, col., 587.5 Spec.Carit., op.cit., II, XVIII, col., 566.6 "Hujus beatitudinis sola rationalis creatura capax est. Ipsa quippe ad imaginem sui Creatoris condita, idonea est illi adhaerere, cujus est imago: quod solum rationalis creaturae bonum est, ut ait sanctus David (Ps., LXXII). Adhaesio plane ista non carnis, sed mentis est, in qua tria quaedam naturarum auctor inseruit, quibus divinae aeternitatis compos effi citur, particeps sapientiae, dulcedinis degustator. Tria haec memoriam dico, scientiam, amorem, sive voluntatem. Aeternitatis quippe capax est memoria, sapientiae, scientia, dulcedinis amor. In his tribus ad imaginem Trinitatis conditus homo, Deum quem memoria retinebat sine oblivione, scientia agnoscebat sine errore; amore complectebatur sine alterius rei cupiditate. Hinc beatus." Spec. Carit. op.cit. I, III, col., 508.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA PAULA LOPES PEREIRA
127A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON
Deus; pela razão (rationi divinam cognitionem), o homem participa da sabedoria; e pelo amor (voluntati caritatem), o homem saboreia a doçura divina. A beatitude procede então da vontade, que deve virar-se em direção às lembranças e ao saber, para poder deleita-se na alegria. Mas a imagem de Deus no homem está corrompida: ele possui uma memória sujeita ao esquecimento e faculdades de conhecimento passível de erro e de amor inclinada à inveja. Assim, a humanidade privada de razão e de conhecimento não pode querer o que escapa à carne7, mas deve querer, nessa forma humana, controlar a carne e buscar a perfeição na Caridade para restaurar as faculdades corrompidas da memória e do conhecimento e recuperar a imagem perdida. Pois, o amor vem da justiça divina e nada mais justo para a criatura dotada de razão e sensibilidade, do que amar seu criador, ela que recebeu d’Ele essa capacidade. Mas o que é o amor pergunta-se o cisterciense. O amor é um maravilhoso deleite da alma, tão mais justo e casto quanto mais extenso; é o lugar capaz de receber Deus8.
Vemos que a refl exão sobre a capacidade de intelecção, própria do homem, se insere na doutrina da Caridade e da Graça, herdadas do idealismo neoplatônico agostiniano. Mas o mais signifi cativo na obra de Aelred de Rievaulx, e o que confere a sua originalidade perante os sistemas doutrinários de Agostinho e Bernardo, é o fato de que o affectus, racional e espiritual, é aquele que anima o doce laço da amizade espiritual (Speculum Caritatis, III, 12).
Assim, se a doutrina cisterciense da Caridade abre caminho para a refl exão e para o exercício do amor e da amizade espirituais, onde as paixões e emoções são vividas plenamente na comunidade monástica, e os sentimentos como alegria, regozijo, tristeza e dor da alma, estão expostos e são a garantia da verdadeira piedade e caminho para a salvação e a beatitude, o sistema teológico cisterciense é especulativo. De base neoplatônica e agostiniana a concepção sobre o modo de conhecimento da alma intelectiva é puramente teológica, subordinado às doutrinas do amor, da obediência e da humildade monásticas. Na refl exão sobre a contemplação divina e sobre o conhecimento, a teoria da iluminação 7 Spec. Car., op.cit. I, XXI, col., 525. 8 Spec. Carit., op.cit., III, XII, col., 588.
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON128
divina e da memória que o homem dessemelhante perdeu da Verdade, e que recupera através da graça e da ordenação do Amor, permanecem como os elementos centrais da investigação noética9. Assim, é através da graça que o homem chega ao conhecimento das coisas criadas e à visão beatífi ca, pois, como diz Guillaume de Saint-Thierry, “Hoc est enim lumem cognitionis habere caritatis perfectionem” (Pois é na possessão da perfeição da Caridade que consiste a luz da intelecção).10
Assim, podemos considerar, em uma primeira análise, que as narrativas hagiográfi cas de que tratamos estão completamente inseridas na teologia mística cisterciense de matriz agostiniana e que o conhecimento infuso das beatas é fruto da plenitude da graça e da iluminação divinas, uma vez que elas possuem a perfeição da Caridade, amam perfeitamente o esposo e recebem amor em troca, personifi cando a Esposa/Alma do Cântico dos Cânticos, segundo a paradigmática exegese de Bernardo de Clairvaux. Entretanto, se os hagiógrafos permanecem em grande parte atrelados à ontologia neoplatônica, sendo o Espírito Santo a causa do saber absoluto das mulheres piedosas (a visão beatífi ca, o conhecimento dos mistérios divinos aqui em baixo), estamos diante de um novo tipo de santidade, radical em suas manifestações tanto afetivas quanto intelectuais, as beatas agem para que a graça divina seja infusa em seus corações e mentes. Elas amam, sofrem, se alegram, maceram seu corpo com mirabili affectu e por isso compreendem, mas também estudam, leem, copiam. Esses homens buscam compreender então um novo modo de conhecimento místico, e dessa forma não podem estar alheios à transformação do pensamento teológico da primeira metade do século XIII. Os hagiógrafos em questão são contemporâneos da introdução no Ocidente cristão dos comentários de Avicena e Averróes das obras de Aristóteles e não puderam ignorar a nova antropologia escolástica, cuja principal contribuição é a refl exão sobre a função da alma intelectiva e da matéria (que, através de Avicena, integra o corpo na defi nição de homem, ao abandono do
9 Noética fi losofi a da intelecção, vem do grego noûs (intelecto). No período escolástico alimenta a investigação metafísica, sobretudo após os cometários árabes de Aristóteles. 10 NEF, Frédéric, “Caritas dat caritatem”. La méthaphysique de la charité dans les Sermons sur le Cantique des Cantiques et l’ontologie de la contemplation. Dans : BRAGUE, Remi, (dir.) Saint Bernard et la Philosophie PUF, Paris : 1993.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA PAULA LOPES PEREIRA
129A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON
dualismo platônico corpo-alma) na constituição do composto humano. Assim, se Jacques de Vitry11, faz fi gura de precursor e inaugura um método hagiográfi co, para dar conta dessa nova forma de santidade, Thomas de Cantimpré, que é autor de três vitae de mulheres piedosas, foi aluno de Alberto, o Magno em Colônia e escreve um De Natura Rerum. É justamente uma das primeiras e principais obras sobre o problema da intelecção e da função da alma intelectiva é a Suma sobre o homem, de Alberto, o Magno, obra onde desenvolve seus estudos, como bacharel sentenciário12 professados entre 1240 e 1243,13 inspirados nos comentários de Avicena sobre Aristóteles. Alberto, tendo tratado da essência da alma e das potências vegetativas e sensitivas, estuda a potência intelectiva própria à alma humana. E devemos considerar, primeiramente, que os esforços de teólogos como Alberto, o Magno, Boaventura e Thomas de Aquino foi o de precisar uma terminologia noética fl uida, legada pelo agostianismo.
De fato, nas biografi as espirituais, que formam o corpus por nós analisado, uma vez que o conhecimento que essas mulheres têm dos corações, das coisas divinas (os êxtases, as visões celestiais, dos anjos, santos, evangelistas, do inferno, do purgatório, do Cristo (Crucifi cado, lactente), da Virgem em glória, maternal...) provam para esses homens que o tipo de amor e de intelecção que devem narrar necessita de esforços especulativos. Sem, obviamente, prenunciar a teoria tomista do conhecimento, sobre a visão das ideias em Deus que os anjos têm por natureza e que os eleitos têm pela graça, esses hagiógrafos abrem caminho para o problema do conhecimento infuso.
Procederemos agora à demonstração de alguns elementos do relato hagiográfi co escolhido para demonstrar nossa pesquisa.
11 Jacques de Vitry (1160-1240) era cônego regular de São Nicolau d'Oignies (1211-1216) antes de ser consagrado bispo de Acre (1216-1227), depois reintegra a diocese de Liège para se tornar auxiliar do príncipe-bispo (1227-1229). Morre em 1240 como cardeal de Tusculum.12 Na escolástica, o bacharel formado é aquele que seguiu os dez anos de estudo teológico. O bacharel sentenciário é o estudante que durante dois anos, do seu período de formação, faz o comentário sobre o Livro das Sentenças de Petrus Lombardus (1095-1160), livro obrigatório nas universidades a partir de 1215 e que se tornou a obra mais lida e comentada dos séculos XIII ao XVI.13 WEBER, E.H., La personne humaine au XIIIéme siècle. Vrin, Paris : 1991.
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON130
Primeiramente, devemos considerar que a vida de Maria d'Oignies14 (+1213), escrita por Jacques de Vitry (1160-1240), constitui um documento capital no que diz respeito as evidências históricas que ela traz sobre o movimento voluntário de mulheres piedosas. É o primeiro relato que fornece os elementos temáticos e semânticos para a composição das outras vitae de mulheres piedosas da diocese de Liège, o caráter excepcional desta vitae vem sobretudo do fato de que Jacques de Vitry cria um modelo narrativo, fazendo aparecer novas estruturas de pensamento. Jacques de Vitry, para quem Maria d'Oignies teve um papel fundamental na conversão, pois em suas pregações se sentia iluminado pelo saber divino da sua diretora de consciência, divide a vita em dois livros. O primeiro é consagrado ao “homem exterior”: os temas são tradicionais, relacionados às práticas ascéticas, aos seus modos e hábitos salutares, onde descreve a compunção e as lágrimas, a confi ssão, as penitências, os jejuns, as orações, as vigílias e o sono da beata. Ainda são considerados suas vestimentas, seu trabalho manual e seus gestos. O livro dois é consagrado ao “homem interior”, e Jacques de Vitry enumera particularmente os dons do espírito na beata: temor, ciência, fortaleza, conselho, intelecto e sabedoria, ainda escreve um capítulo sobre seu spiritu intellectus, que compõem cinco parágrafos, e sobre seu spiritu sapientiae com sete parágrafos, dois pequenos tratados sobre o conhecimento infuso.
Seguindo o modelo de Jacques de Vitry, o autor anônimo escreve a vida de Santa Juliana do Monte-Cornillon (1197- +5 abril 1258)15. Órfã, aos cinco anos de idade, Juliana é colocada com sua irmã no leprosário de Cornillon. Eleita superiora da comunidade, luta pela instauração da regra de santo Agostinho, assim como pela instituição da Festa do Corpus-Christi. Expulsa de seu priorado, se esconde com a reclusa Eva de Saint- Martin; exilada, se junta às beguinas de Namur e
14 Morta em 1213, Maria d'Oignies, que era casada, decidiu de "seguir nua o Cristo nu", mendigando e se ocupando dos leprosos na pequena cidade de Willambrok. Ela foi o primeiro modelo da espiritualidade beguinal, mas principalmente, foi o primeiro relato biográfi co de uma pessoa comum, que não estava ligada à Igreja ou à realeza, e mulher. Se pensarmos na idade avançada com que morreu e no conteúdo da sua espiritualidade é uma precursora de São Francisco de Assis.15 Vita S. Julianae. Acta Sanctorum, abril, t.I, Ed. G. Henschenio, D. Papebrochio, Antuérpia, 1675. p. 437-475
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA PAULA LOPES PEREIRA
131A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON
segue para a abadia de Salzinnes, onde é acolhida. Morre em Fosses e é inumada em Villers. A Vita é dividida em dois livros, ambos precedidos de um prólogo. O primeiro mostra o progresso espiritual de Juliana na infância e adolescência, assim como suas virtudes e dons carismáticos (de profecia, visões e êxtases). O segundo livro é o relato do “martírio” de Juliana, perseguida pelo patriciado de Liège, sua luta para impor a disciplina na comunidade e para instituir a festa do Santo-Sacramento, seu exílio e sua morte.
No segundo parágrafo do Livro dois, para exemplifi car a atitude de Juliana enquanto superiora, o biógrafo mostra que Juliana admoestava o rebanho de irmãs que lhe foi confi ado, a fi m de que elas agissem de acordo com suas capacidades e inteligência particulares : “Toto affectu caritatem Christi, ubi erat, studuit augmentare ; ubi non erat, curavit salutaribus monitis provocare.”16 As melhores se compraziam na sua doutrina e admoestação, submetendo-se de bom grado ao jugo do ensino afetuoso da superiora; acreditavam nas suas palavras, guardavam seu conselho e não esqueciam as obras. Trabalhando pela salvação das irmãs do leprosário, a beata as convidava a progredir em direção à Caridade, não se mostrando como professora, mas como serva e mãe nutridora. Assim, atraía a afeição das irmãs, que buscavam seus conselhos e seu consolo: “ela tendia seu seio materno, seio que espalha o maná que vem do Céu”17. De fato, para o hagiógrafo, “o Pai de todo consolo colocara na boca de Juliana a palavra da consolação espiritual, para que ela pudesse atender aquelas aprisionadas pela tristeza e pelos tormentos, pela graça que lhe havia sido dada. Juliana confortava as fracas, aplaudia as que progrediam e se regozijava com as perfeitas.”18 O biógrafo anônimo mostra, seguindo a tradição, que a perfeição da atividade de Juliana como superiora era resultado da perfeição de sua virgindade, "santa de corpo e espírito."19
16 Vita S. Julianae. op.cit. §2, p. 45617 Idem.18 “Posuerat enim Patre totius consolationis in ore Julianae verbum solatii spiritualis ut eas quae vel in tristitia vel in tribulatione erant, posset pr datam sibi gratiam consolari. Pusillamines confortabat, profi cientibus applaudebat, perfectis congaudebat” Idem.19 I Cor., 7, 34.
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON132
Mas, como Jacques de Vitry, o biógrafo anônimo assume a importância e a novidade da santidade moderna, laica e feminina20. No seu relato fi ca evidente o exemplo salutar que as beatas oferecem. Em uma perspectiva apocalíptica, considera que a esperança da salvação repousa sobre a renovação espiritual trazida pelas mulheres religiosas de Liège: Deus julga digno manifestar sua glória pelo intermédio dessas mulheres imbuídas de um saber novo e efi caz. Finalmente, Jacques de Vitry e Tomas de Cantimpré distinguem duas categorias de saber: o saber infuso das mulheres e o saber adquirido pelos homens21. Nesse sentido, podemos considerar que os contemporâneos afi rmavam a especifi cidade da espiritualidade feminina. Repetindo a Primeira Epístola de João, Bernardo de Clairvaux, no De Diligendo Deo, afi rma que a possessão da Caridade é a condição necessária para todo conhecimento, pois a similitude do homem à Deus é condição do conhecimento de Deus e esta similitude é obra da Caridade que é Deus: "Qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus caritas est"22.
O desejo de Caritas é, assim, um desejo de conhecimento: a Caridade é fonte da sabedoria e da participação nos mistérios divinos, garantia da salvação. Reformadas pela Graça, essas mulheres simples contemplam em êxtase os mistérios divinos, transmitem–nos àqueles que as amam e garante através de sua palavra, seus conselhos, admoestações e a sua salvação, permitindo que a Caridade/Amor nos indivíduos imperfeitos seja ordenada e que reencontrem a semelhança, a forma-Dei. Porém, ao escrutarmos o texto hagiográfi co comparando-os com os textos monásticos cistercienses e tendo em consideração a evolução fi losófi ca oferecida pela antropologia escolástica contemporânea, vemos a infl uência e os limites do aparelho conceitual cisterciense da doutrina da Caridade e, particularmente, da noção de
20 “Sed licet Sanctorum Sanctarumque temporis antiqui gesta, auribus inculcata fi delium, virtu-tum semper esse debeant incentiva ; scio tamem quod exempla Santcorum nostri temporibus, quanto recentiora tanto magis sunt motiva.” Prol. Vita Juliana Corneliensi, op.cit. p. 442. 21 Thomas de Cantimpré faz eco à afi rmação de Jacques de Vitry que diz ter recebido a graça da predicação pelas orações de Maria. Vita Lutgardis II,chap.1,§3 ; Vita Mariae Oignac., §69,p. 562. Em sua Historia Occidentalis Jacques de Vitry critica o saber dos mestres de Paris infl ados de vã glória. " Theologie doctores, supra cathedram Moysi sedentes, scientia infl abat, quos caritas non edifi cabat." G.G.MEERSSEMAN, Historia Occidentalis, A critical Edition. The University Press Fribourg Switzerland. 1972. De statu parisiensis civitatis. ch. VII, p. 93.22 I, Jn, IV, 8
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA PAULA LOPES PEREIRA
133A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON
affectus nesses relatos hagiográfi cos, assim como buscamos o material para uma refl exão sobre os modos de intelecção. Tentamos mostrar que nessa antropologia do comportamento feminino místico de caráter heterodoxo, os hagiógrafos têm um material mais complexo, o que a abre possibilidade para a especulação sobre o conceito de pessoa.
La relation entre Charité et Connaissance dans la vita de Julienne du Mont-Cornillon (1258)
Résumé:
La relation entre Charité, amour absolut de Dieu, et connaissance mystique apparaît, dans le récit hagiographique produit dans le diocèse de Liège au XIIIème siècle, comme une constante analytique. Dans le but de rendre compte d’un nouveau type de saintété, d’une piété laïque, moderne, volontaire, les hagiographes fi nissent par entreprendre une recherche sur la nature des mulieres religiosae, leur façon de sentir et de penser. En analysant le concept d’affectus tel qu’il a été développé dans la doctrine cistercienne de la Charité et en montrant quelques éléments sur la connaissance mystique dans le récit de la vie de sainte Julienne du Mont-Cornillon, nous voulons mettre en évidence le fait que les hagiographes, tout en étant intégrés à l’appareil conceptuel cistercien, appartiennent aussi à la pensée scholastique débutante et qu’ils entreprennent une vraie ant hropologie hagiographique.
Mots-clefs:
Charité – Affect – Connaissance Mystique – Saintété – Récit Hagiographique
BIBLIOGRAFIA
AELRED DE RIEVAULX Speculum Caritatis, Migne, Patrologie Latine, 195 col.580-658
ANA PAULA LOPES PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A RELAÇÃO ENTRE CARIDADE E CONHECIMENTO NA VIDA DE JULIANA DO MONTE CORNILLON134
AELRED DE RIEVAULX , Le Miroir de la Charité. trad., introduction, notes et index par Charles Dumont, o.c.s.o. et Gaëtane de Briey, o.c.s.o., ed. Vie Monastique, n°27, Abbaye de Bellefontaine, 1992.
NEF, Frédéric, “Caritas dat caritatem”. La méthaphysique de la charité dans les Sermons sur le Cantique des Cantiques et l’ontologie de la contemplation. Em : BRAGUE, Remi, (dir.) Saint Bernard et la Philosophie PUF, Paris : 1993.
WEBER, E.H., La personne humaine au XIIIéme siècle. Vrin, Paris : 1991.
TALBOT, C.H.(ed.), Sermones. Inediti B. Aelredi Abbatis Rievallensis, p. 48, Series Scriptorum S.Ordinis Cisterciensis. Vol 1. Roma, 1952
Vita Mariae Oignacensis., éd. G.Henschenio, D.Papebrochio, Acta Sanct., junii, t.v, Paris, 1867, pp.547-572
Vita S. Julianae. Acta Sanctorum, abril, t.I, Ed. G. Henschenio, D. Papebrochio, Antuérpia, 1675. p. 437-475.
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR
NA CORTE IMPERIAL
Márcio de Sousa Soares1
Resumo:O artigo examina os fundamentos que presidiam as concepções
católicas sobre a doença e a cura para, em seguida, analisar as práticas populares que implicavam a manipulação de crenças e símbolos religiosos em favor da proteção contra enfermidades ou cura das mesmas.
Palavras-Chave:
Doença – catolicismo – religiosidade popular.
A Doença e o Pecado
E tendo Jesus chegado à casa de Pedro viu que a sogra dele estava de cama com febre; e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela levantou-se e pôs-se a servi-los.E pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos do demônio, e ele com a palavra expelia os espíritos, e curou todos os enfermos; cumprindo-se deste modo o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, e carregou com as nossas doenças.Mateus 8: 14-17.
Quando o cólera visitou as costas do Brasil atingindo a Corte Imperial em 1855, testemunham Kidder e Fletcher, a cidade converteu-se num “vale de terror”. Rezas e amuletos foram ansiosamente procurados; as orações dos santos eram pregadas sobre a pele e, a toda hora, se inventavam preventivos “supersticiosos”. Uma estrela
1 Professor Adjunto de História da UFT
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL136
contendo uma prece à Virgem Maria, chamada “a miraculosa estrela do céu” foi considerada como um resguardo certo para todas as pessoas que a possuíssem. Imensas procissões de velas acesas, que contaram com a presença delicadas senhoras descalças, foram realizadas com frequencia (KIDDER & FLETCHER, 1941, Vol. 1, p. 175 e 176).
Reações como essas, observadas e descritas pelos viajantes estrangeiros evidenciam a crença amplamente generalizada de que a Virgem, os santos católicos e, acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso eram capazes de intervir nos destinos humanos e afastar a ameaça representada pela epidemia reinante. Este apelo endereçado ao Criador, por intermédio da Virgem e dos santos, era sem dúvida alguma motivado pela convicção na onipotência divina. Mas isso não é tudo. A invocação ao socorro celeste na presença da enfermidade ganha um sentido ainda mais amplo no contexto da concepção judaico-cristã sobre a origem das doenças. De acordo com a tradição bíblica, estas surgiram quando o primeiro homem ainda relacionava-se diretamente com Deus naqueles momentos dramáticos que resultaram na sua expulsão do paraíso. A doença e a morte seriam decorrências do pecado original; maldição divina que se abatera sobre Adão, Eva e toda sua descendência (PEREIRA, 1988, p. 119). A origem das mazelas do corpo residiria na concupiscência da alma.
A mensagem cristã modifi cou bastante as relações entre o Criador e as criaturas. O Deus iracundo do Antigo Testamento cede lugar a um Pai misericordioso; o sacrifício do Filho do Homem redimira a humanidade. Além de difundir novos ensinamentos convocando o arrependimento dos homens, Cristo também curava os enfermos e ressuscitava os mortos. A passagem do Filho de Deus entre os homens selava uma nova aliança entre o Céu e a Terra. A partir de então, com humildade e arrependimento, era possível suplicar a misericórdia divina em favor do restabelecimento da saúde do corpo.
De acordo com os estudiosos dedicados à antropologia do sagrado, as religiões, além de se constituírem como um sistema de explicação do mundo e uma via para a eternidade − desde que seus adeptos pautem sua conduta através da observação do conjunto de regras morais
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
137MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
instituídas para esse fi m −, oferecem, por via de regra, a possibilidade de uma intervenção sobre-humana na vida terrena (THOMAS, 1991; DELUMEAU, 1989). A história do cristianismo primitivo revela que a tradição incrementada por Jesus Cristo e seguida pelos seus apóstolos na operação de milagres e curas foi a forma predileta encontrada pelos seguidores da nova doutrina para converter e atrair novos adeptos. O livro dos Atos dos Apóstolos está repleto de curas e feitos milagrosos alcançados pelos primeiros seguidores do Cristo. Ao longo do processo de difusão e instituição da nova crença religiosa pelo que restara dos antigos domínios de Roma, a capacidade de receber revelações espirituais e realizar milagres tornou-se não só o mecanismo mais efi ciente para a legitimação da doutrina veiculada pela Igreja Católica, como também uma evidência da santidade daquele que alcançasse semelhante graça divina.
Visões, aparições e o alívio aos doentes destacam-se entre os diversos feitos milagrosos narrados pelas hagiografi as medievais. A tradição popular transformava os locais sacros em sítios de peregrinação aos quais os enfermos dirigiam-se muitas vezes após longas e cansativas viagens na esperança de alcançar o milagre da cura de seus males. Os santos tornaram-se os principais intermediários entre os homens e a divindade; seu culto representava um dos pilares do Catolicismo na medida em que exprimia perfeitamente o sentido de mediação entre o Deus e os homens. A adoração dos santos e dos objetos sagrados realizava o desejo de conforto e proteção espiritual dos fi éis. A veneração a um determinado santo fundamentava-se na crença de que o mesmo, além de representar um exemplo ideal de conduta, também podia acionar recursos para aliviar as adversidades enfrentadas pelos seus adeptos no plano terreno, de tal maneira que grande número de doenças, assim como de profi ssões e de localidades, eram confi ados aos cuidados especiais de um determinado santo.
Para os teólogos e demais pessoas pias, máxima certa e infalível era aquela que apregoava que Deus era o verdadeiro médico. Se por um lado reconhecia-se que muitas vezes sucedia um médico aplicar um remédio presentâneo a um enfermo, por outro, os méritos deveriam ser
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL138
creditados ao Criador, pois era Ele quem verdadeiramente concedia a saúde (PEREIRA, 1988, p. 397)2. Todavia enquanto essa graça divina não era alcançada, recomendava-se ao cristão padecer sua enfermidade com paciência, recordando-se, por exemplo, da lição bíblica deixada por Jó. Nas admoestações dirigidas a um enfermo nas Minas setecentistas, o peregrino Nuno Marques Pereira afi rmava que existem três graus de paciência: o primeiro é o sofrimento acompanhado de tristeza; o segundo é o sofrimento sem tristeza e o último é o sofrimento com alegria. O bom cristão deveria esforçar-se para alcançar o último grau e, para tanto, espelhar-se na vida dos santos que “[...] sendo de carne e osso, como nós, e muitas donzelas muito delicadas, sofreram com admirável paciência suas dores e afl ições muito maiores do que as nossas” (PEREIRA, 1988, p. 346)3. Os moralistas não pediam aos cristãos que fossem insensíveis aos males, mas resignados neles; que sentissem o corpo e dentro dele vivesse resignada a alma; por fi m, que considerassem que o padecimento era merecido em decorrência do pecado e cressem que os dissabores da alma eram mais duros do que os do corpo; infi nitamente mais terríveis os sofrimentos da outra vida do que os deste mundo (PEREIRA, 1988, p. 345 e 346).
Conforto e Proteção: santos, amuletos, rezas e benzeduras
A narrativa do viajante inglês, radicado nos Estados Unidos, Thomas Ewbank é sem dúvida uma das melhores fontes de cunho etnográfi co sobre o comportamento religioso da sociedade carioca no século passado. Na qualidade de protestante, esse observador estrangeiro ignorava os signifi cados da liturgia católica e os sentidos dos gestos envolvidos nas formas de devoção popular. Felizmente esse desconhecimento despertou sua curiosidade, levando-o a uma observação mais acurada, embora fi que bastante claro em diversas
2 Embora seja uma obra datada do século XVIII, O Compêndio era um livro bastante apreciado no Brasil oitocentista. O viajante inglês Thomas Lindley, por exemplo, teve a oportunidade de consultar um exemplar na Bahia em 1802, provavelmente já em sua segunda edição. Cf. LINDLEY, Thomas. Narrativa de Uma Viagem ao Brasil (1802-1803). São Paulo: Nacional, 1969, p. 96 e 109.3 O peregrino prossegue sua prédica citando episódios da vida de alguns santos que suportaram com grande paciência e alegria o padecimento de terríveis enfermidades.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
139MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
passagens de seu texto o entendimento das práticas católicas como superstição. Como quase tudo lhe era estranho, por vezes Ewbank tinha o hábito de perguntar aos seus acompanhantes o signifi cado daquilo que se passava diante de seus olhos.
Um dos aspectos que mais chamou sua atenção foi justamente a popularidade do culto aos santos e a crença na capacidade de os mesmos curarem doenças. Certa vez, ao visitar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, teve a oportunidade de acompanhar bem de perto os gestos de devoção de um homem enfermo:
Enquanto estava observando o altar, estremeci de ouvir um gemido ao meu lado. Voltei-me e vi um homem branco, de quarenta ou cinqüenta anos, ajoelhado, quase me roçando. Tinha-se aproximado com passos de lã. Um dos braços estava numa tipóia. Tinha o ar cadavérico. Seus olhos lânguidos estavam fi xos numa das imagens, a quem começou a dirigir suas tristezas em voz abafada. Recuei e, chegando a H..., apontei-lhe o indivíduo. “Sim”, disse H..., com um encolhimento de ombros, “ele disse-me ontem que viria para ver se Nossa Senhora do Rosário lhe curaria a ferida do braço”. “Mas por que veio a uma igreja de pretos?”, perguntei. “Porque nos últimos dezoito meses percorreu todas as igrejas de brancos sem que lograsse interessar qualquer santo em seu estado. A Virgem que ele agora está consultando tem seu altar neste lugar e tanto santos quanto médicos devem ser procurados em suas residências próprias. Muitos brancos vêm aqui pedir auxílio, e muitos fazem suas promessas a esta santa negra" (EWBANK, 1976, p. 218 e 219).
Esse episódio, entre outros tantos presenciados por outros viajantes, evidencia o quanto a devoção aos santos católicos possuía uma importância capital no imaginário popular como uma via certa para o restabelecimento da saúde. Mesmo após 18 meses percorrendo igrejas e altares, aquele homem doente não havia perdido as esperanças de uma cura milagrosa por intermédio da Virgem. A partir das observações de Ewbank, elaborei o quadro abaixo associando os nomes de alguns santos e as enfermidades sobre as quais exerceriam a capacidade de curar:
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL140
Quadro I: Relação entre Santos Protetores e Enfermidades
Santos Enfermidades
São Brásafecções brônquicas; “célebre por curar enfermidades da garganta, o santo é consultado literalmente como se fosse um médico”; (p. 56 e 186)
Santa Apolônia“não existem dores mais cruciantes que aquelas que cura. Advogada contra a tosse; cura dor de dentes”; (p. 58 e 287)
Santa Luzia “padroeira dos cegos” e “alívio para as doenças dos olhos”; (p. 139)
São Sebastião e São Roque“médicos das pestes e das epidemias” (p. 142); São Roque era representado com um cão ao seu lado, um cajado em uma das mãos e uma chaga aberta em uma perna (p. 156).
São Miguel dos Santos “príncipe dos extirpadores do câncer e tumores”; (p. 142 e 287)
São Francisco de Paula removia “catarata dos olhos, tumores do cérebro e água da cabeça”; (p. 142)
São João de Nepomuceno
“professor de teologia e direito canônico na Universidade de Praga, viveu no século XIV; fez tantos milagres tais como o de preservar a cidade de Nepomuceno da peste e de curar pessoas já desenganadas dos médicos”; possuía um altar no Convento da Ajuda; (p. 158)
Santa Ritaa quem se atribuía o poder de “tornar possíveis as coisas impossíveis”; “cura doenças tidas como incuráveis”; (p. 165 e 287)
Na Sa da Saúde; do Bom Sucesso; da Cabeça; do Socorro; da Ajuda; da Conceição; do Parto; do Carmo; do Rosário; Mãe dos Homens entre outras
Segundo Ewbank, Nossa Senhora era invocada por todos, porque como “a mãe de Deus ela tem infl uência ilimitada sobre seu fi lho e como mãe dos homens simpatizava com os mortais com uma ternura feminina”; (p. 183)
Santo Antônio do EgitoCurava erisipelas e uma espécie de lepra conhecida como “Fogo Sagrado”, além de curar os animais; (p. 247)
Santo Antônio de PáduaEra um dos santos mais populares da cidade; além de encontrar objetos perdidos era conhecido como o “doutor místico”; tinha o poder de curar qualquer doença, livrar da morte, expulsar o demônio e submetê-lo à sua vontade; (p. 249 a 253)
São Tadeu“advogado contra a tosse (...) grande amigo dos asmáticos e famoso em remover obstruções de suas traqueias. Seu pagamento era um par de velas, e mesmo essas eram boas para dor de dentes e doenças das vacas”; (p. 287)
São Sérvulo “cura paralisia”; (p. 287)
São Libório “remove pedras do fígado”. (p. 287)
Santa IsabelProtetora dos hospitais, tinha uma imagem na Capela da Santa Casa de Misericórdia; na procissão de 2 de julho era conduzida às enfermarias dos doentes e convalescentes internados naquele hospital; (p. 289)
Santa Bárbara Protetora contra os raios e ferimentos deles decorrentes; (p. 158)
São Lázaro Protetor do leprosário da cidade.
Fonte: EWBANK, Thomas. A vida no Brasil ou Diário de uma viagem ao país do cacau e das palmeiras (1846). Belo Horizonte: Itatiaia.
Os comentários de Thomas Ewbank sobre a capacidade dos santos sanarem doenças específi cas apontam para uma crença popular bastante antiga que remonta ao medievo cristão onde boa parte das hagiografi as foram elaboradas. A promoção de São Sebastião como
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
141MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
protetor contra as doenças epidêmicas, segundo Jean Delumeau, já era visível no ocidente cristão desde o século VII, mas foi, sobretudo após a Peste Negra de 1348 que o culto ao santo tomou um impulso maior entre os fi éis. A relação entre o mártir cristão e a peste obedecia a relações analógicas. Uma das imagens que o ocidente cristão construiu a respeito das pestilências era que esse tipo de doença se abatia sobre a humanidade sob a forma de uma chuva de fl echas enviadas por Deus, como aparece frequentemente representado na iconografi a medieval. E porque a história do martírio de São Sebastião dá conta de que ele havia sido crivado de fl echas e sobrevivido, seus devotos passaram a acreditar que o santo afastava seus protegidos contra as doenças de caráter pestilento (DELUMEAU, 1996, p. 113-116).
Em outros casos a taumaturgia desses homens e mulheres estava relacionada a um episódio miraculoso atribuído à vida desses advogados celestiais que lhes atestavam a santidade. Era bastante difundida, por exemplo, a crença segundo a qual São Brás tinha o poder de curar e proteger contra os males da garganta devido a um milagre ocorrido no dia de seu martírio. Segundo a tradição resguardada pelo Flos Sanctorum, São Brás, bispo da igreja de Sebaste, Província da Capadócia, foi martirizado em três de fevereiro do ano 283 d.C. no tempo do imperador Diocleciano. No dia de sua prisão, uma mulher dirigiu-se a ele conduzindo seu fi lho que tinha a garganta atravessada por uma espinha de peixe que o sufocava. Lançando-se aos pés do prisioneiro, rogou pela saúde do fi lho; atendendo-lhe a súplica, o santo colocou a mão sobre o menino e, orando por ele, imediatamente o sarou. Então, diz o Flos Sanctorum, rogou ao Senhor que todos aqueles que padecessem de achaques da garganta, encomendando-se a ele, fossem atendidos; e uma voz o assegurou que fora ouvido pelo Senhor4.
4 Cf. ROSÁRIO, Padre Diogo do. Flos Sanctorum ou História das Vidas de Christo e Sua Santíssima Mãe e dos Santos e Suas Festas. (Edição revista e ampliada pelo padre José Antônio da Conceição Vieira). Lisboa, Tipografi a Universal, 1869, v. II, p. 36 e 37. Escolhi este título por se tratar de uma obra consumida na Corte Imperial, pelo menos desde 1810, como pude verifi car no inventário das obras devocionais trazidas para serem comercializadas no Rio de Janeiro por um impressor baiano, localizado por Maria Beatriz Nizza da Silva. Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). 2a edição, São Paulo: Cia Editora Nacional, 1978, p. 88-90.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL142
De acordo com o referido texto pio, o poder de curar e proteger contra as enfermidades oculares atribuído pela tradição cristã à Santa Luzia não se refere a nenhum episódio específi co de sua vida. Nascida em Saragoça da Sicília, Luzia resguardou sua virgindade em louvor a Cristo, vendeu todos os seus bens e os distribuiu aos pobres após sua mãe ter sido curada de uma enfermidade por intermédio de Santa Águeda de Catânia. Acusada e presa devido a sua fé, Santa Luzia foi martirizada naquele mesmo tempo em que Diocleciano imperava sobre o que havia restado do Império Romano. As tentativas do governador de sua cidade de conduzi-la à zona de meretrício, no intuito de corromper sua pureza, revelaram-se totalmente infrutíferas. Graças à intervenção divina, a jovem mártir fi cou totalmente imobilizada; nem um grupo de soldados, nem uma parelha de burros foram capazes de movê-la do lugar em que se encontrava. Diante de tamanho prodígio, Santa Luzia teve sua garganta trespassada por uma espada e, ainda assim, continuou falando a respeito das glórias do Senhor, chegando mesmo a profetizar sobre a queda do referido imperador, fato imediatamente comprovado logo após o pronunciamento da profecia. Ainda de acordo com os autores do Flos Sanctorum, a mártir de Saragoça entregou sua alma ao Criador somente depois de ter recebido todos os sacramentos.
Pela história do martírio da santa, não há nada que justifi casse a crença em sua capacidade de proteger e curar as doenças oculares, nem para a representação fi gurativa que a concebia tendo os próprios olhos depositados em um prato que carregava nas mãos. No entanto, no mesmo livro de devoção consta uma outra versão para a história de Santa Luzia na qual é sugerida a existência de um elo entre a vida da santa e o poder que lhe era atribuído. Apesar de rejeitá-la, os autores do dito livro confi rmavam o poder atribuído à mártir siciliana:
Os fi éis têm esta gloriosa santa por advogada da vista e comumente se pinta com os seus olhos em um prato que tem nas mãos. A causa de assim se pintar não a declara a sua história, e nem tampouco que tirasse os olhos por se livrar de um homem lascivo que a perseguia, como alguns escrevem; e o Prado Espiritual, que é livro antigo e que tem autoridade, atribui este feito a uma donzela de Alexandria; porém cada dia se experimenta novas graças
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
143MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
e favores que o Senhor faz aos que padecem mal de olhos, se com devoção se encomendam à Santa Luzia; assim devemos todos ter-lhe devoção, não só para que por meio de suas orações nos guarde a vista corporal, mas também para que por sua intercessão alcancemos a vida eterna5.
No Rio de Janeiro, a santa era tradicionalmente representada de pé, segurando dois globos oculares num prato. Santa Luzia, segundo Ewbank, era apreciadíssima pelos escravos da Corte uma vez que a cegueira era muito comum entre eles6. Em certa ocasião, ao visitar a igreja erigida em louvor daquela mártir cristã, notou que uma escrava chegou até a porta, retirou da cabeça a grande cesta que trazia, aspergiu-se com água benta e fez o sinal-da-cruz, lançando-se ao chão de joelhos. Com os olhos voltados para a santa, murmurou seus desejos ou agradecimentos, levantou-se, colocou seu pequeno óbolo na caixa de esmolas, fez outra reverência à imagem e partiu. A essa altura de sua presença na cidade, o viajante já estava bem informado sobre a crença no poder atribuído à Santa Luzia, a ponto de especular sobre as motivações que conduziram aquela escrava diante do altar:
Pobre criatura! Sente-se aliviada por descarregar seus sofrimentos diante da imagem daquela que, segundo me contaram tem o poder de mitigá-los. Sinto-me quase disposto a reverenciar uma superstição que pode assim acalmar os sofrimentos dos desolados e reconciliá-los com uma existência sem alegrias. Talvez tivesse não os seus próprios votos, mas os de outras pessoas: alguma mãe, irmão ou amigo que sofresse dos olhos7.
5 Cf. ROSÁRIO, Padre Diogo do. Flos Sanctorum... v. XII, p. 127-128. Sobre os episódios que conferiam a capacidade de curar atribuída aos demais santos arrolados por Ewbank, vide os demais volumes que compõem a mesma obra do Padre Diogo do Rosário. 6 “É lamentável encontrar com tanta freq ência um ou mais deles [escravos cegos], levando barris cheios na cabeça, girando os globos oculares inúteis e tateando o caminho com seus bordões”. Além da igreja dedica especialmente à Santa Luzia, os negros guardavam uma outra imagem da mesma na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 140 e 218.7 A popularidade de São Brás e de Santa Luzia na Corte era tamanha que Ewbank refere-se constantemente a ambos, como no caso da devoção de uma lavadeira que adquirira contas e medalhas do referido santo na esperança de que as mesmas curassem sua garganta inchada, do mesmo modo que fora-lhe recomendado que depositasse confi ança em Santa Luzia para que a mesma lhe restituísse a visão perdida de um olho devido à “gota serena”. Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 140 e 154.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL144
A crença no poder de curar, proteger e confortar indivíduos e grupos atribuída aos santos contribuía para costurar solidariedades cotidianas entre aqueles que procuravam o auxílio espiritual desses seres celestiais como o testemunho acima sugere. Todavia, no imaginário católico, não apenas os santos eram objeto da devoção, considerando que suas relíquias e imagens sagradas também eram considerados objetos milagrosos, capazes de curar doenças e proteger contra os perigos.
Os teólogos ensinavam que não incorria em erro aquele que trouxesse consigo um pedaço de papel ou uma medalha qualquer contendo trechos dos evangelhos, rosários, cruzes, relíquias e pequenas imagens de santos, desde que junto a eles não fossem utilizados símbolos considerados pagãos. No entanto, ao largo da posição assumida pelos doutores da Igreja, em torno dos templos católicos e de seus acessórios litúrgicos agregou-se uma infi nidade de crenças populares que conferiam aos objetos religiosos uma série de virtudes que os próprios teólogos jamais haviam reivindicado (THOMAS, 1991, p. 46; SOUZA, 1989, p. 157)8. Para os fi éis, as relíquias e demais objetos sacros eram repositórios de poderes espirituais que podiam auxiliá-los a resolver os problemas do cotidiano. Certa feita, Ewbank ouviu de um ofi cial como uma dessas peças sagradas havia salvado milagrosamente sua vida: estando ele subindo o rio da Aldeia Velha, no Espírito Santo, numa canoa conduzida por índios, fora surpreendido por uma forte corrente que acabou derrubando a embarcação. Enquanto um ou dois índios morreram afogados, ele, que não sabia nadar, conseguiu permanecer fl utuando por meia hora até alcançar a praia sem saber como. Fazendo secar sua roupa, encontrou um pacote de papel no bolso do paletó − posto ali pela sua esposa sem o seu conhecimento − “contendo um pequeno pedaço da Penha, um monte rochoso consagrado à Virgem, sob o nome de Nossa Senhora da Penha. A pedra, diz ele, foi que o salvou" (WALSH, 1985, Vol. 1, p. 172) 9.
8 Ainda em relação àquela lavadeira citada anteriormente, Ewbank presenciou seu desespero em função da perda de seus parcos recursos apostados em uma loteria, uma vez que todos os santos que invocara, votos que lhes fi zera, amuletos e talismãs que usara, adivinhações que realizara não haviam sido sufi cientes para conseguir que seu número fosse premiado “e queixava-se tristemente de nenhum deles ter feito coisa alguma por ela!” Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 154.9 Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 188.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
145MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
As missas, os sacramentos, as moedas do ofertório, a igreja e o adro gozavam de um poder especial no imaginário popular. A hóstia e a água benta, por exemplo, eram apreciadas como uma espécie de medicamento para os doentes e de defesa contra as doenças epidêmicas10. O Reverendo Anglicano Robert Walsh escreveu que, em fevereiro de 1829, os arredores de Magé foram atingidos por uma doença intermitente que tinha todas as características da febre amarela. As pessoas temiam que o fl agelo tivesse fi nalmente chegado ao Brasil. Durante o período em que reinou a doença eram feitas constantes procissões que levavam a hóstia santa por todas as cidades do Rio. Às vezes era conduzida à noite, numa carruagem iluminada por círios: “as pessoas a pé se ajoelhavam e as que estavam à cavalo desmontavam e reverentemente tiravam o chapéu quando o Ostensório passava” (WALSH, 1985, Vol. 1, p. 172). Segundo Leila Algranti, a devoção popular ao Santíssimo Sacramento era bastante acentuada no Brasil colônia desde o século XVIII. Além da adoração habitual nos momentos da missa, lâmpadas e candeias permaneciam constantemente acesas nos altares para que os fi éis pudessem vê-lo e adorá-lo, posto que se desenvolveu entre os devotos a crença de que tanto o receber o corpo e o sangue de Cristo na hora da consagração quanto o ver a hóstia santa possuía um grande valor espiritual11.
Todavia, ao contrário do que a ortodoxia religiosa recomendava, os cristãos sempre reconheceram o poder e recorreram ao auxílio da proteção espiritual conferida pelos amuletos que a Igreja considerava de origem profana, originários de antigas crenças e rituais religiosos que o Cristianismo não havia conseguido de todo suprimir. Já distantes do tempo da intolerância perpetrada pela Inquisição, era possível aos devotos conseguirem junto aos párocos a benção de certos objetos laicos 10 Ewbank alude a um enorme consumo de hóstias e de água benta na quinta-feira que antecedia à Sexta-Feira da Paixão nas diversas igrejas que ele visitou por ocasião da Semana Santa. Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 174.11 Esta crença no poder do Santíssimo, diz a referida autora, desenvolveu-se na Europa Ocidental desde o século XVII. Cf. ALGRANTI, Leila M. Honradas e Devotas: mulheres da colônia – estudo sobre a condição feminina nos conventos e recolhimentos do sudeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993, p. 298. Sobre a pompa barroca que revestia a passagem da hóstia consagrada pelas ruas da Corte Imperial Cf. RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos Mortos na Cidade dos Vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1997, p. 189-194.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL146
para o resguardo contra o mal. Com isso, a própria Igreja consagrava uma antiga prática popular de conferir um conteúdo sagrado à objetos que, a princípio, ela mesma qualifi cava como “pagãos”12.
Diversos estudiosos comprovaram que a simbiose entre o sagrado e o profano era uma constante no universo da religiosidade popular no Brasil desde os tempos coloniais; uma religiosidade indelevelmente marcada pelo entroncamento de tradições ibéricas, indígenas e africanas. Bem como na Europa, a piedade cristã das classes populares convivia com algumas das antigas tradições de origem pagã, que muitas vezes assumiam novos signifi cados atribuídos pela reinterpretação dos fi éis. No Brasil, por exemplo, era comum que feitiços e orações, assim como Deus e o Diabo andassem lado a lado. Apesar dos esforços envidados pelos visitadores do Santo Ofício e pelos missionários jesuítas, a terra brasílica permaneceu, conforme sublinhou Laura de Mello e Souza, um terreno úbere riquezas e impiedades (SOUZA, 1989, p. 86 et passim).
Sortilégios considerados infalíveis reforçavam ou eram reforçados pelo poder das orações e dos amuletos cristãos. O comerciante inglês Thomas Lindley não deixou de observar que, muitas vezes, os escapulários eram utilizados como invólucros para feitiços cuja fi nalidade era aliviar padecimentos, além de curar ou proteger contra doenças. Certa vez, ao ser acometido de uma febre grave, o observador estrangeiro foi aconselhado a recorrer a um desses expedientes. Um senhor escreveu-lhe um feitiço num pedaço de papel de formato triangular, aconselhando-o a usá-lo junto ao coração e a repetir, diariamente ao meio-dia, um determinado número de ave-marias, padres-nossos e glórias, com o cuidado de jamais deixar de usá-los, sob pena do retorno da enfermidade (LINDLEY, 1969, p. 64).
Ao observar as crenças populares da Corte, Jean Baptiste Debret notou que a tradição atribuía efeitos benéfi cos à raiz de arruda colhida ao romper da meia-noite na véspera de São João. Sob a proteção do Santo Batista, a arruda era considerada capaz de exercer infl uência sobre a felicidade. Essa erva, assinala o viajante, costumava ser respeitosamente
12 Sobre a relações entre o sagrado e o profano Cf. DINOLA, Alfonso. Sagrado/Profano. In: Enciclopédia Einaudi (Mythos/Logos – Sagrado/Profano). Lisboa: Imprensa Nacional, 1987, v. 12, p.105-160.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
147MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
cultivada nos canteiros e uma boa mãe de família, por amor de seus fi lhos, nunca se esquecia de correr ao jardim naquele momento indicado para arrancar uma raiz da planta e conservá-la cuidadosamente até que a mesma secasse de todo. Com ela confeccionavam-se fi gas que, depois de benzidas, eram distribuídas entre seus fi lhos e netos. As crianças de peito principalmente usavam às vezes cinco ou seis delas penduradas no mesmo colar. A tradição recomendava que, no momento de pendurá-las no pescoço das crianças, se rezasse ao santo, de quem se esperava que livrasse os pequenos de todas as desgraças (DEBRET, 1989, p. 54 e 55).
Thomas Ewbank foi outro observador estrangeiro que testemunhou o quanto era importante a preocupação com o resguardo das crianças contra o “mau-olhado”, cujos efeitos perniciosos também poderiam se abater sobre as pessoas adultas:
O povo do Brasil padece disto. Formosas crianças padecem por causa de forças terrenas e extraterrenas que lhes invejam a beleza; e não apenas bruxas e ogros, como ainda senhoras elegantes possuem olho gordo. Quando o cabelo de uma mulher se torna prematuramente cinzento ou cai por alguma doença, em nove casos sobre dez o responsável é o olhar de alguma invejosa. Uma jovem senhora de nossa vizinhança tinha até há pouco tranças iguais às de Eva em comprimento e macieza. Perdeu-as e ela diz que sabe muito bem qual é a pessoa de sua amizade responsável pelo desastre.
Quando um estranho acaricia a cabeça de uma criança e diz que ela é bonita etc., a ama e os pais inquietam-se se ele não concluir pedindo a Deus ou aos santos que a abençoe, isto sendo a prova de que não lhe está dirigindo um mau-olhado. O poder de murchar diz-se estar associado àquele pelo qual as serpentes atraem pássaros para as suas goelas; e que as humanas vítimas, uma vez atacadas, adoecem, defi nham e se não forem socorridas morrem (EWBANK, 1976, p. 189).
Para combater o quebranto, além do uso de amuletos e de ramos de arruda, era muito comum que as mães recorressem às rezas e
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL148
benzeduras de seus fi lhos, quase sempre levadas a cabo pelas parteiras, sobretudo quando se tratava do cuidado dispensado aos recém-nascidos (ALMEIDA, 1976, p. 11, 26 e 71). Como se trata de um gesto que pertence por excelência ao domínio da oralidade, quase não existem registros de época que possam revelar o conteúdo desse tipo de ritual na forma como eram empregadas no Rio de Janeiro do século XIX13. O folclorista Mello Moraes Filho, em suas pesquisas sobre os costumes dos ciganos estabelecidos na cidade, registrou a seguinte reza contra os efeitos maléfi cos de um “mau-olhado”:
Nossa Senhora defumouO seu amado fi lhinhoPr’a cheirarEu a ti se te defumoÉ pr’a sarar (MORAES FILHO, 1981, p. 47).
Esta fórmula, assegura Mello Moraes, deveria ser pronunciada ao meio-dia ou então à meia-noite, imediatamente após a defumação da criança padecente de quebranto. Segundo alguns folcloristas, a defumação como prática terapêutica/religiosa era muito comum em Portugal, onde havia o costume de se defumar as crianças “fracas”, repetindo-se por três vezes uma variante da reza transcrita acima14. Escrevendo já nas primeiras décadas do século XX, Luiz Edmundo menciona, sem maiores especifi cações quanto às fontes utilizadas, uma outra formulação para combater sezões, “mau-olhado” e “ares nocivos” recitada pelos negros rezadores:
Todo mal que neste corpo entrou,Ar de névoa, ar de cinza,Ar de galinha choca, ar de cisco, Ar de vivo em pecado,
13 As visitações do Santo Ofício e os processos inquisitoriais delas decorrentes tornaram possível aos historiadores conhecerem as rezas empregadas com fi ns terapêuticos no período colonial. Cf. SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz... p. 179-180 e FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime patriarcal. 29a edição, Rio de Janeiro: Record, 1994, p. 432.14 “Assim como Nossa Senhora/ Defumou o seu Santíssimo Filho/ Pr’a cheirar/ Eu defumo esta criancinha/ Pra sarar”. Cf. LEÃO, Armando. Notas de Medicina Popular Minhota. In: Arquivo de Medicina Popular. Porto, I, 29, 1944 apud FILHO, Mello Moraes. Os ciganos no Brasil... p. 47.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
149MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
Ar de morto excomungado,Ar de todo o mau-olhadoSeja deste corpo apartado,Deus te desacanhe de quem te acanhou, Deus te desinveje de quem te invejou (EDMUNDO, 1932, p. 472).
Havia também esta outra para fazer cair uma bicheira:
“Bicho ou bicha,Cobra ou cobrão, Bicho de quarqué naçãoSae-te daqui,Que a cruz de CristoTá sobre ti” (EDMUNDO, 1932, p. 472).
Contra uma espinhela caída, rezava-se do seguinte modo:
Na casa em que Deus nasceu,Todo o mundo resplandeceu.Na hora em que Deus foi nado,Todo o mundo foi alumiado.Seja em nome do SenhorEsse teu mal curado.Espinhela caída e ventre derrubado,Eu te ergo, curo e saro.Fica-te, espinhela, em pé!Sant’Anna, Santa Maria,Em nome do padre, do fi lho e do espírito santo (EDMUNDO, 1932, p. 474).
E para atalhar as dores de dentes, além dos habituais apelos endereçados à Santa Apolônia, podia-se contar com a seguinte benzedura:
Naquele monte mal assenteEstava São Quelimente;Nossa Senhora lhe disse:− Que tens tu, ó Quelimente?− Doe-me o queixo e mais o dente!− Queres que t’ o benza, Quelimente?
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL150
− Quero sim, minha Senhora− Põe as tuas cinco pulgadas (sic)Sobre estas tuas pontadasQue elas serão abrandadas.Padre Nosso, Ave MariaPaz tecco (sic), Aleluia (EDMUNDO, 1932, p. 474).
Conforme a observação de Keith Thomas, esse tipo de reza possuía menos um caráter de súplica, caracterizando-se mais como uma fórmula admonitória contra as doenças que se desejava expulsar do corpo dos enfermos15. Assim como o uso de amuletos e a evocação dos santos, a efi cácia das orações e esconjuros também deveria repousar na convicção; caso o efeito esperado não se realizasse, a “falha” era explicada pela falta de fé do enfermo ou do benzedor, resguardando-se desse modo o poder da reza ou do esconjuro.
Algumas súplicas fi liavam-se a uma antiga crença segundo a qual a evocação de episódios místicos atribuídos à vida de Cristo e dos santos possuíam uma virtude curativa atemporal, como pode ser observado numa benzedura destinada a curar erisipela, registrada por Gilberto Freyre:
Pedro e Paulo foi (sic) a Romae Jesus Cristo encontrou (sic).Este lhe perguntou:– Então que há por lá?– Senhor, erisipela má.– Benze-a com azeitee logo te sarará (FREYRE, 1994, p. 432)16.
* * *
15 Note-se que tais rezas evidenciam que, no imaginário popular, a doença era concebida como algo que precisava ser exorcizado e à linguagem religiosa era atribuído um poder místico capaz de fazê-lo. Cf. THOMAS, Keith. Religião e o Declínio da Magia... p. 157 e 159. 16 Orações dessa natureza foram identifi cadas por Kheith Thomas em relação à Inglaterra nos séculos XVI e XVII e por Laura de Mello e Souza em relação ao Brasil colonial. Cf. THOMAS, Keith. Religião e o Declínio da Magia... p. 157-158 e SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz... p. 198-199.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
151MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
Somados aos feitiços e às benzeduras, a população da Corte Imperial cercava-se de inúmeros os amuletos católicos e “pagãos” como forma de prevenção contra as forças espirituais malignas capazes de provocar infortúnios. Pessoas de ambos os sexos, de todas as idades e classes sociais recorriam ao seu auxílio para se defenderem do “mau-olhado”, apartar os demônios, alterar o curso natural das circunstâncias quando desfavoráveis, afastar e curar doenças. Thomas Ewbank enumerou uma série de outros artefatos empregados pela população carioca no sentido da proteção contra moléstias e demais adversidades, descrevendo as propriedades que lhes eram atribuídas conforme o imaginário popular da cidade:
Quadro II: Objetos de Devoção Popular Considerados Capazes de Proteger e de Curar Doenças
Objetos Propriedades
Santíssimo SacramentoMinistrado aos doentes e moribundos era considerado capaz de afastar as enfermidades; (p. 56)
Palmas BentasAlém de proteger contra os raios, a fumaça que desprendia de sua combustão era considerada capaz de expulsar os maus espíritos e manter o demônio afastado das casas; (p. 169 e 188)
Água Benta
No Sábado de aleluia as igrejas enchiam “as pias de água benta e as famílias mandavam garrafas e copos para serem cheios, para depois atirarem nas crianças e amigos. Algumas guardavam a água benta para se defenderem de numerosas moléstias”; (p. 179)
Medidas de Santos
“Estas são fi tas, cortadas pelos sacerdotes, no exato comprimento ou altura das imagens, inscrevendo-se nelas seus nomes. Usadas em torno da cintura, bem junto ao corpo, removem dores, doenças e além disto, executam a vontade de quem as leva”; as cores variavam de acordo com o santo; algumas traziam imagens ou inscrições bordadas; (p. 185)
Bentinhos
Tratava-se de duas pequenas almofadas bordadas, retangulares que traziam a imagem dos mais variados santos unidas por um fi o duplo; passando os fi os pela nuca, uma delas fi ca sobre o peito e outra nas costas, assim protegendo quem as leva, de frente e por trás; geralmente eram utilizadas pelas mulheres contra os “inimigos invisíveis”; (p. 186)
Figuras de Santos“Ao aniversário de cada santo popular, grande número de suas fi guras são trocadas nas igrejas por dinheiro ou cera”; eram conservadas em livros, presas às cortinas das camas ou debaixo dos travesseiros; (p. 186)
BrevesAs fi guras de santos eram dobradas até formar uma pequena almofada quadrada que era costurada à uma minúscula bolsa de uma polegada, usada junto ao corpo com os bentinhos; (p. 186)
Imagens PortáteisEstas eram eventualmente de madeira, mas muitas, senão a maior parte eram de gesso, sendo que as de Santo Antônio eram as mais numerosas; (p. 81 e 187)
Medalhas de SantosPequenas placas elípticas confeccionadas a partir dos mais variados metais; (p. 104 e 187)
Símbolos da Cruz (crucifi xos, rosários etc.)Nada era considerado mais poderosos do que eles: “nem feiticeiras nem bruxas podem tolerar a sua vista”; (p. 187)
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL152
Bandeira do Divino Espírito SantoEra beijada como forma de devoção devido a crença popular segundo a qual se tratava de um talismã poderoso; (p. 192)
FigasConfeccionadas com os mais variados materiais, eram considerados os melhores amuletos contra o mau-olhado; (p. 104 e 188)
Arruda
Atribuía-se-lhe a capacidade de manter as casas livres das bruxas; brancos e pretos conservavam muita fé em seus ramos como arma contra feitiçarias e sortilégios, posto que servia para “fechar o corpo”. Ocasionalmente Ewbank notou pessoas ajoelhando-se diante de altares em que se colocavam um ramo de arruda com o fi to de torná-los mais efi cazes; (p. 188 e 219)
ChifresAmuleto utilizado para afastar o mau-olhado, servia de matéria-prima para a confecção de diversos talismãs; (p. 104, 189 e 190)
Cavalo-Marinho“É favorito de muitos. Este peixinho curioso, quando seco, é aplicado `a pele, e é poderoso em remover dor de cabeça assim como demônios. Alguns o possuem de ouro e prata”; (p. 188)
Fonte: EWBANK, Thomas. A vida no Brasil ou Diário de uma viagem ao país do cacau e das palmeiras (1846). Belo Horizonte: Itatiaia.
Do mesmo modo que no imaginário popular eram atribuídos aos santos e aos objetos sagrados o poder de curar, considerava-se também que os mesmos eram capazes de provocar enfermidades caso houvesse alguma espécie de agravo da parte do impenitente. Tendo apanhado um resfriado seguido de rouquidão, Thomas Ewbank fora aconselhado a recorrer a uma medida de São Brás, acompanhada de seguinte advertência: “Deves ter fé nele senão lhe fará mal” e, logo em seguida, recebeu a seguinte instrução de uso: “ponha a fi ta em torno do pescoço e coloque um retrato do médico sobre a mesa, acenda uma vela, coloque-a diante do retrato e a cura não tardará” (EWBANK, 1976, p. 186). Um dos quadros observados pelo viajante norte-americano existentes na Igreja de Santo Antônio de Pádua, que retratava alguns feitos e incidentes atribuídos à sua vida, comprova a ambiguidade das crenças populares quanto à capacidade dos santos provocarem tanto o bem quanto o mal. Ao aproximar-se da referida tela, Ewbank ouviu a seguinte explicação de um monge:
Um jovem, disse nosso cicerone, uma vez deu um pontapé em sua mãe. Ele saiu e encontrou-se com um estrangeiro que lhe disse: "Aquele que dá um pontapé na mãe perde o pé". O castigo veio; ele voltou para casa e tirou o membro agressor. Sua mãe injuriada entrou, começou a chorar e antes que ele sangrasse até a morte, apanhou o pé e levou-o com seu fi lho à procura do estrangeiro. Ele estava perto, e foi reconhecido como Santo Antônio. Vendo o jovem arrependido, imediatamente curou-o. O pé, colocado em
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
153MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
seu lugar, ajustou-o ao membro, sem linha de separação visível (EWBANK, 1976, p. 249).
No entanto, nenhum episódio relacionado à capacidade dos santos provocarem o mal aos seus ofensores mostrou-se mais eloquente e tornou-se mais célebre entre os habitantes do Rio de Janeiro em meados do século XIX do que o acontecido em 29 de julho de 1845 na Igreja da Santa Cruz dos Militares. Segundo Ewbank, contratado para trabalhar nas reformas daquela igreja, o pintor açoriano Augusto Frederico de Almeida perguntado pelos seus companheiros de trabalho se havia apostado na loteria que estava prestes a correr, respondeu que não, porque nada lhe adiantava, posto que já havia comprado muitos bilhetes e nunca tinha sido contemplado com prêmio algum:
“Se não fosse por este (disse o português, empregando um termo ofensivo e apontando para a imagem que estava pintando), que tem uma birra comigo, eu já teria ganho um prêmio na última loteria”. No decorrer do dia, embora alguns afi rmem que foi somente no dia seguinte, o homem teve um acesso de epilepsia (EWBANK, 1976, p. 121)17.
A notícia de tamanha blasfêmia logo chegou aos ouvidos dos padres e começou a circular pela cidade, despertando uma profunda indignação da parte dos devotos. Ocorrido ou não no mesmo dia, o incidente do ataque sofrido pelo pintor blasfemo ganhou uma nova versão que demonstra claramente a crença na capacidade dos santos provocarem o mal a quem os ofendesse, conforme fora publicado no Jornal do Comércio de 13 de agosto de 1845:
Na noite de 29 último, um pintor chamado Augusto Frederico de Almeida, de 23 anos de idade e nascido nos Açores, foi empregado na Igreja da Santa Cruz dos Militares. Quando trabalhava no consistório com outros artistas, possuído pelo demônio, blasfemou contra uma Imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e não se reprimiu
17 Este mesmo episódio foi analisado por Anderson de Oliveira em seu estudo sobre as irmandades religiosas no Rio de Janeiro Imperial. Cf. OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e Caridade: irmandades religiosas no Rio de Janeiro Imperial, 1840-1889. Niterói, UFF, Dissertação de Mestrado, 1995, p. 201-221.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL154
quando repreendido por seus companheiros. Logo que deixou o consistório para trabalhar no altar de N. S. das Dores na Igreja, ouviu-se um horrível grito e o homem caiu no chão. Agitou-se violentamente e perdeu o uso da fala que não recobrou durante 3 dias (EWBANK, 1976, p. 122, grifo nosso).
Para escapar à fúria da multidão de devotos profundamente ofendidos com inaudita profanação − pois segundo outra versão do episódio o desatinado pintor além de insultar a imagem sagrada do Senhor havia metido seu charuto na boca de outra − e para livrar-se da excomunhão que lhe fora imposta, o malsinado jogador viu-se obrigado a cumprir uma penitência pública na qual fi zera seu mea culpa reconciliando-se com a Igreja e apaziguando os ânimos dos devotos do Senhor Morto18. O memorialista Vivaldo Coaracy registrou a existência de mais duas versões um tanto quanto mais afastadas do tempo em que supostamente o episódio ocorreu; ambas acentuavam ainda mais a manifestação instantânea da cólera divina contra o açoriano. Uma delas dizia que no mesmo instante que o pintor esbofeteara a imagem sacra, fi cara com o braço ressequido e paralítico, impossibilitado para sempre de exercer o seu ofício; outra assegurava que o operário caíra instantaneamente fulminado, morrendo ali mesmo entre esgares medonhos, enquanto o demônio, exalando um forte cheiro de enxofre como que para assinalar a sua terrível presença, conduzia a alma do pecador diretamente para o inferno (COARACY, 1988, p. 223).
* * *
A confi ança incondicional no poder da oração, dos santos e na virtude dos amuletos era condição indispensável para sua efi cácia. Deste modo fi cava assegurada a preservação da base que sustentava essa forma
18 A ideia de que santos agravados podiam provocar doenças esteve presente durante a primeira eclosão da epidemia de Febre Amarela na cidade, onde houve quem considerasse a doença como uma represália de São Benedito pelo fato de sua imagem não ter sido conduzida durante a Procissão das Cinzas realizada em 1849. Cf. RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos Vivos... p. 42-47 e CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Cia das Letras, 1996, p. 62-63 e 137-138. Além de santos ofendidos, muitas vezes os grandes surtos epidêmicos também eram atribuídos à cólera divina. Cf. THOMAS, Keith. Religião e o Declínio da Magia... p.76-85 e DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente... p. 138, 145-150.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
155MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
mágico-religiosa de conceber o mundo, uma vez que quando o resultado esperado não era atingido a explicação mais comum para o fracasso, no caso da cura de uma doença, por exemplo, era que o enfermo não havia confi ado o sufi ciente no poder do santo ou do amuleto, ou então, no caso de a doença ser considerada como resultado de um feitiço, que o oponente possuía uma magia mais poderosa. Ou seja, a “falha” podia ser interpretada e absorvida dentro do próprio sistema de pensamento mágico-religioso19. Em caso de experiências malsucedidas a reputação dos santos e dos amuletos estaria a salvo no imaginário coletivo, uma vez que a fé que se depositava neles derivava da disposição das pessoas em acreditar na possibilidade do milagre e da proteção talismânica, de forma que, acima de tudo, era a crença que gerava as curas20.
No entanto, conforme demonstrou Laura de Melo e Souza, havia ocasiões, por sinal bastante comuns, em que as pessoas – indignadas pelo não atendimento de suas súplicas – agrediam as imagens ou lançavam impropérios contra os santos, em franco sinal de desapontamento, como no caso do pintor açoriano anteriormente mencionado. Mas se existia desapontamento é porque, em um dado momento, houve algum tipo de expectativa favorável da parte do crente, portanto, mesmo nesses casos em que a intervenção dos santos era questionada pelos simples mortais, é de se notar que, ao fazer o pedido, o suplicante demonstrava, antes de tudo, a sua crença na possibilidade do auxílio dos santos em seu favor (SOUZA, 1989, p. 107-122).
19 De acordo com Evans-Pritchard, os sistemas de crença na magia tendem a ser fechados, ab-sorvendo as “falhas” e as evidências aparentemente “contraditórias”. Cf. EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 39-41. 20 Utilizo aqui o conceito de “efi cácia simbólica” de Lévi-Strauss e a mesma linha de raciocínio utilizada por Marc Bloch e por Keith Thomas para explicar o sucesso da crença na capacidade do toque régio dos soberanos franceses e ingleses da Idade Média curar escrófulas. Marc Bloch assevera que “o que criava a fé no milagre era a ideia de que deveria haver um milagre. Era essa ideia também que lhe possibilitava a sobrevivência, acrescida, com o passar dos séculos, do testemunho acumulado de gerações que tinham acreditado e cuja evidência, baseada aparentemente na experiência, era indubitável. Quanto aos casos, bastante numerosos segundo todos os relatos, em que o mal resistia ao toque dos augustos dedos, eles eram logo esquecidos”. Cf. BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio – França e Inglaterra. São Paulo: Cia das Letras, 1996, p. 273-278; THOMAS, Keith. Religião e o Declínio da Magia... p. 177; LÉVI-STRAUSS, Claude. “O Feiticeiro e sua Magia” e “A Efi cácia Simbólica”. In: Antropologia Estrutural. 4ª edição, Rio de Janeio: Tempo Brasileiro, s/d., p. 193-213 e 215-236.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL156
Por outro lado, nem sempre a “agressão” às imagens era entendida como um gesto de desrespeito do ponto de vista dos devotos. Thomas Ewbank ouviu de alguns moradores da Corte que Santo Antônio, por exemplo, gostava de ser maltratado e registrou alguns exemplos de como as pessoas procediam para serem atendidas. Certa vez, ouviu de uma senhora que ela tinha o costume de estender a imagem do santo com a face para baixo, no soalho, perto da porta e colocar uma pedra pesada sobre ele até que conseguisse recuperar seus escravos fugidos. Perguntada por que tratava o santo tão “severamente”, a senhora respondeu: “Santo Antônio quis ser mártir, mas como Nossa Senhora não lhe permitiu que tivesse essa honra, gosta de ser assim fl agelado, e com muita frequência não atende os devoto enquanto não for atormentado”21 [grifo nosso].
Outro meio de acesso ao auxílio divino vinha através das orações dos fi éis. As preces cristãs assumiram as mais variadas formas, mas o tipo mais diretamente relacionado às difi culdades materiais enfrentadas no dia-a-dia era o da intercessão. Os indivíduos faziam seus apelos solitários a Deus, ao passo que as comunidades realizavam súplicas coletivas, mormente nas procissões, confi antes de que poderiam fazer com que o Criador demonstrasse sua misericórdia, desviando o curso dos acontecimentos em resposta à contrição pessoal ou coletiva. A crença no valor quantitativo das preces e das missas reforçava a ideia de que a cura do corpo ou a salvação da alma poderiam ser alcançadas pela oração. O êxito das preces seria mais provável quanto maior fosse o seu número, por isso tornou-se tão importante que as pessoas rezassem umas pelas outras. A insistência dos padres na difusão da ideia de que as orações podiam proteger contra os maus espíritos e contra os animais peçonhentos, somada ao incentivo da repetição constante das palavras sagradas foi um passo para o surgimento da crença popular no poder curativo do pai-nosso e das ave-marias.
As rogativas destinadas às entidades espirituais católicas em benefício da saúde estavam presentes em diversos livros de orações que
21 Segundo Ewbank, a explicação que lhe fora dada não passava de uma “história estereotipada”, o que indica que não se tratava de uma opinião pessoal daquela mulher e sim de uma crença compartilhada por várias pessoas. Cf. EWBANK, Thomas. A Vida o Brasil... p. 253-254.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
157MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
circulavam na cidade. Ewbank refere-se a um Compêndio de Orações dedicado à devoção a Santo Antônio, no qual o mesmo era invocado como “doutor místico”, capaz de afastar a morte, o pecado, a tristeza, o erro e os demônios. Ao santo de Pádua era atribuída a capacidade de remediar toda sorte de problemas: “...livra-nos da prisão, livra-nos de nossas dores e encontra todas as coisas que nós perdemos, afasta os perigos, socorre a todos. Pádua confessa tudo isso. Ora por nós Santo Antônio!” (EWBANK, 1976, 252).
Ao examinar um catálogo dos livros comercializados na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX, Maria Beatriz Nizza da Silva listou nada menos do que cento e trinta e três títulos de obras devocionais (SILVA, 1978, p. 88-90). Evidentemente que os livros religiosos eram consumidos mais amplamente pelas pessoas que soubessem ler e escrever e de acordo com as posses de cada um, haja vista que seus preços variavam bastante de acordo com a procedência, o tipo, o volume, enfi m com os custos de produção ou importação22. No entanto convém lembrar que as orações, ensinamentos e as histórias sagradas contidas nessas obras chegavam ao domínio da oralidade popular uma vez que a prática da leitura em voz alta era muito comum à época; sem contar que as preces católicas assumiam um caráter repetitivo e eram frequentemente recitadas nas novenas, ladainhas, missas e procissões. Além do mais, mesmo que uma parte signifi cativa da sociedade ignorasse o conteúdo de tais livros devido o não saber ler, era fato corriqueiro a sua utilização como amuletos sagrados. Com vistas à proteção do ambiente doméstico, somado à conservação de oratórios particulares, havia ainda o costume de se pregar junto às portas e paredes das casas pequenos pedaços de papel com orações no sentido de resguardo contra doenças, malefícios e ladrões (FREYRE, 1990, p. 227)23.
22 Sobre a variação dos preços das obras devocionais no Rio de Janeiro no princípio do século XIX, Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e Sociedade... p. 91.23 Num artigo publicado pela primeira vez na Revista Kosmos, em dezembro de 1905, João do Rio testemunhou a enorme popularidade dos mais variados tipos de orações na cidade do Rio de Janeiro; muitas das quais eram objeto de um intenso comércio de ambulantes, sendo algumas delas anotadas e comentadas pelo cronista. Cf. ANTELO, Raul (org.). A Alma Encantadora das Ruas. São Paulo: Cia das Letras, 1997, p. 113-127.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL158
Além do incentivo às orações, a Igreja endossava a ideia de que as promessas eram uma outra maneira do sofredor tocar a misericórdia divina para o atendimento de suas súplicas. Tratava-se de uma espécie de reforço à prece e de um incentivo à vontade divina; uma troca de favores condicionados ao êxito da rogativa. Segundo Debret, os brasileiros − submetidos desde a infância às práticas religiosas − quando atacados de uma doença grave, apressavam-se para fazer uma promessa em benefício da igreja, a fi m de merecer a cura. Esse tipo de procedimento pio era aprovado pelos confessores e o convalescente logo cuidava de cumpri-la após ter alcançado a graça da cura. Tais promessas, prossegue o artista francês, eram pagas com velas, cujo número e tamanho aumentavam de acordo com as posses do doador. Acreditava-se, dizia Debret, que o mérito maior para o homem rico consistia em se apresentar na igreja descalço, sob o peso do volumoso presente; quando demasiado enfraquecido, fazia-o carregar por um escravo. Os pobres, por sua vez, pensavam ser mais agradável a Deus receber seu módico presente das mãos de uma criança. Todavia as dádivas dos fi éis mais abastados não se limitavam a pequenas oferendas; não raro, escravos e imóveis importantes eram legados às confrarias dentre os mais variados tipos de bens.
A fé no adjutório dos santos para curar as enfermidades era tão grande e as promessas feitas em seus nomes tão frequentes que levaram o viajante francês a externar a seguinte opinião: “os santos protetores da humanidade sofredora no Brasil são mais bem pagos do que os médicos, instrumentos imediatos da cura dos doentes”(DEBRET, 1989, p. 141 e 142). Este comentário, recheado de ironia, é bastante emblemático por deixar bem visível a defasagem existente entre a concepção do viajante − para quem a cura de uma doença deveria ser resultante de uma intervenção médica − e o imaginário popular que atribuía o restabelecimento da saúde à intercessão dos santos e à misericórdia divina; interessante também porque sugere que em matéria de curar enfermidades, os santos eram bem mais procurados do que os médicos da cidade.
Geralmente as promessas endereçadas aos santos eram acompanhadas pela confecção de ex-votos depositados nas sacristias,
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
159MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
junto às imagens sacras − pelo respeito à promessa em que o ofertante empenhou a sua palavra − como testemunho da graça recebida pelo socorro prestado por um determinado santo ao devoto em momento de perigo ou pela cura de uma enfermidade. Tratava-se de um costume que remontava à antiguidade greco-romana, incorporado pelo cristianismo como uma forma de expressão da piedade popular (CASTRO, 1994, p. 9).
Para conter a ameaça representada pelo Protestantismo que condenava o culto aos santos, comparando-os aos dispensados aos “ídolos pagãos”, a contra-ofensiva promovida pela Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, procurou estimular a veneração das imagens sagradas, ao considerar que era por meio delas que, aos olhos dos fi éis, se manifestavam os benefícios, as mercês e os milagres concedidos por Deus.
Segundo os estudiosos que trabalham com esse tipo de fonte, os ex-votos popularizaram-se na Europa meridional e central a partir do século XVII, sobretudo sob a forma de tábuas votivas, alcançando uma ampla difusão na Península Ibérica (CASTRO, 1994, p. 11). Introduzida no Brasil pelos portugueses, a fi guração dos milagres alcançados pelos simples mortais tornou-se um hábito que se incorporou rapidamente às tradições da religiosidade popular na Colônia, da qual a devoção oitocentista era herdeira direta.
Apesar de à primeira vista parecerem um material iconográfi co extremamente pobre devido a um certo formalismo repetitivo no modo de representação, as placas votivas possuem uma densidade dramática extremamente acentuada que traduz muito bem a dimensão da importância que o culto dos santos assumia no imaginário popular. Embora os doadores de ex-votos experimentassem a sensação de viver uma experiência estritamente pessoal e fora do comum, a recorrência desse tipo de fonte faz dele uma importante via de acesso para a compreensão da religiosidade compartilhada pelos segmentos populares, uma vez que esses ex-votos exprimem a presença do sagrado na vida cotidiana, revelando como as pessoas compreendiam a ocorrência dos milagres e quais eram as suas concepções e atitudes diante da doença, do perigo e da proximidade da morte (VOVELLE, 1997, p. 113-117).
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL160
A fi guração do milagre representado nas tábuas votivas é uma espécie de “conto” resumido por imagens que expressam os temores e as alegrias daqueles que tiveram o curso de suas vidas alterado pela intervenção de um santo. Às vezes, uma pequena faixa inferior era reservada a uma frase que descrevia de modo sumário o milagre ocorrido, enquanto outros quadros contavam sua história exclusivamente por meio de suas imagens. Os ex-votos são um testemunho individual do encontro com o sagrado; neles encontram-se representados o benefi ciário e o agente do milagre, protagonizando a intervenção do plano celeste nos destinos humanos.
A aparente “pobreza documental” representada pelas tábuas votivas decorre do fato de que na realidade não era o ofertante quem riscava o milagre. Ao que tudo indica, essa tarefa era encomendada a artistas anônimos especializados na arte que, baseados na descrição daqueles que receberam o milagre, interpretavam o episódio narrado; daí resulta a tendência da reprodução de uma cena estereotipada. Em alguns casos, o ofertante aparece sozinho de pé ou ajoelhado em atitude de devoção, diante do santo que lhe proporcionou o milagre. As cenas exteriores procuravam representar os milagres relacionados à proteção contra os perigos que envolviam acidentes, doenças de animais e ataques de salteadores.
Quando se trata de uma cura milagrosa, por exemplo, os ex-votos frequentemente representam um aposento no qual o ofertante encontra-se acamado. Quase sempre o leito possui colchas e, em alguns casos, um dossel e cortinados vermelhos; estes últimos estão geralmente abertos para que se veja o jacente; o santo protetor fl utua sobre ou em volta de nuvens e, na maior parte das vezes, são representados num plano superior ou em um dos cantos da tela, artifício empregado para situar o sagrado num espaço distinto do plano terreno. Entretanto trata-se apenas de estereótipos formais; a representação do drama pessoal de cada um transcende a qualquer espécie de convenção estilística dos artistas24. É preciso ter-se em conta que os riscadores de milagres eram
24 Segundo Márcia Moura, é possível identifi car a mesma autoria em vários exemplares, graças aos detalhes que as caracterizavam, tais como a maneira como o cortinado aparece amarrado, as nuvens que envolvem o santo etc. Cf. CASTRO, Márcia Moura. Ex-Votos Mineiros... p.20.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
161MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
parte integrante dos segmentos populares e, portanto, compartilhavam os mesmos valores religiosos do universo cultural daqueles que lhes encomendavam a confecção de ex-votos. Assim, o que à primeira vista parece uma mera repetição formal dos artistas pode ocultar signifi cados culturais mais profundos que escapam totalmente a uma observação apressada.
Esse é, por exemplo, o caso da forte presença da cor vermelha utilizada na representação dos dosséis, cortinados e colchas nos leitos dos enfermos. Segundo Gilberto Freyre, a ampla utilização do vermelho nos tecidos durante o período colonial, explica-se pela dimensão simbólica que esta cor assumia tanto nas tradições ibéricas quanto nas ameríndias e nas africanas. Entre outros signifi cados, a cor vermelha era considerada capaz de afugentar os maus espíritos e concorrer para a cura de doenças. Uma das canções populares encontráveis na região da Beira no século XIX, reproduzida por Freyre indica perfeitamente esta concepção:
As telhas do teu telhadoSão vermelhas, têm virtudePassei por elas doente:Logo me deram saúde (FREYRE, 1994, p. 105)25.
No Recife, em meados do século XVII, o Dr. Simão Rodrigues Mourão recomendava sangrias e purgas como forma de tratamento preventivo contra as bexigas e, sobretudo, a mudança para sítios distantes dos locais de manifestação da enfermidade; porém, uma vez declarada a doença, prescrevia a evacuação dos humores com sangrias e ventosas sarjadas; purgantes brandos; fricções secas; cozimentos sudoríferos e a manutenção do doente sob pouca luz e envolto em baetas vermelhas (PEDROSA, 1949, p. 285). Escarlate também era a cor da bandeira do Divino Espírito Santo que, segundo o testemunho de Thomas Ewbank, era reverenciado como um talismã poderoso (EWBANK, 1976, p. 192). Na hora do parto, era costume antigo no
25 Nos ex-votos portugueses confeccionados durante os séculos XVIII e XIX na região de Bragança é fortíssima a presença da cor vermelha nos dosséis, cortinados e colchas. Cf. AFONSO, Belarmino. Ex-votos e Religiosidade Popular no Distrito de Bragança. Bragança, Região de Turismo do Nordeste Transmontano, 1995.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL162
Rio de Janeiro, conforme a descrição do romancista Manuel Antônio de Almeida, que as parturientes amarrassem um lenço branco à cabeça enquanto os pais, quando presentes à ocasião, amarravam um lenço encarnado e fi cavam em um cômodo próximo aguardando o desenrolar dos acontecimentos apegados às imagens dos santos, aos amuletos e rezas (ALMEIDA, 1976, p. 69). Na opinião do Dr. Antônio Ferreira – médico português do século XVIII - dormir com a cabeça baixa e com as costas cobertas por um pano vermelho combateria o arrefecimento do leite das mulheres, provocado pela “intemperança do fígado, contínuo uso de alimentos secos, fastio grande, demasiado trabalho, imoderados exercícios, vigílias, pesares e febres contínuas”(PRIORE, 1993, p. 246). Carmesim, com franjas douradas, era a cor do pálio debaixo do qual era conduzida a hóstia consagrada e das opas que os membros da irmandade do Santíssimo Sacramento usavam para seguir o cortejo com vistas à administração dos últimos sacramentos aos moribundos. Mello Moraes, ao comentar a solenidade e as manifestações da devoção popular em torno do Viático Eucarístico, assegura que nas casas onde havia doentes, alguém os suspendia do travesseiro, e, quanto possível, os sentava na cama durante a passagem do préstito pelas ruas (MORAES FILHO, 1979, p. 216)26.
Como se vê, o que à primeira vista parece indicar uma repetição monótona da parte dos riscadores de milagres, na verdade aponta para uma crença popular profundamente arraigada entre aqueles que viveram no Brasil de antanho.
Além da pintura desses pequenos quadros, os fi éis também cultivavam o costume de mandar confeccionar objetos de cera para representar as partes do corpo afetadas pela doença e curadas por intermédio dos santos. Sempre que visitava uma igreja carioca, Ewbank adentrava as sacristias para observar de perto essa forma de devoção
26 Diversas nações indígenas apresentavam o hábito de tingir o corpo de vermelho em diversas cerimônias de purifi cação do corpo, do espírito e como medida profi lática contra maus espíritos e doenças; entre os grupos africanos – das cerimônias do culto a xangô às festas de coroação dos reis do Congo – o encarnado era a cor que prevalecia, e prevalece até hoje, nos trajes, mantos e estandartes. Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala... p. 104-108. Entre os objetos apreendidos de um preto mina acusado de feitiçaria no Rio de Janeiro do século XIX, por exemplo, constavam um manto e um chapéu vermelhos. Cf. EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil... p. 302.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
163MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
popular que tanto lhe despertara a curiosidade. Era uma infi nidade de placas e objetos de cera que procuravam representar da melhor forma possível o benefício recebido e, ao mesmo tempo, testemunhar a devoção do crente e o cumprimento da promessa. Infelizmente, a incúria dos homens somada à ação do tempo fi zeram com que praticamente todas as tábuas votivas cariocas datadas do século XIX para trás fi cassem irremediavelmente perdidas. Delas, restaram-nos tão-somente poucas descrições feitas pelos observadores de época, o que para a pesquisa histórica signifi ca praticamente apenas um registro da memória de sua existência na cidade.
É possível termos alguma ideia das placas e dos objetos de cera guardados nas igrejas da Corte por intermédio do viajante norte-americano que se deu ao trabalho de descrever aqueles que mais lhe chamaram atenção. Ao visitar a igrejas de São Francisco de Paula, Santa Luzia e Na Sa da Boa Viagem, Ewbank fi cou impressionado com a quantidade de cabeças, braços, pernas, bustos, mãos, pés, maxilares, olhos e outras partes do corpo suspensos pelos corredores e pela sacristia; alguns deles acompanhados de cancros e tumores (EWBANK, 1976, p. 120, 140, 197). Uma tábua votiva, datada de 1756, foi interpretada pelo viajante da seguinte forma:
[...] tinha o desenho de um homem enfermo num leito e Nossa Senhora [da Boa Viagem] num canto do quarto, dizendo-lhe que esfregasse as partes atacadas com óleo tirado da lâmpada que ardia diante dela. Ele seguiu o conselho e sarou e pendurou o ex-voto como testemunho de sua gratidão pelo milagre (EWBANK, 1976, p. 197).
Alguns ex-votos indicam que após tentativas infrutíferas do auxílio de um médico ou de um cirurgião, a providência tomada pelo enfermo era suplicar o auxílio ao santo de sua devoção. O que mais chama a atenção nessas tábuas votivas é que elas expressam claramente a crença de que o poder da Medicina Acadêmica da época era infi nitamente inferior à potestade celeste. Na fi guração de alguns desses milagres é possível notar que as providências médicas ou as intervenções cirúrgicas sofridas pelos enfermos não foram sufi cientes para lhes restituir a
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL164
saúde, a qual foi restabelecida somente após a intercessão das entidades celestiais (CASTRO, 1994). Enquanto os resultados apresentados pelo tratamento médico eram muito morosos ou simplesmente nenhum, no imaginário popular a intervenção milagrosa dos santos produzia um alívio praticamente imediato.
Por meio desses ex-votos, homens e mulheres, senhores e escravos, ricos e pobres confessavam publicamente suas esperanças, alegrias e uma profunda confi ança nas entidades celestiais. A representação desses milagres fez de seus ofertantes as testemunhas, por vezes, silenciosas de que aqueles eram tempos de graça e de bem-aventurança onde o encontro entre os seres humanos e os santos fazia parte da vida cotidiana dos homens, renovando-lhes as esperanças de conforto e proteção contra as agruras da vida; tempos em que a cura do incurável, por intermédio de Santa Rita e outras tantas entidades celestes, estava envolvida pelo manto dos insondáveis mistérios da fé.
Mysteries of the faith: desease and popular religious in Imperial Court
Abstract:The article examines the foundations that dominated the Catholic
conceptions on the disease and the cure. Based on that it analyzes the popular practices that implicated the manipulation of faiths and religious symbols in favor of the protection against illnesses or their healing.
Palavras-Chave:
Disease – catholicism – popular religious
BIBLIOGRAFIAAFONSO, Belarmino. Ex-votos e Religiosidade Popular no Distrito de Bragança. Bragança, Região de Turismo do Nordeste Transmontano, 1995.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
165MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
ALGRANTI, Leila M. Honradas e Devotas: mulheres da colônia - estudo sobre a condição feminina nos conventos e recolhimentos do sudeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de Um Sargento de Milícias (1852). 6. ed. São Paulo: Ática, 1976.
ANTELO, Raul (Org.). A Alma Encantadora das Ruas. São Paulo: Cia das Letras, 1997.
BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio – França e Inglaterra. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
CASTRO, Márcia de Moura. Ex-Votos Mineiros: as tábuas votivas no ciclo do ouro. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1994.
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
COARACY, Vivaldo. Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988.
DEBRET, Jean Baptiste. Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil (1835-1836). Belo Horizonte: Itatiaia, 1989, Tomo III.
DELUMEAU, Jean. Rassurer et Protéger: le sentiment de sécurité dans l’occident d’autrefois. Paris: Fayard, 1989.
______. História do Medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo: Cia das Letras, 1996.
DINOLA, Alfonso. Sagrado/Profano. In: Enciclopédia Einaudi (Mythos/Logos – Sagrado/Profano). Lisboa: Imprensa Nacional, 1987, v. 12.
EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1932.
EWBANK, Thomas. A Vida no Brasil ou Diário de uma Viagem ao País do Cacau e das Palmeiras (1846). Belo Horizonte: Itatiaia, 1976.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL166
FILHO, Mello Moraes. Os Ciganos no Brasil e Cancioneiro dos Ciganos. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981,
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990.
______. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime patriarcal. 29. ed. Rio de Janeiro: Record, 1994.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: José Olympio, 1957.
KIDDER, Daniel P. & FLETCHER, James C. O Brasil e os Brasileiros: esboço histórico e descritivo (1851). São Paulo: Nacional, 1941, v. 1.
LEÃO, Armando. Notas de Medicina Popular Minhota. In: Arquivo de Medicina Popular. Porto, I, 29, 1944.
LÉVI-STRAUSS, Claude. “O Feiticeiro e sua Magia” e “A Efi cácia Simbólica”. In: Antropologia Estrutural. 4. ed. Rio de Janeio: Tempo Brasileiro, s/d.
MORAES FILHO, Mello. Festas e Tradições Populares no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1979.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e Caridade: irmandades religiosas no Rio de Janeiro Imperial, 1840-1889. Niterói, UFF, Dissertação de Mestrado, 1995.
PEREIRA, Nuno Marques. Compêndio Narrativo do Peregrino da América (1728). Rio de Janeiro: Academia Brasileira de letras, 1988, v. 1.
PRIORE, Mary del. Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil colonial. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.
RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos Mortos na Cidade dos Vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1997.
ROSÁRIO, Padre Diogo do. Flos Sanctorum ou História das Vidas de Christo e Sua Santíssima Mãe e dos Santos e Suas Festas. (Edição revista e ampliada pelo padre José Antônio da Conceição Vieira). Lisboa, Tipografi a Universal, 1869, v. II.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
MÁRCIO DE SOUSA SOARES
167MISTÉRIOS DA FÉ: DOENÇAS E RELIGIOSIDADE POPULAR DA CORTE IMPERIAL
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). 2. ed. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1978.
SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
THOMAS, Keith. Religião e o Declínio da Magia: crenças populares na Inglaterra, séculos XVI e XVII. São Paulo: Cia das Letras, 1991.
VOVELLE, Michel. Imagens e Imaginário na História: fantasmas e certezas nas mentalidades desde a idade média até o século XX. São Paulo: Ática, 1997.
WALSH, Robert. Notícias do Brasil (1828-1829). Belo Horizonte: Itatiaia, 1985, v. 1.
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO
SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
Renata VerezaUFF – Depto de História
Resumo Os diferentes níveis de contato entre muçulmanos e cristãos,
gerados pelos sete séculos de dominação muçulmana na Península Ibérica, concorrem na formação de um universo simbólico através do qual os primeiros são representados. O levantamento e análise deste conjunto de representações são fundamentais para a compreensão das relações entre estes grupos sociais e na percepção da postura castelhana, durante o século XIII, em relação aos muçulmanos, tanto residentes, quanto externos ao reino.
Palavras-chave:
Idade Média – História Ibérica – Mouros – Reconquista – Convivência
A dominação muçulmana na Península Ibérica durou mais de sete séculos e gerou um sem fi m de interações, em diferentes níveis e intensidades, entre a sociedade de al-Andaluz e os reinos cristãos do norte. Essas interações construíram uma gama de representações sobre o outro muçulmano, que variando espacial e temporalmente nos ajudam a entender como este era percebido. Uma vez sendo essa percepção mediadora da ação, a compreensão do universo simbólico associado ao outro é fundamental para compreender as relações travadas.
Durante o século XIII os reinos cristãos haviam conseguido certa hegemonia na Península Ibérica. A oscilação da fronteira cessa a partir
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
170
de meados do século e, apesar de existência de enclaves muçulmanos, os cristãos podiam se sentir os donos da península. Na prática os muçulmanos não eram mais uma ameaça militar considerável e a centralização monárquica e a afi rmação frente à Cristandade estavam na agenda real, ao mesmo tempo em que garantiam a manutenção de suas conquistas. Mas essa situação não anulou as interações entre ambos os grupos, somente deslocou a posição de um em relação ao outro.
Para que possamos entender de que maneira cristãos e mouros se relacionavam durante o século XIII na Península Ibérica, mais especifi camente dentro do reino de Castela, e que tipo de imagem criavam uns sobre os outros, uma das opções de análise é verifi car os espaços onde estas relações se desenrolavam, isto é, onde e a partir de qual situação se dava o contato. Existiam três situações ou lugares possíveis para o encontro entre um cristão e um muçulmano, que são as mesmas relatadas em todas as fontes produzidas nesse período: o cotidiano, o cativeiro e a guerra.
Esta variedade de cenários incide diretamente sobre como os mouros são representados e também mostra tipos de relação notadamente diferentes. É de extrema importância, portanto, explorar cada um destes espaços, observar seus signifi cados e relacioná-los com as representações, tanto de mouros quanto de cristãos, feitas pelas fontes produzidas neste momento. Cada personagem é representado de uma forma, ocupa uma posição e tem uma função dependendo do cenário onde se desenrola a ação.
O primeiro fato a ressaltar é que quando as fontes ambientam situações passadas na guerra ou no cativeiro, elas falam de mouros com um estatuto e uma posição frente aos cristãos bem diferentes daqueles que aparecem quando a ação se desenrola no cotidiano. Os primeiros estão em situação de confl ito aberto com os cristãos. O contato é sempre em forma de confronto, geralmente armado, e se dá em situação limite para ambos os lados. Na guerra ou no cativeiro não há, ou há pouquíssimas possibilidades do encontro se dar amistosamente. Nestes casos, o muçulmano é o estrangeiro por excelência, não só porque é diferente religiosa e culturalmente, mas porque não habita o mesmo
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
171ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
espaço, bem como é o inimigo territorial. A situação é assim de total oposição.
Quando falamos do espaço cotidiano a ação se desenrola sempre dentro da Península Ibérica, preferencialmente dentro de Castela, como no caso das legislações, e na maior parte das vezes, se referindo aos mouros que moram dentro de alguma cidade. Porém, este mouro não é tão estranho ao cristão que está lidando com ele. É alguém que habita ou faz uso do mesmo espaço que a cristandade, mesmo que de forma segregada. Há, de qualquer maneira, um convívio não belicoso, que pode ser tenso, mas não de agressão explícita. Portanto, a representação não poderia ser exatamente igual às anteriores. A situação não é de confronto aberto, não cria uma oposição tão direta, nem este mouro é um inimigo a quem se precisa necessariamente combater.
Outro ponto importante é verifi car a incidência de cada um dos cenários dentro das fontes. A guerra aparece em primeiro lugar como cenário mais recorrente em algumas obras como as Cantigas de Santa Maria, o Poema de Fernán González ou o De Hebus Hispaniae. O que já não acontece com frequência tanto nas Siete Partidas, quanto no Fuero Real. Situação explicável uma vez que ambos os códigos legislam exatamente sobre os muçulmanos que residem dentro de Castela, não cabendo nestas obras discussões a respeito dos muçulmanos de maneira geral e, mesmo que falem dos inimigos, não os tratam com tanta especifi cidade como nas outras obras citadas.
O cotidiano que aparece nessas legislações aponta muito mais para a segregação do que para o convívio. A preocupação das leis reside em delimitar as diferenças e cercear a intimidade dos contatos. Nesse sentido, o que caracteriza as relações entre cristãos e muçulmanos é a oposição. Vamos então iniciar nossa análise primeiramente falando sobre os espaços onde esta oposição é mais patente: o cativeiro e a guerra.
Estes espaços se tornam, de alguma forma, complementares, pois se no cativeiro nenhuma batalha é relatada, ela está implícita, uma vez que o cativeiro é um indicador de guerra. Dizemos isto, pois somente existe a fi gura do cativo, do prisioneiro de guerra, quando duas ou mais
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
172
comunidades políticas estão em guerra ou em confl ito. Assegurada a paz e as boas relações o ato de cativar o oponente se extingue.
O cativeiro é antes de tudo uma situação humilhante. Signifi ca que em dado momento seu oponente foi mais forte que você e pôde te aprisionar. Parece-nos que é exatamente assim que os cristãos encaravam esta situação. As Siete Partidas explicitam o fato de que mesmo sendo comum durante a guerra cristãos caírem em poder de seus oponentes, os mouros, a situação só deveria ser provisória, pois era inaceitável. Os familiares tinham obrigação de tentar resgatar o cativo, sob pena de serem até deserdados, pois, antes de tudo, a situação do subjugado era degradante. Notemos a situação do cristão, as leis dão a entender que os cativos aprisionados pelos castelhanos não se encontravam em situação semelhante, tendo em vista que o tratamento dispensado pelos cristãos aos seus prisioneiros seria consideravelmente melhor1.
O constrangimento não vem do fato destes cristãos estarem vivendo em territórios de mouros, o caso dos moçárabes era bem conhecido2, mas da maneira como viviam. O cristão cativo não era livre e não contava com nenhum tipo de garantia ou proteção. Ele chega ao território mouro em situação de inferioridade, o que pode acarretar uma série de problemas. O primeiro e mais importante é a questão da liberdade, pois uma vez cativo, o cristão podia ser vendido como escravo dentro do território muçulmano, o que não deveria ser incomum visto a naturalidade com a qual as Cantigas relatam casos deste tipo3. Os cristãos aprisionados, se não eram trocados prontamente por resgates, abasteciam o mercado escravo dentro de território muçulmano e acabavam trabalhando como servos em casa de muçulmanos.4 O fato de um cristão cair em servidão implica em atestar uma inferioridade que em momento algum foi concebida pela comunidade cristã que se considerava superior aos muçulmanos em todos os sentidos. Não por motivos bélicos, mas por
1 ALFONSO X. Las Siete Partidas del sabio Rey D. Algonso el nono. Valência: Consejo Real, 1758. Partida II, Título 29.2 Mesmo que na época de Alfonso X o fenômeno moçárabe não existisse mais em Al-andaluz, pois as comunidades cristãs haviam sido expulsas de al-Andaluz.3 ALFONSO X. Introdução de Walter Mettman. Cantigas de Santa Maria. Madrid: Castalia, 1985. Cantiga 359, v.26-29.4 Cantigas 227, 325, 83 e 176.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
173ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
motivos religiosos, seguindo o mesmo raciocínio que a fazia acreditar-se superior aos judeus e a colocar na categoria de inferior os hereges. Eram todos vistos como infi éis, discordantes das normas estabelecidas pela Igreja, por motivos diferentes, mas todos desviantes.
Como poderia então a sociedade cristã aceitar a servidão dos seus membros exatamente em relação aos infi éis? Não podia, de tal modo que isto foi terminantemente proibido pela Siete Partidas: “Judio nin moro, nin hereje, nin outro ninguno que non sea de nuestra ley, non puede aver christiano ninguno por siervo”5. Por isso a situação do cativo incomoda tanto, porque propicia um ambiente considerado inaceitável e humilhante, e através disso também o resgate é tão incentivado, pois seria a única forma de reverter isto.
Outro perigo seria a possibilidade de conversão desses cristãos ao islamismo. Os cristãos receavam que a conversão pudesse acontecer por dois motivos. Primeiro, pelo uso da força por parte dos mouros em relação aos seus cativos e, segundo, por ser a conversão uma forma de escapar a todas as pressões impostas a uma minoria e conseguir desta maneira melhorar as condições dos seus membros. Em uma cantiga, por exemplo, duas cativas cristãs são tentadas pelo demônio, que no caso trabalha a serviço dos mouros, a se converterem para assim melhorar a sua situação. O demônio lhes promete inclusive um bom casamento. A sedução acaba sendo muito persuasiva para uma das mulheres que acaba cedendo aos apelos demoníacos6. Em outra, um mouro, dono de um cristão, maltrata-o, pois ele chora por se lembrar que naquele dia, em sua cidade, está acontecendo uma festa em homenagem à Santa Maria, mostrando que os cristãos acreditavam que a pressão muçulmana se manifestava também de forma física7.
Existe de fato uma preocupação muito grande com a possibilidade de conversão a outra religião. A conversão de cristãos a outras religiões, que era expressamente proibida dentro da Cristandade, não podia ser controlada fora desta. A legislação é bastante específi ca em vedar a passagem ao islamismo ou ao judaísmo: 5 Partida IV, Título 21, lei VIII6 Cantiga 325.7 Cantiga 227.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
174
Ningun cristiano non sea ousado de tornarse judio nin moro, nin sea osado de facer su fi jo moro nin judio, et si lo alguno fi ciere, muera por ello, e la muerte deste fecho atal sea de fuego8.
Dentro de território castelhano tentava-se restringir ao máximo este tipo de possibilidade, impondo uma pena severa como forma de desestimular a conversão. Contudo, a preocupação de inserir penas, para o caso de conversão nas Siete Partidas nos indica que na prática tal tipo de ocorrência, mesmo que não fosse de todo comum, não deveria ser de todo inexistente.
Mas o que nos parece ser a principal marca das fontes em relação ao cativeiro é o comportamento dos mouros, isto é, a maneira como eles aparecem tratando os cristãos. Existe uma preocupação muito grande em caracterizar o comportamento cruel dos muçulmanos. Se a lei nos diz que o cativeiro é ruim porque os inimigos geralmente são muito cruéis e infl igem maus tratos aos cristãos9, as cantigas fornecem inúmeras demonstrações destes juízos.
A prisão é simbolizada pelas correntes, presentes em todas as cantigas sobre o cativeiro. É recorrente, também, a ambientação em masmorras, onde a imagem de opressão é ainda maior e vem acompanhada não só das correntes, mas também de fl agelos físicos como a fome e o medo10.
A posição dos cristãos é sempre de inferioridade, de impotência e de intimidamento. São retratadas pessoas acuadas, as quais estão em poder de inimigos violentos e sádicos e cuja a única salvação é a fé na Virgem. É interessante notar que tanto a legislação, quanto as Cantigas de Santa Maria, ressalvam o fato de os cristãos não serem cruéis com seus cativos. As leis dizem que os aprisionados não devem ser maltratados, enquanto as cantigas procuram caracterizar um relacionamento mais
8 ALFONSO X. Fuero Real. Valladolid: Lex Nova, 1990, livro IV, Título I, lei I. O mesmo tipo de restrição e pena também se encontra nas Siete Partidas, Cf. Partida VII, Título 25, Partida IV, Título 9 e Partida I, Título 7. As Partidas preveem uma série de outras restrições aos que se converterem, mas que, ao fi m, são anuladas pela pena máxima de morte.9 Partida II, Título 29.10 Cantiga 227.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
175ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
singelo e mais humano por parte dos cristãos, com relação aos seus servos muçulmanos.
Obviamente uma maneira de fazer “contrapropaganda” dos inimigos que, em grande medida, se mescla com histórias de cativos que conseguiram regressar e difundiram suas desventuras em suas comunidades e que não deviam enxergar seus opressores com muita simpatia. Porém, se aqui no cativeiro o mouro é representado com uma postura ativa e ameaçadora, na guerra as tintas com que são pintados adquirem cores ainda mais fortes. Parece que a guerra é o seu verdadeiro local de ação.
A guerra é o cenário que predomina nas cantigas e no Poema de Fernán González e, se nas Siete Partidas os mouros não aparecem diretamente em situações de guerra, é porque só legisla sobre aqueles que vivem em Castela e não porque não dê importância a esta. Nada menos do que 12 títulos, somando perto de uma centena de leis, legislam diretamente sobre situações de guerra, mostrando que, mais que um cenário, ou um argumento literário, a guerra é uma preocupação constante e presente, mesmo nos tempos de Alfonso X. As revoltas mudéjares de 1263 e 1264 e a existência do reino de Granada não deixavam esquecer que a possibilidade ou a necessidade de um confl ito ainda não se extinguira, portanto, Castela deveria estar sempre pronta para a batalha.
Ao mesmo tempo, uma boa parte da população na segunda metade do século XIII ainda se lembrava dos tempos de batalha e conquista e, se não participaram diretamente, tiveram contato com pessoas que nelas estiveram, ouviram histórias e as repetiram.
Naturalmente os muçulmanos representam uma ameaça. Portanto, a principal forma pela qual são representados é em situação de guerra. É nesse cenário que vemos com abundância o uso dos adjetivos pejorativos sobre os mouros. Porém, todos têm em comum a conotação de violência. Aqui os muçulmanos adquirem uma postura completamente ativa e belicosa , sempre atacando, nunca se defendendo. Seu poder de invasão é ressaltado, bem como sua capacidade de causar danos aos cristãos.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
176
Nas Cantigas são representados como guerreiros rudes, raivosos e cruéis, sempre ávidos por riquezas11. Inúmeros sãos os cristãos mortos e feridos12, as igrejas saqueadas e destruídas sem que se salvem imagens ou altares13, numa intenção de demonstrar sua infi delidade e seu desrespeito pelos locais sagrados cristãos. Os ataques são feitos preferencialmente às imagens da Virgem, que podem ser apedrejadas, queimadas, jogadas ao mar ou enterradas. A cruz, símbolo máximo cristão, e os altares, também são alvos de represálias e toda a espécie de escárnio e desrespeito por parte destes mouros.
Nas crônicas, dado seu caráter menos folhetinesco, as cores são menos carregadas e o uso de adjetivos menos recorrente. Contudo, os detalhes das batalhas são narrados minuciosamente, e mesmo que os cristãos saiam vitoriosos neste momento (século XIII), não deixam de valorizar suas vitórias, muitas vezes explicitando os obstáculos enfrentados14, a inferioridade numérica15 ou a perda de vários dos seus componentes.
Muchas vezes salien los moros de rebato por la puerta del alcazar do es agora la Iuderia, et pasauan vna ponteçilla que era sobre o Guadayra, et fazien sus espolonadas en la hueste, et matavan a muchos cristianos, et fazien mucho danno16
Na guerra os muçulmanos são representados como loucos e furiosos. Esses, aliás, são os adjetivos que são usados para descrever seu profeta17. Essa fúria com que eles são mostrados nos indica não só a inimizade, mas também o respeito com que os cristãos os enxergavam. Respeito que não indica reverência, mas ciência de estar de frente
11 Cantigas 95, 169, 229, 323, 329, 345.12 Cantigas 28, 46, 95,99, 165, 169, 176, 181, 183, 193, 227, 233, 264, 265, 277, 325, 328, 329, 344.13 Cantigas 46, 99, 183, 215, 229, 329, 345.14 Crónica de Veinte Reyes. Burgos: Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, 1991, cap. XXXI.15 Jofré de Louaysa. Crónica de los reyes de Castilla. Edição de Antonio Garcia Martínez, Murcia: Academia Alfonso X el sabio, 1985. 16 Primera crónica general de España. Ed. MENENDEZ PIDAL, Ramon. Madrid, 1955., p. 760/ f 35017 Cf. cantiga 192,
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
177ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
para um oponente de peso, forte e poderoso, ainda não completamente derrotado, e que sempre é um inimigo difícil de vencer no campo de batalha. Isso pode ser visto pelo próprio fato de algumas cantigas indicarem que os mouros ocupam várias cidades com alguma facilidade, só sendo detidos pelo poder da Virgem18.
Nitidamente os mouros não são detidos em sua fúria por nenhum cristão, bem como a cantiga mostra, seu furor se descarrega não nos fi éis, mas nos símbolos do cristianismo, indicando não um ataque somente aos homens, mas um ataque a toda a sociedade cristã. Mas esta impotência cristã também é demonstrada em outra cantiga, que ao contrário da primeira citada não se passa na Península:
De com’ eu escrit’ achei,pois que foi de crischãosConstantinobre, un reicom oste de pagãos veo a vila cercarmui brav’ e mui sannudopola per força fi llarpor seer mais temudoTodo logar mui bem pode / seer deffendudo...
E começou a dizercom sanna que avia,que sse per forá prendera cidade podia,que faria matar o poboo myudoe o tesour’ en levarque tiian escondudotodo logar mui bem pode / ser deffendudo...19
Mais uma vez os cristãos vão recorrer à Virgem para conseguirem se salvar. É ela que com seu manto impede os mouros de entrarem na cidade. Ao mesmo tempo em que, a maldade e a cobiça moura são marcadas, e sua força e poder bélico são reforçados. Os cristãos adotam, na maior parte dos casos, uma postura defensiva, mesmo que
18 Cantiga 99.19 Cantiga 28.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
178
em todas as cantigas onde são relatadas cenas de guerra os muçulmanos saiam derrotados. O que sabemos não é de todo verdadeiro, pois muitas batalhas foram perdidas pelos cristãos. Mesmo Almançor20, que infl igiu inúmeras derrotas aos cristãos é representado de maneira poderosa, mas não vitoriosa, sendo todos os confl itos relatados fi nalizados com vitória cristã.
Para fora do círculo real de produção, onde todos os documentos citados anteriormente foram produzidos, é possível ver que semelhante caracterização do mouro é recorrente. Este tipo de comparação, mesmo que não em profundidade, nos permite discernir como as imagens produzidas no círculo real se coadunam com outras que transitam, quer dentro do espaço castelhano, quer extrapolando este. Se tomarmos como primeiro exemplo uma obra que se aproxima bastante do marco temporal, no Poema de Fernán Gonzales temos a mesma qualidade de representação21. Almançor, por exemplo, quando teve “...su poder ayuntado,movió pora Castiella sañudo e irado...”22
Mais uma vez aparece a imagem guerreira, de fúria e violência. Não poderia ser diferente, pois mais da metade do poema é dedicado à guerra contra os mouros, sendo este tipo de imagem bastante frequente. Mesmo composta em outro círculo, o poema entende também o contato basicamente como confl ito, colocando os mouros como oponentes de peso, mesmo que sempre derrotados, e como guerreiros ferozes. O próprio poema se preocupa em nomear Almaçor, dirigente do califado de Córdoba, e em mencionar as difi culdades de uma batalha contra ele, que notoriamente infl igiu mais derrotas aos cristãos do que eles gostariam de admitir e que procuram não citar.
O mais interessante, porém, é a constatação do uso do mesmo tipo de vocábulos que nas obras anteriores, tais como: sannudos,
20 General muçulmano que assume o governo no fi nal do califado e que invade e saqueia diversos territórios cristãos.21 Poema de Fernán Gonzáles. Madrid: Espasa Calpe, s.d. Esta obra do século XIII é atribuída ao Mester de Clerezia, indicando sua origem erudita e monástica. De cunho bastante “nacionalista”, a obra se dedica a narrar a histórias da independência castelhana e da reconquista levada adiante por seus condes.22 Poema de Fernán Gonzáles, estrofe 198.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
179ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
irados, descreídos, mal fadados... Isto é, traça-se um perfi l do caráter dos mouros, senão idêntico, bastante parecido com os da obras antes analisadas, nos mostrando assim um vocabulário padrão comum em relação aos muçulmanos.
Existe, no entanto, uma questão que é consideravelmente mais enfatizada no Poema de Fernán Gonzáles do que nas Cantigas de Santa Maria, e que neste sentido o aproxima bastante do Cantar de Mio Cid23 e das outras crônicas: a incrível capacidade cristã em derrotar mouros mesmo estando em desvantagem. As Cantigas, apesar de glorifi carem as hostes cristãs, não descrevem as vitórias fáceis, mostrando mesmo momentos de fraqueza de seus guerreiros. Ao mesmo tempo, salvo nas cantigas onde Alfonso X, ou seu pai, Fernando III conduzem as batalhas, elas não colocam como determinante a atuação de um líder, chegando até a não indicar a existência de algum em várias delas. Já o Poema e o Cantar tem nas fi guras do Conde Fernán Gonzáles e do Cid elementos determinantes para o sucesso da empreitada e as Crônicas colocam os reis, em especial Fernando III, como os grandes responsáveis pela vitória. Nas Cantigas de Santa Maria, a fi gura determinante é a Virgem, dando uma conotação sagrada ao confl ito similar as das outras duas obras.
No tocante ao poder dos cristãos, estas obras se preocupam em frisar a superioridade quantitativa dos inimigos, ressaltando a capacidades dos cavaleiros cristãos em derrotar oponentes tão numerosos, pois segundo o Poema “... pora un cristiano avía mill descreyentes...”24, cifra sem sombra de dúvida imaginária. No Cantar de Mio Cid recolhemos o mesmo tipo de contagem generosa, dado que de uma só vez “...Cadien por el campo en un poco de logar moros muertos mill e trezientos ya.”25. Se considerarmos que a obra, logo a seguir, indica que as baixas cristãs foram somente de quinze homens, podemos entender que sua intenção foi sugerir que houve uma relativa facilidade na vitória contra o inimigo infi el. 23 Cantar de Mio Cid, Madrid: Espasa Calpe, 1976.24 Id. Ibid., estrofe 251.25 Cantar de Mio Cid, canto 36, verso 732.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
180
É a partir desta sugerida facilidade que procuramos ver que imagem de mouros é criada dentro do poema do Cid, uma vez que não são nomeados, não atuam como protagonistas, nem tem suas qualidade ou defeitos enumerados com muita frequência. A facilidade nos indica que apesar de serem entendidos também como opositores, não inspiram tanto temor como nas outras obras, o que é confi rmado pelas poucas vezes onde as reações dos mouros são descritas:
Mio Cid don Rodrigo a la puerte adeliñava; los que la tienen, quando vidieron la rebata,ovieron miedo e fo desenparada.26
Situação que nas cantigas só ocorre frente ao poder da Virgem e não simplesmente de um exército cristão. Historicamente o Cid foi um guerreiro bem sucedido, porém, trouxe vitórias efêmeras aos cristãos, uma vez que o território ganho foi perdido com sua morte, comprovando a importância de seu comando. Essa menor supremacia militar pode ser derivada do caráter da obra, que busca enaltecer o protagonista como superior a tudo e todos, não sendo assim os mouros fortes o sufi ciente para causar-lhe temor. Contudo, nos interessa ressaltar que, mesmo menos poderosos e temidos, os mouros também aqui são colocados como antítese dos cristãos, mesmo convivendo nas mesmas cidades quando da ocupação cristã.
O Poema de Fernán Gonzáles e o Cantar de Mio Cid, mesmo que em épocas diferentes, foram produzidos dentro de Castela, o que signifi ca que compartilham do mesmo espaço cultural que as outras fontes citadas. No entanto, se nos distanciarmos mais ainda deste espaço de produção, apesar das nuances, não teremos formação de imagens sobre os mouros discordantes destas apresentadas.
Em uma carta escrita por um cruzado inglês que participou da tomada de Lisboa temos uma imagem bastante semelhante às anteriores:
Caluniando-nos, vociferam contra nós estas e outras blasfêmias semelhantes. Mostram-nos também com grande irrisão o sinal da cruz, cuspiam-lhe em cima,
26 Id. Ibid., canto 23, versos 467-69.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
181ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
limpavam com ela a sujidade posterior, e depois de urinarem sobre ela, atiravam a nossa cruz no meio de nós, como um supremo opróbrio. Parecia-nos a nós que víamos então Cristo ser outra vez blasfemado pelos incrédulos, ser saudado com escarninha genufl exão, ser insultado com o cuspe dos que maldiziam...27
A imagem de mouros desrespeitando os símbolos cristãos não é nova. Mais uma vez o inimigo é pintado com cores bastante fortes, onde são ressaltados seus traços de crueldade e barbaridade. Antes de tudo, são colocados como desrespeitosos, provocando os cristãos com toda a sua perfídia, merecedores, portanto, de todas as desgraças que as vitórias cristãs lançam sobre eles.
A Reconquista levou séculos, exigiu muitos esforços e a atuação conjunta de várias forças da Cristandade para se realizar. Todavia, todo povo acostuma-se a esquecer as derrotas e vangloriar-se das vitórias, por mais que as primeiras, trancadas nos subterrâneos, em vários casos, se transformem em ódio inexorável. Alfonso X, em seu intento de afi rmação, quis que se considerassem apenas as vitórias, para assim melhor valorizar o sucesso de seu comando e de sua linhagem. Ele mesmo, ou seu pai Fernando III, aparecem em algumas cantigas lutando contra os mouros e sendo vitoriosos. Essa mesma perseverança aparece de maneira explícita nas crônicas do período.
Essa postura defensiva vai ao encontro da própria concepção cristã sobre o confl ito: uma guerra de reconquista. Jamais foi concebido pelos cristãos que após 500 anos de permanência, a Península Ibérica fosse tão cristã quanto islâmica. A Reconquista jamais foi entendida como o que realmente foi, uma guerra de conquista e expansão cristã. Os mouros não deixam de ser considerados, em hora alguma, como invasores e usurpadores de uma terra que não lhes pertence. Esta concepção faz com que os cristãos sempre em defesa do solo pátrio.
A presença muçulmana era entendida principalmente como uma invasão e, deste modo, como uma agressão que já durava 500 anos.
27 Conquista de Lisboa aos Mouros em 1147. Lisboa: horizonte, 1989, p. 53. Tradução do original latino por José Augusto de Oliveira.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
182
Essa postura permite que entendamos por que o cenário da guerra é o principal pano de fundo das relações entre cristãos e muçulmanos na documentação. Da mesma forma, podemos perceber porque a guerra é um objeto que merece tanta atenção da legislação. Uma boa parte da sociedade castelhana foi construída a partir da conquista, o próprio território castelhano é fruto da Reconquista.
A guerra é componente essencial nesta sociedade. Adeline Rucquoi chega a considerar que a sociedade castelhana foi construída toda em função e voltada para a guerra.28 Uma vez que a guerra é componente importante e esta guerra sempre foi primordialmente contra o mesmo inimigo, os mouros, é natural que as relações entre as duas culturas sejam entendidas por eles, primordialmente, como um confl ito. Acreditamos que o cenário da guerra é o que mais caracteriza a representação sobre os mouros e por isso mesmo é onde eles têm atuação mais marcante.
No entanto, quando mudamos para o cenário cotidiano, apesar de grandes diferenças na forma de representação dos mouros, ela não muda em sua essência e continua a ser negativa, mas por outro tipo de argumento. Já mencionamos que antes de tudo na guerra/cativeiro e no cotidiano as fontes fazem referência a tipos de mouros completamente diferentes. Nos primeiros cenários o contato é feito com os muçulmanos a quem os cristãos não conhecem, só encontram em situação de confl ito e, portanto, não é estabelecido nenhum tipo de relação pessoal. No segundo, as fontes se remetem aos mudéjares, aos mouros com quem estes cristãos têm algum tipo de convívio mais intenso e estabelecem relações pessoais, desiguais ou não. É o muçulmano que participa do dia a dia dos cristãos, que eles conhecem o rosto e sabem o nome. Quer porque usem os seus serviços profi ssionais, quer porque eles sejam os seus servos, ou quer por comerciarem com eles.
O cenário do cotidiano, ao contrário dos outros, não subentende obrigatoriamente um confl ito e uma ideia de oposição. Por isso mesmo, este cenário permite que se mostrem relações mais amenas. Permite até mesmo, que certa ideia de harmonia seja passada, quando se relata, por
28 Cf. em História Medieval da Península Ibérica. Lisboa: Estampa, 1995.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
183ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
exemplo, que um mouro que era mestre de obras, o qual até se sabe o nome, Ali, comanda um grupo de ambas as religiões na construção de uma igreja. Em meio aos trabalhos de construção é encontrada uma imagem da Virgem Maria o que inspira o respeito a todos, até mesmo do mouro mestre de obras.29
Mas, no entanto, esta é uma exceção na representação, sendo a mais amistosa e positiva de todas que encontramos nas fontes, e, mesmo assim, serve apenas para glorifi car mais a virgem. Na maior parte das vezes, as Cantigas mostram os mouros em condição de inferioridade prática. Os mouros que aparecem são principalmente servos de cristãos, isto é, além de derrotados e desprezados por sua fé, estão em situação ainda mais humilhante por não terem sequer sua liberdade. Outro exemplo nos dá melhor mostra de como a fé islâmica era entendida pelos cristãos:
E disse: Pagão / sse queres guarirdo demo de chão / t’as as departire do falso, vão /mui loco, vilãoMafomete cão, / que te non valerpode, e crischão / te faz e irmãonosso, e loção / sei e sem temer.30
A fé em Maomé é assimilada à fé no diabo e ambas à inefi cácia uma vez que os dois são falsos e vãos, assim ambas, além de tudo, não são verdadeiras, deixando que o fi el esteja sempre em erro. As Partidas também se remetem a uma ideia de erro e de falsidade:
Moros son una manera de gente que creen que Mahomat fue profheta, e Mandadero de Dios: e porque las obras que fi zo non muestran del tan grande Santidade, por que atan Santo estado pudesse llegar,[...]31
29 Cantiga 358.30 Cantiga 192.31 Partida VII, Título 25, prólogo.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
184
A lei confi rma a ideia de que a crença em Maomé é um equívoco e um erro. Porém, o mouro não é encarado pelos cristãos com pena, e sim com desconfi ança por acreditarem conscientemente em algo que está errado. A falsidade a partir da qual Maomé é visto refl ete sobre seus fi éis e é segundo esta ideia que são representados. Várias cantigas reportam situações em que os mouros, mesmo convivendo com os cristãos, são retratados tomando atitudes que demonstram desrespeito e até mesmo falsidade, tais como: lançar estátuas da Virgem ao mar só para que os cristãos não pudessem venerá-la32; desdenhar do poder dela33 e zombar de quem lhe é fi el. Os mouros são mostrados também em situação onde são os principais componentes de uma trama desonesta.34
Apesar da aparente tranquilidade que o cenário cotidiano pode sugerir, as situações narradas mostram que a convivência gera atritos entre os membros das duas religiões, colocando os mouros como provocadores dos confl itos. Situação que é em parte matizada pelas Siete Partidas, onde o confl ito pode ser provocado pelos cristãos, na medida em que prevê pena para os cristãos que forçarem mouros a conversão, pelo uso da violência ou do dinheiro, ou que tratarem com preconceito aqueles que tiverem se convertido35. Desta forma, a legislação nos confi rma a existência de atrito nas relações entre os membros das duas religiões, mas não as encara de forma tão maniqueísta como as Cantigas de Santa Maria.
As Siete Partidas, que atuam principalmente sobre as relações possíveis apenas no cotidiano, têm como foco a separação e não a união. A sua função é separar os dois mundos, criar uma barreira para que não exista nenhum tipo de aproximação mais íntima. Sua preocupação principal é interditar com veemência a proximidade, impedindo o contato carnal36 e a conversão, tanto ao islamismo quanto ao judaísmo e, principalmente37, que um mouro seja advogado de um cristão38 bem
32 Cantiga 183.33 Cantiga 192.34 Cantiga 186.35 Partida VII, Título 25, leis II e III.36 Partida VII, Título 28, lei X.37 Partida VII, Título 28, lei I.38 Partida III, Título 6, lei V.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
185ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
como permitindo o deserdamento39 caso haja conversão e a separação de casais40 pelo mesmo motivo. A única possibilidade acenada de inserção vem através da conversão, que transportaria o mouro para o espaço cristão e permitiria um convívio sem barreiras jurídicas, mas não livre de constrangimentos como a própria legislação mostra ao coibir o preconceito contra os conversos e as possíveis agressões que podem sofrer por parte dos cristãos:
[...] e porende mandamos que todos los christianos e christianas, de nuestro señorio, fagam honras, e bien, en todas las maneras que pudierem, a todos quantos de las creencias vinieren a nuestra Fe; bien assi como farian a outro qualquier, que de sus padres, o de sus avuelos, oviessen venido, o feydo Christian: e defendemos, que ninguno non sea osado de los deshonrar de palabra, nin de fecho, nin de les fazer tuerto, nin daño, nin mal [...]41
Contudo, uma legislação não se baseia em algo impossível ou inverossímil. Uma lei geralmente corresponde a um ato praticado que é entendido como uma agressão à sociedade. Ou seja, é necessário que o problema primeiramente exista para que uma lei seja criada no intuito de anulá-lo ou impedi-lo. Deste modo, somos levados a crer, que o cotidiano foi mais fl exível que a lei e a fi cção. Que a convivência próxima levou a contatos mais estreitos, relações mais íntimas, até mesmo de afeto, onde, em alguns casos, os laços criados pela convivência permitiam ultrapassar as diferenças religiosas e culturais. Como o representado no caso da moura, que quando vê seu pequeno fi lho morto encomenda sua alma a Virgem, ou no caso dos cristãos, que vendo uma moura com seu fi lho no colo prestes a serem queimados, oram por eles para a Virgem.42
Outro tipo de documentação dá conta deste convívio no interior das cidades. Em Sevilha, por exemplo, vemos que após a reocupação da cidade alguns elementos muçulmanos voltam a estar presentes. Mesmo sendo impossível estabelecer o tamanho da comunidade, sabemos de
39 Partida VI, Título 7, lei VII.40 Partida IV, Título 9, lei VIII. 41 Partida VII, Título 25, lei 3.42 Cantiga 205.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
186
sua existência pelo fato de existir um alcaide dos mouros na cidade na segunda metade do século XIII43. Da mesma forma, em 1252, um privilégio, Alfonso X dá as mesmas isenções fi scais que havia dado aos vizinhos de Sevilha aos mouros residentes que fossem livres44. No fi nal desse século observamos ainda outros mouros, tanto livres45 como cativos46, residindo no interior da cidade.
Apesar dessas passagens, o conjunto das fontes nos indica que situações como essas são exceções. Em uma das cantigas temos um exemplo do que parece ser uma síntese do que seriam as relações entre ambos os lados. O mais interessante desta cantiga é que se remete a um fato verídico e contemporâneo a sua produção, onde Alfonso X tem participação ativa47. O incidente ocorre em um bairro muçulmano da cidade de Múrcia durante a década de 1260, portanto, já sob dominação cristã. Neste bairro existia uma igreja, que segundo consta na cantiga, seria anterior à conquista muçulmana. Esta igreja permanecia em plena atividade sendo inclusive muito usada pelos mercadores estrangeiros, o que incomodava aos mouros, principalmente em função do badalar dos seus sinos. A comunidade então se dirige a Alfonso X, que, como frisa a cantiga, não tinha mais poder, uma vez que seu domínio estava encerrado, para que ele permitisse a destruição da igreja. Alfonso, depois de várias tentativas da população mudéjar, defere o pedido, apesar de contrariado, mas o chefe da comunidade resolve que é melhor não destruí-la. Contudo, quando, em 1264, ocorre a sublevação mudéjar, com estímulo africano, esses mesmos mouros tentam tomar a cidade, só não conseguindo, segundo a cantiga, por obra da Virgem, que ainda fez com que a cidade fi casse com uma comunidade muçulmana bastante reduzida.
43 Privilégio concedido em 1261. Sevilla, ciudad de privilégios. Ed. M. Borrero Fernández et alli. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla / Universidade de Sevilla / Fundación El Monte, 1995., doc. N. 84.44 Privilégio concedido em 1252. Sevilla ciudad de privilégios... Op. Cit., doc. N. 0845 Repartimiento de Sevilla. Ed. e Vol de Estudio por Julio González. Madrid: Colegio Ofi cial de Aparejadores y arquitectos Técnicos de Sevilla, 1951, documentos anexos, autorização para doação de casas feita por Alfonso X em 1281. p.371.46 Privilégio concedido em 1284. Sevilla ciudad de privilégios... Op. Cit., doc. N.4247 Cantiga 169.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
187ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
O narrado se encontra com a realidade, menos no que tange a defesa de Múrcia, que sabemos foi obra de Alfonso, o qual reagiu violentamente contra a revolta, sufocando-a rapidamente e ainda expulsando todas as comunidades dos locais sublevados. Mas esta cantiga nos parece uma síntese por aglutinar vários estereótipos dos mouros. A princípio os mouros são dóceis e amistosos, como convém ao convívio cotidiano, se mostram cordatos ao pedir permissão ao rei e políticos em não usar de sua permissão, mas não cessam de tentar contra a fé cristã ao quererem destruir uma igreja. A cantiga ressalta o fato de que eram exatamente as demonstrações de piedade que irritavam tanto os mouros e os imbuía da vontade de fazer mal àquele lugar considerado santo.
A virada da narrativa coincide com a virada do comportamento mouro, a docilidade é trocada pela falsidade e a revolta é considerada uma grande armadilha. Do comportamento pacato passa-se ao agressivo, indicando que o primeiro advinha da conveniência e da impossibilidade prática de reverter a situação e, uma vez que não era sincero, passaria ao segundo assim que a situação permitisse.
Se houvesse uma moral da história, ela diria que os mouros são pacatos e cordiais enquanto estão dominados, como é o caso do cotidiano, mas a sua natureza é contrária, eles são antes de tudo inimigos dos cristãos e, tendo possibilidade, eles se tornam agressivos e impiedosos, como nos casos do cativeiro e da guerra. Aparentando maior ou menor força, em todos os cenários os mouros aparecem em condição oposta aos cristãos, separados e diferentes. O fato de se inserirem em condição de inferioridade na sociedade cristã não os torna menos perigosos, pois, como querem as Partidas, o inimigo interno é ainda mais perigoso, porque como usa da falsidade os pega desprevenidos e os ataca por dentro.48
Esse cotidiano que aparece nas fontes se ambienta em Castela. Dessa forma, as situações que as Cantigas narram se não se remetem a fatos, contam histórias plausíveis, dentro de cenários que se enquadram em qualquer cidade castelhana. Podemos, assim, supor que a audiência
48 Partida II, Título19.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
188
se aproximava daquilo que era cantado e fazia correlações com sua própria vivência.
Nas cantigas os espaços não se restringem a península, mesmo que aí se concentrem, remetendo a lugares onde o confronto entre cristãos e muçulmanos ocorreram: norte da África, Constantinopla e Terra Santa. Os confl itos ocorridos no norte da África eram de fato bem recentes e esta região não deixou nunca de ser um horizonte de conquista para Alfonso X, nem mesmo para outros reis. A narração destes confl itos, portanto, poderia dar aos ouvintes a mesma sensação de proximidade e familiaridade que o relato dos confl itos ocorridos em solo da Península Ibérica. Convém lembrar que as invasões muçulmanas sobre a península sempre vieram do norte africano, sendo este um ponto nevrálgico para a defesa militar da Península.
A Terra Santa e Constantinopla são horizontes e espaços bem mais distantes, porém, de importante signifi cado. Jerusalém é a cidade mais santa de todas, de importância primeira no cristianismo, fi m máximo de todo peregrino cristão e de certa maneira ponto, onde a terra se une ao céu. Defendê-la do infi el é tarefa obrigatória e ao mesmo tempo honrosa, bem como, mostrar o inimigo atacando uma cidade santa avulta sua perfídia, mas também, aumenta a necessidade de combatê-los.
Constantinopla, apesar de não ser cidade santa acaba, mesmo dentro das cantigas, tendo uma importância fundamental. Constantinopla resistiu a seis ataques muçulmanos e, até então - no século XIII - não tinha capitulado. As cantigas se preocupam em narrar os fatos com a maior exatidão possível, mas a transforma também em cidade símbolo da resistência cristã, isto é, uma vez que ela não cedeu, deveria ser um exemplo e uma prova da superioridade cristã frente à fúria do infi el. Associa-se os sucessos dessa cidade aos sucessos castelhanos, reafi rmando a postura castelhana de defensora da Cristandade e a ideia de invencibilidade que até então Constantinopla representava.
Porém, se optarmos por um cenário ainda mais distante, como a França, onde os produtores das obras não entraram necessariamente em contato com os muçulmanos, vemos também que são formadas imagens de oposição, mas com componentes um pouco diferentes. Em
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
189ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
Alcassino e Nicoleta, em fábula bem humorada do século XIII, o que determina a impossibilidade de concretização do amor dos protagonistas é exatamente o fato de Nicoleta ser moura. Como o pai de Alcassino relata, sua mãe lhe diz que é um louco por querer se casar com uma moura:
Filho, isto não pode ser. Renuncia à Nicoleta: é uma cativa, trazida de uma terra estrangeira, que o visconde desta cidade comprou dos sarracenos e trouxe para cá. Ele a levou para a pia batismal e a fez batizar.49
A fábula é uma paródia de inversão, onde os elementos adquirem características exatamente contrárias às que deveriam ter, por isso, Alcassino é fraco e chorão e Nicoleta é muçulmana a antítese da mulher cristã, mesmo que batizada e vivendo sob as normas do cristianismo. Ou seja, apesar de batizada, Nicoleta não está completamente inserida no meio cristão, mesmo que ela não se sinta mais como muçulmana, afi nal, foi criada segundo outra lei, o seu nascimento determina sua eterna condição. Coloca-se falas cristãs em uma personagem muçulmana, fato que é exprimido pela sua opinião sobre os mouros, quando ela se recusa a casar com “... um rei pagão cheio de perfídia”50, pois são todos “bárbaros”51.
A imagem de guerra também se repete, de forma bastante parecida com as anteriores, quando “... uma frota de sarracenos surgiu pelo mar; eles atacaram o castelo, tomaram pela força, pilharam; levaram cativos e cativas...”.52 Nicoleta é feita cativa, aparecendo aqui mais uma vez o cenário do cativeiro, com todas as implicações já relatadas sobre este espaço. Sendo logo reconhecida, Nicoleta não sofre constrangimento, Isto lhe garante um ótimo tratamento por parte dos mouros, o que de maneira nenhuma ocorre com Alcassino que recebe um tratamento rude e cruel por parte dos muçulmanos, corroborando as imagens também presentes nas outras fontes antes citadas.
49 Alcassino e Nicoleta. RJ: Francisco Alves, 1989, canto II.50 Id. Ibid., canto XXXIX.51 Id. Ibid., canto XXXVII.52 Id. Ibid., canto XXXIV.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
190
Contudo, existe ainda uma última imagem que gostaríamos de comentar por ser uma das mais singulares, destoando em forma e cenário de todas as outras, mas não em signifi cação. Ela se encontra em uma das obras do ciclo arturiano compostas no século XIII por Chrétien de Troyes. Ao entrar em uma fl oresta, Yvain, o protagonista, encontra com uma criatura “... que parecia um mouro, mais feio e medonho que se possa imaginar, criatura tão horrorosa que era indescritível...”53. Segue-se a isso uma descrição das características monstruosas desta criatura. Sabemos também, que se trata de um vilão, segundo o próprio autor personagem de categoria inferior, pois para ele “[...] um homem cortês morto vale mais que um vilão vivo!”54.
Para Chrétien de Troyes, a ideia de feiura e monstruosidade se liga a representação de mouro, bem como a concepção de inferioridade através da associação com o vilão. Não existe aqui exatamente o mesmo tipo de ideia que anteriormente mostramos, contudo, a imagem que percebemos dos mouros a partir do texto é também bastante negativa. A ideia de oposição não aparece de forma tão patente, mas é percebida na oposição vilão/ nobre, colocando-se o mouro associado ao primeiro elemento da antítese. O uso da palavra vilão também é bastante recorrente nas Cantigas de Santa Maria, sendo do mesmo modo pejorativo. A ideia de oposição é reforçada quando, mais a frente, o texto coloca Rolando como modelo de cavaleiro, citando o massacre de “turcos” que ele fez55.
A imagem formada nesta obra, além de diferente das outras, desumaniza o mouro. O coloca em uma fl oresta, o relaciona com uma criatura de contornos fantásticos e monstruosos. Insere o mouro no maravilho, no irreal, o que não acontece hora alguma com as outras fontes. Mesmo no Cantar do Cid e em Alcassino e Nicoleta, onde o mouro é uma fi gura distante e sem contornos muito precisos, ele não adquire características animalescas ou irreais. Em todas as outras fontes sua imagem é bem mais negativa, mas seus contornos são bem mais
53 Chrétien de Troyes. Yvain, O cavaleiro do Leão. RJ: Francisco Alves, 1989, p. 6.54 Id. Ibid., p. 1.55 Id. Ibid., p. 45.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
RENATA VEREZA
191ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
humanos [...] O peso negativo e os contornos pejorativos, no entanto, permanecem. A animalização, provavelmente, é fruto exatamente do distanciamento dos locais de produção da fonte com as questões dos muçulmanos.
Nossa intenção na exposição dessas imagens recolhidas nas mais diferentes fontes não é, de maneira alguma, colocá-las como as únicas, nem mesmo afi rmar que qualquer fonte nos forneceria as mesmas imagens. Seria impossível esgotar todas as representações produzidas sobre os mouros pela Cristandade. Nosso levantamento é mínimo, pouco abrangente espacialmente e temporalmente.
Nossa intenção, antes de tudo, era verifi car se as imagens veiculadas por determinadas fontes, em especial, as Cantigas de Santa Maria e as Siete Partidas, eram próprias de seu lócus de produção, a corte real castelhana. Ao encontrar imagens semelhantes, que ao fi m indicam unanimemente oposição, fora deste espaço, quer de infl uência, geográfi co ou temporal, comprovamos que este tipo de imagem tem circulação bastante grande, extrapolando até mesmo o cenário castelhano e que seu uso não é restrito e pontual.
A importância de analisar parte do imaginário sobre os muçulmanos em Castela, no século XIII, reside no fato de ser este o espaço/tempo sobre o qual o mito da tolerância principalmente se baseia. A partir do conjunto de imagens apresentadas, não há como corroborar a ideia de perfeita convivência, alegoria que não somente está presente em parte da historiografi a, mas que guarda sua forma ainda na atualidade.
RENATA VEREZA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
ESPAÇOS DE INTERAÇÃO, ESPAÇOS DE CONFLITOS: A REPRESENTAÇÃO SOBRE OS MUÇULMANOS EM CASTELA NO SÉCULO XIII
192
Space of Interection, Space of Confl icts: the representatios about the muslims in Castilla during XIII
century
Abstract The different contact levels between Muslims and Christians,
generated by seven centuries of Muslim domination in the Iberian Peninsula, compete in the formation of a symbolic universe through which the fi rst ones are represented. The survey and analysis of all these representations are fundamental to the understanding of the relationships among social groups and the perception of the posture of Castile, during the XIII century, related to Muslims, both residents and outside the kingdom.
Key-words:
Middle Ages – Iberian History – Moors – Reconquest – Coexistence
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS
DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
William de Souza Martins1
ResumoEste artigo pretende discutir os modelos de santidade feminina
presentes na obra Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco (1757), de autoria do religioso beneditino D. Domingos do Loreto Couto. O trabalho enfoca particularmente o livro sétimo da obra, intitulado “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino”. A historiografi a que analisou a fonte mencionada, sob o ângulo da prática religiosa, carece de uma abordagem conceitual e documental mais sistemática. Buscando preencher esta lacuna, o fragmento da obra citada será analisado em sua totalidade, aproximando-o dos modelos de santidade feminina desenvolvidos na Baixa Idade Média e no início do período moderno. Na obra de Loreto Couto, os modelos de santidade são apresentados no texto segundo uma lógica hierárquica. Assim, situavam-se em lugar de destaque as mulheres vítimas de martírio, fi gurando em último lugar aquelas que se destacaram nas letras e nas armas. Esta gradação entre os níveis de santidade se explica por fatores específi cos existentes em Pernambuco, como também pelos atributos considerados mais relevantes para a honra feminina.
1 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, Professor Adjunto do Programa de Mestrado e do Curso de Graduação em História da Universidade Severino Sombra e do Curso de Graduação em História da Universidade Gama Filho.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
194
Palavras-chave
Santidade Feminina – História; Condição feminina em Pernambuco, séculos XVII-XVIII; Conventos femininos, séculos XVII-XVIII; Recolhimentos em Pernambuco, séculos XVI-XVIII; Irmãs terceiras em Pernambuco, séculos XVI-XVIII.
Este artigo pretende apresentar os primeiros resultados da pesquisa iniciada em julho último, por ocasião do ingresso no Programa de Mestrado em História Social da USS. Naquela ocasião, foi proposto o desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa intitulado: “A Religiosa ideal: modelos de santidade feminina na Colônia (c. 1720 – c. 1761)”. No âmbito do referido tema, procurou-se dar continuidade às investigações conduzidas, entre outros, por Leila Algranti, que em livro recente buscou analisar a construção de um ideal de santidade feminina em torno da vida da madre Jacinta de São José, a fundadora do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro (ALGRANTI, 2004, p. 93-129).
O intuito principal da pesquisa é o de confrontar ideais de santidade feminina presentes em diversas regiões coloniais. A potencialidade de uma abordagem comparativa fi cou nítida a partir da leitura da obra de Margareth de Almeida Gonçalves, que confronta a espiritualidade de Felipa da Trindade, que no século XVII era religiosa do Convento de Santa Mônica da cidade de Goa, com a de Jacinta de São José (GONÇALVES, 2005). Para proceder a tal análise, foram escolhidos relatos de freiras e de outras mulheres com fama de virtudes nas capitanias de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Assim, a base documental do estudo comparativo será constituída pelos escritos de fr. Manuel de Jesus, confessor de madre Jacinta, que foram coligidos por dois biógrafos posteriores. Quanto à Bahia, a construção de um ideal feminino de santidade será apurada na obra História da vida e morte de madre sóror Vitória da Encarnação, religiosa do Convento de Santa Clara do Desterro da Cidade da Bahia, publicada em 1720 pelo arcebispo da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide. Por fi m, quanto à capitania de Pernambuco, serão vistos dois livros: o de D. Domingos Loreto Couto, enfocado particularmente neste trabalho, e o Novo
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
195D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
orbe seráfi co brasílico, do frade franciscano Antonio de Santa Maria Jaboatão.
Conforme se apura no posfácio de José Antonio Gonsalves de Mello, o manuscrito da obra de Domingos do Loreto Couto já estava concluído em 1757, mas mereceu apenas uma primeira edição em 1904, nos Anais da Biblioteca Nacional. O autor, nascido por volta de 1696 e falecido aproximadamente em 1762, foi religioso franciscano em Portugal. Pouco observante das regras de seu instituto, foi por isto preso e condenado. Mais tarde foi transferido para o Recife, onde conseguiu “transitar” da Ordem dos Frades Menores para a de São Bento. Não participava, porém, da vida comunitária dos monges beneditinos, permanecendo fora do claustro para cuidar, entre outras ocupações, da administração dos bens das suas irmãs (MELLO in COUTO, 1981, p. 563-565)2.
A historiografi a tem explorado a obra de Domingos do Loreto Couto a partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, inserindo-a em uma análise política, em que o religioso de São Bento situa-se ao lado de outros cronistas pernambucanos que contribuíram para o desenvolvimento de um imaginário nativista próprio daquela região (MELLO, 1997, p. 79-81, p. 113-116). No que diz respeito aos estudos acerca da religiosidade na América portuguesa, o livro de Loreto Couto tem sido explorado para tratar da piedade feminina, particularmente naquelas modalidades que careciam de uma organização canônica mais formal. Assim, Riolando Azzi e Maria Valéria Rezende utilizaram a fonte em questão para tratar das chamadas “beatas enclausuradas”, isto é, das mulheres que se retiravam voluntariamente dentro das suas casas ou em recolhimentos em busca de um estado maior de perfeição religiosa (AZZI & REZENDE in AZZI, 1983, p. 56-59). Entretanto, não faziam o noviciado, a profi ssão religiosa e nem os quatro votos solenes que caracterizavam a vida monástica convencional. Luiz Mott também se interessou pelo modo de vida religioso das recolhidas, apoiando-se para isso diretamente na obra de Loreto Couto. Em sua análise, destaca 2 Todas as citações referem-se a esta edição. A ortografi a e a pontuação das citações foram atualizadas. Respeitou-se, entretanto, o uso de maiúsculas na fonte. V. também NEVES, Guilherme Pereira das. “Domingos do Loreto Couto” In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.).Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 245-246.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
196
particularmente o rigor da clausura e das práticas de ascetismo seguidas por donzelas ligadas por laços de sangue. Estas mulheres mantinham-se no estado de castidade na casa dos pais, deixando de lado o matrimônio (MOTT in SOUZA, 1997, p. 178-182).
Os autores mencionados acima se apoiaram no capítulo em que Loreto Couto trata “De vinte e duas donzelas, que por falta de conventos, onde vivessem em perpétua clausura, fi zeram das suas casas recolhimento e clausura”. Este trecho faz parte do livro sétimo da obra, intitulado: “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino. Notícia de muitas Heroínas Pernambucanas que fl oresceram em Virtude, Letras e Armas” (COUTO, 1981, p. 463-527). Este artigo pretende ir além da contribuição dos autores supracitados, buscando uma análise mais sistemática do livro sétimo dos Desagravos do Brasil. A fonte em questão será examinada tendo em vista a elaboração de ideais de santidade feminina para o contexto específi co de Pernambuco na época colonial. No prosseguimento da pesquisa, espera-se cotejar tais modelos com aqueles oriundos de outras regiões da América portuguesa.
Pensar em ideais de comportamento religioso feminino implica enquadrar a fonte sob o duplo ângulo dos estudos culturais e de gênero. A propósito dos relatos produzidos no século XVII acerca das vidas de religiosas, Mario Rosa percebe a apropriação de modelos de santidade antigos e medievais com o objetivo de legitimar comportamentos e valores exemplares (ROSA in VILLARI, 1995, p. 200). Assim, deve-se ter em mente que a obra de Loreto Couto constitui uma “representação” elaborada pelo autor a partir de diferentes opções, pressões e escolhas. Conforme assinalou Chartier:
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares e políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justifi car, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p. 17).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
197D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
Com relação aos estudos de gênero, merece uma particular menção a contribuição de Leila Mezan Algranti. Para a refl exão proposta aqui, a análise da autora contribui com pelo menos dois pontos principais. Em primeiro lugar, pode ser mencionada a discussão do ideal de honra feminina daquela época. A virtude da castidade era o elemento fundamental para a composição do referido ideal. Não obstante, a castidade se apresentava no contexto em pauta a partir de uma hierarquia. Assim, devia ser absoluta para as donzelas que ingressavam formalmente no claustro, que se recolhiam em estabelecimentos informais de devoção ou que viviam isoladas. Era relativa para as mulheres que abraçavam o estado do matrimônio. De qualquer modo, nos dois casos a castidade aparecia associada à reclusão feminina. No discurso presente em manuais de devoção, biografi as de mulheres com reputação de santidade, regras para estabelecimentos religiosos, entre outras fontes, a honra feminina andava sempre associada ao confi namento no espaço privado. Em todos os gêneros discursivos assinalados, é patente a participação de confessores, diretores espirituais e demais eclesiásticos que tinham contato com aquelas mulheres (ALGRANTI, 1993, p. 109-131).
Em contraste com o ideal de reclusão feminina produzido por homens que exerciam papéis de autoridade face às devotas e que ocupavam posições de poder no interior da Igreja, a autora procura descobrir nas entrelinhas da documentação as resistências e confl itos presentes no claustro feminino e em outros lugares de reclusão. Assim, Algranti procura analisar em que medida as mulheres coloniais preencheram com novos signifi cados um lugar associado antes de tudo à preservação da honra, conforme as expectativas dos biógrafos de condição eclesiástica e das famílias de origem. A reclusão não pode ser vista apenas como uma submissão à vontade dos pais e das autoridades clericais, devendo-se antes pensá-la como conquista de um espaço de autonomia indisponível no lar familiar ou no casamento (ALGRANTI, 1993, p. 55-59). A respeito da condição da mulher na Europa no início do período moderno, outra autora fez uma observação semelhante:
A renúncia tornou-se o caminho pelo qual muitas mulheres esperavam obter um destaque que o mundo secular não lhes permitiria. Na castidade, triunfo da renúncia, as
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
198
mulheres poderiam encontrar uma realização paralela ou superior à da esposa e mãe tão apreciada na sociedade secular (KING, 1994, p. 104).
Para completar as referências historiográfi cas e teóricas que embasaram o presente trabalho, importa refl etir também sobre o conceito de santidade. Neste particular, deve ser destacada a contribuição de André Vauchez, cuja defi nição de santidade se caracteriza pelos seguintes atributos: proximidade em relação à divindade de Cristo, o que faz do santo um “amigo de Deus”; “poder de agir em benefício dos indivíduos e das comunidades humanas”; superação da condição humana, marcada pela abstinência de alimentos e de sexo e pelo despojamento material como um todo; capacidade de agir como um intermediário entre Deus e os homens e de ser um mediador nos confl itos humanos; domínio exercido sobre os elementos naturais, o que, segundo o autor, pode representar a vitória do esforço sobre-humano que empenharam em dominar em si mesmos a natureza. Apesar desta riqueza de detalhes, o autor não pretende estabelecer uma defi nição a-histórica do santo. Assim:
A santidade atribuída a um indivíduo é indubitavelmente o refl exo de uma experiência interior, mas esta refere-se também – e talvez antes de mais – à idéia que os homens de uma certa época faziam da santidade e à função que esta revestia numa dada sociedade (VAUCHEZ, 1995, p. 125-159).
Ao pensar na historicidade dos modelos de perfeição feminina, é fundamental levar em conta o contexto da Baixa Idade Média e do início do período moderno. Seguindo os passos de Vauchez, pode-se situar nos séculos XIII e XIV o desenvolvimento de uma espiritualidade de novo tipo, afastada do monaquismo tradicional. Sintetizada na fi gura de São Francisco e no apostolado das ordens mendicantes, a prática religiosa da Baixa Idade Média caracterizou-se pela compaixão diante dos sofrimentos de Cristo. Nas diversas formas assumidas pelo culto à humanidade de Cristo, a santifi cação tornou-se acessível aos leigos e, no âmbito destes, às mulheres. É possível notar então um cristianismo
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
199D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
vivido no feminino, mais emotivo, aberto às formas mais sensíveis do sagrado, tais como a Paixão, a Sagrada Família e a infância de Cristo (VAUCHEZ in ROMANO, 1987, p. 287-291). A respeito do maciço envolvimento das mulheres naquela nova espiritualidade, uma autora assinalou que, no século XI, as mulheres representavam menos de 10% das canonizações, enquanto que no século XV o percentual sobe para 28%. Além disso, dentre os homens canonizados, quase a totalidade eram clérigos, enquanto que, por volta de 1320, as mulheres representavam 71,5% dos leigos canonizados (BYNUM, 1992, p. 60).
Diversos estudiosos da prática religiosa feminina na Baixa Idade Média concordam que a reputação de santidade era mais frequente nas ordens terceiras e nas comunidades de beguinas do que propriamente no claustro3. Nas duas primeiras formas de vida religiosa mencionadas, a devoção feminina se manifestava de modo mais informal e espontâneo, afastando-se de um controle eclesiástico mais rígido. As mulheres que participavam de uma experiência religiosa não institucional faziam apenas promessas informais de guardar a castidade, sem professar os quatro votos solenes das comunidades regulares femininas. E, ao contrário da vida religiosa conventual, em cujo ingresso era mais importante o fator de preservação do patrimônio e do status da família do que a vocação propriamente religiosa, o ingresso voluntário nas ordens terceiras e nas comunidades de beguinas representava para a mulher uma ruptura maior face ao meio de origem.
Com algumas alterações, estes fatores se mantêm no princípio do período moderno. Com relação à vida conventual tradicional, Margaret L. King ressalta a rápida expansão da população conventual em diversas cidades italianas nos séculos XVI e XVII. O crescimento vertiginoso da população conventual foi alimentado, sobretudo pelas famílias da nobreza, que preferiam “ceder as fi lhas aos conventos em vez de as deixar, com menor despesa, casar com alguém de inferior posição” (KING, 1994, p. 93). Esta imposição social explica em grande parte o quadro de indisciplina no claustro e de quebra dos 3 Além da autora supracitada, cf. PAPI, Ana Benvenuti, “Mendicant Friars and Female Pinzochere in Tuscany: From Social Marginality to Models of Sanctity” In: BORNSTEIN, Daniel & RUSCONI, Roberto. Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy (Eds.). Chicago: The Chicago University Press, 1996, p. 86.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
200
votos monásticos. Com relação às mulheres que optavam por uma vida semireligiosa comunitária – chamadas de beguinas, pinzochere, entre outras denominações – ocorre no século XV um movimento no sentido de enquadrá-las sob a autoridade eclesiástica masculina. No norte da Europa as beguinas, ligadas à corrente espiritual da devotio moderna, “faziam votos informais de castidade, usavam vestuário simples, produziam trabalho manual e professavam a imitação de Cristo” (KING, 1994, p. 114-115). No que tange à Espanha, as beatas levavam uma vida religiosa muito semelhante, caracterizada pelos votos informais de castidade, prática da caridade e devoção mística. Além das comunidades de mulheres parcialmente subordinadas ao clero, subsistem no período outras modalidades de vivência religiosa feminina: mulheres casadas e viúvas que, não podendo se consagrar à virgindade, buscavam a perfeição espiritual possível para o seu estado, anacoretas que viviam solitariamente, armas etc.
O quadro historiográfi co, contextual e teórico discutido acima fornece algumas balizas para a análise da obra de Loreto Couto, quanto às formas femininas de devoção em Pernambuco no período colonial. O livro sétimo dos Desagravos do Brasil está dividido em dezessete capítulos, que podem ser agrupados tematicamente da maneira que segue: os capítulos 1 e 2 tratam de senhoras martirizadas em defesa da castidade; o terceiro enfoca mulheres que se suicidaram para se conservar a mesma virtude; os capítulos 4, 5 e 6 mostram mulheres que, tendo levado uma vida de virtudes, padeceram de mortes violentas por falso testemunho; os capítulos 7 e 8 narram experiências de diversas pernambucanas que professaram em conventos no Reino de Portugal; os capítulos 9 e 10 tratam de mulheres que ingressaram em recolhimentos locais; o capítulo 11 trata de donzelas que “fi zeram de suas casas recolhimento e clausura”; o capítulo 12, de mulheres de “louváveis procedimentos” que vestiram o hábito das ordens terceiras; o capítulo 13, de mulheres virtuosas que viviam no estado de casadas e viúvas; o capítulo 14, de mulheres pecadoras arrependidas; o capítulo 15, de índias que fl oresceram em virtudes; os capítulos 16 e 17, de “heroínas pernambucanas cuja virtude ligava-se às letras e às armas (COUTO, 1981, p. 463-527).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
201D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
Além de testemunhar a variedade assumida pela vida religiosa feminina local, a organização dos assuntos adotada por Loreto Couto não parece ser aleatória, dialogando em parte com uma longa tradição cristã de modelos femininos de santidade. Esta tradição separa em níveis distintos de perfeição as virgens, as matronas, as viúvas e as chamadas “madalenas”, isto é, pecadoras arrependidas do seu passado de vícios. Há também distinções presentes entre a vida monástica ofi cial, associada apenas aos conventos portugueses e a vida de perfeição religiosa mais informal disponibilizada pelos recolhimentos, pelas comunidades domésticas, pela adoção de hábitos das ordens terceiras, etc. Deixando por enquanto os seis primeiros capítulos de lado, a lógica de exposição da matéria assumida por Loreto Couto não preserva apenas a distinção entre os níveis de perfeição feminina, mas também os hierarquiza segundo um critério decrescente, começando nas virgens até chegar às mulheres “decaídas”.
No início do século XIII, o bispo Jacques de Vitry escreveu um relato acerca das beguinas da região de Liège, em que se torna nítida a hierarquia dos níveis de santidade presente no texto de Loreto Couto. Distinguia entre quatro tipos de religiosas:
Primeiro, as ‘virgens santas’ noivas de Cristo, dedicadas à pobreza depois de terem rejeitado a riqueza dos pais; em segundo lugar, as matronas santas, que viviam com o noivo celeste e para ele vigiavam a castidade das virgens; em terceiro lugar, as viúvas, que pela oração, atos ascéticos e obras de misericórdia procuravam agradar a Cristo, ainda mais do que anteriormente tinham agradado aos maridos; em quarto lugar, as que tinham maridos ainda vivos e se comprometiam à continência (KING, 1994, p. 141).
O tratado do frade franciscano Francisco Arbiol pode ser visto também como um testemunho suplementar da tradição cristã, que distingue diversos tipos de devoção segundo o estado adquirido pelas mulheres4. Assim, a Ordem Terceira de São Francisco dispunha
4 ARBIOL, Fr. Francisco Arbiol, OFM. Los Terceros hijos de El Humano Serafín. La Venerable y Esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafi co Patriarca San Francisco (...). Em Zaragoza, por Pedro Carreras, 1724, p. 298.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
202
de modelos religiosos de perfeição correspondentes a mulheres de diferentes condições. Para as irmãs terceiras casadas, o modelo de santidade considerado mais adequado era a rainha de Portugal Santa Isabel, a qual, segundo as narrativas hagiográfi cas, suportou pacientemente as injúrias cometidas por seu marido, reconciliando-o também com o fi lho. Para as terceiras franciscanas viúvas, o modelo de devoção recomendado por Arbiol estava na vida de Santa Isabel, rainha da Hungria, que após a morte do marido foi afastada da corte por parentes inimigos. As duas rainhas santas destacaram-se também pelas práticas de caridade com os pobres. Para as irmãs terceiras em estado de virgindade, a Ordem Terceira de São Francisco podia contar com Santa Rosa de Viterbo, que desde a infância preferia o retiro das fl orestas e a solidão da cela na casa paterna. Destacou-se também por desafi ar a autoridade do imperador e defender o papa. Com relação às mulheres “livres”, isto é, que tendo percorrido o caminho de torpezas, se encontravam já desenganadas e penitentes, Arbiol encontrava uma equivalência na vida de Santa Margarida de Cortona, que durante cerca de dez anos levou uma vida de vícios5.
No texto de Loreto Couto, serão enfocadas em primeiro lugar as mulheres naturais de Pernambuco que professaram em conventos de Portugal. Nesta passagem da obra, é patente o imaginário nativista aludido por Evaldo Cabral de Mello. Assim, Loreto Couto estabelece uma hierarquia de merecimentos entre as pernambucanas que tomavam o estado de clausura no Reino e aquelas que o faziam em estabelecimentos de reclusão na América portuguesa:
Enquanto a essência dos votos é igualmente perfeita em todo o gênero de pessoas, mas não se pode negar que o valor das naturais de Pernambuco, que passam a Portugal para na prisão de seus Claustros sacrifi carem a Deus sua liberdade, é sem comparação maior que o valor com que
5 V. os relatos hagiográfi cos e análises das quatro santas terceiras franciscanas em BIERSACK, Fr. Louis, OFM Cap. The Saints and Blessed of the Third Order of Saint Francis. Paterson (New Jersey): Saint Anthony Guild Press, 1943, p. 40-42, 110 e 157-158. HALLACK, Cecily & ANSON, Peter F. These Made Peace. Studies in the Lives of the Beatifi ed and Canonized Members of the Third Order of Saint Francis of Assisi. Paterson (New Jersey): Saint Anthony Guild Press, 1957, p. 37-42, 48-52, 75-82 e 94-98.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
203D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
nos grilhões dos votos se prendem outras nos conventos da sua Pátria (COUTO, 1981, p. 485).
As imagens de “voluntário desterro” e de “degredo perpétuo” aparecem então associadas àquelas que preferiam a clausura no Reino às “delícias da Pátria”. O autor argumenta que as religiosas portuguesas que professavam no próprio Reino não experimentavam um exílio sagrado tão radical, na medida em que “tem parte da liberdade nas grades abertas para verem e falarem a seus Pais e parentes, o que não logram as naturais do Brasil” (COUTO, 1981, p. 486). Assim, a maior privação sofrida por estas últimas corresponde, em uma espécie de compensação, a méritos religiosos mais avantajados. Dentre as religiosas que se encontravam nesta condição, merecem particular destaque a madre sóror Ângela do Sacramento e D. Antônia Maria de Castelo Branco. A primeira era fi lha de proprietários de um engenho de açúcar situado próximo ao cabo de Santo Agostinho. Segundo o cronista pernambucano, Ângela teria resistido ao desejo dos parentes de dar-lhe um “esposo terreno”. Depois de professar em um mosteiro de Lisboa, onde contraiu grave enfermidade, foi dissuadida a ingressar no convento de Santa Clara de Coimbra. Uma tia que era religiosa neste convento lhe mandou uma medida da Rainha Santa Isabel, cujo corpo fora sepultado no mesmo estabelecimento. Tendo obtido uma inesperada melhora da doença que a acometia, “entendeu a serva de Deus que com aquela fi ta a quisera prender Santa Isabel para lhe segurar celestes aventuras” (COUTO, 1981, p. 488). Além da tia, Ângela possuía outra parenta no convento, a madre sóror Margarida da Natividade, sua irmã de sangue. Assim, ao contrário do que parece pretender Loreto Couto, a experiência do claustro não constituía apenas um exílio, dando ocasião também à reconstituição de relações familiares em outro cenário. Este aspecto foi assinalado de passagem por Maria Beatriz Nizza da Silva, quando tratou das recolhidas em Pernambuco e em outras partes da Colônia (SILVA, 2002, p. 104).
Quanto a D. Antônia Maria, era fi lha de progenitores mais ilustres. O pai, Antonio de Albuquerque Maranhão, fora governador da Paraíba, enquanto que a mãe, D. Luiza de Castelo Branco, era fi lha do conde de
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
204
Sabugal. Casou-se com Brás Teles de Menezes, cujo pai, D. Fernando Teles de Faro Menezes de Carvalho, era senhor das vilas de Lamarosa e Sarcosa, entre outros títulos nobiliárquicos. O envolvimento de D. Fernando com os espanhóis durante a guerra da Restauração trouxe difi culdades para o casal, que teve os bens confi scados. Possivelmente abalado por esta perda, o marido deixou a esposa para abraçar o instituto religioso da Terceira Ordem de São Francisco. Apoiando a decisão do marido, D. Antônia soube “quebrar as forças ao amor próprio, assim com o orvalho da Graça Divina soube apagar as chamas ao amor conjugal”, vestindo o hábito de clarissa do Convento da madre de Deus de Lisboa (COUTO, 1981, p. 493).
No livro sétimo dos Desagravos do Brasil, Loreto Couto trata de mulheres que viviam enclausuradas em estabelecimentos de reclusão chamados de recolhimentos. De acordo com Leila Algranti, este tipo de instituição teve um signifi cado mais profundo para a vida religiosa feminina na Colônia do que os conventos. Apoiando-se na documentação da época, a autora elenca alguns fatores distintivos a separar os dois tipos de fundação. Os conventos possuíam reconhecimento formal da Santa Sé e do Padroado régio, e exigiam das candidatas à freira um período probatório conhecido como noviciado, após o que faziam os quatro votos solenes que caracterizavam a vida religiosa feminina: castidade, pobreza, obediência e clausura. O recolhimento caracterizava-se em primeiro lugar pela ausência de reconhecimento canônico do Vaticano, funcionando apenas com a autorização régia. Em alguns casos, sobretudo no que tange às capitanias de Minas e de São Paulo, nem mesmo contavam com a permissão do Padroado. A variedade de mulheres que abrigavam em seu interior constituía também um dado signifi cativo, havendo donzelas que praticavam a castidade, educandas, órfãs que desejavam tomar o estado de casadas, mulheres casadas depositadas provisoriamente por seus maridos, que assim procuravam manter a sua honra. Por fi m, não havia votos solenes nos recolhimentos, sendo mais frequente que as mulheres fi zessem apenas votos simples de castidade. Segundo a autora, as semelhanças entre ambos os tipos de estabelecimentos eram mais fortes do que as diferenças (ALGRANTI, 1993, p. 72-81).
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
205D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
A fundação dos conventos também foi menos frequente do que a de recolhimentos. Até meados do século XVIII, havia apenas um único convento na América portuguesa, o de Santa Clara do Desterro da Bahia. Sobre este, os estudos mais recentes apontam a prioridade dos fatores materiais presentes no momento da fundação, em detrimento do fator religioso. O Senado da Câmara de São Salvador intercedeu diretamente para a sua fundação, tendo oferecido inclusive rendas anuais para a subsistência das religiosas. Depois de concluída a fundação, em 1677, o bispo da Bahia deu instruções expressas para que apenas uma fi lha de cada família fosse aceita no estabelecimento (NASCIMENTO, 1994, p. 72-73). Assim, parece que o principal objetivo das famílias era garantir a honra das fi lhas que não tomavam o estado de casadas, afastando simultaneamente os riscos de casamentos com pretendentes de condição social inferior. Tendo em vista os elementos já discutidos, o ingresso em um convento conferia mais status às ingressantes do que a entrada nos recolhimentos. Conforme argumenta Algranti, a política restritiva da Coroa com relação à criação de conventos na Colônia devia-se à preocupação com o povoamento do território. Ao proibir a passagem de mulheres brancas para o Reino de Portugal para tomar estado de religiosas, o alvará régio de 14 de abril de 1732 abriu caminho para o afrouxamento das restrições às fundações conventuais (ALGRANTI, 1993, p. 67). Com relação aos recolhimentos, podem ser encontrados já no primeiro século de colonização. As suas características variavam muito de um estabelecimento para outro, tendo em vista a multiplicidade de funções que desempenhavam. Contudo, comparados às fundações que contavam com o patrocínio mais direto das elites e poderes locais, como o Convento do Desterro da Bahia e o da Ajuda do Rio de Janeiro, nos recolhimentos havia um espaço mais propício às práticas religiosas.
Os capítulos 9 e 10 do livro sétimo da obra de Loreto Couto enfocam as mulheres que passaram a viver nos recolhimentos de Pernambuco. As informações do autor se referem ao período do fi nal do século XVI, ao mencionar três fi lhas de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do primeiro donatário Duarte Coelho Pereira: D. Isabel, D. Cosma e D. Luiza de Albuquerque. Tendo falecidos os pais, os parentes que as tutelavam empregaram as heranças que cabiam a cada uma na construção do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Olinda.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
206
Porém, o projeto foi possivelmente prejudicado pela política restritiva da Coroa:
Como não conseguissem as licenças necessárias para ser convento de Freiras professas, se acomodaram a viver em dito recolhimento por toda vida, posto que em hábitos seculares em Religiosos exercícios, sendo este sacrifício voluntário e muito agradável aos divinos olhos (COUTO, 1981, p. 496).
Assim, é nítida uma vez mais a importância dos laços de sangue para a vivência na clausura. Pode-se datar mais precisamente o ingresso de Maria Rosa, viúva de Pedro Leitão, no Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição. Maria Rosa praticou “com mão larga e generosa” a caridade com os pobres. Não obstante, merece maior destaque no relato a fundação de uma capela na cidade de Olinda, sob o patrocínio de Nossa Senhora das Neves. Passava os dias nesta igreja, na companhia de outras matronas, “em suave contemplação dos bens eternos, e em fervorosas orações a Maria Santíssima e a seu unigênito fi lho”. Em 1585, doou a capela aos frades franciscanos, que ali estabeleceram o seu primeiro convento no Brasil. Após este gesto piedoso, uniu-se ao Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, ao lado de outras matronas e donzelas (COUTO, 1981, p. 493)6.
No mesmo trecho da sua obra, Loreto Couto traz informações a respeito da “penitente” Joana de Jesus, cuja virtude se destacou no Recolhimento de Igarassu. O fato de tratar-se de uma mulher “parda” chama a atenção, na medida em que todos os demais modelos de santidade feminina referidos acima eram mulheres de condição branca. Joana se insere no interior do grupo das “pecadoras arrependidas”. Assim, levando uma vida licenciosa nas vilas do Recife e de Goiana, converteu-se por ocasião das missões celebradas pelo jesuíta Gabriel de Malagrida. Depois disso, rogou ao padre Miguel Rodrigues Sepúlveda, fundador e administrador do Recolhimento de Igarassu, que a admitisse como doméstica nesta instituição. Este fato é signifi cativo, pois a
6 V. também MARTINS, William de Souza. Membros do corpo místico: ordens terceiras no Rio de Janeiro (c. 1700-1822). São Paulo: Edusp, 2009, p. 87-88.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
207D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
recepção como doméstica ou empregada da casa a colocava em posição de inferioridade diante das demais recolhidas. Ciente desta condição,
Tendo-se por indigna de viver entre as mais Recolhidas, formou na cerca uma casinha de taipa, onde depois de servir nos ofícios mais vis e humildes da comunidade, se recolhia, não para descansar do trabalho, mas sim para se entregar toda à contemplação dos bens eternos. Todos os dias se açoitava rigorosamente com disciplina de ferro, trazendo o corpo apertado com rigorosos cilícios. Os jejuns eram contínuos, comendo uma só vez no dia, usando somente de alimentos singelos, e em pequena quantidade, mais para a refeição da alma do que para o sustento do corpo (COUTO, 1981, p. 498).
Esta devota destacou-se pelo isolamento e pelo rigor do ascetismo. No que tange ao primeiro fator, o relativo afastamento em que se conservava no interior do convento pode estar ligado não apenas à inferioridade que sentia. A construção que erigiu junto à cerca do recolhimento lembra um pouco as ermidas que os frades carmelitas descalços, seguidores de Santa Teresa, construíam nas hortas dos seus próprios conventos, “para gozar mais de Deus na solidão” (SANTA TERESA, 1959, p. 90 e 91). Com relação aos exercícios ascéticos, além daqueles já mencionados, adquiriu o hábito de dormir diretamente sobre a terra, tendo por travesseiro uma madeira. Segundo Loreto Couto, disto resultou a perda da sua saúde, adquirindo uma hidropisia, isto é, a cumulação de água no tecido subcutâneo, que podia ser um sintoma para diversos tipos de doença (SANTOS FILHO, 1991, p. 213). Encontrando-se totalmente paralisada, encontrou forças para se levantar e cantar o ofício de Nossa Senhora ao lado de outras recolhidas, em 11 de janeiro de 1754. Faleceu pouco depois em odor de santidade, passando os seus últimos momentos “em doces colóquios com Cristo Crucifi cado e com sua Mãe Santíssima” (COUTO, 1981, p. 499).
No capítulo 11 do livro sétimo, o cronista pernambucano trata de “vinte e duas donzelas que, por falta de conventos onde vivessem em clausura, fi zeram das suas casas recolhimento e clausura”. Sem dúvida, esta passagem do texto foi a que atraiu mais os estudiosos da religiosidade
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
208
e da condição feminina. Além dos comentários de Riolando Azzi e de Luiz Mott, referidos mais acima, Suely Creusa Cordeiro de Almeida concentrou-se no caso de seis irmãs, fi lhas de Vicente Rodrigues da Fonseca e de Luiza Pinta da Fonseca, moradores na Muribeca, termo da vila do Recife. Relaciona as práticas religiosas vividas pelas referidas irmãs aos modelos medievais de santidade, à devotio moderna e ao misticismo de Santa Teresa (ALMEIDA, 2008, p. 42-47). Reafi rmando todos estes pontos, o presente trabalho buscará analisar este exemplo central ao lado das práticas de outras devotas narradas por Loreto Couto. Nascidas na vila de Alagoas, as irmãs Maria de Castro e Beatriz da Costa viviam em perpétua clausura na casa dos pais, aplicando-se a jejuns – “não se sustentando mais que com ervas cruas e frutas silvestres” – e a disciplinas, tendo substituído os cilícios por “penetrantes espinhos”. Outra dupla de irmãs, chamadas Vicência e Helena de Castro, deram mostras de virtudes muito semelhantes. Nascidas na vila de Ipojuca, se destacaram na prática da oração. Colocavam-se de joelhos “diante de um crucifi xo, e com os braços abertos em cruz rezavam repetidos Miserere mei Deus”, desejando “acompanhar a este senhor seu Esposo nas penas, crucifi cando-se com ele na própria cruz” (COUTO, 1981, p. 501). Antes de passar à análise das irmãs de Muribeca, o autor menciona também mais três casos de mulheres que viviam recolhidas nas casas de seus pais: as sete irmãs nascidas na vila do Recife, fi lhas de Francisco Mendes e de Leonor d’Almeida; Margarida do Espírito Santo e uma irmã anônima, tendo a primeira vestido o hábito descoberto da Ordem Terceira de São Francisco. E, por fi m, D. Leonor, D. Luiza e D. Ignez, naturais do Recife, fi lhas do mestre de campo da guarnição da Bahia, Brás da Rocha. Assim, a importância dos laços de sangue parece constituir um padrão no âmbito dos recolhimentos domésticos, o que conduz, neste particular, a relativizar uma afi rmação de Margaret King, segundo a qual “a santidade feminina estava intimamente associada à ruptura da existência familiar, condição normal das mulheres”(KING, 1994, p. 141).
No mesmo capítulo, Loreto Couto desenvolve um relato mais detalhado acerca de seis irmãs, fi lhas de Vicente Rodrigues da Fonseca
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
209D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
e de Luiza Pinta da Fonseca, moradores na Muribeca, no termo do Recife. Segundo o autor, Ana, Luzia, Beatriz, Margarida, Luísa e Maria dispunham de um “retiro mais apto para a oração e contemplação dos Divinos mistérios”, pois o lar paterno fi cava no meio de uma mata. Maria Pinta, a última das irmãs mencionadas, foi considerada de vida mais prodigiosa e virtuosa. Após o falecimento dos pais, Maria construiu com ramos e barro uma casinha apartada do lar em que viviam as demais irmãs, empregando-se neste retiro a práticas ascéticas de extremo rigor. Segundo o cronista pernambucano, durante dias se alimentava apenas com o sumo azedo extraído de laranjas. A mortifi cação da carne também se evidencia na prática de pedir todas as noites a uma de suas irmãs que a amarrasse diretamente sobre o chão da casinha. “Assim atada de pés e mãos se entregava a inúmeras formigas, que saindo de suas covas investiam com o corpo da serva de Deus que, com inalterável paciência e sem algum movimento sofria as suas mordeduras”. Na mesma casinha, o “Divino Esposo” guardava o recolhimento de sua “Esposa” com uma cascavel, cujo ruído da cauda avisava aos incautos para evitarem aquele lugar. A serpente possuía uma “natural antipatia” pelas mulheres, reação que o autor explicava como “castigo em desagravo do mal que fez ao gênero humano Eva”. Não obstante, Maria conseguiu domesticá-la em sua companhia, “e com maravilhoso instinto se enroscava a um canto do cubículo todas as vezes que nele entrava algum sacerdote para administrar os sacramentos à serva do Senhor” (COUTO, 1981, p. 503-505).
O relato oferece ricas possibilidades de análise. O cronista pernambucano exclamou: “que mais podia fazer no deserto um santo Anacoreta!” De fato, as práticas religiosas de Maria remetem à tradição eremítica dos Padres do Deserto. Na América portuguesa, o deserto assume uma conotação simbólica. As matas da localidade da Muribeca lembram o “deserto-fl oresta” do Ocidente medieval que, na análise de Le Goff, também está marcado pela aridez e penitência (LE GOFF, 1985, p. 39-58). No princípio do período moderno, existe ainda a tradição dos desertos dos carmelitas descalços. Os seguidores de Santa Teresa “fundaram em cada Província Religiosa seus Desertos eremíticos em lugares solitários e aprazíveis, a fi m de que nestes Desertos se acolham os religiosos que se sentem chamados à contemplação e ao
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
210
retiro” (SANTA TERESA, 1959, p. 100)7. A iniciativa de Maria em erguer um pequeno cômodo para se entregar às suas práticas religiosas pode, assim, ter sofrido a infl uência dos modelos carmelitas. Por fi m, o controle da vontade da cascavel pode ser associado a um dos elementos da defi nição de santidade de Vauchez, isto é, a infl uência exercida pelo santo sobre os elementos naturais. A mesma passagem pode ser também interpretada relacionando-a a uma visão moral da natureza do Novo Mundo, que Sérgio Buarque de Holanda notou a propósito de diversos cronistas espanhóis e lusitanos do período colonial (HOLANDA, 1969, p. 230-232).
No capítulo 12 do livro sétimo de sua obra, Loreto do Couto enfoca “os louváveis procedimentos de algumas terceiras de São Francisco e outras do Carmo que vestiram o hábito descoberto”. Fundadas na Baixa Idade Média pelos religiosos franciscanos, dominicanos, carmelitas, entre outros frades, as ordens terceiras buscavam oferecer aos fi éis de ambos os sexos um modelo de perfeição religiosa adequado ao estado secular. Não obstante, entre os séculos XIV e XVI as ordens terceiras atraíam mais frequentemente mulheres que praticavam a oração, a caridade e o ascetismo em comunidades, observando apenas votos simples de castidade. No século XVII, os religiosos mendicantes estimularam com mais força a criação de associações de irmãos terceiros seculares de ambos os sexos e para todos os estados (MARTINS, 2009, p. 35-51)8. Até o fi nal do período colonial, manteve-se ainda um tipo de devoção medieval ligado às irmãs terceiras – mas não exclusivamente – marcado pelo uso de hábitos inteiros ou descobertos, e pela prática da castidade. Tais irmãs terceiras eram conhecidas por manteladas ou beatas (MARTINS, 2009, p. 114-117; SILVA, 2002, p. 103-108).
7 Devo à Dra. Célia Maia Borges, Profa. do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, a sugestão de relacionar os modelos de santidade presentes na América portuguesa à fundação dos desertos nas províncias carmelitas.8 V. também: PAZZELLI, Fr. Raffaele, TOR. St. Francis and The Third Order. Chicago: Francis-can Herald Press, 1989; AMBERES, Fr. Fredegando de, OFM Cap. La Tercera Orden Secular de San Francisco (1221-1921). Barcelona: Casa Editorial de Arte Católico José Vilamala, 1925; SANTA TERESA, Fr. Higino de, OCD. Apuntes para La Historia de La Venerable Orden Tercera del Carmen en España, Portugal y America. Vitoria: Ediciones El Carmen, 1954. SMET, Fr. Joa-quin, O. Carm. Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1991, v. III, p. 157-190.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
211D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
Loreto do Couto elaborou diversas narrativas de mulheres pernambucanas que viveram sob a condição acima (COUTO, 1981, p. 506-507). D. Joana de Albuquerque, natural de Olinda, era fi lha de Antonio Cavalcante de Albuquerque e de Isabel de Góes. Possuía três irmãs de sangue que haviam professado no Convento de Santa Clara de Lisboa. Foi, entretanto, impedida de seguir a vocação das mesmas, devido à ocupação holandesa. Após a “Restauração destas Províncias”, vestiu o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, vindo a falecer em 1667. Catarina Paes, nascida na vila de Alagoas, era mulher de Antonio Azevedo, que fora síndico de um convento franciscano. Com a permissão do marido, tomou o hábito descoberto dos terceiros franciscanos. O modelo de virtude que seguia tornou-a sensível à hierarquia das relações escravistas: “foi a sua humildade tão profunda, que até se reconhecia por indigna de servir as suas mesmas escravas”. Águeda de Jesus, irmã do padre Leandro Camelo, vestiu também o mesmo hábito. A humildade que praticava não fi cava nada a dever ao exemplo anterior: “sobre os seus delicados ombros carregava os materiais para a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que seu Irmão edifi cara”.
Quanto às terceiras carmelitas de hábito descoberto, aparecem dois exemplos. Em primeiro lugar Maria José, natural da vila do Recife, fi lha de “Pais nobres e ricos” cujos nomes, não obstante, são omitidos. O silêncio a respeito dos pais não parece ser casual, parecendo haver algum tipo de confl ito entre o ideal de santidade perseguido pela jovem e a vontade dos pais:
Para desengano dos que pretendiam o seu casamento, distribuiu pelos pobres a maior parte do seu dote, reservando somente quanto bastasse para uma honesta sustentação da sua família e, cortando os cabelos e depondo as galas, vestiu o hábito de Terceira do Carmo (COUTO, 1981, p. 507).
Depois disso, entregou-se a rígidas práticas de mortifi cação do corpo e aos exercícios místicos de contemplação dos mistérios divinos, nos quais “fi cou muitas vezes transportada em amoroso êxtase”. O seu diretor espiritual era D. Fr. Bartolomeu do Pilar, bispo do Pará de
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
212
1720 a 1733, e religioso carmelita (BOSCHI in BETHENCOURT & CHAUDHURI, 1998, p. 374-375). O prelado tomou contato com a irmã terceira no período em que lecionava ciências escolásticas aos padres da Congregação do Oratório do Recife. O relato de D. Juliana de Nabathas contém várias semelhanças com o exemplo anterior. Tinha nascido na vila de Ipojuca, de pais “nobres e opulentos”, cujos nomes não são referidos. Para seus parentes, foi impossível “vencer a constância em que repugnou tomar o estado conjugal”. Não lhe permitindo “embarcar-se para o Reino para ser Freira”, tomou o hábito da Ordem Terceira do Carmo. Nos exemplos referidos neste parágrafo, a adesão a um modelo de santidade signifi cava uma ruptura com a experiência da vida familiar.
Em quase todos os casos das irmãs terceiras que vestiam o hábito descoberto, é patente a infl uência direta da carreira eclesiástica a pautar os seus modos de devoção. Assim, D. Joana de Albuquerque queria seguir o exemplo das irmãs, que haviam professado solenemente em Portugal. Catarina Paes era mulher do síndico de um convento franciscano. O síndico era um homem secular que cuidava das rendas e de toda a parte contábil dos estabelecimentos religiosos franciscanos. Águeda de Jesus, por sua vez, era irmã de um sacerdote. Quanto à Juliana de Nabathas, provavelmente a sua iniciação no ascetismo e no misticismo se deve à orientação do diretor espiritual carmelita, pautado nos ensinamentos de Santa Teresa.
Dando continuidade à sequência adotada por Loreto Couto para a apresentação das pernambucanas virtuosas, no capítulo 13 do livro sétimo, o autor analisa as matronas que viveram na condição de casadas ou de viúvas. Sem haver espaço aqui para tratar da totalidade das mulheres ali mencionadas, foram escolhidos quatro relatos considerados mais representativos, baseando-se esta escolha na riqueza de detalhes presentes em cada um. Em primeiro lugar, aparece a fundadora do Hospital de Nossa Senhora do Rosário do Recife, D. Ignez Barreto de Albuquerque. Depois da morte do marido, D. João de Souza, renovou o “governo Econômico de sua casa”, de modo a evitar os desperdícios e os excessos. Destacou-se acima de tudo pela dedicação às obras de caridade, varrendo os aposentos e fazendo a cama dos enfermos do
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
213D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
hospital que fundara. Além dos doentes, deu de vestir e de comer aos pobres e dotou órfãs para tomarem estado (COUTO, 1981, p. 508-509).
Em seguida, o cronista pernambucano trata da vida de sua própria mãe, D. Laura Soares Gondim, casada com João Álvares do Couto. Particularizava-se pela frequência com que assistia às celebrações eucarísticas, ouvindo diariamente muitas missas na Igreja do Colégio dos jesuítas do Recife. Era também adepta dos jejuns frequentes, passando o ano inteiro apenas com uma refeição diária. Além disso, evitou a ingestão de carne durante trinta e sete anos, após o nascimento do último fi lho. O repetido hábito de rezar o rosário de joelhos provocou-lhe tumores nesta parte do corpo. Para se ver livre das referidas chagas, “aplicou na parte infecta o azeite da lâmpada do Altar da Senhora da Paz do Colégio do Recife, e no seguinte dia se achou sã sem sinal da moléstia”. Faleceu em 20 de outubro de 1735, sendo inumada na capela da Ordem Terceira de São Francisco em enterro solene. D. Ana da Fonseca Gondim, fi lha de D. Laura e irmã de Loreto Couto, também mereceu uma memória particular nos Desagravos do Brasil. Natural da cidade da Paraíba, casou-se com Manoel de Araújo de Carvalho, que lhe deixou dois fi lhos. Segundo o cronista pernambucano, o principal merecimento de sua irmã estava no zelo simultâneo que dedicava às coisas divinas e àquelas que diziam respeito à condição de casada: “não lhe serviam de estorvo as assistências da família e carinhos do esposo para acudir menos pronta aos exercícios espirituais”. Com a chegada da viuvez, passou a assistir missas diárias na Igreja de São Francisco do Recife. Entregou-se também à prática da caridade, “não se contentando só com o alimentar os pobres, que lhe vinham à casa, nas alheias buscava pessoas honradas e recolhidas com o remédio para as suas necessidades”. Esta descrição provavelmente se aplica aos chamados “pobres envergonhados”, isto é, indivíduos em estado de relativa pobreza, e cujo status os impossibilitava de pedir publicamente pelas ruas (SÁ, 1997, p. 26; RUSSEL-WOOD, 1981, p. 243; MARTINS, 2009, p. 221-245). Foi sepultada no mesmo templo em que jazia a sua mãe, e “foram as suas Exéquias soleníssimas, com assistência do Excelentíssimo Bispo, da ilustríssima Irmandade de São Pedro, de todo Clero, religiões, nobreza e imenso povo”(COUTO, 1981, p. 509-514).
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
214
Em contraste com as demais matronas pernambucanas, Cecília Soares destacava-se pela condição de “parda”. Este fator parece sufi cientemente signifi cativo para dedicar uma particular atenção ao relato desta mulher. A sua condição étnica provavelmente explica o silêncio de Loreto Couto em relação à ascendência. Ademais, é chamada pelo cronista pernambucano de “viúva natural”. Este qualifi cativo parece, salvo engano, aludir ao fato de que não havia contraído antes casamento. Se tais predicados a afastavam do modelo ideal de matrona virtuosa, a assistência diária à missa constituía uma característica que a aproximava do padrão encontrado em outras mulheres. Não obstante, o que levou o cronista a registrar o relato de Cecília foi, quase certamente, a visão que a parda teve no momento do ritual eucarístico, “em que mereceu ver na hóstia consagrada a Cristo bem nosso na forma de sacerdote”. Nos outros relatos de mulheres casadas e viúvas não se encontram registros tão específi cos de visões celestiais (COUTO, 1981, p. 516).
Para reconstituir com maior clareza os modelos de santidades presentes no capítulo 13, a análise deve ser aprofundada em vários pontos. Um dos aspectos que mais chama atenção é a presença de elementos autobiográfi cos neste item, com a inclusão da mãe e da irmã do cronista pernambucano entre as mulheres de vida modelar. Durante o casamento, equilibraram as práticas religiosas com o trato dos assuntos domésticos. Passando à condição de viúvas, parecem ter intensifi cado a busca espiritual. Nesta, a frequência com que assistiam às missas as distingue dos demais relatos piedosos. A atração exercida pelo ritual eucarístico sobre as duas mulheres provavelmente pode ser associada à prática continuada da comunhão. As ordens terceiras prescreviam em seus estatutos que os seus membros deveriam comungar várias vezes por ano. Compostas por grupos selecionados de fi éis, as associações de irmãos terceiros constituíam um espaço propício para estimular a comunhão frequente. Após o Concílio de Trento, esta prática era considerada um sinal de fervor religioso, indo além do preceito da comunhão pascal exigido de todos os fi éis(CHAHON, 2008, p. 246-249). Para o caso da mãe e da fi lha aqui enfocadas, é quase certo o pertencimento de ambas à Ordem Terceira de São Francisco do Recife,
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
215D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
pois foram inumadas na capela da associação. A parda Cecília Soares também se particularizava pela devoção ao sacrifício eucarístico que, em seu caso, adquiriu contornos mais místicos. A existência de visões celestiais associadas à hóstia foi uma característica importante da vivência religiosa feminina da Baixa Idade Média e do início do período moderno. As imagens parecem signifi car a valorização da dimensão humana de Cristo, venerado em seu corpo material, em seu sangue, em suas feridas, etc (BYNUM, 1992, p. 119-150; KING, 1994, p.516). Com relação à D. Ignez Barreto de Albuquerque, a fundadora do Hospital de Nossa Senhora do Rosário do Recife, direcionava a sua prática religiosa para os destinatários tradicionais da caridade: pobres, doentes, órfãs e viúvas.
Nos capítulos 14 e 15 da fonte aqui enfocada, Loreto do Couto dirige o seu olhar para duas pecadoras arrependidas e para quatro índias que “fl oresceram em virtudes”. Os dois capítulos parecem requerer uma análise em bloco, na medida em que estão repletos de referências à condição colonial destas mulheres, marcadas pela condição do cativeiro, pela conversão nas missões, etc. Para efeitos de análise, será aprofundada a metade dos relatos coligidos pelo autor. Em primeiro lugar, aparece Clara Henriques, “mulher preta, escrava de Maria Henriques, mulher meretriz, que não somente lhe faltou com doutrina santa, senão que a provocou com ruins exemplos” (COUTO, 1981, p. 516). Assim, seguindo o (mau) exemplo da dona, a escrava se entregou “a uma vida torpe”. A narrativa de Clara Henriques lembra, até certo ponto, a experiência da célebre beata e ex-prostituta Rosa, escrava na região das Minas de D. Ana Garcês de Morais, em cujo domicílio também vigorava a liberdade de costumes. Esta viveu em concubinato com Paulo Rodrigues Durão pelo espaço de dois anos, antes de contrair casamento com o mesmo (MOTT, 1993, p. 26-30). Após ser desencaminhada pela sua dona, Clara Henriques abandonou os vícios que praticava quando se encontrou diante do altar da Virgem na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nesta ocasião, arrependeu-se dos seus pecados e, banhada em lágrimas, suplicou “com o peito em terra” a intercessão de Maria.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
216
O pecado e a santidade também se encontravam unidos na narrativa de Luiza, uma índia que vivia no aldeamento jesuítico da Cascaia. Ainda que quisesse preservar a castidade, “sujeitou-se ao arbítrio de seus Pais e do Padre superior da sua Aldeia”, ligando-se pelo casamento a um “índio de sua mesma nação”. Segundo Loreto Couto, era um exemplo de mulher casada, sofrendo sem reclamar a infi delidade e a aspereza do marido. Este, com o seu comportamento, afetou a sua mulher com um mal venéreo, fi cando Luiza “toda coberta de chagas e tumores”. O padre Rogério Canísio, o superior da missão da Companhia de Jesus, acompanhou-a durante a enfermidade. Luiza narrou-lhe as visões que tivera no estado de padecimento, antes de vir a falecer em 1744:
Vi que se abria o céu, e dele saíam doze meninos de celestial formosura com tochas muito alvas nas mãos, acompanhando a outro menino belíssimo e refulgente, e dizendo-me que o seguisse, fui levada a um delicioso País, cuja beleza e amenidade nunca olhos alguns humanos divisaram, nem terrenos ouvidos perceberam. Neste lugar olhando para o meu corpo vi que cada chaga parecia uma fl amante estrela, e cada tumor um resplendente Sol. Perguntou-me o menino se eu queria fi car naquele aprazível sítio, ou tornar para a minha Aldeia: e respondendo-lhe que ali queria permanecer para sempre, desapareceu a visão (COUTO, 1981, p. 519).
Na descrição acima, percebe-se possivelmente a marca de um hibridismo cultural. Assim, a menção ao “menino refulgente” acompanhado de uma dúzia de outros meninos pode ser diretamente associada à imagem cristã do Cristo e dos apóstolos. A passagem que se refere ao “delicioso País” lembra, simultaneamente, as descrições edênicas produzidas pelos colonizadores a respeito do Novo Mundo, particularmente no que diz respeito à amenidade do clima (HOLANDA, 1969, p. 277-303). Por outro lado, pode remeter também para a mitologia tupi da “Terra sem mal”, marcada pela perpétua abundância material, e
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
217D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
onde a juventude eterna vence a doença e a morte (VAINFAS, 1995, p. 506 e 107; MÉTRAUX, 1979, p. 175-196).
Na mesma época, faleceu na aldeia de Parangaba uma índia chamada Bárbara. Mulher de bons costumes, foi assistida em seus últimos sacramentos pelo mesmo jesuíta Rogério Canísio. Após a morte, Bárbara apareceu a Suzana da Silva, que vivia casada na aldeia, pedindo-lhe que aplicasse em intenção de sua alma uma missa, para deixar o Purgatório. No mesmo dia de celebração da missa, Bárbara apareceu novamente em sonho para a outra mulher, “vestida de roupa talar, cuja brancura excedia a dos mais puros Arminhos e, banhada dos resplendores da glória, lhe disse que ia a gozar de Deus por toda a eternidade” (COUTO, 1981, p. 520). Nesta visão, são perceptíveis os sinais de distinção vinculados a determinados trajes. A passagem para o além traz uma mudança de status. Outro dado signifi cativo é a presença do padre Canísio a guiar os passos desta devota. Além de Luiza e Bárbara, o jesuíta administrou os últimos sacramentos a uma índia anônima da Aldeia de Paiacu. Para a elaboração das visões transcritas acima, a atuação do sacerdote provavelmente exerceu alguma infl uência.
Nos capítulos 16 e 17 do livro sétimo dos Desagravos do Brasil, Loreto Couto narra, respectivamente, os exemplos de pernambucanas que se destacaram nas letras e nas armas. Retomando o argumento principal deste trabalho, não parece casual que os dois capítulos constem ao fi nal do livro aludido. Na medida em que as glórias nas letras e nas armas eram antes associadas aos homens, as referidas qualidades constam em último grau dentro da hierarquia dos tipos de santidade feminina. Conforme já argumentou Leila Algranti, a honra feminina estava antes de tudo associada ao espaço privado, ao recato doméstico ou do claustro, enquanto que a honra masculina ligava-se à coragem manifestada no espaço público (ALGRANTI, 1993, p. 109-122). Dentre as seis mulheres que se destacaram pelo uso engenhoso da palavra, duas merecem uma particular referência. D. Rita Joana de Souza, nascida na cidade de Olinda e fi lha do doutor João Teixeira, que chegou a escrever opúsculos de Filosofi a Natural, interessou-se pela História da França e da Espanha, entre outras habilidades. Falecendo em 1618 com a idade de 23 anos, outros cronistas deixaram registradas as memórias
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
218
desta mulher: Diogo Barboza Machado e Diogo Manoel Ayres de Azevedo. Este último autor elaborou uma obra que, pela coincidência do título e do subtítulo, deve ter inspirado diretamente a construção das narrativas femininas de Loreto Couto9. Assim, a análise do Portugal ilustrado pelo sexo feminino certamente poderá oferecer novas chaves de leitura para o livro do cronista pernambucano aqui discutido, isto é, o “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino”. Esta rica perspectiva não foi ainda levantada pela historiografi a, salvo engano. Também se destacou nas letras pernambucanas a irmã de Loreto Couto, D. Laura Soares Gondim, de quem já se fez antes referência. Sobressaiu-se acima de tudo pelo interesse na História eclesiástica e pela História do Reino de Portugal.
No caso das mulheres que adquiriram fama através das armas, podemos dividi-las em três tipos: aquelas que intimidaram o inimigo holandês, em que se narram três exemplos de mulheres; aquelas cujo comportamento varonil as levava a não temer os castigos dos próprios maridos, que aparecem em quatro narrativas; e, por fi m, aquelas que triunfaram sobre a natureza selvagem do Novo Mundo, representadas com três relatos. Na impossibilidade de tratar aqui de todos os exemplos, foi escolhido um para cada tipo. Respeitando a hierarquia presente na obra do autor, fi guram em primeiro lugar as mulheres que se destacaram na luta contra a ocupação holandesa. Neste particular, o autor realça a atitude de D. Maria de Souza, viúva de Gonçalo Velho, nascida na vila de Serinhem (sic). Tendo perdido um genro e três fi lhos nos confl itos militares, não hesitou em chamar dois outros fi lhos, cujas idades eram de 13 e 14 anos, para se alistarem como soldados. Segundo o autor:
Com admirável constância seguiram o mesmo exemplo outras ilustres matronas nesta guerra, que sem a menor demonstração de sentimento pelos fi lhos mortos, persuadiram aos vivos, animando-os com palavras, e lembrando-lhes a obrigação que tinham de pelejar e morrer pela Fé e pela Pátria (COUTO, 1981, p. 525).
9 Trata-se da obra Portugal illustrado pelo sexo feminino: noticia historica de muytas heroinas Portuguezas, que fl orecerão em Virtudes, Letras, e Armas: Tomo I. / que escreve, e offerece a Maria Santissima Senhora Nosssa seu author Diogo Manoel Ayres de Azevedo Ulixbonense. Lisboa Occidental: na Offi cina de Pedro Ferreira, Impressor da Augustíssima Rainha N. S., 1734.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
219D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
Para qualifi car a coragem desta mulher, o autor comenta que “venceu a afl ição natural”. Assim, neste modelo de virtude está presente a superação de um dos atributos da condição feminina: o cuidado com os fi lhos. Com relação às mulheres que se impuseram a seus maridos violentos, o autor menciona o relato de Thereza de Mello que, “tendo casado com um moço natural de Lisboa, se viu dele em pouco tempo desprezada por uma mulher estranha”. Afrontada por este insulto, foi à noite a casa da concubina e dela retirou o seu marido, tratando-o com “vigorosas palavras”. O marido lhe feriu com uma faca, após o que se seguiu uma luta corporal. Thereza usou então a mesma faca que fi cara cravada em seu corpo para ferir por três vezes o marido. Teria inclusive o matado, se não fosse impedida por uma multidão. Este tipo de comportamento feminino se afasta nitidamente daquele comentado mais acima, em que matronas virtuosas suportavam as injúrias de seus pares. O autor parece aqui legitimar um tipo alternativo de comportamento feminino, em que as mulheres rompiam com uma relação de dominação, impondo-se a seus maridos. O último tipo de comportamento varonil das mulheres aparece quando enfrentavam animais selvagens. Foi o caso de Antonia Gomes, “acometida de um ferocíssimo Jaquaré, espécie de Tigre mui feroz” (sic). Após atacá-la por duas vezes, Antonia conseguiu matá-lo. A coragem da mulher se torna evidente, ainda que não se possa saber com certeza que tipo de animal a ameaçou.
Foi deixada para o fi nal a análise dos seis primeiros capítulos do livro sétimo dos Desagravos do Brasil. O autor aborda nesta parte da obra as mulheres que sofreram martírio “em defesa da castidade”; as que tiraram a sua própria vida para se conservar a “honestidade”; como também aquelas que, levando uma vida de virtudes, sofreram morte violenta por falsos testemunhos. Levando em conta a hipótese inicial da hierarquia entre os níveis de santidade feminina no relato de Loreto Couto, os três grupos de mulheres aqui enfocados se encontravam em um patamar superior. Destacaram-se de todas as demais pernambucanas por se manter inabaláveis, sob situações de violência ou de intimidação, na preservação do principal atributo da honra feminina: o recato. Em todos os casos, não se tratava de mulheres que se distinguiram por um
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
220
particular fervor religioso. No entanto, no interior da tradição cristã, este atributo é considerado defi nidor da santidade. De acordo com Peter Brown, na Antiguidade tardia o mártir era considerado o eleito de Deus, aquele que, por gozar da especial proteção divina, poderia também triunfar sobre a morte (BROWN, 1981, p. 69-80). O culto aos santos principia, assim, em torno dos túmulos dos mártires (WOODWARD, 1992, p. 64-68). Assim, percebe-se no relato de Loreto Couto alguns deslocamentos em relação aos modelos europeus, quando situa a preservação da castidade ao custo da própria vida no nível mais elevado dos modelos de santidade.
No que tange às mulheres que sofreram martírio para defender o recato feminino, o autor relaciona os respectivos relatos às agressões cometidas pelos holandeses, pelos gentios, ou pela associação de ambos. A violência da ocupação holandesa colocou num impasse as virtuosas pernambucanas:
Senhoras a que a nobreza e honestidade tivera sempre recolhidas, vendo-se expostas as tiranias, violências e bárbaras torpezas do Holandês, não atinavam com o remédio [...] As donzelas receosas de perderem a mais preciosa jóia não sabiam determinar-se em deixar a casa ou buscar o mato, porque no mato e na casa se lhes representava o mesmo perigo (COUTO, 1981, p. 465).
O autor refere que o sangue de 45 donzelas e matronas foi derramado pelos holandeses. Não obstante, a violência cometida contra tais mulheres e, particularmente, a violação do recato que guardavam no estado de virgens ou de casadas foi insufi ciente para manchar sua pureza espiritual. Assim, os holandeses puderam “violar algumas donzelas a virgindade material, mas não a virgindade formal, porque esta conservaram virtuosas, com santo e fi rme propósito de não se contaminarem com coisa venérea” (COUTO, 1981, p. 470). Em defesa de sua tese a respeito da conservação da “virgindade formal” das pernambucanas virtuosas, o autor comenta que “nenhuma concebeu daqueles forçados ajuntamentos, do que se manifesta (como sabem os Físicos) não haver da parte delas algum voluntário consentimento,
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
221D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
sendo tão forte da parte delas a resistência interior que pode vencer e destruir aquela precisa deleitação” (COUTO, 1981, p. 473). A luta que as pernambucanas virtuosas travavam no seu íntimo contra o “contágio” dos holandeses lembra o “medo da poluição” presente no imaginário das guerras de religião entre católicos e huguenotes no século XVI (DAVIS, 1990, p. 132-135). Os estudos a respeito do período da ocupação de Pernambuco mostram que o papel do catolicismo era um dos principais focos de confl ito entre os holandeses e os portugueses. Houve inclusive medidas para expulsar os padres jesuítas e os frades franciscanos que, do púlpito, incitavam a população contra os “hereges” (MELLO, 2001, p. 250-258; WÄTJEN, 2004,, p. 350-363). A “virgindade formal” impediria a propagação do sangue herético através de novos nascimentos. A honra pernambucana e a unidade religiosa católica fi cariam desta maneira asseguradas...
Dentre as 45 donzelas e matronas vitimadas pelos inimigos dos portugueses, o autor detalha os relatos de duas brancas e de duas índias. Será comentado aqui apenas um exemplo do primeiro grupo. Assim, consta a história de uma mulher anônima casada, “dotada de elegante formosura”, o que leva a supor tratar-se de uma branca. Sendo capturada pelos tamoios, foi escolhida para concubina de um dos índios. Este tentou agradá-la, para alcançar o seu objetivo. Sabedora dos planos do nativo, a mulher fugiu para os matos, sendo não obstante capturada alguns dias depois. A vingança do tamoio revelou-se brutal: teve relações sexuais com a mulher até que esta deu à luz o fi lho que estava esperando. E, à vista da mãe, “matou, assou e comeu o fi lho”. Em seguida, despedaçou também a mulher, que se tornou assim objeto da gula do tamoio, mas não de sua lascívia.
No capítulo 3, Loreto Couto examina as mulheres pernambucanas que, para conservar a castidade, mataram-se com as suas próprias mãos. O autor reconhece a reprovação do suicídio pela tradição da Igreja. Entretanto, mostra que algumas mulheres abriram mão das próprias vidas para oferecer um testemunho heroico de virtude. Movidas assim pelo Espírito Santo, não deveriam ser reprovadas mas, ao contrário, merecer a admiração coletiva. A inspiração divina era fundamental para
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
222
justifi car a perda da própria vida. O autor comenta alguns sinais que permitiam identifi cá-la:
Para se conhecer, se é de bom espírito o movimento, se julga por boa circunstância a alegria e o gosto com que os servos de Deus executam essas ações, porque os que as fazem por impulso maligno se acham tristes, temerosos e perturbados, e ordinariamente sentem repugnâncias (COUTO, 1981, p. 472).
Por fi m, nos capítulos de 3 a 6 do livro sétimo, Loreto Couto enfoca diversos casos de donzelas e matronas virtuosas que padeceram de morte violenta devido a calúnias levantadas contra a honra das mesmas. Em todos os casos citados pelo autor, os agentes que as infamavam injustamente eram escravos, do sexo masculino e feminino. Em um dos casos apenas, a denunciante foi uma mulata livre. Em todas as narrativas relatadas, os parentes da vítima eram procurados pelos algozes para conhecerem as supostas culpas. Neste caso, tornava-se particularmente importante a atuação do marido ou do pai de cada mulher. De fato, em todas as narrativas ligadas à temática em foco, existe uma tensão entre o ultraje à honra masculina, ameaçada pelos desvios morais de que as mulheres de suas famílias eram acusadas, e a preservação da honra feminina falsamente denunciada. Em quatro casos, essa tensão se resolve com a morte da mulher e/ou das fi lhas. Nesta situação fi gura, por exemplo, o relato de Fernão Bezerra de Carvalho, estabelecido com um engenho na freguesia da Várzea, nas proximidades do Recife. Movido pelo “ídolo da honra” manchada, matou a própria mulher e uma das fi lhas. Provando-se depois a inocência das mulheres acusadas, perdeu “a fama, a honra e o nome”, sendo remetido preso para a Relação da Bahia. A exceção entre todos os casos foi representada pelo doutor David de Albuquerque, da cidade de Olinda. Uma escrava denunciara que a sua mulher tinha relações adúlteras com um homem que entrava à noite em sua casa. Sem castigar imediatamente a esposa, ocultou-se no quintal para esperar o suposto intruso. Este de fato apareceu, sendo recebido a balas pelo doutor. O intruso era a própria escrava. Loreto Couto tirou
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
223D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
uma lição de moral do incidente: a escrava “no seu disfarce achou o seu castigo, e com uma morte violenta punida a sua culpa, e manifesta a inocência da senhora”. Neste exemplo, percebe-se que, apesar da relativa prudência, David de Albuquerque estava disposto a lavar a sua honra com sangue. Em todas as narrativas mencionadas, insinua-se a recomendação de que os senhores de escravos analisem com cautela os testemunhos por estes fornecidos (COUTO, 1981, p. 475-485).
À guisa de conclusão da análise dos seis primeiros capítulos do “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino”, pode-se dizer que neste trecho do relato os ideais de santidade são infl uenciados por situações específi cas ocorridas em Pernambuco, e pela condição colonial, de um modo genérico. A manutenção da castidade ao custo da própria vida, sob as ameaças de holandeses, gentios ferozes e de escravos indisciplinados, ganhou uma posição de destaque em relação aos demais modelos de santidade herdados da tradição europeia. Assim, no relato de Loreto Couto pode-se distinguir uma escrita pernambucana e colonial dos modelos de santidade, que predomina nos seis primeiros capítulos do livro sétimo, e uma narrativa tributária dos modelos europeus, que ocupa o restante do livro.
Por meio de uma análise relativamente exaustiva do livro sétimo dos Desagravos do Brasil, buscou-se analisar os modelos de santidade feminina presentes na obra de Loreto Couto. A partir de algumas defi nições conceituais prévias, tentou-se em primeiro lugar situar o relato mencionado no quadro mais amplo dos ideais de virtude feminina presentes na Baixa Idade Média e no início do período moderno. O passo seguinte foi propor, como chave de leitura da obra, um critério de perfeição hierárquico, existente também em outras fontes religiosas da época. Partiu-se em seguida para uma análise mais detida da fonte, estabelecendo tipologias internas, e intercalando este trabalho com comentários pontuais da historiografi a. Após a conclusão provisória da análise, percebe-se que pelo menos um indício signifi cativo foi deixado momentaneamente de lado: a comparação do “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino” de Loreto Couto com o Portugal ilustrado pelo sexo feminino, de Diogo Manoel
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
224
Ayres de Azevedo. No que tange aos estudos culturais e de gênero, talvez uma das contribuições relevantes da análise aqui efetuada foi a constatação de que a busca de um modelo de santidade pode introduzir uma ruptura diante das relações familiares ou, inversamente, permitir a continuidade das referidas relações em um outro contexto. A pesquisa prosseguirá doravante com a análise dos modelos de santidade feminina presentes nas obras de Jaboatão, Monteiro da Vide e dos cronistas que relataram as atividades da madre Jacinta de São José no Rio de Janeiro.
D. Domingos do Loreto Couto and the construction of womanly holiness models in the colonial era
Abstract:This article intends to discuss models of womanly holiness present
in the work Requitals of Brazil and glories of Pernambuco (1757), authored by Benedictine monk D. Domingos do Loreto Couto. The work focuses particularly on chapter seven: “Pernambuco illustrated by the feminine gender”. The historiography, which has analyzed said source under a religious practice’s point of view, lacks a more systematic approach, both documentative and conceptual. Seeking to fulfi l this blank, the fragment of the cited work will be analyzed in its totality, in order to get closer to womanly holiness models developed in Early Middle Ages and the beginning of Modern Times. In Loreto Couto’s work, holiness models are presented according to a hierarchical logic. Thus, women victims of martyrdom have been given a place of distinction and those who were skilled in literature or the arts of
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
225D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
weaponry attained the last spots. Gradation between holiness levels can be explained by specifi c factors existent in Pernambuco, as well as attributes seen as the most relevant to feminine honour.
Keywords:
Womanly holiness – History; Woman condition in Pernambuco, XVII-XVIII centuries; Women Convents, XVII-XVIII centuries; Nunneries in Pernambuco, XVI-XVIII centuries; Third Sisters in Pernambuco, XVI-XVIII centuries.
Fontes impressas:ARBIOL, Fr. Francisco Arbiol, OFM. Los Terceros hijos de El Humano Serafín. La Venerable y Esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafi co Patriarca San Francisco (...). Em Zaragoza, por Pedro Carreras, 1724.
AZEVEDO, Diogo Manoel Ayres de Azevedo. Portugal illustrado pelo sexo feminino: noticia historica de muytas heroinas Portuguezas, que fl oreceraõ em Virtudes, Letras, e Armas: Tomo I. / que escreve, e offerece a Maria Santissima Senhora Nosssa seu author (...) Ulixbonense. Lisboa Occidental: na Offi cina de Pedro Ferreira, Impressor da Augustíssima Rainha N. S., 1734.
COUTO, D. Domingos do Loreto, OSB. Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco (1757) Ed. fac-similar da de 1904. Recife: Fundação de Cultura, 1981, Livro sétimo: “Pernambuco ilustrado pelo sexo feminino. Notícia de muitas Heroínas Pernambucanas que fl oresceram em Virtudes, Letras e Armas”, p. 464-527.
Bibliografi a:ALGRANTI, Leila Mezan. Livros de devoção, atos de censura: ensaios de História do livro e da leitura na América portuguesa. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2004.
_____. Honradas e devotas: mulheres da Colônia. Condição feminina nos conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Edunb, 1993.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
226
ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. Mística e mulher – experiências femininas e o catolicismo brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro. Rio de Janeiro, a. 169, n. 438, p. 42-47, jan./mar. 2008.
AMBERES, Fr. Fredegando de, OFM Cap. La Tercera Orden Secular de San Francisco (1221-1921). Barcelona: Casa Editorial de Arte Católico José Vilamala, 1925.
AZZI, Riolando & REZENDE, Maria Valéria, “A vida religiosa feminina no Brasil colonial” In: AZZI, R. A vida religiosa no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas, 1983.
BIERSACK, Fr. Louis, OFM Cap. The Saints and Blessed of the Third Order of Saint Francis. Paterson (New Jersey): Saint Anthony Guild Press, 1943.
BOSCHI, Caio César, “Episcopado e inquisição” In: BETHENCOURT, Francisco & CHAUDHURI, Kirti (Dir.). O Brasil na balança do Império. (História da expansão portuguesa, v. III). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1998.
BROWN, Peter. The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
BYNUM, Caroline Walker. Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and Human Body in Medieval Religion. New York: Zone Books, 1992.
CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990.
CHAHON, Sergio. Os convidados para a ceia do Senhor. As missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1820). São Paulo: Edusp, 2008.
DAVIS, Natalie Zemon, “Ritos de violência” In: Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
GONÇALVES, Margareth de Almeida. Império da fé. Andarilhas da alma na era barroca. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
227D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
HALLACK, Cecily & ANSON, Peter F. These Made Peace. Studies in the Lives of the Beatifi ed and Canonized Members of the Third Order of Saint Francis of Assisi. Paterson (New Jersey): Saint Anthony Guild Press, 1957.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: Nacional, 1969.
KING, Margaret L. A mulher do Renascimento. Lisboa: Presença, 1994.
LE GOFF, Jacques, “O deserto-fl oresta no Ocidente Medieval” In: O maravilhoso e o cotidiano no Ocidente medieval. Lisboa: Ed. 70, 1985.
MARTINS, William de Souza. Membros do corpo místico: ordens terceiras no Rio de Janeiro (c. 1700-1822). São Paulo: Edusp, 2009.
MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
MELLO, José Antônio Gonsalves de. Tempo dos fl amengos: infl uência da ocupação holandesa na vida e na cultura do norte do Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001.
_____, “Posfácio” In: COUTO, D. Domingos do Loreto, OSB. Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco (1757) Ed. fac-similar da de 1904. Recife: Fundação de Cultura, 1981.
MÉTRAUX, Alfred. A religião dos tupinambás. São Paulo: Nacional: Edusp, 1979.
MOTT, Luiz, “Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu” In: SOUZA, Laura de Mello e (Org.). Cotidiano e vida privada na América portuguesa (História da vida privada no Brasil sob a dir. de Fernando A. Novais, v. 1). São Paulo: Cia. das Letras, 1997.
_____. Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993.
NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião. As enclausuradas clarissas do Convento do Desterro da Bahia, 1677-1890. Bahia: Conselho Estadual de Cultura, 1994.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
228
PAPI, Ana Benvenuti, “Mendicant Friars and Female Pinzochere in Tuscany: From Social Marginality to Models of Sanctity” In: BORNSTEIN, Daniel & RUSCONI, Roberto. Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy (Eds.). Chicago: The Chicago University Press, 1996.
PAZZELLI, Fr. Raffaele, TOR. St. Francis and The Third Order. Chicago: Franciscan Herald Press, 1989.
ROSA, Mario, “A religiosa” In: VILLARI, Rosario (Dir.). O homem barroco. Lisboa: Estampa, 1995.
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e fi lantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília: Edunb, 1981.
SÁ, Isabel dos Guimarães. Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português, 1500-1800. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997.
SANTA TERESA, Fr. Higino de, OCD. Apuntes para La Historia de La Venerable Orden Tercera del Carmen en España, Portugal y America. Vitoria: Ediciones El Carmen, 1954.
SANTA TERESA, Fr. Severino de, OCD. Santa Teresa de Jesus por las misiones. Vitoria: Ediciones El Carmen, 1959.
SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral da Medicina brasileira. São Paulo: Hucitec: Edusp, 1991.
SMET, Fr. Joaquin, O. Carm. Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1991, v. III.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Donas e plebéias na sociedade colonial. Lisboa: Estampa, 2002.
VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média ocidental, séculos VIII a XIII. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
229D. DOMINGOS DO LORETO COUTO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SANTIDADE FEMININA NA ÉPOCA COLONIAL
_____. “Santidade” In: ROMANO, Ruggiero. Mythos/logos, sagrado/profano (Enciclopédia Einaudi, v. 12). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987.
WÄTJEN, Hermann. O domínio colonial holandês no Brasil: um capítulo da História colonial do século XVII. 3. ed. Recife: CEPE, 2004.
WOODWARD, Kenneth. A fábrica de santos. São Paulo: Siciliano, 1992.
Resenhas
CHAHON, Sergio. Os convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1822). São Paulo: Edusp, 2008, 444p. Prefácio de Guilherme Pereira das Neves.
Por William de Souza Martins1
O trabalho de Sergio Chahon, originalmente uma tese de Doutorado em História Social defendida na Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Beatriz Nizza da Silva, aprofunda sob diversos ângulos a análise das práticas e representações dos católicos leigos na época colonial. No âmbito da historiografia relativa à vida religiosa dos séculos de colonização, a obra do autor ocupa um lugar importante. Durante muitas décadas, o exame da religiosidade laica foi negligenciado em abordagens que priorizavam as instituições eclesiásticas, destacando-se em particular o papel desempenhado pelos missionários jesuítas. A partir das décadas de 1960 e 1970, houve uma preocupação maior dos estudiosos em enfocar as vivências laicas da religião. Neste particular, destacaram-se os trabalhos dedicados às irmandades, em especial as misericórdias estabelecidas em diversas partes da América portuguesa e as associações leigas de culto estabelecidas na região das Minas. Sobretudo a partir dos anos de 1980, a historiografia vai buscar reconstituir as experiências de devoção dos leigos a partir de investigações nos ricos registros inquisitoriais. Sem se pautar por nenhuma destas diretrizes e, ao mesmo tempo, dialogando
1 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, Professor Adjunto do Programa de Mestrado e do Curso de Graduação em História da Universidade Severino Sombra e do Curso de Graduação em História da Universidade Gama Filho.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR232
com todas elas, a obra de Sergio Chahon descortina dimensões inéditas da vida religiosa dos fi éis católicos no período fi nal da colonização.
Tenho acompanhado por duas décadas o interesse do autor pelo estudo da religiosidade na época colonial. O primeiro resultado mais sistemático do seu interesse pelo tema foi desenvolvido na Dissertação de Mestrado, apresentada também ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, intitulada Aos pés do altar e do trono: as irmandades e o poder régio no Brasil (1808-1822). Ainda infelizmente inédito, o trabalho está inserido no conjunto de estudos que se ocupavam das irmandades coloniais. Apoiando-se no conceito de “campo religioso” de Pierre Bourdieu, o autor buscava discutir, entre outros assuntos, a rede de tensões formadas entre irmandades, capelães, párocos de freguesias e o Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, que zelava pela manutenção dos direitos do padroado exercidos pelo soberano. De recorte mais institucional, neste primeiro trabalho já era possível perceber o nível de autonomia manifestado pelos leigos na condução dos seus interesses sagrados. Em Os convidados para a ceia do Senhor, a análise das múltiplas experiências religiosas dos leigos torna-se ainda mais rica.
Está fora de qualquer dúvida a relevância do estudo das vivências leigas do catolicismo colonial, vistas sob o ângulo da assistência e da participação no ritual da missa. Devido ao lugar central ocupado pela missa na espiritualidade católica, surpreende assim que a historiografi a não tenha tentado analisar antes as hierarquias, as tensões e os signifi cados manifestados pelos colonos por ocasião das celebrações eucarísticas. Os fi éis católicos analisados pelo autor não formavam uma massa homogênea. Antes, Sergio Chahon mostra-se sensível em relação às clivagens sociais existentes, por exemplo, entre um senhor de engenho que organizava a realização das missas em seu oratório doméstico e um escravo que assistia ao mesmo ritual na varanda da casa-grande. Assim, no desenvolvimento do tema, o autor faz uma História Social das práticas religiosas. Entretanto, as hierarquias existentes entre os leigos não eram apenas de natureza sócio-econômica, encontrando-se antes associadas ao exercício de relações de poder na sociedade colonial.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
233RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR
Torna-se também nítida a manifestação do poder por ocasião das missas, na medida em que os leigos podiam ser divididos entre aqueles que se ocupavam da organização dos rituais e os que simplesmente assistiam às celebrações litúrgicas. O autor fornece ainda elementos para enriquecer o conceito de campo religioso, referido anteriormente. Os leigos não se opunham em bloco aos especialistas do sagrado – isto é, o corpo clerical – como pretende o sociólogo francês. Existiam matizes sociais, políticos e culturais a levar em conta no âmbito das vivências laicas. Além disso, os leigos não estavam destituídos de capital religioso. As condições históricas de formação do catolicismo colonial lhes abriam margens importantes de autonomia na gestão do espaço sagrado. Esta se manifestava, por exemplo, na organização de missas em sedes domésticas de culto ou nos templos das irmandades. Além de uma História Social e de uma História das relações de poder, o cardápio variado oferecido pela obra se completa através da análise das práticas e representações construídas pelos leigos por ocasião das missas. O autor empreende também, com êxito, uma História Cultural da religiosidade, preocupada com as formas de apreensão do sagrado, próprias dos leigos. Desde que o paradigma antropológico se tornou hegemônico no campo dos estudos culturais, não é conveniente analisar a religiosidade laica a partir de categorias que a inferiorizam em relação às manifestações eruditas ou clericais da religião. Adjetivos tais como “externa”, “superfi cial”, “grosseira”, etc., com os quais viajantes estrangeiros, autoridades eclesiásticas, cronistas e até estudiosos qualifi caram as manifestações da piedade laica, são mais reveladoras dos preconceitos dos observadores, afastando-se da compreensão das práticas observadas. Consciente destas questões, o autor procura entender a legitimidade própria das práticas e representações exibidas pelos leigos durante as missas, que não se confundiam obviamente com as normas clericais.
O plano de trabalho escolhido pelo autor revela muita inteligência e simplicidade. A tese está dividida em quatro capítulos, denominados sucessivamente de “Onde”, “Quando”, “Como” e “Porque”. Ao relacionar entre si os capítulos, aparece frequentemente a preocupação do autor com o “Quem”, isto é, com o perfi l dos leigos atuantes na celebração das
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR234
missas. No primeiro capítulo, o autor analisa a localização e os usos dos altares de missas situados na cidade do Rio de Janeiro e arredores. Na tarefa de situar o espaço ocupado pelos altares, o autor procura elaborar uma geografi a do sagrado, que estava constituída por relações de poder, pela inserção rural ou urbana dos possuidores dos altares, etc. Os altares de missas aparecem divididos em uma tipologia esclarecedora, que os classifi ca de acordo com três categorias: os altares de uso privado, os de uso das irmandades e ordens terceiras e os de uso público. No que diz respeito aos altares de uso doméstico, associados de praxe às capelas das casas-grandes, o autor revela aspectos praticamente insuspeitados do catolicismo colonial. A utilização dos altares domésticos era também uma prática corrente nas freguesias centrais da cidade do Rio de Janeiro, relativamente bem servida de templos para a assistência das missas. Para explicar o interesse de alguns fi éis urbanos em obterem altares privativos nos próprios domicílios, o autor chama a atenção para o desejo de distinção social e para o interesse no confi namento das mulheres da elite colonial. De fato, a autorização para possuir um altar privado levava em conta a condição de nobreza do suplicante. As autorizações eram concedidas pelo bispo diocesano, por meio da delegação de poderes emanados da autoridade apostólica, pelo núncio apostólico, ou então diretamente da Santa Sé em Roma. No que tange ao espaço rural, o altar doméstico desempenhava diferentes fi nalidades, preenchendo espaços na esgarçada malha paroquial. O próprio bispo D. José Caetano da Silva Coutinho reconheceu, em 1818, os usos públicos dos altares domésticos, considerando-os “como sucursais e auxiliares das paróquias”. Na ausência deles, os leigos “nem ouviriam missa, nem receberiam os sacramentos nem fariam outros muitos exercícios de religião” (p. 85). A análise dos usos dos altares domésticos para missas encontra-se fundamentada nas relações dos breves apostólicos de diferentes freguesias do Rio de Janeiro, disponíveis no Arquivo da Cúria Metropolitana da arquidiocese fl uminense, onde o autor fez exaustivas pesquisas.
No que toca aos altares das irmandades e ordens terceiras, estavam localizados principalmente no cenário urbano, onde era forte a concorrência entre matrizes e irmandades, e destas últimas entre si. Nas
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
235RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR
disputas havidas entre as associações de culto, saíam em vantagem as que possuíam templos próprios, em relação àquelas sediadas em altares laterais de templos alheios. Para a celebração das missas previstas nos respectivos estatutos, e de outras mais mandadas dizer em seus templos, as associações laicas contratavam capelães próprios, remunerados com os recursos de cada associação. Quanto aos altares de uso público, estavam localizados nas igrejas matrizes das freguesias, administradas em geral por vigários sustentados materialmente pela Coroa portuguesa. A defesa dos privilégios da soberania régia, cuja jurisdição na esfera eclesiástica era regulamentada pelos direitos do padroado, era feita pelo Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens. A defesa dos direitos paroquiais tornava-se mais premente no território urbano, onde havia concorrência entre as sedes de culto públicas e privadas.
O capítulo “Quando” tem como subtítulo “a inserção das missas no tempo”. Inicialmente, o autor analisa as determinações canônicas, coligidas nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, relativas aos momentos em que podia ocorrer a realização de missas, bem como a quantidade máxima de celebrações eucarísticas diárias a cargo de cada sacerdote. Sobre o primeiro aspecto, constata-se que as missas deveriam ser ditas a partir das primeiras horas da manhã até o meio-dia, salvo exceções pontuais. No que tange ao trabalho dos sacerdotes, estes podiam celebrar apenas um sacrifício eucarístico diário, excetuando-se algumas ocasiões como o Natal e o dia de Finados, quando podiam celebrar até três missas. Uma das mais relevantes discussões do capítulo acha-se no cumprimento, por parte dos leigos, do preceito da missa dominical ou paroquial. Esta determinação canônica não era seguida sem confl itos. Os prelados diocesanos procuravam que as associações leigas e os proprietários dos altares domésticos respeitassem a missa dominical na sede da paróquia. Havia ainda outras difi culdades em fazer respeitar o preceito católico da missa semanal. Muitos senhores eram acusados pelos visitadores diocesanos de impedir que os seus escravos assistissem à missa nos domingos e dias santos.
Além das celebrações ocorridas nos domingos, dias santos de guarda, festas da Virgem e dos santos inscritas no calendário litúrgico,
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR236
havia uma enorme demanda de missas aplicadas em intenção das almas do purgatório. De acordo com a doutrina da Igreja, os vivos podiam interceder pelas almas que padeciam no além purgatorial por meio de sufrágios, constituídos por orações, esmolas e, acima de tudo, por missas. Os fi éis do século XVIII deixavam em seus testamentos legados, por vezes expressivos, que deveriam ser convertidos em missas pelas almas do purgatório, pela alma do testador e para diferentes fi nalidades devocionais. Segundo o autor, isto explica em parte a maciça concentração de clérigos na cidade do Rio de Janeiro e nos maiores centros urbanos coloniais, que encontravam em tais localidades fartas encomendas de missas para engrossar as suas rendas. O papel da missa como sufrágio mais importante ocasionalmente dava origem a irregularidades nos templos. Alguns bispos fl uminenses tentaram corrigir perturbações oriundas da celebração simultânea de missas por sufrágio, nos altares laterais dos templos, enquanto ocorria a missa paroquial ou dos dias de guarda no altar-mor.
Se a comunhão do sacerdote com o corpo e o sangue de Cristo fazia parte indissolúvel do santo sacrifício da missa, exigências muito diferentes eram feitas aos fi éis para receberem a hóstia consagrada. Os cânones prescreviam a comunhão obrigatória dos leigos uma vez ao ano, por ocasião das festas da Páscoa. Não obstante, entre o cumprimento do preceito e a efetiva experiência dos leigos, o autor constata algumas distâncias. Há indícios, entre uma parcela mais selecionada dos leigos, da existência de uma busca mais assídua do ritual eucarístico. Segundo o autor, a prática da comunhão frequente entre os fi éis pode indicar uma tendência de aprofundamento da espiritualidade laica. O envolvimento devocional de alguns fi éis com a eucaristia pode talvez signifi car a superação de uma procura formal da missa, com a mera fi nalidade de atender a uma obrigação eclesiástica.
No capítulo intitulado “Como”, o autor procura analisar as atitudes dos fi éis durante as missas. Várias características presentes no ritual contribuíram para criar distâncias entre os leigos e o signifi cado canônico do ritual. Assim, a compreensão da simbologia contida no ritual, alusiva ao sacrifício feito por Cristo aos homens, era difi cultada
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
237RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR
com o uso do latim pelo sacerdote, pelo ensino defi ciente da doutrina cristã aos leigos, etc. Assim, cristalizou-se na historiografi a uma impressão de indiferentismo do fi el em relação ao que transcorria no altar por ocasião das missas. Esta imagem se baseia em grande parte em relatos de viajantes estrangeiros e em inquéritos movidos por autoridades eclesiásticas. Tais fontes precisam ser analisadas com extremo cuidado, pois estão inseridas em relações de poder próprias dos campos religioso e intelectual, que tendiam a desqualifi car as experiências devocionais próprias dos leigos. Nesse sentido, o autor vai além da simples constatação das distâncias. Procura analisar as alternativas encontradas pela instituição e pelos fi éis, que permitiram a estes se apropriarem dos signifi cados da missa. Para um pequeno grupo de fi éis alfabetizados, havia a possibilidade de se aproximar do signifi cado canônico do ritual mediante a leitura de manuais de missa, especialmente preparados para os leigos. A partir da utilização massiva desta fonte devocional, disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o autor esclarece aspectos pouco conhecidos da vida religiosa dos leigos. Para a maioria destes, no entanto, a compreensão do signifi cado formal da missa era acessível somente por meio da leitura pública dos catecismos, conforme estipulava a Igreja. A onipresença das imagens da Paixão, nos altares principais e laterais dos templos, podia se tornar um instrumento mais acessível para os fi éis apreenderem o núcleo da mensagem do sacrifício da missa. O autor observa que, para a massa dos leigos, a contemplação amorosa das imagens sagradas e dos gestos realizados pelo ofi ciante durante a celebração podia ser mais importante do que o efetivo entendimento dos signifi cados simbólicos da missa. O ritual de adoração do Santíssimo Sacramento, que passou a ser venerado pelos fi éis com lâmpadas permanentemente acesas nos altares, pode constituir um indício do envolvimento emocional dos fi éis com a celebração eucarística. Infelizmente, está fora do alcance dos historiadores da época colonial o conhecimento de um processo que poderia esclarecer defi nitivamente esta questão, isto é, o modo como ocorria a transmissão informal da religião católica no interior das famílias e das comunidades.
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR238
No período joanino, as missas celebradas nas freguesias centrais do Rio de Janeiro conheceram uma ampliação do aparato periférico de luxo. Assim, a importância da ornamentação dos templos, do acompanhamento musical, e de outros ingredientes levou o autor a empregar o conceito de “missa barroca” para o contexto em foco. A Capela Real, localizada na antiga igreja dos religiosos do Carmo, se tornou o centro de uma liturgia religiosa e política. A missa se prestava cada vez mais para fi ns políticos da monarquia que, buscando seduzir os sentidos dos súditos, podia talvez obscurecer o sentido mais essencial da missa. Não obstante, para o bispo D. José Caetano da Silva Coutinho, a pompa estava a serviço da propagação da mensagem cristã, não funcionando como obstáculo para a compreensão da mesma. Esta impressão não era partilhada pelos viajantes estrangeiros.
O quarto e último capítulo intitula-se “Porque: das razões e da necessidade da missa”, e pode ser mais sinteticamente resumido com o recurso às próprias palavras do autor: para os leigos, “a celebração eucarística se apresenta essencialmente como um meio de cultuar a Deus nos santos e mais intercessores sobrenaturais, agradecer aos céus pelas graças recebidas e suplicar ao mesmo Deus por novas graças” (p. 359 e 360). Assim, nesse capítulo, o autor lança luzes a respeito dos vínculos devocionais estabelecidos entre os fi éis e determinados intercessores celestes, homenageados através das missas. Nas alianças formadas entre os leigos e os santos de sua particular devoção, a oferta de missas podia signifi car uma retribuição de uma graça obtida por intermédio do advogado celeste.
Nestas linhas, não se buscou esgotar as questões oferecidas pelo autor, tentando-se apenas indicar aquelas que pareceram mais férteis de indagações. Como em qualquer trabalho acadêmico, há pontos em que o leitor especializado pode sentir necessidade de mais detalhes. É o caso, por exemplo, dos papéis desempenhados na sociedade colonial por alguns leigos analisados pelo autor, particularmente os proprietários de oratórios domésticos. São questões que podem ser alvo de novas investigações, por parte da comunidade dos historiadores ou do próprio autor. Para fi nalizar, o livro de Sergio Chahon tem tudo
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
WILLIAM DE SOUZA MARTINS
239RESENHA: OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR
o que se espera de uma grande tese: ousadia na proposição de novos problemas, inteligência na maneira de abordá-los, trabalho meticuloso com as fontes e uso seletivo e rigoroso de estudos especializados na fundamentação e desenvolvimento do tema. Além do mais, o leitor tem a grata satisfação de encontrar uma escrita clara e limpa que, à semelhança de uma boa peça oratória, fl ui como o curso de um rio. Espera-se ter contribuído para partilhar, entre os interessados no estudo do catolicismo colonial, o generoso banquete eucarístico oferecido pelo autor. E incentivá-los a dar continuidade à pesquisa de Sergio Chahon, aprofundando-a e aperfeiçoando-a naquilo que for possível.
A desconstrução do discurso médico sobre o suicídio no Brasil do século XIX
LOPES, Henrique Fábio. Suicídio & Saber médico: estratégias históricas de domínio, controle e intervenção no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
Por Ana Maria Dietrich1
Escrever sobre suicídio não parece tarefa das mais tranquilas quer seja na atualidade, quer seja no Brasil do século XIX como o faz Fábio Henrique Lopes. Tema tabu dentro das ciências e das religiões – carregando a associação forte com o pecado e com a ida das almas para o inferno – olhando-se para o nome do trabalho, parece, em um primeiro momento, que o leitor vai encontrar algo pesado, mas não é o que acontece.
Falando com destreza sobre as relações entre gênero, paixões, loucura e suicídio, o autor utiliza a análise de diferentes vozes que emitem saberes e opiniões sobre o tema, priorizando o discurso médico. Lopes traça – então, com primor um perfi l singular tendo como base a história
cultural, na construção e desconstrução do discurso e sua referência teórica principal é o trabalho de Michel Foucault sobre práticas discursivas e na intensa relação entre discurso e práxis.
1 Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Professora adjunta da Universidade Severino Sombra e autora do livro Caça às Suásticas (Imprensa Ofi cial, 2007).
ANA MARIA DIETRICH
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: A DESCONSTRUÇÃO DO DISCURSO MÉDICO SOBRE O SUICÍDIO NO BRASIL DO SÉCULO XIX242
Para adentrar no século XIX, o autor pontua primeiramente os paradigmas da saúde que mudaram do século XVIII para o XIX com os estudos de Durkheim e Freud que racionalizam grande parte do saber médico, o primeiro o analisando como fato social e o segundo como um desequilíbrio entre a pulsão da morte (Thanato) e da vida (Eros). Segundo Lopes, a partir do século XIX, estreita-se a relação entre saneamento das cidades e a saúde dos seus moradores. A ideia principal, nesse sentido, seria de reorganizar e reurbanizar o espaço de maneira a sanear as moradias. Ele atém seu olhar no foco de concentração da época mostrando que a saúde – representada pelo discurso médico – se preocupava mais com o processo de higienização das cidades e menos com os próprios indivíduos detentores de doenças, como era até o século XVIII. Nesse momento há uma grande contribuição do autor, pois a dicotomia saúde versus poder é explicitada na relação discurso médico e Estado enquanto aparelho constituído. Partindo do discurso, Lopes caminha por isotopias que ligam a insalubridade à ignorância e ao atraso. O objetivo fi nal de tais projetos sanitaristas seria o de regenerar a sociedade através da prática do controle médico.
Traçando esse contexto inicial, Lopes parte para seu principal objeto de pesquisa, o suicídio. Cuidadoso no tratar metodológico, destaca que o próprio discurso médico não é atemporal, mas que advém dele os pressupostos que vão nortear a maneira de se pensar o suicídio. A transferência de agentes produtores de conhecimento – do fi lósofo – no século XVIII para o médico é primordial para se entender tais nuances. Mesmo a associação com a loucura, dentro do discurso médico, faz com que haja uma descriminalização do suicídio, uma vez que a pessoa que incorreria a tal ato não estaria com as funções mentais em ordem – diferentemente do anteriormente pensado, que o potencial suicida carregaria o peso de incorrer em pecado gravíssimo.
Logo após fazer tais distinções, ele concentra suas análises no discurso médico do Brasil do século XIX, dizendo, em primeiro lugar, que é um discurso masculino carregado de valores morais da época, valores que situavam a mulher em um papel monolítico de ser mãe, esposa e dona de casa. Isso fi ca bem evidente no seu quarto capítulo, quando faz a relação entre casamento e suicídio. O casamento é
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
ANA MARIA DIETRICH
243RESENHA: A DESCONSTRUÇÃO DO DISCURSO MÉDICO SOBRE O SUICÍDIO NO BRASIL DO SÉCULO XIX
representado como uma “arma” contra alterações mentais que levariam ao suicídio. A mulher solteira estaria, então, mais propensa a se suicidar, afogada em “águas turvas da insanidade”. Os homens solteiros também estariam mais propensos a se suicidar. Dessa maneira, o autor enfatiza o papel do casamento como instituição higiênica.
Ainda dentro dessas dúbias relações de gênero encontram-se as explicações da época sobre o fato de que os homens se suicidavam mais do que as mulheres. Como explicar isso, visto que a mulher era sempre colocada como o sexo frágil e que por essa lógica, sucumbiria mais frequentemente à prática do suicídio? Curiosamente, Fábio mostra, nesse caso em especial, uma inversão na lógica do discurso para explicar esse acontecimento. Segundo tal lógica, os homens teriam mais força, inteligência e por isso conseguiriam levar até as últimas consequências o ato de dar cabo à própria vida. Enquanto às mulheres, sobrariam desejos, mas faltaria coragem. Mais um indício levantado pelo historiador de como esse discurso médico está profundamente ligado às vozes masculinas da época.
Nesse mesmo sentido, é curioso e instigante como são descritas as diferentes formas de se chegar ao suicídio, por homens e mulheres. As mulheres, segundo tal discurso, prezariam por manter a aparência depois da morte, por isso optavam por morte por asfi xia por carbono e prefeririam instrumentos encontrados no seu próprio espaço, dentro do âmbito privado, enquanto os homens optariam pela estrangulação, armas de fogo e armas brancas. Quanto aos suicidas que optavam pela submersão, os homens prefeririam rios e mares – espaços públicos e relacionados ao universo feminino – enquanto as mulheres preferiam se atirar nos poços de suas casas.
No capítulo 5, Lopes mostra que o controle perpetuado pelos médicos chegava até aos hábitos de leitura dos indivíduos. A literatura que versasse sobre o suicídio – por causar exaltação da imaginação – deveria ser uma prática a ser evitada. Temia-se que os leitores encontrassem nela exemplos a serem seguidos. As obras literárias eram vistas como “agentes de contágio” e o melhor a se fazer era se calar frente a esse “perturbador e desconfortável” tipo de morte, o suicídio. O tácito “calar-se” é analisado pelo autor de uma maneira primorosa. A
ANA MARIA DIETRICH
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: A DESCONSTRUÇÃO DO DISCURSO MÉDICO SOBRE O SUICÍDIO NO BRASIL DO SÉCULO XIX244
literatura enquanto expressão artística e sublime de uma sociedade seria transgressora desse falar ofi cial dos discursos médicos, provocando críticas da parte desse poder instituído.
Nesse momento, o autor exemplifi ca com poemas e trechos de romances que tinham esse potencial efeito subversivo, se posso falar assim. A escrita leve, dinâmica, quase uma crônica, nesse momento, revela-se ainda mais pungente. Lopes se solta ainda mais e o leitor ganha com isso com algo bastante distante de teses acadêmicas recheadas de um pretenso discurso científi co que muitas vezes não diz nada a ninguém. A obra Suicídio & Saber Médico – resultado da tese de Doutorado do autor no Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas da UNICAMP – mostra-nos como é possível reunir em um mesmo texto elementos científi cos e metodológicos muito bem embasados e sedimentados, com uma escrita dinâmica e prazerosa e além de tudo, sensível, sensibilidade essa mais que necessária para um assunto delicado e controverso. Recomenda-se também a leitura de Suicídio – teia discursiva e relações de poder na imprensa campineira, fi nal do século XIX, primeira incursão de Lopes sobre a temática – quando desenvolveu seu mestrado. Somam-se então oito anos debruçado sobre o assunto, com o prodígio de não cair na pieguice, no apelo sentimental e emocional e nas imagens fáceis de corpos sendo atirados de janelas.
Destaca-se também a atualidade da obra em pleno século XXI – que fecha sua primeira década com o saldo das mortes de milhares de civis e de pilotos suicidas que atiraram seus aviões nas torres do Word Trade Center no 11 de setembro de 2001, com a tragédia de Columbine, nos Estados Unidos marcada pelo assassinato efetuado por dois estudantes que mataram 12 colegas e um professor antes de cometerem suicídio, sem contar os anônimos que ainda se atiram de prédios, se jogam nos rios e se envenenam. Discutir o suicídio, como nos alerta Lopes em sua introdução, deve ser ainda feito sem preconceitos e conclusões a priori, procurando encontrar “formas plurais” para se problematizar a questão.
Ilustração: Caricatura da Revolta da Vacina (1904). O saber médico investe contra a “barbárie” da favela.Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/images/rodrigues_alves_vacina.jpg
Apresentação do Número 2
Este segundo número do volume 11 da Revista do Mestrado da USS estrutura-se, à semelhança do primeiro, em três partes: Artigos, Dossiê e Resenhas.
Os dois artigos que abrem este número apresentam temas e abordagens instigantes e inovadores. Em Um Rio de Águas: Técnicos, Estado e estrutura urbana carioca entre os anos 1840/1870, Lúcia Silva propõe uma leitura dos projetos de melhoramento para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente aqueles relativos ao abastecimento de água, a partir da atuação dos técnicos das principais repartições do estado imperial (Intendência de Polícia, a Inspetoria das Obras Públicas e a Junta de Higiene Pública).
Victor Andrade de Melo oferece uma interpretação da História do Esporte como um campo relativamente novo e construído não apenas por “historiadores profissionais”, mas por estudiosos de várias disciplinas. A partir da análise da produção existente, o autor de História do Esporte – um Panorama propõe a constituição de um campo de investigação, denominado de “Estudos do Esporte”, numa aproximação da perspectiva dos Estudos Culturais. Ainda que isso não signifique exatamente o fim do campo específico “História dos Esportes”, considera-se que a adoção de uma perspectiva multidisciplinar é fundamental para o estudo das práticas corporais institucionalizadas.
O Dossiê HISTÓRIA E IDEIAS POLÍTICAS é formado de quatro artigos e merece destaque em razão de dois aspectos principais. Em primeiro lugar, em função da qualidade dos artigos que o compõem. Em segundo lugar, pela centralidade do tema para os pesquisadores do LEHP, laboratório vinculado ao PPGH-USS. A produção das ideias políticas, suas vinculações sociais e o seu papel nos contextos de crise
política têm sido temas relevantes nas produções desses pesquisadores. O Dossiê é mais uma oportunidade de diálogo entre as publicações do Programa – aqui representadas pelo artigo de Eduardo Scheidt – e aquelas provenientes de outros espaços acadêmicos.
Apesar de tratarem de contextos bastante diferentes, tanto do ponto de vista da cronologia quanto da espacialidade, os quatro artigos do Dossiê apresentam interseções importantes. Primeiramente, o tipo de fonte utilizado. A imprensa periódica é o locus privilegiado de produção e de difusão de ideias políticas em três desses artigos. Amparados pelos pressupostos teóricos de uma nova história política, os três autores pensam a imprensa não como fonte de informação para a História, mas como “agente político” num determinado contexto histórico. Além disso, a própria noção de contexto histórico é repensada a partir da atuação de núcleos restritos ou de comunidades argumentativas. A História Política é compreendida não somente a partir dos acontecimentos políticos na esfera do Estado, mas a partir da atuação de grupos e “atores secundários” que, através de seus instrumentos (jornais, revistas, panfletos, manifestos) configuram o espaço do debate político em torno de projetos antagônicos.
Ponto de convergência entre os quatro artigos é, sem dúvida, a própria noção de ideia política, entendida não como produção intelectual dos “grandes autores”, mas resultado da reflexão política de “atores secundários” associada a certo contexto político. Dessa forma, os autores da revista Civilização Brasileira, da Revista Americana, os articulistas dos jornais Cidade do Rio e do Novidades, tanto quanto Simón Bolivar e Francisco Bilbao são considerados produtores de ideias, com atuação importante num certo debate político.
Assim, o Dossiê estrutura-se em torno de abordagens e questões comuns, apesar de seus artigos apresentarem objetos de análises diversos.
Dois artigos se inscrevem no século XIX, um no Brasil, outro na América Latina. Iram Rubem, em Pedro II não morreu. E agora?, analisa o contexto pós-abolição no Brasil, indicando a permanência do movimento abolicionista em torno da continuidade de um projeto
reformador e identificando as ideias políticas pró e contra a permanência da monarquia.
Eduardo Scheidt, em Representações da integração americana nas ideias políticas de Simón Bolívar e Francisco Bilbao, examina dois projetos de integração para a América Latina no decorrer do século XIX: o do libertador Simón Bolívar, durante o processo de independência; e o do intelectual chileno Francisco Bilbao, à época da consolidação dos regimes oligárquicos.
Fernando Luiz Vale Castro também analisa projetos relativos à integração sul-americana, mas relativos ao período 1909-1919, no contexto da diplomacia brasileira. Em Um periódico para se pensar a América e sua proposta de construção de uma moral diplomática sul-americana, o autor examina na Revista Americana, publicada pelo Itamaraty, os debates sobre o papel da diplomacia brasileira no concerto internacional, principalmente no que se refere ao posicionamento da América do Sul no contexto mundial.
Já Heloisa Jochims Reichel, em A crise do marxismo e a Primavera de Praga nas publicações da revista Civilização Brasileira, propõe uma análise dos conflitos e dos debates entre intelectuais brasileiros no desenrolar da crise do marxismo e da invasão da Checoslováquia em agosto de 1968.
O presente número se encerra com as resenhas elaboradas por Nancy Cardoso Pereira (sobre a obra A questão agrária no Brasil, organizada por João Pedro Stédile) e por José D’Assunção Barros (sobre o livro Idades da História de Marco Antônio Lopes). Certamente, a relevância dos temas aliada à destreza dos comentadores saberão despertar a curiosidade do leitor.
Eduardo Cruz
Sumário
Artigos
Um Rio de Águas: Técnicos, Estado e Estrutura Urbana Carioca entre os Anos 1840/1870 ..................................................................255Lúcia Silva
História do Esporte: Um Panorama ..............................................275Victor Andrade de Melo
Dossiê – História e Ideias Políticas
A Crise do Marxismo e a Primavera de Praga nas Publicações da Revista Civilização Brasileira ........................................................301Heloisa Jochims Reichel
Um Periódico Para se Pensar a América: A Revista Americana e Sua Proposta de Construção de Uma Moral Diplomática Sul-Americana .................................................................................323Fernando Luiz Vale Castro
Representações da Integração Americana nas Ideias Políticas de Simón Bolívar e Francisco Bilbao .................................................347Eduardo Scheidt
Pedro II não Morreu. E Agora? ...................................................371Iram Rubem
254
Resenhas
STÉDILE, João Pedro (org.). A questão agrária no Brasil - o debate tradicional: 1500-1960. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2005...................................................391nancy Cardoso Pereira
LOPES, Marco Antônio. Idades da História. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. ...........................................................................397José D’Assunção Barros
aRTIGOs
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA
CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870
Lúcia Silva1
Resumo:Por meio da problematização do abastecimento de água na cidade
do Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado, mais especifi camente entre as décadas de 1840 e 1870, este trabalho analisa a discussão e a atuação dos técnicos alocados nas principais repartições do Estado imperial voltados para os problemas da Corte. O principal objetivo desta narrativa é articular a formação de um ideário técnico à instituição de uma administração pública voltada para resolução dos problemas urbanos, neste caso, o abastecimento de água e como sua alocação prepara desigualmente os espaços da cidade.
Palavras chaves:
Administração – Império – abastecimento de água– Rio de Janeiro.
Este trabalho é parte de uma pesquisa cujo objetivo é analisar o processo histórico de construção dos problemas urbanos na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1813 e 1876. A pesquisa privilegia a discussão e a atuação dos profi ssionais que intervieram na materialidade 1 Professora colaboradora do Programa de Mestrado de História da Universidade Severino Sombra/USS e docente adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870256
da urbe a partir dos espaços institucionais do Estado. Ao longo do século XIX os problemas existentes na cidade se constituíram em questão urbana e mobilizaram um grupo de profi ssionais que viria mais tarde a instituir um novo campo de conhecimento e profi ssional: o urbanismo. Assim, o objeto da pesquisa é construído na interface da História da Cidade com a História do Urbanismo.
Cabe ressaltar que o processo privilegiado aqui, se deu no interior da estruturação da máquina administrativa do Estado Imperial. De capital da colônia à Corte, a cidade do Rio de Janeiro seria palco da atuação de diversos órgãos da administração pública. Ainda que desordenadamente, atuaram na materialidade da urbe várias repartições do Estado: a Intendência de Polícia, a Câmara do Senado (Câmara Municipal), a Inspetoria das Obras Públicas e a Junta de Higiene Pública. Estes órgãos são exemplos de instituições onde foram produzidas proposições urbanísticas.
Neste texto, especifi camente, escolheu-se o problema do abastecimento de água como mote para pensar a atuação dos diversos personagens e os espaços institucionais criados para resolvê-lo. Neste trabalho, dois grandes momentos foram escolhidos: o primeiro foi a década de 1840, por conta da primeira comissão criada para tentar resolver o problema da falta d’água, e o segundo a década de 1860, momento de disputa entre Mauá e uma nova comissão de abastecimento de águas. As fontes escolhidas para dar suporte às discussões são os relatórios dos ministros dos Negócios do Império, os da Agricultura, e o Almanaque Laemmert.
O Almanaque surgiu na Corte em 1844 trazendo informações relativas ao ano de 1843. Era uma espécie de páginas amarelas da Corte e do Império. Editado pelos irmãos Eduardo e Henrique Laemmert era anual e por meio dele é possível conhecer o cotidiano da cidade e acompanhar as mudanças na estrutura administrativa do Estado Imperial. Foi publicado durante todo o período do império. Já os relatórios dos ministros eram as prestações de contas feitas anualmente ao imperador. O ministério dos Negócios do Império foi uma das primeiras pastas a ser constituída após a emancipação política, juntamente com a da
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
257
Fazenda, a da Justiça, a dos Negócios Estrangeiros e a da Guerra2. O relatório era dividido em vários sub-itens, pois o ministério controlava todos os aspectos que não podiam ser alocados nas outras pastas, assim educação, agricultura e indústria estavam sob sua jurisdição, bem como obras, transporte e saúde. O Ministério da Agricultura seria criado em 1860, levando consigo Obras. Vejamos então como o problema do abastecimento de água na cidade do Rio aparece nestas fontes.
Antes de tudo, é bom que se diga que a falta d’água atingia a cidade desde os tempos da colônia. Naquele período cabia à Coroa resolver o problema de abastecimento de água potável, pois os poços existentes na várzea ofereciam água salobra e os do morro do Castelo eram muito profundos. Esta situação de penúria só começou a mudar com a construção do aqueduto da Lapa e das bicas do chafariz do campo de Santo Antônio (atual Largo da Carioca) em 1723, destino fi nal da canalização das águas do rio Carioca. Tal obra levou 18 anos para ser concluída e, somente com a extensão da rede de canos até o chafariz do Carmo (Paço), a população passou a ter água potável em quantidade sufi ciente para suprir as suas necessidades. (CAVALCANTI, 2004)
A chegada da Família Real em 1808 promoveu muitas transformações na cidade, principalmente porque instituiu a intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, responsável pelas obras públicas, pelo abastecimento de água, iluminação pública e pela segurança. A partir daí a urbe passaria ser fruto da atuação do chefe de polícia, das demandas do poder central e do Senado da Câmara (HOLLOWAY, 1994).
Entre as décadas de 1810 a 1840 uma estrutura burocrática rudimentar se consolidou, ainda que a emancipação política em 1822 não tenha mudado a organização administrativa voltada para os problemas urbanos, pois a Constituição de 1824 manteve a cidade sob a jurisdição do poder central; o ato adicional de 1834 transformou-a em município neutro e sua câmara municipal estava sob a jurisdição do Ministério dos Negócios do Império.
2 Todas ao longo de outubro e novembro de 1822. In Collecção das decisões do governo do Império do Brazil de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887.
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870258
A Inspetoria Geral das Obras Públicas, ou simplesmente Obras Públicas, era uma repartição do Ministério dos Negócios do Império que atuava na cidade juntamente com a Câmara. Em 1843, o chefe de polícia era Euzébio de Queiroz e suas preocupações giravam em torno da saúde e segurança, deixando os problemas ligados à estrutura urbana para a Câmara e a Inspetoria. A Câmara, composta de vereadores, possuía em seus quadros um engenheiro, 2 arruadores e 8 fi scais de freguesia (Almanaque Laemmert, 1844, p. 168) estes últimos agindo como administradores regionais. A Câmara dividia com a Inspetoria de Obras Públicas a intervenção física, cabendo à repartição do ministério as maiores ações.
O relatório de 1843, do então ministro do império José Carlos Pereira de Almeida Torres, começava o item Obras Públicas dando uma visão impressionista do abastecimento na Corte.
O gravissimo incommodo, que frequentes vezes, e em datas ainda mui recentes, tem causado á numerosa população d’esta capital a falta d’agoa potável, nas occasiões de secca, não podia deixar de mover o Governo lançar sobre este objeto com especialidade as suas vistas3.
Essa imagem de penúria era descrita também na década anterior. As obras realizadas na Corte, ao longo daquele período, giravam em torno dos consertos e da construção de chafarizes, além da busca de novos mananciais de água. Em 1833, o então ministro Antonio Pinto Chichorro da Gama avaliava que as Paineiras seriam a melhor opção de abastecimento, mesmo reconhecendo dispendiosa a obra de canalização, pois as seis fontes recém descobertas poderiam ser reunidas na canalização já existente do Carioca resolvendo o problema da falta d’água.
Passou-se toda a década de 1830 reformando e consertando os principais chafarizes da cidade, principalmente porque a maioria ainda tinha caneletas de madeira, o que deteriorava muito rápido. Na década de 1840, as trocas se faziam por canos de ferro, chumbo ou manilhas
3 Relatório do Ministério dos Negócios do Império do Brazil, ano 1843, Rio de Janeiro: Tipografi a Nacional, 1844, p. 36 e segs.
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
259
feitas de tijolo com argamassa de cal e azeite : (Relatório do Ministério dos Negócios do Império, 1839, p. 42). A precariedade do abastecimento materializava-se nos esforços do ministério, que anualmente dava conta dos consertos nos diversos pontos da cidade. De Botafogo ao atual bairro de Benfi ca, todos os reparos nos chafarizes eram minuciosamente detalhados, tal como exemplo abaixo, do chafariz da Mataporcos (atual Mem de Sá):
No chafariz de mataporcos fi zerão-se 6.765 pés cubicos de escavação; 5.671 pés cúbicos de maçame de pedra, e cal; 3 canos de esgoto, 90 palmos de cimalha lançada com tijolos de alvenaria, 60 palmos de molduras por cima da platibanda, 312 pés quadrados de emboços, 100 pés quadrados de reboques, 400 de telhados embraceirados, e 40 de cano de telha: assentarão-se 30 palmos de capatas de cantaria, 4 pilastrim,14 forras,16 pedras de bordadura; 2 portadas, huma janella de cantaria;12 lages no fundo do reservatório,4 capiteis3 pedras toscas em forma de verga, e 3 soleiras de cantaria. Para conclusão desta obra falta fazer-se a escavação, e assentarem-se os tubos de chumbo, que ultimamente chegárão de Inglaterra.4
Por meio dos relatórios é possível observar que a atuação dos ministros na década de 1930 fi cara restrita aos consertos, principalmente porque durante as regências a instabilidade política impedia que o Estado se voltasse para a cidade. Após o golpe da maioridade em 1840, o Estado brasileiro, ainda que administrativamente tivesse a mesma estrutura, voltar-se-ia para os problemas da Corte. Foi neste novo contexto político que o ministro em 1843 instituiu uma comissão para resolver o “problema da falta d’ água que assolava a cidade nos momentos de seca”. É importante salientar que 1843 era o primeiro ano da gestão novo ministro. Esta Comissão era chefi ada pelo conselheiro de estado Francisco Cordeiro da Silva Gomes.
O objetivo da Comissão era “propor as providências mais convenientes para abastecer d’aquelle artigo esta cidade pelos meios mais prontos, econômicos e duradouros que se lhe offerecessem”. O
4 (Relatório do Ministério dos Negócios do Império, 1840, p. 42)
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870260
papel da comissão era o de elaborar um parecer que chegaria ao jovem imperador por meio do ministro e o fato de ter um conselheiro de estado chefi ando o grupo, garantia isto. Ao longo do ano de 1843 o estudo foi feito e um conjunto de sugestões foi apresentado no relatório anual.
A comissão era composta por políticos, isto é, por conselheiros e senadores do império, por conta disto foram consultados especialistas e, nas palavras do próprio ministro, também curiosos. Segundo ele, o trabalho da comissão se deu a partir das opiniões colhidas entre os curiosos e os especialistas. Não se sabe ao certo o que o ministro estava defi nindo como profi ssionais e curiosos, mas o trabalho da comissão foi rápido e em seu relatório anual foi incorporado o parecer.
Desde o inicio a questão do custo permeou toda a leitura da rede de abastecimento. Ainda que a população triplicasse, entendia a comissão que as águas poderiam continuar sendo captadas das Paineiras, desde que fosse seguido um conjunto de procedimentos. O primeiro deles girava em torno da conservação das fl orestas nas nascentes dos principais rios que abasteciam a cidade. Isto implicava em retirar os habitantes que já viviam nos morros que, segundo a comissão, eram muitos. Os expulsos seriam os que não apresentasem documento indicando a “posse” da terra.
As outras propostas apontavam providências semelhantes às recomendadas no relatório de 1833. Isto mostra que elas ainda não tinham sido colocadas em prática, pois a comissão praticamente repetia as mesmas sugestões, tais como canalizar as fontes das paineiras levando-as a até o aqueduto da carioca. Uma medida simples foi recomendada como forma de economizar a água que jorrava dia e noite: comprar torneiras para as bicas dos chafarizes. O orçamento foi feito só para o sistema da carioca e avaliado em 70 mil réis, o problema não era o custo em si, mas o fato de as torneiras virem da Inglaterra. Nos outros sistemas foram pensados caixas de armazenamento como forma de diminuir a perda e ligações com o sistema da carioca.
Propunha também a substituição das calhas de madeiras ainda existentes nas redes e sugeria que as obras necessárias, assim como a colocação das torneiras nos chafarizes, fi cassem sob o controle de
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
261
empresas particulares, podendo estas serem nacionais ou estrangeiras. Não era a concessão do serviço que a comissão estava sugerindo, pois o pagamento do serviço à empresa que fi zesse as obras seria determinado em função do consumo de uma determinada quantidade de água, por algum tempo. Pensando nas muitas fábricas existentes na cidade que necessitavam de água esta proposta podia ser atrativa. A lógica que permeava a Comissão era evitar que as repartições públicas fi cassem com a incumbência de executar as obras, pois em sua avaliação, elas não tinham condições de fazê-las.
A comissão deu sugestões mais gerais deixando claro que cabia à Inspetoria de Obras viabilizar os aspectos técnicos, assim como ao Chefe de Polícia e à pasta da Justiça atuar na repressão ao desmatamento nas fl orestas próximas às nascentes. Para a comissão, se a polícia reprimisse a ocupação dos morros e a justiça aplicasse pesadas multas em quem desmatasse a fl oresta, o problema da falta de água estaria resolvido.
Naquele momento, era da alçada da Inspetoria apenas colocar em prática as sugestões da comissão, que fora instituída a partir do Conselho de Estado do recém coroado Pedro II. Não foi uma comissão organizada por especialistas, apesar de já existir uma vaga ideia do que seria isto, pois nas palavras do novo ministro eles também foram consultados. Obras sugeridas uma década antes ainda estavam por serem feitas e curiosos tinham o mesmo peso que os especialistas.
No relatório do ano seguinte, 1844, parte das sugestões estava sendo colocada em prática pelo ministério. Uma das primeiras ações foi mobilizar o “Juiz dos Feitos da Fazenda” para multar todos os moradores que desmatavam a fl oresta, ou que negassem ao Estado o uso das fontes. Os navios atracados no porto do Rio deveriam abastecer-se em Jurujuba/ Niterói, evitando o consumo das águas cariocas. Outra medida importante foi a proposta de confecção de um mapa com toda a rede de abastecimento, sinalizando para a Inspetoria em que “propriedades” passava a rede, buscando conhecer a trajetória das águas das nascentes aos chafarizes. A Inspetoria estava trocando a tubulação do sistema carioca por canos de ferro. O ministro confi rmava que no verão ainda era recorrente a falta d’água e que uma das soluções era a ligação dos sistemas Carioca e Maracanã.
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870262
Os dois maiores sistemas de água, Carioca e Maracanã, possuíam várias nascentes e abasteciam duas partes diferentes da cidade. O sistema carioca era formado pelas fontes das paineiras e do rio Carioca, abastecendo o centro (freguesias da Candelária, São José e Santo Antônio) e Glória; enquanto o maracanã formado pelas fontes da Cascatinha e do rio Maracanã abasteciam São Cristóvão e centro (freguesias de Santana e Espírito Santo)
A preocupação do Estado era inicialmente ofertar água aos chafarizes, pois a existência da taxa de água, desde 1840, não garantia o suprimento do precioso líquido em domicílio e o regulamento 39/1840 não assegurava o fornecimento ao pagante durante o período de seca. O regulamento revelava a fragilidade da atuação da Inspetoria em relação ao abastecimento e o trâmite burocrático ao qual o incauto consumidor deveria passar mesmo sem ter a certeza do recebimento.
O regulamento normatizava o abastecimento de água da Corte, a começar deixando claro que este serviço estava sob a jurisdição do ministério e que caberia ao ministro deferir a solicitação do fornecimento em domicílio. Nas ocasiões de seca fi caria suspenso o provimento de água, tal qual o resto da cidade que a obtinha gratuitamente nos chafarizes. O pagamento de cem mil reis por pena de água, na prática não garantia o fornecimento, entrando na contabilidade do Estado como donativo. Assim, o requerente deveria solicitar, pagar a taxa e esperar que o dinheiro fosse utilizado para fazer a obra de encanamento da rede mais próxima até a sua residência.
Até 1840, este serviço era feito gratuitamente e alguns habitantes já requeriam o serviço, o regulamento foi uma tentativa de disciplinar os pedidos e garantir o controle dos roubos de água. A existência de guarda de encanamento mostrava o quão importante era ter o domínio da trajetória da água. O regulamento apontava também para uma prática que se queria evitar, pois se o guarda descobrisse alguma infração, como roubo de água, por exemplo, o consumidor fi cava inabilitado de requerer o serviço por quatro anos. A questão era que a rede construída desde a fonte nem sempre chegava intacta aos chafarizes e não havia fi scalização efi ciente em torno do gasto do consumidor.
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
263
Art. 6º . O Inspector Geral das Obras Públicas designará o lugar, d’ onde a parte interessada deverá tirar a água, que lhe for concedida, sendo a mesma interessada obrigada a ter no lugar do desvio um registro, cuja chave estará no poder do Guarda do encanamento, para se fazer quando for necessário, a redução, ou a total suspensão de que trata o art 2º. Os registros serão construídos segundo o modelo, que o Inspector Geral das Obras Públicas para isto der, e assentados, com a assistência, no lugar que ele designar5.
O regulamento de 1840 e o mapeamento de 1844 são ações do Estado para sanar a dupla face do mesmo problema: a falta de conhecimento da rede e a indisciplina nos usos das águas. Os encanamentos particulares, ou seja, aqueles que saíam da rede até o domicilio, mesmo com registro e nome do requerente, propiciava ligações clandestinas ao longo do percurso, fora do controle do Estado, e às vezes com a conivência do consumidor.
O conforto do recebimento de água em casa, via encanamento da Inspetoria, era um processo demorado e muitas vezes inconstante. Enquanto o Estado buscava, através dos guardas e de novos canos, organizar a distribuição, a população tinha outras estratégias e estas se revelavam mais efi cientes. Aquela parcela da população que podia ter escravos para este serviço, só dependia do suprimento no chafariz mais próximo.
Transportador de água. Extraído de www.cedae.rj.gov.br/raiz/002002004
5 Regulamento 39 de 15 de janeiro de 1840. Collecçao das leis do Império do Brazil. Tomo III, parte II, 1840. Rio de janeiro: Typografi a Nacional, 1863.
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870264
Para aqueles que não tinham condições havia, desde 1840, o serviço de carroças puxadas por burros que circulavam por parte da cidade vendendo água em barris. O proprietário, Comendador Sebastião da Costa Aguiar, possuía uma chácara com fonte na Tijuca, e por meio dela supria a sua frota de carroças. Era chamada “a boa água do vintém”. Neste caso aquele que pagasse tinha acesso imediato ao produto6, diferente do serviço oferecido pelo Estado, cujo pagamento era antecipado e em época de seca o suprimento era cortado, com o Comendador só pagava o que se consumia. Este serviço foi extinto no fi nal do século XIX, mas foi muito popular no período estudado.
Água do vintém. Extraído de www.jangadabrasil.com .br
A cidade chegava ao ano de 1850 com muitos problemas, as várias sugestões colocadas na década de 1830 não foram implementadas, da mesma forma que as da década de 1840, principalmente porque entre 1843 e 1850 passaram pela pasta três ministros. As regiões da cidade dependiam de redes que não se interligavam e de bicas que vertiam água noite e dia, havendo muito desperdício, menos no verão, quando tudo secava, principalmente porque não havia reservatórios.
A cidade possuía em 1849, segundo o levantamento feito pelo então ministro da justiça Euzébio de Queiroz, 266.466 habitantes sendo destes 110.602 escravos. Nas freguesias urbanas viviam 127.051 livres e 78.855 cativos em 21.692 fogos. Ainda que o cálculo estivesse superestimado, como apontou aquele que dirigiu o “censo”, Haddock Lobo, a população girava aproximadamente em torno de 190 mil e necessitava de água. 6 Dados extraídos de Baixada Verde (2), fev/2007, p.8. http://www.ondaverde.org.br/baixada_verde_2.pdf.
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
265
Em relação ao abastecimento da cidade, a atuação do Estado naquele momento restringia-se ao suprimento de água nos chafarizes e para poucos, a água encanada domiciliar. A dinâmica do fornecimento necessitava do entrelaçamento das ações da esfera pública e da privada. Na divisão de tarefas, cabia ao Estado levar água até o chafariz e daí em diante fi cava por conta do usuário. Os aguadeiros, escravos de ganho e a empresa do comendador, faziam parte da engrenagem de funcionamento da cidade e mobilizavam parte da economia urbana. A Inspetoria, repartição que cuidava do abastecimento, não conseguira conhecer a rede e muito menos garantir o suprimento, pois ao fi car com a parte técnica da rede em si, dividia com outras instituições, como a da polícia, por exemplo, a atuação sobre o abastecimento; ainda assim ao longo da década de 1850, vários técnicos da Inspetoria fi zeram vários estudos sobre o problema da falta d’água na Corte.
Em 1860, a Inspetoria seria transferida para a pasta do recém criado Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Neste novo ministério algumas mudanças começariam a ocorrer, principalmente porque a pasta fora instituída a partir de uma concepção de burocracia já com um quadro de repartições estruturado, garantindo com isto uma organicidade que as outras não tinham. A atuação de seus funcionários começava a ser normatizada, vide a formulação do regulamento do corpo dos engenheiros civis, disciplinando a ação dos técnicos alocados no ministério. O novo ministro em seu primeiro relatório apresentava o problema do abastecimento da seguinte forma:
Vários trabalhos possue a ministério a meu cargo sobre este objeto; porem acordes sobre a insufi ciência das águas aproveitadas para as necessidades da população, e sobre a conveniência de se providenciar quanto antes acerca de tão importante matéria, discordão profundamente sobre os meios que se deverão de preferência adotar para conseguir o fi m que o mesmo governo tem em vista7.
O ministro deixava claro que muitos estudos haviam sido feitos até aquele momento, mas não havia consenso sobre como proceder para
7 Relatório do Ministério da Agricultura, commercio e obras publica, ano 1860, Rio de Janeiro: Tipografi a Nacional, p. 55..
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870266
resolver o problema da falta de água. Em função desta realidade, ele designava uma comissão de engenheiros para elaborar um projeto que, discutido entre o corpo técnico, deveria ter como referência a questão do custo. Na composição da comissão dois conselheiros de estado estavam presentes, mas diferente daquela de 1843, estavam ali por serem engenheiros, não por sua condição política de participarem do Conselho de Estado. A capacidade profi ssional se fazia representar por dois engenheiros nacionais e três estrangeiros na comissão, deixando para trás os curiosos de outrora.
Em 1860, existiam apenas 2000 residências com penas d’águas e a maioria da população ainda garantia seu suprimento nos 45 chafarizes e 637 bicas espalhados pela cidade. Quanto aos engenheiros da comissão, dois deles já estavam envolvidos com outras questões da cidade. Neate era o chefe de obras do canal do mangue e do cais da Glória, e Law estava envolvido com o estudo do arrasamento do morro do castelo. Talvez seja por isto que em 1862, ocasião em que Mauá solicitou a concessão do serviço na Corte, o ministro tenha alegado a falta do relatório da comissão para não responder de imediato ao pedido do Barão.
Desejando quanto for possível esclarecer esta matéria, sujeitando-a à mais larga discussão de homens profi ssionais, nomeei uma comissão composta do general conselheiro Pedro Alcântara Bellegarde, como presidente, do coronel de engenheiros conselheiro Antonio Manoel de Mello, e dos engenheiros William Ginty, Charles Neate, e Henry Law, para interpor um juízo sobre semelhante questão, depois de examinar os projetos citados, podendo modifi car o que julgar preferível, ou formular um novo projeto, se assim entender melhor.Em uma matéria de tanta importância, porque interessa a toda a população desta cidade, e exige sacrifícios pesados dos cofres públicos, cumpre, antes de se adotar qualquer plano, estudar os meios de a levar a efeito com o menor sacrifício possível a fazenda nacional, e de modo que o
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
267
publico comece logo a auferir vantagens das despezas que se forem fazendo8.
O relatório do ministro de 1862 girava em torno de duas questões. A primeira era a compra de água, na medida em que pós 1850 as fontes passaram a ter proprietário, já que as nascentes se localizavam em propriedade particular e por conta disto a Inspetoria deveria pagar pela aquisição. O custo para obtenção de água variava conforme a capacidade das nascentes, mas como a demanda era maior que a oferta os preços tendiam a subir. Era disto que o ministro reclamava. No ano em que Mauá solicitou a concessão, ele listava as despesas exageradas da Inspetoria com a aquisição de água.
Mauá propunha abastecer toda a cidade, mas inicialmente condicionava à rede existente e àquela que faria onde tivesse encanamento de gás. Pelo que se pode perceber da proposta, era um bônus ao gás, pois oferecia também limpeza das ruas e iluminação pública. Assim, o Barão estava sugerindo a reunião de todos os serviços em um pacote sob sua responsabilidade.
O Sr Barão de Mauá apresenta ao governo uma proposta para se encarregar do abastecimento d água da cidade do Rio de Janeiro mediante as condições seguintes: – fornecer diariamente 10 palmos cúbicos de água de 106 litros por cabeça para uma população de 400.000 habitantes, sendo 4 palmos cúbicos de agua potável pura derivada diretamente dos mananciais e igual a dos encanamentos atuais, 6 palmos cúbicos tirados de reservatórios que conterão água para trinta dias: assentar distinto estanhados ou vitrifi cados por dentro um para água potável outros para água depositada: encarregar-e da irrigação e limpeza publica nos caminhos e ruas que forem iluminadas a gás, obrigando-se a concluir as obras no prazo de seis anos9.
8 Relatório do Ministério da Agricultura, commercio e obras publica, ano 1862, Rio de Janeiro: Tipografi a Nacional, p. 76 e seg.9 Relatório do Ministério da Agricultura, commercio e obras publica, ano 1862, Rio de Janeiro: Tipografi a Nacional, p. 76 e seg.
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870268
Indiretamente, caso a proposta de Mauá fosse aceita, a cidade em seis anos, era o prazo em que ele se comprometia a criar sua rede, teria uma região dotada de todos os serviços, enquanto o restante ainda continuaria funcionando sob o braço escravo. Para nossa discussão aqui, vale ressaltar os argumentos utilizados pelo ministro na compreensão da rede de abastecimento de água. Começava destacando a atuação da repartição em prol da contenção e da racionalização do abastecimento, em função principalmente da fi scalização da rede instalada. Segundo o ministro, a rede era fi scalizada por 43 guarda-chafarizes, 43 interinos, 21 bombeiros, 59 vigias de bicas públicas e 11 de caixa d’água. A impressão é que, mais uma vez, a ideia que norteava a ação da repartição era a contenção do uso como forma de garantir o líquido. Para ratifi car esta visão o ministro indicava o número de cortes das penas d’água por ter ultrapassado a quantidade permitida, que para ele, indicava abuso de uso.
Ao mesmo tempo em que discorria sobre a fi scalização assumia a impossibilidade de sua efi cácia. Segundo ele, os “exames incessantes que a inspecção geral de obras públicas tem feito não se tem podido conter os abusos, que renascem sem cessar como cabeças de hidra de lerna”. Mauá em sua proposta mantinha uma quantidade de consumo permitida, não aventando cobrar conforme o uso, assim a cultura administrativa dentro e fora do Estado, se organizava em torno da repressão da utilização da água, e não na estruturação de uma maneira de angariar receita a partir de seu consumo.
Ao defender a necessidade de canalizar a água da Cascatinha desde a sua nascente, o ministro levantou um aspecto curioso acerca da água consumida pela população. Após mostrar que parte do sistema maracanã não estava canalizado, ele utilizou dois argumentos para indicar a urgência da obra; onde o rio corria a céu aberto durante as chuvas de verão, o barro invadia os canos e cisternas, entupindo tudo, entretanto, o mais grave, segundo ele, era o fato de que onde o rio não estava canalizado os escravos nele se banhavam. Assim, as águas que chegavam ao bairro aristocrático de São Cristóvão e consumidas pela nobreza passavam, segundo ele, por atos de vandalismo. O tom do
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
269
relatório era de denuncia, mas em se tratando de hábito de escravos, assumia que não tinha como ser evitado, pois dependia da atuação dos senhores (esfera privada) no controle dos hábitos de seus cativos, não restando alternativa que a intromissão do Estado, ainda que fosse na canalização do rio.
A comissão instituída em 1860 encarregada de estudar os vários problemas que envolviam o abastecimento nada produziu, e como uma segunda proposta de particular foi feita em 1863, a discussão foi parar na pasta dos negócios do império, que também necessitava de argumentos técnicos para defi nir a melhor solução. Para resolver este impasse, em 1864 uma nova comissão foi nomeada, desta vez sob a responsabilidade do engenheiro Bento José Ribeiro Sobragy para dar um parecer fi nal.
O novo ministro da agricultura, Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, em seu relatório anual, nos deu conta que a comissão fi cou restrita ao próprio engenheiro, que fez um extenso trabalho de pesquisa. O ministro construiu um discurso sobre o abastecimento de água em torno da ideia que este era da alçada do Estado, sugerindo, inclusive que atuasse como empresa. O engenheiro em seu parecer não se mostrou contrário à atuação do Estado, embora toda sua argumentação questionasse o seu desempenho.
O extenso parecer foi anexado à fala anual do ministro da agricultura. Neste parecer o engenheiro desenvolve sua argumentação de maneira original, na medida em que parte factualmente da Roma Antiga e discorria até aquele momento para mostrar como cada sociedade resolveu o seu problema de abastecimento. Após a apresentação ele deixava de analisar a rede em si e passava a trabalhar com a quantidade necessária per capita de consumo de água por habitante. Após análise minuciosa da quantidade ideal, ele oferecia vários tipos de redes para suprir esta demanda, a novidade consistia em sugerir um aparelho que registrasse o consumo da água, ainda que para avisar o excesso de uso. Ao sugerir esse contador, ele avaliava as condições das empresas brasileiras, em termos fi nanceiros, de incorporar esta inovação.
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870270
Ele terminava seu relatório considerando que somente as empresas estrangeiras tinham capital sufi ciente para viabilizar as mudanças necessárias na rede para a introdução do registro de água10; mas diante da importância representada pelo abastecimento de água na cidade, mesmo sem os recursos fi nanceiros, caberia ao Estado fi car com este setor, para ele estratégico.
Uma parte da Inspetoria a partir deste parecer mudaria sua prática, não só estudando a viabilidade técnica para introduzir o registro na rede, como passaria anualmente dar conta ao ministro dos esforços para solucionar o problema de abastecimento. Uma nova cultura administrativa estava sendo gestada entre os engenheiros da repartição, inclusive setorizando responsabilidades, mesmo que formalmente tudo estivesse dentro da mesma pasta. O relatório anual ganharia um item denominado de abastecimento de água na Corte, materializando e refl etindo as novas práticas instauradas na burocracia imperial.
A urbe chegaria a 1870, segundo a Inspetoria de Obras, com mais de 2.302 km de canos e o serviço de distribuição se fazia com 508 bicas públicas, 41 chafarizes com 181 bicas e 4 139 penas d’águas espalhadas pela cidade, inclusive no subúrbio (Almanaque Laemmert, 1870: 73). Na prática, a distribuição se revelava ainda tão inefi ciente quanto a captação. A água continuava sendo um grande problema, pois mesmo possuindo uma precária rede instalada o manancial continuava não dando conta das necessidades da população. Apesar desta realidade um novo ideário estava sendo gestado entre os técnicos alocados na repartição
As comissões, de 1843 e 1864 (que acabou restrita ao engenheiro), explicitam dois momentos distintos da discussão sobre o problema da água. Se no primeiro, até sua composição mostrava a fragilidade dos atores e a timidez da atuação da Inspetoria, que apenas dava suporte técnico à discussão; no segundo momento, a própria repartição por meio de seus técnicos sugeria e emitia opiniões, utilizando-se de um discurso profi ssional, advindo de um campo intelectual. 10 Há uma longa descrição dos tipos de canos de ferro necessários para as mais variadas pressões de água. Relatório do Ministério da Agricultura, commercio e obras publica, ano 1864.
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
271
Entre as duas comissões, algumas outras apareceram e várias proposições foram feitas para tentar resolver o problema da falta de água, todas centradas na repressão do uso, era em função disto que os profi ssionais organizavam sua atuação dentro da administração estatal. A primeira a sugerir a medição do consumo foi a de 1864, mas ainda seria um longo percurso para efetivação da cobrança individual; a partir daí os profi ssionais alocados na inspetoria se mobilizariam para concretizá-la, inclusive pensando a sua regulamentação, que só ocorreria em 1882 com o decreto 8775, e na constituição de um espaço institucional para solucionar o abastecimento de água na Corte, como indicaria o item do relatório anual do ministro.
Entre 1840 e 1870, apesar da cultura política do rodízio de ministros, da fragmentação e sobreposição de responsabilidades na atuação das repartições, dentro da Inspetoria de Obras se gestaria uma nova forma de pensar a atuação dos técnicos em relação ao abastecimento de água na cidade. Alocada na pasta da agricultura, um grupo dentro da Inspetoria mobilizaria os recursos advindos da burocracia do Estado para transformar o problema da falta d’água em questão urbana
Muita água rolaria, ou melhor, deixaria de rolar em função da escassez, para que a rede de água em domicilio fi zesse realmente parte da paisagem urbana, se escondendo como equipamento; que fosse oferecida em “abundância” e cobrada em função de seu consumo, e principalmente, tivesse um setor dentro da administração pública voltada especifi camente para resolver o fornecimento do precioso líquido.
Water River: Technician, State and Carioca urban structure enter the 1840/1870
Abstract: The water supply in the city of Rio de Janeiro during as second
reigned, more specifi cally between the decades of 1840 and 1870, this work analyzes the quarrel and the performance of the technician placed
LÚCIA SILVA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870272
in the main of the imperial state spaces directed toward the problems of the City. The main objective of this narrative is to articulate formation of technician to the institution of a public administration directed toward resolution of the urban problems, in this in case, the water supply and as its allocation prepares the spaces of the city.
Keys words:
Administration – Empire – water supply – Rio de Janeiro
BIBLIOGRAFIABARATA, Mario. Escola Politécnica do Largo de São Francisco. Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 1973.
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos um Haussmann tropical: transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro no século XX. Rio de Janeiro: SMCTE/DGDIC, 1992 (Biblioteca Carioca, 11)
CAVALCANTI, Nireu. O Rio Setecentista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2004.
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Cia das letras, 1996
COELHO, Edmundo Campos. As profi ssões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro, 1822-1930. Rio de Janeiro: Record, 1999.
COELHO, Lucinda C de Mello. Aspectos da evolução urbanística do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora do livro, 1993
FLEUISS, Max. História da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Cia Editora Melhoramentos, 1928.
GOMES, Ângela Castro. Engenheiros e economistas: novas elites burocráticas. Rio de Janeiro: edFGV, 1994.
GOUVÊA, Gilda Portugal. Burocracia e elites burocráticas no Brasil. São Paulo: Paulicéia, 1994.
UM RIO DE ÁGUAS: TÉCNICOS, ESTADO E ESTRUTURA URBANA CARIOCA ENTRE OS ANOS 1840/1870U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
LÚCIA SILVA
273
HOLLOWAY, Thomas H. Policia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: Ed FGV,1994
MATTOS, Ilmar Rohloff de. GONÇALVES, Márcia de Almeida. O império da boa sociedade: a consolidação do Estado imperial brasileiro. 7. ed. São Paulo: Atual, 1991.
MELLO JUNIOR, Donato. Rio de Janeiro: planos, plantas e aparência. Rio de Janeiro: João Fortes engenharia/DGPC, 1988
MORALES DE LOS RIOS FILHO, Adolfo. O Rio de Janeiro Imperial. 2. ed. Rio de Janeiro: topbooks/ Univercidade, 2000
MOURA, Ana Maria, SENA FILHO, Nelson. (Org.). Cidades: relações de poder e cultura urbana. Goiânia: Vieira, 2005
REBOUÇAS, André. Diário e anotações autobiográfi cas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938
SANTOS, Francisco Agenor Noronha. As freguesias do Rio Antigo. Rio de Janeiro: edições O Cruzeiro, 1965
TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da Engenharia no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Clube de engenharia, 1994. 2 vols
URICOECHEA, Fernando. O Minotauro imperial. A burocratização do Estado patrimonial brasileiro no século XIX. São Paulo, Difel, 1978.
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA1
Prof. Dr. Victor Andrade de Melo (UFRJ)2
ResumoEsse artigo argumenta que, nas últimas décadas, a História do
Esporte emergiu enquanto um novo campo profi ssional de investigação histórica, se não somente conduzido por “historiadores de formação”, certamente por pesquisadores que, independente de sua fi liação acadêmica original, procuram fazer uso das discussões metodológicas do campo da História. O objetivo desse artigo é discutir esse percurso de conformação e, ao fi nal, apontar sugestões para aperfeiçoar nossas iniciativas de investigação.
Palavras-chave:
História do Esporte – Historiografi a.
IntroduçãoOriginária do francês antigo “disport”, a palavra “sport” foi
registrada pela primeira vez na Grã-Bretanha do século XV, mas é somente no século XIX que ela assume o sentido atual. Para ser mais preciso, é nesse momento que se confi gura o campo esportivo conforme hoje conhecemos (Bourdieu, 1983). Na esteira dos contatos internacionais, materiais e simbólicos, que marcam aquele momento, tendo a Inglaterra como protagonista, a prática se espraia pelo mundo, sempre mantendo muito de seu caráter original, mas também dialogando com as peculiaridades locais: essa é uma das chaves de sua popularidade, juntamente com o fato de se estruturar fortemente ajustada ao conjunto de comportamentos considerados adequados para a consolidação do
1 Este artigo reúne e atualiza um conjunto de refl exões anteriores e é um resumo de um capítulo a ser publicado no livro “Estudos do Esporte: um panorama”.2 Programa de Pós-Graduação em História Comparada/IFCS; coordenador do “Sport”: Laboratório de História do Esporte e do Lazer (www.sport.ifcs.ufrj.br).
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA276
novo modelo de sociedade em formação, do capitalismo, do ideário e imaginário da modernidade (MELO, 2010).
De acordo com o modelo heurístico proposto por Melo (2010), o desenvolvimento do fenômeno esportivo no decorrer do século XIX, em linhas gerais, pode ser sintetizado em quatro fases. A partir do 2º momento, os esportes já estão mais próximos do que hoje se concebe de forma generalizada: ao seu redor tornaram-se comuns imagens de desafi o, superação, higiene, saúde. A preocupação com o aperfeiçoamento de técnicas corporais que incrementem o desempenho é mais denotada; o registro de resultados começa a ser valorizado.
Essa dimensão se exponenciou na terceira fase: inseridos em uma dinâmica social que valorizava progressivamente tanto a produção quanto a vivência de atividades públicas espetaculares, relacionando-se ainda mais com os novos artefatos tecnológicos, até mesmo em função da criação e aperfeiçoamento de instrumentos de mensuração (entre os quais os cronômetros), os resultados esportivos passaram a ser apresentados como parâmetro de sucesso.
Não seria equivocado dizer que o campo esportivo, desde cedo, valorizou certa visão de história em que o registro de dados e fatos, contribuía para a difusão de algumas ideias de grande importância para garantir sua consolidação e popularidade: o heroismo, a coragem, a grandiosidade das conquistas humanas. Os “feitos esportivos” deveriam ser preservados e exibidos: testemunhar, documentar, “to record”, o recorde como dimensão central para a continuidade da prática; é ele que permite lembrar que a necessidade de superação é constante.
É também comum, desde então, as iniciativas de relacionar a prática com um suposto passado longínquo, o que ajudaria a reiterar sua importância. Tal dimensão é claramente perceptível, por exemplo, na criação dos Jogos Olímpicos modernos (1896), supostamente recuperando uma idealizada concepção de prática de atividades físicas da Grécia Antiga (MELO, 2007a). Essa mobilização pode ser observável também na institucionalização de outras atividades corporais no decorrer dos séculos XVIII ao XIX: a educação física (entendida
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
277
enquanto disciplina escolar), a ginástica (na elaboração dos métodos gímnicos) e mesmo na dança (nas propostas de dança moderna).
A despeito dessas ocorrências, só recentemente a História (a disciplina acadêmica) começou a considerar mais seriamente as práticas corporais como um tema relevante. A emergência de uma “subdisciplina” denominada “História do Esporte” tem relação com a confi guração da Nova História Cultural, nos anos 1970.
A partir de diálogos com a Antropologia e com a Linguística, em um contexto em que se percebe a valorização da cultura como objeto de estudo nas ciências humanas e sociais, as diversas “práticas” ganham relevância e passam a ser mais aceitas como motivo de investigação histórica:
“Práticas” é um dos paradigmas da Nova História Cultural: a história das práticas religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a história do experimento e não da teoria científi ca. Graças a essa virada em direção às práticas, a história do esporte, que antes era tema de amadores, tornou-se profi ssionalizada, um campo com suas próprias revistas, como International Journal of History of Sport (BURKE, 2005, p.78).
A título de curiosidade, vale citar que entre os quatro teóricos que Burke (2005) aponta como de grande importância para a conformação da Nova História Cultural, dois diretamente refl etiram sobre, e tiveram grande infl uência nos estudos do esporte: Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Os outros dois, ainda que de forma não tão direta, também foram muito utilizados: Michel Foucault, notadamente suas refl exões sobre o corpo; e Mikhail Bakhtin, em função de suas posições sobre a cultura popular e os momentos de festa3.
Poderíamos mesmo chamar a História do Esporte de uma subdisciplina, o que expressaria a ideia de que se trata de algo mais consolidado ou em vias de consolidação, ou seria, dialogando com as ideias de Barros (2004), mais um dos muitos domínios da história, que
3 Para mais informações sobre autores infl uentes nos estudos do esporte, ver Giulianotti (2004, 2005).
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA278
“surgem e desaparecem com rapidez, às vezes perseguindo ditames da moda e caindo para segundo plano tão logo se saturam” (BARROS, 2004, p. 186)
Nesse artigo argumentaremos que, nas últimas décadas, a História do Esporte emergiu enquanto um novo campo profi ssional de investigação histórica, se não somente conduzido por “historiadores de formação”, certamente por pesquisadores que, independente de sua fi liação acadêmica original, procuram fazer uso das discussões metodológicas do campo da História. É um pouco de seu percurso que vamos abordar.
Cabe ainda, nessa introdução, uma discussão conceitual: que termo melhor defi niria os estudos históricos ligados a um grupo de manifestações culturais muitas vezes imprecisamente chamadas de esporte? A partir de que momento podemos com clareza defi nir esse objeto? Seria possível usar a categoria “esporte” como referência para traçar analogias, buscando semelhanças e diferenças, obviamente fazendo as devidas ressalvas? Perceba-se que estamos inspirados pelas ideias de Koselleck (1992) acerca de uma história dos conceitos: “a história dos conceitos coloca-se como problemática indagar a partir de quando determinados conceitos são resultado de um processo de teorização” (KOSELLECK, 1992, p. 136)4.
Partindo do princípio de que certas atividades corporais, ainda que com peculiaridades, passaram por processos aproximados de constituição de um campo ao seu redor, temos trabalhado com a ideia de que podemos chamar de “História das Práticas Corporais Institucionalizadas” uma área de investigação que se debruça sobre fenômenos culturais/práticas sociais como o esporte, a capoeira, a dança, a ginástica, as atividades físicas “alternativas” (antiginástica, eutonia, etc.), a Educação Física (entendida enquanto disciplina escolar e como área de conhecimento), alguns fenômenos análogos de períodos anteriores à Era Moderna (as práticas corporais dos gregos, os gladiadores romanos, os torneios medievais, um grande número de
4 Para mais informações sobre uma possível contribuição desse autor para os estudos do esporte, ver (MELO, 2010).
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
279
manifestações lúdicas de longa existência), entre outras. Para facilitar o entendimento e/ou em função de questões operacionais, em muitas oportunidades usamos como metonímia o termo “história do esporte” (o que não exclui, tampouco se confunde, com outras esferas, como, por exemplo, a história da dança).
História do Esporte: um panorama
Internacional
Ainda que existam iniciativas anteriores, o campo acadêmico “História do Esporte” vem se consolidando desde os anos 1960, tendo se organizado pioneiramente na Europa e nos Estados Unidos. Em 1967, foi fundada a primeira sociedade internacional, o Internacional Comitee for History of Physical Education and Sport. Em 1973, uma nova associação é criada, a International Association for History of Physical Education and Sport. Em 1989, as duas se uniram dando origem à Internacional Society for History of Physical Education and Sport (ISHEPS), entidade que congrega pesquisadores de vários países, entre outras iniciativas com a realização de eventos científi cos5; com a edição de boletins, anais e outras publicações; concedendo premiações anuais; e com a manutenção de uma lista de discussão na Internet6.
É importante destacar que a ISHPES faz parte, desde 2000, do International Comitee of Historical Sciences7, e, desde 1990, do International Council of Sport Science and Physical Education8. Nessa última sociedade, a História do Esporte é considerada como uma das 16 disciplinas que compõe as Ciências do Esporte9.
Nos Estados Unidos, os primeiros departamentos universitários ligados ao tema surgem nos anos 1960 e as primeiras conferências específi cas são organizadas em 1971. Um grande impulso se deu com
5 Desde sua fundação promove, em anos alternados, um congresso e um seminário, que já tiveram sede em 18 países, de 4 continentes. 6 Mais informações em http://ishpes.mcs-creations.com/7 Mais informações em http://www.cish.org/GB/introgb.htm8 .Mais informações em http://www.icsspe.org/9 .Mais informações em http://www.institutophorte.com.br/icsspe/
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA280
a criação da North American Society of Sport History (em 1972), que realizou sua primeira reunião anual em 1973 e desde 1974 é responsável pela edição do Journal of Sport History10.
Já na Grã-Bretanha, segundo Jefrey Hill (1996), é sensível o avanço nas investigações desde os anos 1990. Segundo esse autor, uma marca da mudança foi a coletânea organizada por Richard Holt, “Esporte e classe operária na Grã-Bretanha moderna” (1990). Para Hill, as principais contribuições deste estudo foram: a) demonstrar a possibilidade de construir uma história vista de baixo, uma alternativa à perspectiva de grandes heróis; b) o estudo de caráter local permitiu perceber a riqueza e a variedade das manifestações esportivas; c) a abordagem multicultural ampliou os olhares sobre o tema. Como se pode perceber, os pontos positivos apontados têm relação com a construção metodológica.
De fato, esta tem sido uma preocupação constante. Há alguns anos os estudiosos parecem concordar que o rigor e a busca de novas matrizes metodológicas não só podem ser de grande utilidade, como são uma necessidade para os estudos históricos do esporte. Aliás, já em 1979, B.G. Rader identifi cara dois grandes problemas nas investigações históricas ligadas ao tema: a) trabalhos excessivamente descritivos; b) carência de evidências documentais.
Os avanços parecem ter sido notáveis desde então. Na opinião de Park (1987), cinco pesquisadores e suas correntes metodológicas merecem destaque: J.A. Mangan (História Cultural), Melvin Adelman (História Social), Donald Mrozek (História Intelectual), John MacAloon (Psicohistória/Semiótica) e Bruce Haley (História Social e Cultural). Tal referência se deve às abordagens metodológicas adotadas; às contribuições não só para a História do Esporte, como para a História em geral; ao posicionamento crítico dos autores.
Essa preocupação metodológica certamente também tem em vista a busca de legitimidade no âmbito da pesquisa histórica como um todo. Na verdade, a despeito dos avanços, e mesmo do assunto ter sua relevância reconhecida por importantes historiadores, como Eric
10 Mais informações em http://www.nassh.org/
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
281
Hobsbawm, Wiggins e Mason (2005) sugerem que a história do esporte continua gozando de pouco prestígio e reconhecimento tanto nos departamentos acadêmicos de História quanto nos de Educação Física, encarada como de menor valor, como um tema pouco signifi cativo.
De qualquer forma, é inegável a consolidação da História do Esporte. Existem várias associações nacionais de historiadores do esporte: além da já citada NASSH, a Australian Society of Sports History11, a British Society of Sports History12, a Società Italiana Storia dello Sport13, entre outras. Há ainda sociedades ligadas a algumas modalidades ou a temas específi cos, como a International Society of Olympic Historians14, que publica trimestralmente a revista Citius, Altius, Fortius e o periódico Nikephoros, dedicado aos que estudam manifestações “esportivas” na antiguidade; a Association of Cricket Statisticians and Historians15, a Association of Football Statisticians16, entre outras. Essas entidades frequentemente promovem eventos científi cos e organizam publicações, entre outras iniciativas.
Há que se destacar ainda a experiência do European Comitee for Sports History17, fundado em 1995, já tendo promovido 14 congressos anuais. Recentemente essa associação lançou um periódico ofi cial, o European Studies in Sports History. Aliás, devemos lembrar outras revistas importantes ligadas ao tema: o International Journal of the History of Sport, fundado, em 1983, como British Journal of History of Sport; a Sport History Review, publicada de 1970 a 1995 como Canadian Journal of the History of Sport; o Sport in History, ligado à British Society; o Sporting Traditions, publicado pela Australian Society; a Materiales para la Historia del Deporte, anual, lançada pela primeira vez em 2003. Nesse grupo de periódicos, hoje se insere a nossa
11 Mais informações em http://www.sporthistory.org/12 Mais informações em http://bssh.org.uk/13 Mais informações em http://www.storiasport.it/14 Mais informações em http://www.isoh.org/pages/index.html15 Mais informações em http://acscricket.com/16 Mais informações em http://www.11v11.co.uk/17 Mais informações em http://www.cesh.eu
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA282
Recorde: Revista de História do Esporte, único periódico da América Latina especifi camente dedicado ao tema18.
É interessante observar que nesses periódicos é comum a apresentação de resenhas de livros. É realmente grande a produção sobre o tema; basta um olhar nas livrarias digitais para confi rmar tal informação: uma busca realizada na Amazon Book, em 16 de outubro de 2009, usando o termo “sport history”, resultou em 41.857 ocorrências. Merece destaque a coleção Sport in the Global Society, dirigida por J.A. Mangan e Boria Majumdar, publicada pela Taylor & Francis Group.
Enfi m, esse volume de iniciativas das mais diferentes naturezas comprova que, no cenário internacional, a História do Esporte está consolidada, mesmo que ainda prossiga o desafi o de construir maior legitimidade tanto na área de História quanto na de Educação Física19.
Nacional
No Brasil, podemos dividir em cinco fases o desenvolvimento da História do Esporte. A primeira engloba as pioneiras produções, publicadas já na virada dos séculos XIX e XX. Um dos autores que primeiro escreveu sobre os aspectos históricos do turfe, no ano de 1893, curiosamente observava: “Mais vale tarde do que nunca. Já não é cedo para se escrever a história do turfe nacional, história que, na falta de testemunhas oculares e de documentos já hoje raríssimos, poderá ser para o futuro adulterada” (PACHECO, 1893, p.7). No caso do remo, também se pode perceber preocupação semelhante em 1909, no livro de Alberto Mendonça, que junto com Ernesto Curvello Júnior foi um dos primeiros a sistematizar observações sobre sua história:
Evidentemente sabido é que difi culdades de monta teríamos de encontrar na compilação de fatos históricos sobre a vida deste esporte, assim como na coleção de documentos a ele referente; porquanto, até a presente data é conhecida de sobejo a defi ciência das publicações sobre
18 Mais informações em http://www.sport.ifcs.ufrj.br/recorde/home.asp19 Para mais informações sobre a História do Esporte no cenário mundial, vale uma visita na excelente página organizada por Richard Holt: http://sporthistinfo.co.uk/, na página http://www.heacademy.ac.uk/assets/hlst/documents/resource_guides/sports_history.pdf, e em http://www.la84foundation.org/
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
283
o nosso movimento esportivo, hoje, felizmente, em grau de desenvolvimento notório MENDONÇA, 1909, s.p.).
Embora de grande importância, tais trabalhos são, na verdade, esforços de preservação da memória, sem a preocupação de uma discussão mais ampla e crítica, escritos por antigos praticantes e/ou apaixonados pelo esporte, muitas vezes jornalistas que acompanharam de perto o desenvolvimento de tais modalidades.
A segunda fase (décadas de 1920-1930) é marcada por uma preocupação maior com a história da educação física, ainda que em caráter embrionário: a produção nacional ainda era pequena e a utilização de livros importados era comum. Destacam-se os livros de Laurentino Lopes Bonorino e colaboradores (1931), primeira publicação específi ca do gênero escrita no Brasil, e as contribuições de Fernando de Azevedo. Ambos tinham suas preocupações mais voltadas para os aspectos históricos da ginástica enquanto forma de “educação do físico”, com ênfase nas compreensões e abordagens de caráter mundial. Azevedo merece destaque maior por sua contribuição para o desenvolvimento de estudos na área20.
Essas obras, a despeito da importância, lançam as bases de uma abordagem que marcou durantes anos nossos estudos: a utilização restrita de fontes; um caráter “militante”, a história servindo para provar e legitimar algo já previamente estabelecido; a preocupação central exacerbada com o levantamento de datas, nomes e fatos; uma história pautada única e exclusivamente na experiência de grandes expoentes; a não utilização de uma periodização interna e o uso de uma periodização política geral.
A terceira fase (décadas de 1940-1990) é marcada pelo aumento da produção e da preocupação com os estudos históricos. Neste período temos que ressaltar a obra de Inezil Penna Marinho, sem dúvida um dos maiores estudiosos da história da Educação Física e do Esporte no Brasil. Sua obra não signifi cou uma completa ruptura com as características da fase anterior, mas não se pode negar uma sensível
20 Cito aqui as obras “Da Educação Física”, cuja primeira edição é de 1916, e “Antinous – estudo da cultura athlética”, de 1920.
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA284
diferença, principalmente no que se refere à compreensão teórica e metodológica.
Sua produção, sem dúvida, é um exemplo de estudo histórico bem desenvolvido nos padrões da história documental-factual. Suas diferenças começam nos seus investimentos na história brasileira, até então pouco abordada em estudos que preferiam uma abordagem mundial, e passam por sua erudição e pela utilização de fontes mais diversifi cadas21.
É dessa fase também a importante obra de Mário Filho: “O negro no futebol brasileiro” (a primeira edição é de 1947). Dialogando com as considerações de Gilberto Freyre, acerca de uma possível originalidade brasileira na forma de jogar, traz a marca de envolver claramente o velho esporte bretão na construção de discursos acerca da identidade nacional22.
A quarta fase (década de 1980) é marcada pela busca do redimensionamento das características dos estudos até então desenvolvidos, a partir fundamentalmente de uma inspiração teórica marxista. Embora as obras desta fase tenham signifi cado uma importante mudança de enfoque, alguns problemas anteriores continuariam persistindo, além de um novo problema ter emergido (ou reaparecido): metodologicamente as obras são mais confusas e incompletas.
A periodização continua a se submeter a especifi cidades exteriores ao objeto, referendando uma impressão de linearidade sempre tão presente nas fases anteriores. A história é entendida como responsável por explicar linearmente o presente, fato agravado por uma compreensão que parte do presente com hipóteses traçadas já basicamente confi rmadas. A exasperação da crítica ao caráter documental-factual das obras anteriores resultou no dispensar de datas, fatos e nomes23.
21 Para mais informações sobre esse autor, ver estudo de Melo (1998).22 Para mais informações sobre o pensamento de Freyre e Mário Filho acerca do futebol brasileiro, ver os estudos de Soares (1999, 2003).23 Para mais informações sobre essas fases anteriores, ver estudo de Melo (1997a). Para um olhar sobre a presença do tema nos cursos de formação em Educação Física, ver estudo de Melo (1997b).
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
285
A quinta e atual fase (a partir da década de 1990) é marcada por uma maior sistematização e institucionalização dos estudos e pela confi guração mais clara de um campo acadêmico que majoritariamente tem envolvido profi ssionais vinculados a três áreas: Educação Física, Educação e História.
Há que se celebrar que na História (a área de conhecimento) percebe-se a paulatina superação de certos preconceitos e da não consideração ampla da importância do tema. Patrícia Falco Genovez (1998) abordou com bastante propriedade tal questão. A autora demonstra como obras importantes, que apontam para a necessidade da construção de uma história social e/ou cultural, sequer citam o esporte como objeto de estudo. Mais ainda, percebe que no interior das reuniões científi cas importantes na área, como no caso dos eventos promovidos pela Associação Nacional de História, durante muitos anos poucos foram os trabalhos sobre o assunto. Para Genovez:
Os historiadores [...] insistem em não perceber o esporte como um objeto de estudo capaz de mostrar as mais tênues nuances das relações sociais que, fora da lógica esportiva, parecem excludentes, como a competição e a cooperação ou o confl ito e a harmonia. É, justamente, por abrir esta possibilidade de análise que podemos pensar no esporte como um objeto da história social ou da história cultural (GENOVEZ, 1998, p. 9).
Depois de muitos anos nos quais a produção brasileira esteve limitada a poucas referências, a partir da década de 1990 é possível observar um aumento exponencial do número de estudos históricos que têm como objeto de investigação as práticas corporais institucionalizadas. Como fatores que estiveram articulados com o crescimento do número de artigos, livros, capítulos e trabalhos de pós-graduação se pode identifi car:
a) a abertura de espaços constantes para a discussão em eventos científi cos; na área de Educação Física. Podemos observar tal ocorrência, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (que dedica ao tema um grupo de trabalho) e com
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA286
a frequente realização do Congresso Nacional de História do Esporte, Lazer e Educação Física (cuja 11ª edição foi realizada no ano de 2009, na Universidade Federal de Viçosa); na área de História, destaca-se a realização de Simpósios Temáticos específi cos nos congressos nacionais e estaduais da Associação Nacional de História (Anpuh);
b) o incentivo à publicação em periódicos nacionais; o assunto foi, por exemplo, a temática central de três edições da Revista Brasileira de Ciências do Esporte24 e de um número do periódico “Estudos Históricos”25; além disso, pode-se perceber que artigos sobre o tema são mais facilmente encontrados em revistas científi cas gerais de ambas as áreas;
c) o aumento do número de grupos de pesquisa cadastrados no diretório do CNPq.
Devemos ainda referenciar a posição da Anpuh, que recentemente solicitou ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) a inclusão da especialidade História do Esporte na nova tabela de área de conhecimentos da entidade, que esteve na época em discussão (2006/2007).
Vale a pena ainda destacar: a) o crescimento do número de livros de informações para público não-acadêmico, majoritariamente escritos por jornalistas e lançados normalmente por ocasião de efemérides ou para homenagear determinado ídolo esportivo; b) no âmbito acadêmico, a preocupação com o aperfeiçoamento metodológico das investigações, a partir de um diálogo mais constante com o arcabouço teórico das ciências humanas e sociais.
Enfi m, ainda que nos momentos iniciais, e com uma longa trajetória a ser trilhada, há alvissareiros sinais de que caminhamos para a consolidação da História do Esporte no Brasil.
Um programa de investigação24 Volume 25, números 1, 2 e 3; setembro de 2003; e janeiro e maio de 2004. O periódico é editado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.25 Número 23, 1999; a revista é editada pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas.
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
287
A princípio, as práticas corporais institucionalizadas são um tema como outro qualquer para a História. Dada as suas características, podemos dizer que há uma dupla dimensão de contribuição possível dos estudos históricos relacionados às práticas corporais institucionalizadas.
a) Contribuição aos campos específi cos
Isso é, os interessados especifi camente na confi guração dos campos coletariam elementos para interpretar a trajetória dos fenômenos, desvendando algo de seu formato atual, tanto no que se refere ao sentido social das práticas, quanto no que se refere a possibilidades mais diretas de aplicação (por exemplo, como determinadas técnicas podem ser aperfeiçoadas tendo em vista a trajetória do treinamento esportivo? Outro exemplo, como um coreógrafo pode pensar suas coreografi as considerando o percurso técnico das distintas modalidades e/ou propostas de dança?).
b) Contribuição para entender a sociedade como um todo
As práticas corporais institucionalizadas são manifestações culturais que têm sua confi guração articulada com todas as outras dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas. Fazem parte do patrimônio cultural de um povo, da memória afetiva de indivíduos e grupos, sendo também importantes ferramentas na formulação de identidades de classe, de gênero, de etnia, ligadas à construção da ideia de nação. No caso do Brasil, isso fi ca acentuado pela grande presença do futebol em nossa formação cultural.
Por essa conformação, tratam-se de objetos cuja investigação pode contribuir para desvendar, de forma multifacetada, um determinado contexto em que se insiram. Para exponenciar essas possibilidades de contribuição, o esforço central é investirmos no processo de aprofundamento e aperfeiçoamento de nossas iniciativas de pesquisa. Tendo em vista esse desafi o, e o quadro atual do cenário nacional, arriscamos propor um programa de investigação.
A busca de rigor metodológico
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA288
Douglas Booth (2000) comenta que, mesmo no cenário internacional:
Poucos acadêmicos consideram a inovação metodológica como uma característica da História do Esporte. Ao contrário, não só a maioria dos historiadores é tímida em temas fi losófi cos e práticos que envolvem metodologia, como aqueles que discutem seu método o fazem em apêndices ou notas de rodapé (BOOTH, 2009, p. 5).
No Brasil, como vimos, já há indicadores claros de que há avanços do ponto de vista metodológico nas investigações históricas do esporte. Contudo: a) ainda persiste, mesmo no âmbito acadêmico, a realização de estudos que desconhecem ou desconsideram essa dimensão; b) somente recentemente vemos a busca de diversifi cação das alternativas metodológicas utilizadas.
Na verdade, há uma curiosa ocorrência no âmbito dos estudos históricos do esporte. Ainda que “fi lha” da Nova História Cultural, a História do Esporte inicialmente pouco encarou os debates por ela propostos, se ligando mais às anteriores proposições da história social.
A questão é simples e deve ser abordada de forma direta. O que mais nos interessa no estudo histórico do esporte é acreditar que o objeto expressa (e muito) um quadro de tensões sociais no tempo e no espaço. Qualquer que seja a opção teórica/metodológica, a História do Esporte é sempre história: são os grandes debates da disciplina (bem como das ciências humanas e sociais como um todo) que devem nortear nossa atuação como historiadores (independente da área original de formação dos pesquisadores).
Nesse sentido, uma história do esporte vai cruzar com muitas outras histórias26:
– seja no que se refere às diferentes dimensões – Política, Cultural, Social, Econômica etc.;
26 A classifi cação abaixo segue, em parte, a sugestão de Barros (2004).
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
289
– seja no que se refere às abordagens – Oral, Serial, Análise de Discurso, Quantitativa, Micro-História etc.;
– seja no que se refere aos domínios – Corpo, Gênero, Urbana, Arte etc.;
– seja no que se refere aos recortes temporais – Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea, Tempo Presente.
Temos ainda defendido que a confi guração da História do Esporte dialoga profundamente com a constituição de uma “história do lazer”, em função das situações históricas compartilhadas pelos objetos. Como lembra Pierre Bourdieu (1990):
Esse espaço dos esportes não é um universo fechado em si mesmo. Ele está inserido num universo de práticas e consumos, eles próprios estruturados e constituídos como sistema. Há boas razões para se tratar as práticas esportivas como um espaço relativamente autônomo, mas não se deve esquecer que esse espaço é o lugar de forças que não se aplicam só a ele. Quero simplesmente dizer que não se pode estudar o consumo esportivo, se quisermos chamá-lo assim, independentemente do consumo alimentar ou do consumo de lazer em geral.
Transcendendo os estudos locaisUma característica marcante observada na produção nacional
recente é que normal e majoritariamente são estudos locais ou regionais, relacionados a cidades ou estados, clubes, personalidades, fatos ou temas específi cos. Obviamente isso se dá por ser uma clara tendência nas investigações históricas como um todo, algo acirrado pelas próprias condições operacionais que se impõe hodiernamente aos pesquisadores, notadamente a escassez de tempo (especialmente as pressões a que estão submetidos os programas de mestrado e doutorado) e a difi culdade de acesso a arquivos e documentos. De qualquer forma, esse conjunto de pesquisas nos permite vislumbrar um panorama nacional dos diversos arranjos dos fenômenos culturais esporte, educação física, ginástica, dança, capoeira etc.
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA290
A despeito da importância dessa produção, algumas questões merecem ser levantadas: não estaríamos perdendo a visão do “todo” em função da fragmentação das abordagens? Como ampliar nossa visão acerca da realidade nacional sem crer que essa é simplesmente o resultado da soma dos entendimentos locais? Como construir hipóteses mais amplas, pensando, por exemplo, em outros contextos nos quais estamos inseridos não somente por questões geográfi cas, mas também por relações históricas, culturais e políticas? Como fazer dialogar a produção brasileira com o que tem sido produzido internacionalmente?
Tendo em conta essas provocações, temos realizado experiências com o uso do método da História Comparada, inspirados pela sugestão de Kocka (2003) (entre outros autores que abordam essa possibilidade de investigação)27:
Frequentemente, historiadores se concentram na história de seu país ou região. Por causa disso, a comparação pode ter um efeito desprovincializante, liberador, abrindo perspectivas, com consequências para a atmosfera e estilo da profi ssão. Esta é uma contribuição da comparação que não deveria ser subestimada (KOCKA, 2003, p. 41).
Certamente não desconhecemos que as experiências de uso do método da História Comparada podem e têm sido também utilizadas para realização de estudos locais, como nos lembra Barros (2007): “Comparar macro-realidades ou comparar micro-realidades é legítimo em cada caso: e entre estas operações guardar-se-á o mesmo tipo de distinção que emerge da escolha entre comparar estrelas e comparar átomos” (p.17). Sem negar isso, apenas levantamos a possibilidade de, inclusive no caminho aberto pelos teóricos que pioneiramente defenderam o método comparado, ampliar o olhar histórico para cenários mais amplos.
Para resumir, o que nos coloca Barros (2007) parece ser bastante estimulante:
27 Para mais informações, ver Melo (2007b).
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
291
Ao impor àqueles que a praticam um novo modo de pensar a história a partir da construção de seu recorte, e um modo bastante específi co de trabalhar sobre as fontes e realidades históricas assim observadas – a História Comparada revela-se oportunidade singular para que se repense a própria história em seus desafi os e em seus limites (BARROS, 2007, p. 3).
Os recortes espaciaisOs estudos comparados apresentam potencialidades e desafi os
múltiplos. Um desses está ligado à possibilidade de considerar novos recortes espaciais. Vejamos algumas alternativas.
Podemos comparar modalidades distintas em um mesmo cenário local
O tempo/momento de desenvolvimento de cada modalidade ajuda-nos a compreender de forma multifacetada não só a confi guração do campo esportivo no local, como também lançar um olhar sobre os diferentes contextos históricos. Por exemplo, que diferenças existem entre a consolidação do turfe e do remo no Rio de Janeiro? Como isso nos ajuda a pensar nos cenários que também determinaram essas formações diferenciadas?
Podemos comparar diferentes cidades de um mesmo país
No caso brasileiro, temos um número maior de estudos sobre algumas capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre). Não temos, contudo: a) o mesmo volume de investigações sobre outras cidades; b) praticamente não temos estudos comparados.
Essa possibilidade de investigação poderia nos apresentar um panorama ampliado e mais aprofundado sobre o desenvolvimento do fenômeno esportivo pelo país, nos ajudando a testar hipóteses de trabalho. Obviamente devemos ter o cuidado de pensar em possíveis parâmetros de comparação. Para tal, temos sugerido o uso de um modelo heurístico (MELO, 2010).
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA292
Podemos comparar diferentes países e/ou cidades de distintos países
Dadas a proximidade geográfi ca e algumas similaridades históricas, que semelhanças e dessemelhanças existem na confi guração do campo esportivo entre os países da América do Sul, ou pelo menos entre os países do Mercosul? Teria essa perspectiva de investigação alguma contribuição a dar ao estudo de nosso continente? A análise comparada das práticas corporais poderia contribuir para lançar novos olhares sobre a própria história regional.
No caso da América Latina, isso parece ainda mais urgente e fundamental, inclusive pelo fato de que o desenvolvimento dos estudos históricos ligados às práticas corporais institucionalizadas é signifi cativamente menos estruturado do que no continente europeu e nos Estados Unidos, como demonstra Joseph Arbena (1999). Observe-se que não estamos falando de qualidade, no que estamos pari passu com a produção mundial, mas da organização em entidades, publicação de periódicos e sistematização do campo.
Renato Ortiz vai direto ao ponto ao afi rmar que grande parte das interpretações sobre nosso continente é traçada por latino-americanistas profi ssionais, que trabalham fora da América Latina, notadamente em universidades norte-americanas (ORTIZ, 2001). Adrián Gorelick (2004), nessa esteira, nos conclama a buscar novas maneiras de escrever nossa história latino-americana, deixando de insistir somente na refl exão sobre a infl uência europeia e norte-americana, ampliando nossa compreensão acerca dos contatos entre nossos países, extrapolando as iniciativas de construção de histórias somente nacionais.
Segundo sua sugestão, necessitaríamos buscar: “objetos supra o transnacionales. Es decir, la delimitación de problemas o de zonas de historicidad cuyo pasado no es necesariamente nacional o no se agota exclusivamente en lo nacional” (GORELICK, 2004, p. 124). Parece-me que o esporte se adéqua perfeitamente à sua sugestão.
Um maior desenvolvimento dos estudos históricos em nosso continente certamente não somente interessa a nós latino-americanos,
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
293
mas também a todos os pesquisadores mundiais da temática, que hoje pouco parecem compreender dos nossos arranjos específi cos. Devemos concordar com as palavras de Arbena (1999):
Eu reenfatizo meu argumento de que a construção de uma teoria válida requer uma perspectiva universal. Não podemos seriamente falar sobre o espaço do esporte no comportamento humano ou da conexão entre esporte e imperialismo cultural ou do espaço do esporte na globalização recente, etc., sem olhar como isso, e outros padrões, tem ocorrido em diferentes contextos geográfi cos, temporais e culturais (ARBENA, 1999, p. 27).
O próprio Arbena admite, contudo, que não se podem observar esforços signifi cativos de relacionamento mútuo e de busca de um maior diálogo, o que certamente tem relação com difi culdades linguísticas, já que o inglês é a língua mais amplamente aceita no mundo acadêmico, e com um provável etnocentrismo, expresso na maior valorização de certas referências e mesmo das formas de narrativa e argumentação mais comumente observadas na língua inglesa, substancialmente diferentes da nossa forma latino-americana de escrever.
Portanto, esses esforços de diálogo e de organização dos pesquisadores latino-americanos na área de história das práticas corporais institucionalizadas devem ter intencionalidades claras: o maior conhecimento mútuo permitirá caminharmos mais próximos, nos compreender de forma mais profunda, não só para que melhor possamos entender nossas sociedades, mas inclusive para contrapor os limites dos atuais modelos acadêmicos internacionais, ao apresentarmos com competência as peculiaridades que tornam os nossos conhecimentos insubstituíveis se existe o desejo de uma compreensão mais global acerca de nossos objetos, em suas inter-relações com a sociedade.
Podemos comparar países que compartilham dimensões culturais, como o idioma
Ainda que estivesse próximo do centro dos acontecimentos europeus que marcaram a transição de séculos, a posição de Portugal, tanto do ponto de vista geográfi co quanto do ponto de vista das relações
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA294
historicamente estabelecidas (especialmente com a Inglaterra), era, e tem sido, nas palavras de Boaventura Souza Santos (1985), semiperiférica. Além disso, o país ainda tinha que dividir espaço simbólico com uma de suas antigas colônias, o Brasil, que logo compartilharia o espaço de emissor privilegiado das marcas do que hoje chamamos imprecisamente de lusofonia (ALMEIDA, 2008).
Em certa medida, essas experiências não são exclusivas desses países, mas expressam características do mundo lusófono. Parece interessante insistir na prospecção de elementos que possam contribuir para o traçar de análises comparadas, ampliando a compreensão sobre as nossas semelhanças e dessemelhanças, algo que pode ampliar nosso entendimento tanto sobre nossas histórias nacionais quanto sobre a cultura lusofônica no mundo; postura importante inclusive para que possamos aperfeiçoar nossas alianças, fundamentais no cenário geopolítico internacional. Parece que podemos contribuir com esses esforços a partir do caso específi co do esporte.
Vale lembrar que temos poucos estudos sobre o esporte nos países africanos de língua portuguesa, ex-colônias que estabeleceram constantes relações materiais e simbólicas com o Brasil. As investigações sobre as práticas esportivas podem ser mais um contributo para desvendar essa história em comum28.
O uso de fontesNo cenário nacional, usamos como fontes, majoritariamente,
documentos e jornais. Há ainda um grande desafi o: a difi culdade de acessar material diferenciado em função da pouca organização de nossos arquivos, tanto das hemerotecas quanto das próprias entidades esportivas.
No âmbito de nosso grupo de investigação, temos desenvolvido alguns projetos que procuram contribuir para minimizar tais problemas. Um deles é o “Memória do Esporte na Imprensa”, cujo intuito é levantar, em periódicos do século XIX e década inicial do século XX,
28 Para mais informações, ver estudo de Melo (no prelo) e Melo (2009).
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
295
notícias sobre a prática esportiva, disponibilizando-as em um banco de dados acessível pela internet. Começamos o projeto pela Biblioteca Nacional, mas já estamos ampliando os esforços para outros acervos. Em sentido semelhante, estamos levantando os documentos sobre esporte disponíveis no acervo do Arquivo Nacional29.
Da mesma forma, começamos um projeto para tentar preservar, disponibilizar e divulgar o acervo de alguns clubes. Já conseguimos alguns avanços no que se refere ao material do Clube Ginástico Português e de documentos da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, iniciativas, no momento, inativas por falta de recursos.
Outro desafi o, já assumido por alguns pesquisadores, é o uso de fontes de outras naturezas, buscando ampliar os olhares sobre o esporte: fi lmes, obras de arte, memórias, obras literárias, peças dramatúrgicas (teatro e dança), material publicitário, músicas. No âmbito de nosso grupo, também temos feito alguns esforços de catalogação desse material no projeto “Esporte e Arte: diálogos”30.
Obviamente os desafi os são os mesmos para qualquer pesquisa histórica: compreender que cada uma dessas fontes requisita do historiador um posicionamento específi co e adequado.
Ampliação dos temas investigadosNo senso comum é corrente a afi rmação de que o Brasil é o país do
futebol. Independente dos exageros é inegável o grau de popularidade desse esporte não só no nosso país, como também no mundo. É assim compreensível que essa seja a prática que mais tem merecido atenção dos pesquisadores: houve tempo que falar em história do esporte signifi cava praticamente falar de história do futebol.
O quadro está mudando alvissareiramente, mas ainda são muitos os temas que merecem mais nossa atenção. Muitos são os esportes, por exemplo, que poderiam receber mais investimentos dos historiadores brasileiros. Mais ainda, há outras práticas que urgem por nosso cuidado: mesmo a história da dança carece de investimentos mais signifi cativos.
29 Para mais informações, ver em www.sport.ifcs.ufrj.br.30 Para mais informações, ver em www.sport.ifcs.ufrj.br.
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA296
Aliás, mesmo no que se refere ao futebol, poderíamos diversifi car nossos estudos. Um exemplo é o caso dos clubes pequenos, normalmente menos estudados em função do grande interesse por times de maior popularidade. Outro tema comum são as relações entre identidade nacional e o velho esporte bretão. Gênero, classe social, localismos, entre outros, são enfoques os quais o historiador pode e deve se debruçar quando trata das práticas corporais.
Conclusão –contribuições do esporte para a disciplina História
Para encerrar, vale a pena falar um pouco das possíveis contribuições do esporte para a própria disciplina acadêmica História. Devemos lembrar que as práticas corporais institucionalizadas são manifestações transnacionais e transtemporais.
Estamos lidando com algumas das manifestações culturais contemporâneas mais infl uentes e presentes em países diferentes. O esporte, por exemplo, é provável que seja uma das práticas sociais mais fortes no que se refere à transnacionalidade, podendo ser destacados seus eventos mais conhecidos (os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol) e duas de suas entidades organizativas (A Federação Internacional de Futebol e o Comitê Olímpico Internacional, ambas com mais membros que a Organização das Nações Unidas).
Mais do que isso, é raro no decorrer da história encontrar algum período ou organização social que não tenha registrado alguma forma de prática corporal institucionalizada, obviamente com características distintas, com sentidos e signifi cados diferenciados.
Por essas características, tais manifestações culturais constituem-se em excelentes objetos para tencionar os próprios limites da disciplina História, inclusive por induzir os pesquisadores à busca de diálogos multidisciplinares. Aliás, vale lembrar que estamos lidando com fenômenos que já recebem atenção de muitas outras áreas de conhecimento: algumas que podem ser consideradas mais prováveis (como a Anatomia, a Economia, a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, a Economia, a Comunicação Social, entre outras), outras
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
297
mais curiosas (Oftalmologia do Esporte, Enfermagem do Esporte, Odontologia Esportiva, Engenharia Naval, entre outras). Isso tem relação com um campo de trabalho crescentemente especializado, mas também com a sua popularidade.
Tendo em vista esse quadro, sem signifi car que a História do Esporte deva deixar de existir enquanto campo específi co, deveríamos ter em conta sua contribuição para a constituição de um campo de investigação, denominado de “Estudos do Esporte”, que contemplaria o estudo das práticas corporais institucionalizadas a partir de uma perspectiva multidisciplinar. No nosso ponto de vista, nesse projeto devemos nos aproximar da perspectiva dos Estudos Culturais, algo distinto do que ocorre no cenário internacional, onde os Sports Studies parecem se constituir mais a partir de uma predominância da Sociologia31.
No início da década de 1960, Edward Carr, em livro que se tornou referência, lançou uma provocação, quase um grito de guerra, certamente uma convocação, que teve grande impacto entre os historiadores: “quanto mais sociológica a história se torna, e quanto mais histórica a sociologia se torna, tanto melhor para ambas”. Para concluir, brincando com Carr, parece ser possível afi rmar que: “Quanto mais a História olhar para o esporte, e quanto mais o esporte considerar a História, tanto melhor para os dois”.
History of Sport: a panorama
AbstractThis article argues that, in recent decades, the history of sport
appeared as a new professional fi eld of historical investigation, not only conducted by professional historians but also by researchers from a variety of academic affi liation, that use the metodology of History. The goal of this article is to discuss this path and suggest ways to improve methods of investigation.
31 Como exemplo, ver a obra organizada por Coakley e Dunning (2000).
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA298
Keywords:
History of Sport – Historiography.
Bibliografi aALMEIDA, Onésimo. Propósito da lusofonia (à falta de outro termo): o que a língua não é. 2008. Disponível em: http://www2.iict.pt/?idc=102&idi=13158. Acesso: 01 de março de 2009.
ARBENA, Joseph L. History of Latin American sports: the end before the beginning? Sporting Traditions, v.16, n.1, p. 23-28, nov.1999.
BARROS, José D’Assunção. O campo da história. Petrópolis: Vozes, 2004.
BARROS, José D’Assunção. História Comparada: um novo modo de ver e fazer a história. Revista de História Comparada, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.1-30, jun.2007.
BOOTH, Douglas. From allusion to causal explanation: the comparative method in sports history. International Sports Studies, v.22, n.2, p.5-20, 2000. Disponível em: http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/ISS/ISS2202/ISS2202c.pdf. Acesso em 10 de maio de 2009.
BOURDIEU, Pierre. Como é possível ser esportivo? In: BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p.136-163.
______. Programa para uma sociologia do esporte. In: BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. p.207-220.
BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
CARR, Edward. O que é História? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
COAKLEY, Jay; DUNNING, Eric. Handbook of Sports Studies. Los Angeles: Sage, 2000.
GENOVEZ, Patrícia Falco. O desafi o de Clio: o esporte como objeto de estudo da História. Lecturas: Educacion Física Y Deportes, Buenos Aires, ano 2, n.9, 1998. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd9/clio2p.htm. Acesso em 17 de outubro de 2009.
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
VICTOR ANDRADE DE MELO
299
GORELIK, Adrian. El comparatismo como problema: una introducción. Prismas: revista de história intelectual, Quilmes, n.8, p.121-128, 2004.
GIULIANOTTI, Richard (Org.). Sport and modern social theorists. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
______. Sport: a critical sociology. Cambridge: Polity, 2005.
HILL, Jefrey. British Sports History: a post modern future? Journal of Sport History, v.23, n.1, 1996.
KOCKA, Jurgen. Comparison and beyond. History and Theory, Londres, n.42, p. 39-44, fev./2003.
KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, p.134-146, 1992. Disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/101.pdf. Acesso em 16 de junho de 2009.
MELO, Victor Andrade de. História da História da Educação Física e do Esporte no Brasil: panorama, perspectivas e propostas. Revista Eletrônica de História do Brasil, Juiz de Fora, v.1, n.1, 1997a. Disponível em: http://www.boletimef.org/biblioteca/574/Historia-da-educacao-fi sica-e-do-esporte-no-Brasil. Acesso em 17 de outubro de 2009.
________. Porque devemos estudar História da Educação Física e do Esporte? Motriz, Rio Claro, v.3, n.1, 1997b.
________. Inezil Penna Marinho: notas biográfi cas. In: FERREIRA NETO, Amarílio (Org.). Pesquisa Histórica na Educação Física –volume 3. Aracruz: Ed. Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz, 1998.
______. De Olímpia (776 a.C.) a Atenas (1896) a Atenas (2006): problematizando a presença da antiguidade clássica nos discursos contemporâneos sobre o esporte. Phoenix, n.13, p. 350-376, 2007a.
______. Por uma história comparada do esporte: possibilidades, potencialidades e limites. In: MELO, Victor Andrade de (Org.). História comparada do esporte. Rio de Janeiro: Editora Shape, 2007b. p.13-32.
________. O esporte e a construção da nação: apontamento sobre Angola. Afro-Ásia, Salvador, 2008. no prelo.
VICTOR ANDRADE DE MELO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
HISTÓRIA DO ESPORTE: UM PANORAMA300
________. “O clube não se encontra à venda”: o golfe e os debates sobre os rumos de Cabo Verde. Rio de Janeiro, 2009. mimeo.
________. Esporte e lazer: conceitos. Rio de Janeiro: Apicuri/Faperj, 2010.
MENDONÇA, Alberto B. História do sport náutico no Brazil. Rio de Janeiro: Federação Brasileira de Sociedades de Remo, 1909.
ORTIZ, Renato. Estúdios culturales, fronteras y transpasos. Punto de Vista, n.71, dez.2001.
PACHECO, Eduardo. Crônicas do turf fl uminense. Rio de Janeiro: s.n., 1893.
PARK, Roberta J. Sport History in the 1990s: Prospects and problems. In: SAFRIT, Margaret J., ECKERT, Helen M. The cutting edge in Physical Education and exercise science research. Champaign: Human Kinetics, 1992.
RADER, B.G. Modern sports: in search of interpretation. Journal of Social History, 13, 1979.
SANTOS, Boaventura de Souza. Estado e sociedade na semiperiferia do sistema mundial: o caso português. Análise Social, vol.XXI, ns.87, 88, 89, 1985.
SOARES, Antonio Jorge. História e a invenção de tradições no campo do futebol. Estudos Históricos, v.13, n.23, p. 119-146, 1999.
SOARES, Antonio Jorge. Futebol brasileiro e sociedade: a interpretação culturalista de Gilberto Freyre. In: in ALABARCES, Pablo (Org.). Futbologías: fútbol, identidad y violencia en America Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. p. 145-162.
WIGGINS, David, MASON, Daniel. The socio-historical process in sport studies. In: ANDREWS, David, MASON, Daniel, SILK, Michael (Org.). Qualitative methods in sports studies. Nova Iorque: Berg, 2005. p. 39-64.
DOssIÊ – hIsTÓRIa e IDeIas POLÍTICas
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES DA REVISTA
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA
Heloisa Jochims Reichel1
Resumo:Nesse artigo, demonstramos, através da identifi cação e da análise de
artigos publicados na revista Civilização Brasileira, que muitos intelectuais brasileiros estavam engajados ou conheciam as novas tendências do pensamento da esquerda, surgidas na Europa nos anos de 1960.
O artigo se insere no campo de estudos da história intelectual, entendida a partir das contribuições de Sirinelli (1996) e Said (2004). Considerando, pois, que o mundo intelectual se organiza em núcleos restritos e, através desses espaços, é possível conhecer e compreender a estrutura do campo intelectual num determinado tempo e espaço, é que utilizamos a Revista Civilização Brasileira (RCB) como fonte para nossa análise. Analisamos o pensamento de intelectuais brasileiros e identifi camos, no interior dos confl itos e dos debates expressos na Revista, as cisões e mudanças de sentido que sofreram as atuações daquele grupo social no desenrolar da crise do marxismo e da invasão da Checoslováquia em agosto de 1968.
1 Professora Doutora em História Social, docente do PPGH e da Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA302
Palavras-chave:
Intelectuais – Crise do Marxismo – Revista Civilização Brasileira
Durante os anos que antecederam a implantação da ditadura militar no Brasil, era possível identifi car, na América Latina, certo equilíbrio entre as forças políticas que se manifestavam pró-EUA e as que mostravam simpatia para com ao modelo socialista. Faziam-se presentes, no campo de debates, partidos políticos e sindicatos de trabalhadores que defendiam uma aproximação com a União Soviética, governos populistas que, apesar de refratários à infl uência norte-americana, não se posicionavam a favor do comunismo ou, ainda, governos conservadores, partidos e agremiações empresariais que se mostravam perfeitamente identifi cados com a posição norte-americana.
No campo das relações internacionais, uma forte pressão era exercida pelos EUA sobre os países latino-americanos, exigindo que os mesmos se alinhassem ao bloco capitalista de forma unívoca e coesa. Uma só voz para a América era o que pregava o governo norte-americano. Na intenção de alcançar seus objetivos, Washington estimulou, no campo diplomático, a formação de organismos de representação continental, dentre as quais se destaca, especialmente, a Organização dos Estados Americanos (OEA). Através dessa entidade, promoveu a realização de congressos e reuniões que reuniam presidentes e/ou chanceleres dos países da região, passando, assim, a sensação de que todos os membros deliberavam, em igualdade de condições, sobre a política externa comum a ser adotada. Estabeleceu, ainda, contratos bilaterais de ajuda fi nanceira e militar com muitos dos governos latino-americanos. A União Soviética, por sua vez, tentava marcar sua presença, auxiliando os partidos comunistas e sindicatos que propagavam e defendiam o comunismo ou os governos que tentavam enfrentar os Estados Unidos.
Nesse contexto, marcado pela guerra-fria, onde se faziam sentir, concomitantemente, as estratégias de domínio econômico e ideológico dos EUA e as tentativas de maior penetração do comunismo, a sociedade brasileira e, especialmente, a sua intelectualidade, foram chamadas a se
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
303
posicionar. Tinha-se a convicção de que a tormentosa história brasileira havia entrado numa etapa decisiva e resolutiva.
Vivenciou-se no país, então, uma etapa crítica do desenvolvimento da autoconsciência e da identidade nacional, tendo surgido duas matrizes de pensamento distintas e discordantes quanto ao modelo de desenvolvimento a ser adotado e às alianças necessárias para alcançá-lo. A primeira, à qual se vinculava a maioria dos intelectuais progressistas e militantes de partidos ou movimentos de esquerda, defendia uma nação soberana e anti-imperialista que se opunha radicalmente às propostas de união continental sugeridas pelos Estados Unidos. A outra, partidária da integração continental sob a ingerência norte-americana, era defendida pelos setores conservadores da sociedade e tinha, na Igreja, nos políticos, intelectuais conservadores e nos veículos de comunicação, seus principais porta-vozes. Em ambas, porém, a dimensão nacional se sobressaia e era realizado um grande esforço de interpretação sobre a realidade atual e a passada do país.
Durante os anos da década de 1950, as análises economicistas predominaram e os especialistas na área se destacaram dentre os intelectuais. Aqueles que se vinculavam à tendência progressista discutiram sobre temas ligados à necessidade de ruptura e de mudança do modelo de desenvolvimento adotado pelo país e ofereceram estudos que buscavam atingir o desenvolvimento industrial. Nesse período, predominou, em especial, a infl uência do pensamento do grupo formador da CEPAL2. Dentre os economistas que, no Brasil, tiveram sua atuação inspirada no pensamento cepalino, destaca-se Celso Furtado que realizou várias análises acadêmicas acerca do processo de formação das economias nacionais e latino-americana, Deu, também, inestimável contribuição à política brasileira, quando atuou junto a três governos antes do golpe de 1964, planejando e dirigindo planos de desenvolvimento que buscavam incrementar a industrialização via a substituição de importações.
Ao fi nal dos anos 1950 e princípio dos anos 1960 - já com a Revolução Cubana e a Aliança para o Progresso em andamento - a
2 CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina- organismo da ONU criado em 1949.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA304
teoria do intercâmbio desigual, dos primeiros cepalinos, passou a ser reformulada por economistas e, principalmente, por sociólogos de inspiração marxista. Esses haviam constatado, em suas pesquisas, a permanência da pobreza e das desigualdades sociais apesar do desenvolvimento industrial alcançado por alguns países3.
Cabe destacar que, naquele momento, uma nova especialidade das ciências humanas, as ciências sociais, começava a despontar no cenário intelectual latino-americano. Sendo assim, outra corrente de pensamento que ganhou evidência nesse período e que esteve vinculada à introdução dos estudos sociológicos na academia foi a da teoria da modernização. Tendo em Gino Germani um dos seus expoentes, ela abordou os efeitos produzidos pela integração dos países latino-americanos ao mercado mundial, ampliando o campo de observação de modo a incorporar fatores de ordem social e política às análises anteriores, essencialmente econômicas. Para Germani, a modernização, na América Latina, não se processara da mesma forma que ocorrera na Europa. A urbanização antecedera à industrialização, sendo que os dois fenômenos ocorreram muito rapidamente. Isso provocara tensões sociais entre o operariado e a burguesia, as quais repercutiram fortemente na política dos países da região.
Os intelectuais da tendência conservadora não tardaram a reagir frente as ideias e aos planos políticos que visavam alterar o status quo vigente no país e na América Latina. Ao perceberem o avanço das forças progressistas, uniram-se a outros setores da sociedade e da política brasileiras na luta contra o que era chamado, por muitos e vulgarmente, de “comunismo” ou “perigo vermelho”. Por fi m, em 1964, deram aval ao golpe militar que instalou, pela primeira vez de forma não transitória, as Forças Armadas no poder.
Fica claro, assim, que, ao contrário do “silêncio”4 que caracteriza a forma atual como os intelectuais atuam na política ou se relacionam
3 Dois cientistas sociais que são constantemente referidos pela contribuição de suas obras ao debate sobre o desenvolvimento da América Latina são Andre Gunder Frank, autor da obra Capitalismo y subdesarrollo en América Latina (1973) e Fernando Henrique Cardoso, coautor de Dependência e Desenvolvimento da América Latina (1970). 4 Tem sido frequente a utilização do termo “silêncio” para caracterizar a forma como os intelectuais vêm participando na sociedade atual. Adauto Novaes, organizador da obra O Silêncio dos
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
305
com a sociedade em geral, na década de 1960, eles acreditavam que eram responsáveis por oferecer alternativas de mudanças sociais e políticas às nações, participando, inclusive, de governos que se propusessem a realizá-las. Imersos no discurso ideológico que embasava a guerra-fria, essa atitude pró-ativa que os caracterizava era infl uenciada pela concepção gramsciana de intelectual orgânico5. Na obra Os intelectuais e a formação da cultura, Antonio Gramsci (1981) destaca que cada grupo social cria para si, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais, os quais se tornarão responsáveis pela elaboração de uma teoria que permitirá uma relativa homogeneidade entre a classe, tanto na esfera econômica, quanto na política, ou na social.
Sobre o engajamento político-ideológico dos intelectuais dos anos 1960, Halperin Donghi (1987) assim se referiu:
[...] Esa década incluye la defi nición socialista de la revolución cubana, pero también la muerte del Che, y su legado más importante para Latinoamérica continental va a ser la invención de un nuevo estilo de autoritarismo militar, surgido por primera vez en Brasil a partir de 1964. En medio de las peripécias de esos años trágicos, ni científi cos sociales ni escritores hallan fácil establecer una relación sin ambigüidades entre su obra específi ca y su condición de participantes – que casi nunca se resignan a ser sólo participantes- en esa marcha de rumbo cada vez más incierto. (DONGHI, 1987, p. 281, grifo nosso).
Intelectuais (2006 p.7-18), considera que o uso dessa palavra expressa a crise que a categoria vivencia nas últimas duas décadas. Segundo ele, incapaz de interpretar o processo de mutação porque passa a civilização ocidental, no qual o passado parece inexistir, o presente é fugaz e o futuro mostra-se incerto e impossível de imaginar, o intelectual tem preferido não intervir na prática política. Na maioria das vezes, tem se confi nado em gabinetes e desenvolvido atividades acadêmicas e de pesquisa em universidades, pouco se comunicando com o público em geral. Quando isso acontece, frequentemente, se torna refém dos interesses e da lógica imediatista e volátil da mídia.5 Segundo Said (2005), para Antonio Gramsci, intelectual é todo aquele homem cuja produção visa moldar a mentalidade de uma sociedade. Assim, o grupo de intelectuais seria bastante amplo, heterogêneo e, conforme a função que cada um desempenha, pode ser dividido em dois sub-grupos: tradicionais e orgânicos. Os do primeiro grupo seriam mais estáveis e vem desempenhando as mesmas funções geração após geração (clérigos, administradores, professores). Já os do segundo, seriam mais dinâmicos, mais mutáveis por estarem à disposição de interesses de grupos sociais. Seu foco seria sempre o de propagar o máximo possível as ideias/crenças do grupo que defende
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA306
Nesse artigo, privilegiamos um grupo de intelectuais brasileiros que se opôs à ditadura militar e, pertencendo à tendência esquerdista e progressista, se caracterizou por manifestar simpatia para com o pensamento marxista e/ou para com a experiência soviética. É frequente, entretanto, encontrarmos a afi rmação de que, talvez por estarem imersos em uma luta contra um regime que se instalara em nome do anti-comunismo, a intelectualidade brasileira não acompanhou as discussões que se travaram na Europa na década de 1960 e que deram início àquilo que se denominou “a crise do marxismo”. Essa crise colocou em oposição muitos dos pensadores da esquerda europeia e o “comunismo real”, aplicado pelo governo da União Soviética.
Nosso objetivo é demonstrar, através da identifi cação e da análise de artigos publicados na revista Civilização Brasileira, que muitos dos intelectuais brasileiros estavam engajados ou conheciam as novas tendências do pensamento da esquerda. Nossa posição é de que a discussão de temas relativos à crise do marxismo estava presente na comunidade dos intelectuais de esquerda do Brasil, tendo sido interrompida quando da instalação do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, alguns meses após, inclusive, do encerramento das atividades da referida Revista.
O artigo se insere no campo de estudos da história intelectual. Segundo Sirinelli (1996), a história intelectual foi, inicialmente, confundida com a história política ou com a escrita de biografi as. A partir da emergência da École de Annales, quase desapareceu em função da oposição feita à história política tradicional. Concomitantemente, o crescimento da historiografi a marxista, com uma propensão para priorizar as grandes estruturas e as questões relativas aos setores populares, contribuiu para que esse campo historiográfi co caísse no ostracismo.
No fi nal da década de 1970, passou a ser novamente valorizada, muito em função da expansão da história social e cultural e da revitalização da história política. A partir de então, a história intelectual fi rmou-se como uma corrente historiográfi ca que não se limita a agrupar e rotular intelectuais através de características discursivas ou de pensamento comuns. Também, não aceita os discursos como enunciadores de
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
307
verdades absolutas e ahistóricas, ou seja, que sejam aplicáveis a todos os momentos históricos. Os interesses de análise da história intelectual se concentram, hoje, na valorização do contexto em que o pensamento foi produzido, na identifi cação das representações sociais contidas no mesmo, na contribuição das ideias do autor ao imaginário coletivo e na representatividade social do intelectual, vista, principalmente, através da amplitude do grupo e das redes a que pertence. Segundo Sirinelli:
O meio intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, um ‘pequeno mundo estreito‘, onde os laços se atam, por exemplo, em torno da redação de uma revista ou de um conselho editorial de uma editora. (SIRNELLI, 1996, p. 248).
Considerando, pois, que o mundo intelectual se organiza em núcleos restritos como, por exemplo, a edição de uma revista e, através desses espaços, em que vários intelectuais interagem, é possível conhecer e compreender a estrutura do campo intelectual num determinado tempo e espaço, é que utilizamos a Revista Civilização Brasileira (RCB) como fonte para nossa análise.
Sendo assim, ao analisarmos o pensamento de intelectuais brasileiros, buscamos identifi car e analisar, no interior dos confl itos e dos debates expressos na Revista, as cisões e mudanças de sentido que sofreram as atuações daquele grupo social no desenrolar da crise do marxismo.
Em outros artigos de nossa autoria, demonstramos que os setores dominantes, utilizando-se dos meios de comunicação de massa, propagavam uma campanha contra o comunismo, apresentando-o como o “perigo” maior que ameaçava o Brasil e a América Latina naquele momento (REICHEL, 2004, p. 189-211; REICHEL, 2005, p. 29-41). A tendência conservadora, orientada pelos interesses e pela visão de mundo dos EUA, tinha na grande imprensa um dos principais veículos de difusão de suas ideias e posicionamentos político-ideológicos. Nela, por exemplo, a integração latino-americana era apresentada como necessária para a obtenção do sucesso na luta contra o comunismo, foco central da política norte-americana. De maneira geral, a região
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA308
era desenhada a partir de problemas e características políticas, sociais, econômicas ou culturais que a apresentavam sob ameaça constante do avanço e domínio soviético. A imprensa divulgava representações que estimulavam uma posição pró-americana e anti-comunista, as quais eram, em sua grande maioria, geradas por agências de notícias norte-americanas.
Os intelectuais de esquerda, facção dominante intragrupo, tentavam desconstruir essas imagens através da divulgação das ideias marxistas e das práticas políticas do regime comunista. Como não encontravam espaço facilmente na grande imprensa, buscaram outros meios para propagar as ideias socialistas e estimular o debate. Uma das táticas utilizadas para enfrentar o problema foi a publicação de revistas e periódicos, editados principalmente por instituições públicas e acadêmicas ou, também, por particulares, como foi o caso da Revista Civilização Brasileira.
A Revista Civilização Brasileira (RCB) foi lançada em março de 1965, sendo editada e impressa no Rio de Janeiro. Ela teve sua publicação encerrada em dezembro de 1968, momento que sua circulação fi cou inviabilizada pelo recrudescimento do regime militar instaurado no governo brasileiro a partir de 1964. Ao longo de sua curta existência de quatro anos, foram vendidos 22 números bimestrais regulares e três cadernos especiais, todos buscando atingir um público qualifi cado, formado por profi ssionais liberais, acadêmicos, estudantes universitários, líderes políticos e sindicais. Mesmo considerando esse público alvo, ela foi lançada no mercado brasileiro para ser comercializada em bancas de revistas e livrarias. Suas publicações representam a mais importante das iniciativas em periódicos da Editora Civilização Brasileira, tanto em termos de tiragem, como em prestígio editorial. Sua tiragem inicial foi de 10.000 exemplares, tendo alcançado, a partir do segundo número, 20.000 exemplares e, em alguns outros, chegado a 45.000 exemplares.
Seu idealizador, proprietário e fundador foi o jornalista Ênio Silveira. Faziam parte do quadro de colaboradores da revista intelectuais egressos do PCB (Partido Comunista Brasileiro), ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), CPC (Centro Popular de Cultura), UNE (União Nacional dos Estudantes), CTI (Comando dos Trabalhadores Intelectuais) e jornal “Correio da Manhã”, tais como:
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
309
Carlos Heitor Cony, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Otto Maria Carpeaux e outros. Este grupo de colaboradores e articulistas caracterizava-se principalmente pelo seu ecletismo teórico.
O periódico representou um verdadeiro polo aglutinador da resistência intelectual ao governo militar do Brasil, mas também ao de outros países latino-americanos que se encontravam sob o controle direto ou indireto de militares e setores das sociedades nacionais aliados ao imperialismo norte-americano ou europeu. Entre seus princípios e propósitos gerais mais signifi cativos, constavam o desenvolvimento nacional, o anti-imperialismo, bem como a defesa da cultura nacional e da emancipação política para todas as nações da América Latina. Dentre os mais imediatos e relacionados à realidade do Brasil, destacava-se a necessidade urgente do retorno da política brasileira ao regime democrático.
O regime militar no Brasil caracterizou-se pelo centralismo e pelo autoritarismo, recorrendo frequentemente à repressão e à violência para silenciar seus opositores. Nos primeiros anos da ditadura, foram decretados vários atos institucionais que delinearam o governo como sendo ditatorial e de repressão às liberdades individuais e de expressão. O golpe fi nal contra os ideais democráticos foi deferido através da decretação do AI-5, no dia 13 de dezembro de 1968. Através dele, o então presidente general Arthur da Costa e Silva fechou o Congresso, investiu-se do poder de cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos. Outra medida importante do AI-5 foi à suspensão do habeas corpus, fato que agravou a situação dos presos políticos e a censura imposta aos meios de comunicação e à sociedade em geral. É importante destacar, porém, que mesmo antes dessas determinações, a Revista Civilização Brasileira não teve mais possibilidades de continuar sendo editada, deixando de circular no início do mês de dezembro.
Não foi apenas a repressão dos militares que provocou o desgaste fi nanceiro e humano da RCB. Em depoimento, Enio Silveira6 revelou 6 M. R. ROSA. O pensamento de esquerda e a Revista Civilização Brasileira (1965-1968). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Porto Alegre, 2004, 152p.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA310
que problemas internos também contribuíram para o seu fechamento, como a gradual cisão no conjunto das forças hostis ao golpe. Segundo ele, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) tinha uma posição, mas havia os grupos dissidentes, formados por maoístas, foquistas, albaneses e, ainda, a ruptura dentro do próprio PCB .
Ao longo de seus quatro anos de existência, a Revista Civilização Brasileira combateu o programa de governo dos militares. Até o golpe de março de 1964, mais precisamente durante os governos populistas de Vargas e João Goulart, os intelectuais de esquerda brasileiros haviam mantido uma posição de concordância e de apoio às políticas do Estado. Com a ditadura militar, porém, passaram a ser oposição ao governo. Como consequência, um ano após os militares assumirem o poder ofi cialmente, em 15 de abril de 1964, a RCB lançou seu primeiro número. Nele, defi nia como um dos seus principais objetivos a realização de pressões para que o país retornasse à democracia.
A RCB não esteve sozinha nessa luta. Schwarz (1978) refere a reação que a ditadura militar provocou na intelectualidade do país:
Para surpresa de todos, a presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data [1964] , e mais, de lá para cá não parou de crescer [...]. Apesar da ditadura de direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estréias teatrais, incrivelmente festivais e febris [...]. Em suma, nos santuários da cultura burguesa, a esquerda dá o tom (SCHWARZ, 1978, p. 62).
Na reorganização do campo intelectual após 1964, a democracia assumiu papel unifi cador. Mais do que nunca, a legitimação do intelectual passava por uma tomada de posição política, acentuando uma postura intransigente de oposição ao regime militar. Isso representou a passagem de um número signifi cativo de intelectuais, antes “livres” e sem maiores envolvimentos políticos, à militância, o que pode ser comprovado pelo grande número de intelectuais não-militantes, no período anterior ao golpe, que passaram a compor, com suas assinaturas e textos, as páginas da RCB.
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
311
Segundo os intelectuais que publicavam na RCB, o Brasil necessitava se libertar dos laços externos que mantinha com os grandes centros capitalistas (EUA) e que o levavam à crise e ao subdesenvolvimento, deixando assim a posição de vassalo do imperialismo. Igualmente, deveria voltar-se para os problemas internos do país. Diante da incapacidade de outros segmentos da sociedade brasileira se fazerem representativos com seus interesses na esfera política, defendiam a ação e a intervenção do intelectual sobre a realidade nacional. De acordo com esses propósitos, a RCB publicava artigos que analisavam a problemática da política e do desenvolvimento nacional.
Publicava também muitos artigos que se referiam à questões internacionais e latino-americanas. Dentre as internacionais, prevaleciam as concernentes ao andamento do processo de renovação marxista que se iniciara após a morte de Stalin, objeto principal de nossa atenção nesse momento. No seu número 14, por exemplo, publicou o artigo O diálogo sobre o marxismo de Eric Hobsbawm (HOBSBAWM, 1967, p. 184-190). Tratava-se de um pequeno texto, no qual o autor visualizava, em tom leve e animador, o excepcional momento de revigoramento experimentado pelo marxismo. A análise marxista tradicional estaria abrindo espaço - desde o colapso da tendência de unifi cação do movimento comunista internacional através da União Soviética - ao reconhecimento do desenvolvimento das contradições internas e a um conjunto novo de iniciativas que visavam desenvolver instrumentos renovados de pesquisa, sobretudo nos campos da economia e das ciências sociais. Na conclusão, Hobsbawm escreveu:
Encontramo-nos em uma situação na qual o marxismo está dividido, tanto no plano político quanto no teórico, e é necessário que para o futuro imediato nos adaptemos a enfrentar esta realidade. É inútil lamentarmos tempos em que não era assim. Estamos em uma situação em que o marxismo deve recuperar o tempo perdido, de duas maneiras: liquidando a herança daquela espécie de era glacial intelectual que atravessou (o que não signifi ca que devemos automaticamente recusar tudo o que foi dito ou feito naquele período), e assimilando tudo o que de melhor
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA312
ocorreu nas ciências, desde o momento em que, neste campo, cessamos de pensar seriamente. [...] É preciso retornar ao marxismo como sistema científi co. Talvez o mais auspicioso sinal da atual situação internacional – e inglêsa – sob outros aspectos nada auspiciosa, é que um número sempre maior de marxistas está retornando ao marxismo no sentido aqui enunciado7. (HOBSBAWM, 1967, p. 189 e 190)
O período estaria marcado por uma real e intensa retomada da atividade teórica e do que seria a “ciência marxista”, que cedera lugar ao “dogmatismo comunista” durante o stalinismo. Nesse sentido, a revista publicou artigos de teóricos consagrados do momento como Georg Luckás, Jean-Paul Sartre, Berthold Brecht, Adam Schaff, Lucian Goldman, Paul M. Sweezy, Karel Kosik, Louis Althusser, quase todos de orientação marxista. Além de acompanhar o debate que se travava em nível internacional, a Revista procurava divulgar as diversas posições que iam surgindo em relação ao marxismo contemporâneo, pois considerava que o leitor deveria conhecê-las para poder avaliar a que melhor contribuía à construção de uma “sociedade sem classes”8. Mesmo assim, não deixava de se posicionar. Tal atitude pode ser verifi cada tanto quando da publicação do volume especial sobre a invasão da Tchecoslováquia, assunto que vamos nos deter a seguir, como quando da publicação do prefácio à edição brasileira de Lire le capital ou Análise Crítica da Teoria Marxista de Louis Althusser, momento em que introduziu o texto com as seguintes palavras:
Na controvérsia que se trava atualmente não só na França como nos principais centros culturais do mundo em torno dos problemas em que se movimenta o marxismo contemporâneo, Louis Althusser, colocando-se num pólo oposto às acentuadas linhas de “abertura” ou de fl exibilidades propostas nas obras de Roger Garaudy. [...] Prosseguindo em sua orientação principal de oferecer,
7 Tradução de Fausto Ricca de “Il dialogo sul marxismo”, publicado em Il contemporâneo de setembro de 1966, que representa a parte essencial do ensaio de E. Hobsbawm, cujo original consta no vol. 10, nº 2, de 1966, de Marxism Today.8 Expressão empregada pelos editores na apresentação do caderno especial número 3, setembro de 1968.
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
313
através do debate e da pesquisa, os vários ângulos ou modos de ver capazes de propiciar um exame crítico das correntes vivas da cultura atual, publicamos hoje o prefácio do autor de “Lire le capital (ALTHUSSER, 1967, p. 171).
Seguindo sua linha editorial e com o objetivo de conectar a intelectualidade brasileira à discussão que era travada sobre os rumos do marxismo em nível internacional, a RCB publicou dois cadernos especiais que versaram sobre essa temática9. O primeiro deles saiu publicado em novembro de 1967 e pretendia “expor alguns traços mais marcantes do que foi e do que vem sendo o evolver da Revolução Soviética”10. Nele, além de apresentar a reportagem A URSS Hoje: Rumo ao Cosmos e ao Confôrto Pessoal, de autoria do editor Enio Silveira e fruto de uma viagem do mesmo a algumas cidades russas, foram publicados artigos, divididos em várias seções, que analisavam os rumos tomados pela Revolução Russa nos campos da economia, da cultura, da poesia ou, ainda, que abordavam a repercussão da mesma no Brasil.
Alguns textos desse caderno foram escritos por intelectuais brasileiros muito vinculados ao Partido Comunista Brasileiro. Como exemplo, temos Problemas da Literatura Soviética, de Carlos Nelson Coutinho e o de Astrogildo Pereira, Sobre a Revolução Russa. Outros, consistiam-se da reprodução de alguns textos dos principais agentes da Revolução, como o de Lenin, As tarefas imediatas do Poder Soviético ou o de León Trotski, O que foi a Revolução de Outubro?. Destacamos, para análise, entretanto, os textos que compunham a seção II do caderno especial, denominada: A Revolução do Pensamento Contemporâneo.
Apesar de, na Apresentação, os editores terem afi rmado que era “desnecessário salientar que, como em qualquer estudo que se queira culturalmente válido,[...] nossa preocupação fundamental foi e será o que consideramos condição sine qua non aos atos de pensar e de
9 Ao todo, ela chegou a publicar apenas três números dessa modalidade. O de número 2 dedicou-se a analisar a produção teatral brasileira do período. 10 Apresentação, Revista Civilização Brasileira, Caderno Especial nº 1, Ano III, novembro, 1967.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA314
escrever, ou seja, independência no exercício da inteligência crítica [...]”(RCB, 1967, p. 5), a escolha da seção, o título da mesma e os autores selecionados11 indicavam o apoio da RCB à ruptura para com a fase dogmática que o stalinismo impusera. Acompanhavam e procuravam difundir junto ao público leitor as transformações teóricas por que passava o marxismo, publicando, para tal, trechos de importantes obras que circulavam em meio à intelectualidade do mundo inteiro naquele momento, as quais clamavam por uma releitura da Revolução Russa. Nesse sentido, destaca-se o texto Marxismo do século XX, extraído do livro do mesmo nome de autoria de Roger Garaugy12, que assim se referia às decisões de iniciar uma nova etapa revolucionária, tomadas no XX Congresso do Partido Comunista Russo.
Quaisquer que tenham sido os erros em seguida cometidos por Nikita Kruchev [...] é um mérito sem precedentes o ter um dia, diante do mundo inteiro, posto em discussão fundamental uma concepção e métodos que levaram um regime socialista a se privar da riqueza única constituída pela iniciativa histórica pessoal de milhões de cidadãos e de militantes, derramando o sangue deles, violando as regras da democracia no Partido e no Estado e até mesmo servindo-se da teoria dogmatizada como ideologia de justifi cação para esse crime contra o socialismo. (Revista Civilização Brasileira, 1967, p. 8)
A publicação de textos de Garaudy ou de Geórg Lukács, que reivindicavam uma discussão sobre o signifi cado da Revolução Russa e os rumos que o socialismo deveria tomar, servem para explicar o porquê da escolha do tema do terceiro caderno especial, publicado em setembro de 1968, ainda no calor do desenrolar da crise na Tchecoslováquia.
Afi rmando que o signifi cado e as consequências da crise na Tchecoslováquia “ultrapassam fronteiras geográfi cas e dizem respeito
11 Compunham a seção, os seguintes artigos e autores respectivos: Marxismo do Século XX de Roger Garaudy, A Revolução Inacabada (1917-1967) de Isaac Deutscher, Carta sobre o stalinismo, de Geórg Lukács, União Soviética: 1953-1963 de Henri Chambre e Sobre a justeza do princípio de Leszek Kolakowski.12 Obra e autor que haviam sido criticados por Althusser, como vimos, no prefácio de seu Lire le capital.
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
315
à própria evolução do homem rumo a uma sociedade sem classes” (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 3). “trazendo implicações para nós, os do Terceiro Mundo” (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 5), os editores se posicionaram fortemente contra a atuação da URSS e dos quatro outros países do Pacto de Varsóvia que invadiram o país tcheco. Numa das seções em que dividiram o editorial, que recebeu o sugestivo título A crise no mundo socialista, os editores escreveram:
STÁLIN NÃO MORREUQuais os ‘desvios’ dos dirigentes do PC da Tchecoslováquia que provocaram a intervenção no seu país pelos aliados do Pacto de Varsóvia?A Agência Tass, refl etindo o constrangimento do gôverno soviético ante a onda de protestos que se levantou em todo o mundo, espalhou aos quatros ventos que a invasão se justifi cava pela necessidade de reprimir fôrças ‘contra-revolucionárias’ que estariam prestes a tomar o poder na Tchecoslováquia. Talvez seja oportuno lembrar aqui que nós brasileiros ouvimos também justifi cativa parecida, em sentido contrário, a 1º de Abril de 1964 [...] Fazendo corô com a Tass, as agências de notícias dos demais países que participaram da invasão ao lado da União Soviética passaram a informar sôbre o ‘revisionismo e oportunismo de direita’ dos líderes tchecos.A verdade porém é bem outra: Dubcek e seus companheiros ousaram tocar no bezerro de ouro – o poder discricionário dos burocratas, dos profi ssionais do socialismo! (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 5)
Contudo, manifestando mais uma vez seu objetivo de informar e oferecer subsídios para que o leitor formasse sua opinião de forma independente, a revista iniciou o volume, apresentando um conjunto de documentos sobre as origens e o desenrolar da crise. Constava, dessa primeira parte, um balanço cronológico dos acontecimentos desenrolados desde março de 1967, quando a agitação crescente nos meios intelectuais provocou um endurecimento da direção do Partido Comunista Tchecoslovaco, em Praga, até 20 de agosto de 1968, quando, às 23h e 30 m, tropas estrangeiras invadiram a Tchecoslováquia. Este
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA316
documento, publicado originalmente no jornal francês Le Monde (22/08/68), foi acompanhado de outros, como o denominado As razões da Rússia (p.55-72), quase todos cedidos pelas embaixadas dos respectivos países no Brasil, que expressavam a versão dos invasores. Importante, também, foi a publicação da Carta dos Partidos Irmãos ao Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia, documento elaborado em Varsóvia em 15 de julho de 1968, no qual os Partidos Comunistas dos demais países da Europa Oriental se mostravam preocupados com as manifestações em prol da liberdade de expressão que os tchecos reivindicavam, considerando-as obra do imperialismo capitalista. Segundo eles,
os inspiradores desta campanha hostil querem, como se conclui, turbar a consciência do povo tchecoslovaco, desorientá-lo e minar a verdade do que a Tchecoslováquia pode manter sua independência e soberania só como um país socialista e membro da comunidade soviética (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 30).
Porém, fez parte do conjunto de documentos que apresentava a posição adotada por vários partidos comunistas, o que expressava o pensamento do Partido Comunista Brasileiro em relação ao episódio. Este, ao contrário da maioria dos partidos dos países da Europa Ocidental, como França e Itália, apoiou a ação invasora e tributou a crise na Tchecoslováquia a problemas internos como os de “culto à personalidade” e desenvolvimento regional desigual. Ao concluir o documento, publicado pelo Comitê Central no jornal Voz Operária em setembro de 1968, o PCB registrou sua posição:
O Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro reafi rma a validade dos princípios gerais das declarações do movimento comunista internacional, estabelecidas nas conferências de Moscou de 1957 e 1960 e que foram ratifi cadas no VI Congresso. Entre esses princípios encontra-se o que norteia as relações dentro do movimento comunista internacional, ou seja, de que as bases das relações entre os partidos irmãos são os princípios do
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
317
internacionalismo proletário, a subordinação aos interesses internacionalistas da classe operária, a solidariedade e o apoio mútuo, o respeito à independência e à igualdade de direitos dos partidos e a não ingerência em seus assuntos internos. [...] As forças militares dos cinco países foram enviadas à Tchecoslováquia não para interferirem em seus assuntos internos, mas para garantirem a independência da Tchecoslováquia diante da ingerência imperialista, para possibilitarem às forças socialistas desse país prosseguirem na edifi cação da sociedade socialista e no processo de ampliação da democracia socialista (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 98).
Se compararmos o interesse que muitos intelectuais brasileiros demonstravam em relação ao processo de renovação do marxismo com essa manifestação do PCB, podemos entender porque Silveira identifi cou que, além dos problemas impostos pela crescente censura à imprensa adotada pelo regime militar, a divisão entre as esquerdas brasileiras afetava diretamente os intelectuais que publicavam na RCB, sendo esse fato responsável também pelo encerramento das atividades da revista. Não sem razão, ela deixou de circular dois meses após a publicação desse caderno especial, no qual evidenciara um posicionamento totalmente distinto ao do PCB.
Analisando a segunda parte do volume dedicado à invasão da Tchecoslováquia, constatamos que ela ocupou quase dois terços das páginas do exemplar e, nela, os artigos e seus autores criticavam a invasão da Tchecoslováquia. Numa seção de quase 200 páginas, O Dossier Tchecoslovaco, foi publicado um conjunto de documentos, elaborado por autoridades e intelectuais tchecos, que buscava apresentar a versão tcheca da crise. Quase todos destacavam a necessidade de prevalecerem e serem reconhecidas as contradições internas de cada país, assim como a liberdade de expressão. No texto de autoria do escritor Vladimir Minác, encontramos:
Concordamos, aqui, pela décima vez, que a sociedade dos produtores livres só poderá ser realizada alargando-se continuamente o campo da liberdade e não, encolhendo-o.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA318
[...] A democracia é escolha, eleição. Escolha também das palavras e pensamentos (MINÁC, 1968, p. 143).
Foi publicado também o manifesto “Duas mil palavras” assinado por 70 destacadas personalidades tcheco-eslovacas, documento que exerceu infl uência decisiva na crise que abalou aquele país da Europa Central. Dizia ele:
A vida de nossa nação, antes ameaçada pela guerra, conheceu em seguida um período sombrio pelos acontecimentos que puseram em perigo sua saúde espiritual e seu próprio caráter.Foi com um sentimento de esperança que a maioria da nação aceitou o programa do socialismo. Mas as alavancas de comando não caíram em boas mãos. Que faltasse experiência aos estadistas, conhecimentos práticos ou cultura fi losófi ca, isto não teria tido maior importância se, ao menos, êles tivessem sido capazes de escutar as opiniões dos demais e se êles se deixassem substituir por outros mais capazes (MINÁC, 1968, p. 217).
Além do “O Dossier “Tchecoslovaco”, o caderno especial dedicou, ainda, uma seção a aspectos culturais relacionados com a crise no país. Nela, destaca-se o texto do fi lósofo Tchecoslovaco Karel Kosik, autor do livro Dialética do Concreto, que teve grande repercussão entre os estudiosos da teoria marxista no Brasil e que, segundo a revista anunciava naquele momento, seria publicado ainda naquele ano pela Editora Paz e Terra (KOSIK, 1969, p. 284).
No artigo “A crise do Homem contemporâneo e o socialismo”, Kosik interpretou o signifi cado da crise da Tchecoslováquia, como sendo fruto da renovação do pensamento marxista. Para ele:
O sentido e o alcance dos atuais acontecimentos na Tchecoslováquia encontram sua melhor caracterização em dois têrmos hoje cotidianamente presentes em Praga e Bratislava: de um lado crise, de outro socialismo Humanístico. Nestes dois têrmos, há muito mais conteúdo do que possa parecer à primeira vista: vale dizer, êles contêm tanto o estado atual quanto a perspectiva, e
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
319
constituem, ao mesmo tempo, o ponto de confl uência da refl exão e da ação, do pensamento crítico e da política revolucionária. A sociedade Tchecoslovaca se encontra em crise e tenta resolver esta crise orientando-se para um socialismo humanístico (KOSIC, 1969, p. 311).
Por fi m, a última sessão do caderno especial esteve dedicada à reprodução de manifestos de intelectuais, tanto estrangeiros quanto nacionais, que se manifestaram contrários à invasão e em apoio ao povo tcheco. Destacamos, especialmente, o dos intelectuais franceses, onde assinaram Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre que dizia:
Convencidos de que o stalinismo e seus métodos são contrários aos interêsses e às aspirações dos países socialistas e do desenvolvimento revolucionário mundial em seu conjunto; convencidos de que êsses interêsses, aspirações e movimentos não devem ser submetidos aos interêsses políticos e estratégicos de uma grande potência, qualquer que ela seja, fazemos êste apêlo aos comunistas de todos os países para que exprimam claramente seu protestos aos atuais dirigentes da União Soviética (BEAUVOIR; SARTRE, 1966, p. 385).
O manifesto dos intelectuais brasileiros, por sua vez, assinado por mais de 50 nomes de destaque do mundo cultural e acadêmico13, deixa claro que a crise do marxismo era discutida na sociedade brasileira:
Os ABAIXOS-ASSINADOS democratas que acreditam no socialismo como forma digna de viver em sociedade,
13 Intelectuais brasileiros que assinaram o manifesto em apoio ao povo tcheco e contra a invasão de seu território: Affonso Romano de Sant’ Anna, Alex Vianny, Almir de Castro, Álvaro Lins, Anísio Teixeira, Antônio Araguão, Antônio Houaiss, Bolívar Laumonier, Assis Brasil, Carlos Heitor Cony, Célia Neves, César Guimarães, Cid Silveira, Cláudio Santoro, Dias Gomes, Djanira, Doutel de Andrade, Edson Carneiro, Edmar Morel, Edmundo Moniz, Eduardo Portela, Eli Diniz, Ênio Silveira, Fausto Ricca, Félix de Athayde, Fernando Segismundo, Ferreira Gullar, Flávio Rangel, Flora Abreu Henrique, Geio Campos, Helena Ignez, Hélio Silva, Irineu Garcia, James Amado, João das Neves, Joel Silveira, José Paulo Moreira da Fonseca, Josefa Magalhães Dauster, Júlio Bressane, Leon Hirchmann, Lúcio Urubatan de Abreu, Luís Fernando Cardoso, Marcelo Serqueira, Margarida Boneli, Maria Yedda Linhares, Mário da Silva Brito, Miguel Borges, Miguel Faria, Moacyr Félix, Octavio Ianni, Otto Maria Carpeaux, Paulo Alberto, Paulo Francis, Pedrílvio Guimarães Ferreira, Poti, Roberto Pontual, Rodolfo Conder, Roland Corbisier, Sebastião Néri, Sinval Palmeira, Susana de Morais, Tati Morais, Vamireh Chacon.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA320
querem manifestar de público sua mais viva repulsa contra a invasão da Tchecoslováquia por cinco potências do Pacto de Varsóvia[...] Socialismo é liberdade. O socialismo, que por sua essência não admite a exploração do homem pelo homem, por isso mesmo não pode admitir quaisquer razões políticas e econômicas que justifi quem a dominação de um povo. Viva a liberdade! Viva o socialismo! Viva o povo tchecoslovaco! (Revista Civilização Brasileira, 1968, p. 387 e 388).
Para encerrar, queremos afi rmar que os intelectuais brasileiros acompanharam de perto a discussão que se processava sobre os rumos teóricos e políticos do marxismo na Europa. Textos dos principais teóricos dessa renovação eram conhecidos e publicados em revistas, como é o caso de RCB de veiculação no mercado. Ao contrário do PCB, entretanto, a grande maioria não se mostrou caudatária da posição do governo da União Soviética que, na prática política, atuava de forma centralizadora e dominadora. Motivados na luta interna que travavam contra a ditadura militar e a falta de liberdade e de um regime democrático no país, acolhiam com simpatia os novos ventos que sopravam da Europa Oriental, de onde se destacaram os acontecimentos da Primavera de Praga. Todo esse processo interrompeu-se, entretanto, com o endurecimento da ditadura em 1968 e com a censura e o exílio, impostos aos intelectuais.
The Marxism crisis and the Prague Spring on the Magazine Civilização Brasileira
Abstract:The present article demonstrates, through the identifi cation and
analysis of articles published on the magazine Civilização Brasileira, that many Brazilian intellectuals were engaged at or at least were familiar with the new trends on left wing thoughts, which arose in Europe during the 60’s.
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
HELOISA JOCHIMS REICHEL
321
This article belongs to the study fi eld of intellectual history, understood from the contributions of Sirinelli (1996) and Said (2004). We made use of the Magazine Civilização Brasileira (RCB) as a source for our analysis considering that the intellectual world is organized in restricted groups and that through those spaces it is possible to know and understand the structure of the intellectual fi eld in a certain time and space. We have analyzed the thoughts of Brazilian intellectuals and identifi ed, within the confl ict and debate expressed by the Magazine, the dissensions and shifts of direction suffered by that social group on the development of the Marxism crisis and the invasion of Czechoslovakia in August 1968.
Key words:
Intellectuals – Marxism Crisis – Magazine Civilização Brasileira.
Bibliografi a:ALTHUSSER, Louis. Analise critica da teoria marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967.
CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1970.
FRANK, Andre Gunder. Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. 2. ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1973.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo, Círculo do Livro, 1981.
HALPERIN DONGHI,Tulio. Nueva narrativa y ciencias sociales in El espejo de la história. Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
HOBSBAWM, Eric. O diálogo sobre o marxismo. Revista Civilização Brasileira. 1967 3(14): 181-90.
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
ROSA, M.R. O pensamento de esquerda e a Revista Civilização Brasileira (1965-1968). Porto Alegre: Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. 2004 152p.
HELOISA JOCHIMS REICHEL
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
A CRISE DO MARXISMO E A PRIMAVERA DE PRAGA NAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA322
SCHWARZ, R . O pai de família e outros ensaios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
SAID, Edward W. Representações do intelectual: as conferências Reith de 1993. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E
SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA
SUL-AMERICANA
Fernando Luiz Vale Castro (UFRJ)
ResumoEste artigo tem como objetivo analisar, enquanto uma comunidade
argumentativa, a Revista Americana publicada pelo Itamaraty, com algumas interrupções, entre os anos de 1909 e 1919. Nesse sentido, o pilar central do trabalho pautou-se na análise dos debates, dos atos de fala formulados, acerca da compreensão do papel a ser exercido pela diplomacia no novo concerto internacional, valorizando a discussão sobre temáticas relacionadas ao posicionamento da América do Sul no contexto mundial.
Palavras Chaves:
Revista Americana – América do Sul – Diplomacia.
Em setembro de 1909, entrava em circulação a Revista Americana, periódico oriundo do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, tendo circulado, com algumas interrupções, até 1919, e que apresentou como característica fundamental a elaboração de uma estratégia de cooperação intelectual que objetivava estabelecer propostas e estratégias para se garantir uma aproximação entre as nações da América, notadamente as sul-americanas. Neste sentido, a Revista tornou-se local de divulgação de diferentes aspectos da política, da cultura e da história da recém inaugurada República brasileira, bem como de outras repúblicas da América do Sul.
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
324
Como toda construção cultural, a Revista pode ser entendida pela dialética entre a produção e a recepção da mensagem, em que coexistem sempre várias formas de apropriação pelos vários grupos e subgrupos que formam uma dada comunidade de leitores. Optei, neste artigo, entretanto, por uma interpretação que valoriza mais a ótica dos produtores da mensagem, que no caso dos editores e colaboradores da Revista Americana eram, na sua esmagadora maioria, intelectuais, brasileiros e sul-americanos com inserção na vida diplomática do continente.
Ao se observar uma revista como local onde se realiza uma prática social de produção de sentido sobre a experiência coletiva, torna-se fundamental observar a questão da produção do discurso. Para uma melhor análise dos textos da Revista Americana baseio-me em alguns dos pressupostos da chamada “Escola de Cambridge”.1 Nesta perspectiva é fundamental recuperar a identidade histórica das obras intelectuais, por meio de uma metodologia histórica e intertextual, ou seja, que apresenta como objetivo alcançar o sentido do texto em seu tempo, afastando-se, portanto, de possíveis visões anacrônicas e reducionistas.
Perceber o texto inserido no seu contexto reconstrói sua historicidade, ao mesmo tempo em que lhe atribui o caráter de ação, isto é, o texto entendido como ato de fala. Nesse sentido, é sobre a ideia de discurso e não sobre a individualidade dos autores, que a abordagem se baseia. Por essa trilha é possível afi rmar que a análise do historiador deve priorizar as “linguagens do discurso”.
Buscando sintetizar minha proposta metodológica, estou considerando os articulistas da Revista Americana como enunciadores 1 Estamos pensando nos pressupostos da “Virada Linguística”, em especial as perspectivas de-senvolvidas por Q. SKINNER e J.G.POCOCK. Sobre isso ver: SKINNER, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas”; Motives Intentions and Interpretation of texts” e Reply to my critics, todos se encontram em James TULY, James. Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics Princeton, Princeton University Press, 1988. SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno São Paulo, Cia das Letras, 1996. Ver também: FALCON, Fran-cisco. “História das Ideias”. In: CARDOSO, Ciro & VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História. Rio de Janeiro, Campus, 1997; TUCK, Richard. “História do Pensamento Político” In: Peter BURKE. A Escrita da História.São Paulo, UNESP, 1992. e Introdução: o estado da arte; o conceito de linguagem e o metier d´historien. Todos encontrados em POCOCK, J.G. Linguagens do ideário político. São Paulo, EDUSP, 2003.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
325
de atos de fala em resposta a determinadas questões em discussão no período. Nesse sentido os autores que fi zeram parte da Revista contribuíram para a criação de uma determinada “comunidade argumentativa”, elaborando e emitindo “lances”2 específi cos. Para se compreender tal construção, cabe investigar a historicidade da sua produção associada à uma possível intencionalidade da sua escrita.
Para a compreensão da Revista como uma comunidade argumentativa de uma determinada época e referida a um determinado locus social, político e cultural em última análise remete à uma refl exão sobre a visão da diplomacia brasileira e sul-americana no momento que a República no Brasil começava a se consolidar. Logo, a Revista Americana pode ser pensada como um instrumento dessa nova ordem com o objetivo de se tornar um espaço privilegiado para o debate de temáticas que se inserem dentro de uma perspectiva de manutenção da paz e do equilíbrio político no continente.
O artigo pretende demonstrar como a refl exão sobre alguns desses temas abre chaves de leitura para se compreender como os intelectuais que escreveram no periódico pensaram o papel da ação diplomática na construção de uma identidade brasileira e sul-americana. Trata-se, principalmente, de uma refl exão sobre o papel que a diplomacia da América do Sul pretendia assumir no Continente e este no novo concerto das nações que vinha sendo redefi nido na Europa – por conta das tensões internacionais do período – quando do momento da circulação do periódico, ou seja, de pensar a Revista como parte integrante de uma estratégia de formulação de um objetivo que consistia em estabelecer parâmetros acerca da função a ser exercida pelo corpo diplomático, associada ao papel que caberia à América do Sul na nova ordem mundial que se forjava nos primeiros anos do século XX.
Objetivo apresentar alguns dos aspectos do que estou defi nindo como sendo o viés diplomático da Revista Americana e que, na minha opinião, confi gurou-se em elemento chave para a compreensão dos
2 A perspectiva do lance nos remete, segundo Pocock, a um processo no qual um ato de fala é enunciado e de certa forma busca inovar o contexto lingüístico, permitindo ao historiador observar o que um autor (ou grupo de autores) estava fazendo ou pretendia estabelecer no momento de elaboração de seu discurso (POCOCK. 2003).
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
326
objetivos do periódico em apresentar, e debater, o que seria uma moral sul-americana para as relações internacionais da época, possibilitando a indicação de quais rumos deveriam ser seguidos pelo Continente. Esta premissa nos remete à importância dada à contribuição da diplomacia nos projetos de consolidação das nações da América do Sul com especial destaque para a brasileira que estava, naquele momento, estabelecendo novos parâmetros diante da recém instalada ordem republicana.
Outrossim, faz-se necessário ter em mente que a Revista foi palco de intensos debates que, no entanto, não expressavam algo acabado. Pelo contrário, ela se caracterizou com um local em que ideias e visões de mundo estavam sendo construídas. Em última análise, o periódico foi uma espécie de “laboratório” em que intelectuais, em sua maioria ligados ao campo diplomático, se posicionaram diante de questões contemporâneas, fundamentalmente marcadas por uma nova ordem mundial que exigia, consequentemente, uma leitura renovada do período com a elaboração de novas questões que buscassem compreendê-lo para se estabelecer prognósticos que deveriam servir de norte para o Brasil e o Continente.
Neste sentido, entre outras temáticas, tiveram destaque nas páginas da Revista: a formação do território; o novo concerto internacional no qual estavam sendo redefi nidas as noções de Soberania e Hegemonia; o papel do Direito Internacional, especialmente na valorização dos mecanismos de arbitramento nas relações entre países que passava à época a ser considerado como elemento fundamental para a manutenção da paz e/ou como instrumento para encerrar confl itos armados.
É possível afi rmar que a parte sul da América, no início do Novecentos, começou a obter, de forma efetiva e sistemática, uma identidade continental com ênfase na elaboração de um conjunto de postulados que serviriam tanto ao processo de consolidação das soberanias nacionais, quanto no aprofundamento dos laços de solidariedade intracontinentais (HEREDIA in CERVO & ROPOPORT, 1998). Insere-se neste momento a valorização de determinados aspectos do Direito Internacional como pilares para as relações entre nações. Data de fi ns do século XIX e primeiros anos do século XX a sistematização
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
327
de uma série de regras e princípios para nortear tais relações, tendo a América do Sul assumido posição de destaque nessa questão.
Dentre as soluções pacífi cas das controvérsias internacionais, que associavam a ação diplomática à ação jurídica, destacou-se, nesse período, a arbitragem como a mais utilizada e recomendada pelos juristas, especialistas em Direito Internacional Público, sendo defi nida como uma maneira de solucionar litígios internacionais mediante o emprego de determinadas normas jurídicas por meio de pessoas escolhidas, livremente, pelas partes em litígio (ACCIOLY, 1956).
De acordo com Clodoaldo Bueno (1995, p. 300), os tratados de arbitramento estavam em voga nesse período, muito provavelmente porque a perspectiva mundial não era de paz duradoura. O inicio do século XX foi marcado por uma corrida armamentista que fomentou o que a historiografi a defi ne como um período caracterizado como sendo de uma “paz armada”. Nesse sentido, é possível compreender os tratados de arbitramento e as várias conferências de paz realizadas com a fi nalidade de se evitar os possíveis confl itos armados que se desenhavam no cenário internacional de então. Mesmo não impedindo a Primeira Guerra Mundial, convém salientar que as conferências internacionais foram de fundamental importância para a incorporação da arbitragem como instrumento jurídico fundamental do Direito Internacional Público para a solução de confl itos territoriais, tendo sido reconhecido como mecanismo legítimo pelo Brasil, bem como base fundamental para que a América do Sul se mantivesse em equilíbrio tornando viável a elaboração de uma cooperação política e cultural para o continente (ROCHA, 1990, p. 39). Nas páginas da Revista Americana a temática do arbitramento internacional teve bastante destaque sendo um dos pilares da valorização da diplomacia sul-americana.
Um dos mais importantes colaboradores estrangeiros da Revista, o argentino Francisco Félix Bayon (1910), destacou a prática do arbitramento, como um dos legados da diplomacia do Novo Mundo. Como exemplo para justifi car seu posicionamento ele analisa a questão envolvendo Estados Unidos e Inglaterra em torno do Navio Alabama em 1871/1872. Para o autor, tal fato não apenas evitou uma guerra dos dois lados do oceano como levou a União americana a fi rmar “um
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
328
precedente inigualável, de moral internacional” (1910). A América seria um exemplo a ser seguido, um continente que se constituiu, segundo o autor, a partir da lógica da paz, valendo-se da arbitragem como mecanismo para se evitar confl itos bélicos e garantir a soberania de seus povos. Tal premissa, na visão de Bayón, naquele momento, encontrava-se em plena atividade nas estratégias diplomáticas da América do Sul.
Houve nas páginas da Revista Americana, inegavelmente, uma valorização da ação diplomática do continente em especial da brasileira e da argentina3. Em relação a esta última podemos observar o artigo de Ramon Cárcano “Relações Internacionais: o critério argentino tradicional" (1910), no qual são apresentados aspectos da política externa Argentina, considerados pelo autor como sendo elementos tradicionais da diplomacia portenha, responsáveis pelo estabelecimento de um padrão muito mais equilibrado e coerente e que, portanto, deveria servir como modelo a ser seguido pelos países americanos àquela época. Segundo Cárcano, um dos princípios básicos da diplomacia argentina seria a:
Arbitragem geral [que] não suprime as causas possíveis de guerra, mas diminui suas causas prováveis, e basta esse efeito para sancionar com empenho sua existência. Hoje constitui uma doutrina argentina, sustentada em todos os dias de sua história, e aperfeiçoada pelo progresso das idéias. A República merece por ela a confi ança da América, o respeito e a simpatia do mundo.
Pode-se afi rmar que a questão central para o autor era a defesa da Argentina como uma nação que já apresentaria critérios, classifi cados por Cárcano, como sendo tradicionais, baseados na análise do processo histórico portenho que, ao longo do século XIX, havia construído um padrão de diplomacia que somente no alvorecer do século XX o Brasil apresentava condições de aplicar. Acerca desse momento brasileiro o autor afi rma que:
através de todas as situações que atravessa o país, se mantém fi rme, contínuo, deliberado e consistente. Não é
3 Considerados pela historiografi a os dois principais corpos diplomáticos da América do Sul.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
329
resultado transitório de homens e governos, da imposição de vitórias ou derrotas; é a expressão de sentimentos e ambições coletivas que perduram e se impõem no tempo por gravitações do conjunto .
Evidencia-se, para o autor, a valorização da ordem republicana, recém inaugurada no Brasil, que possibilitaria uma maior aproximação entre Argentina e Brasil, uma vez que a Proclamação da República havia representado a superação de entraves políticos que, segundo Cárcano, haviam marcado as relações entre as duas nações ao longo do século XIX.
A valorização da diplomacia da Argentina também se fez presente nos trabalhos de Norberto Piñero que na série de artigos intitulados “A política internacional Argentina" (PIÑERO, 1913) destacou, ao realizar uma análise histórica desde o período da proclamação da independência, a coerência da ação diplomática de sua nação que poderia ser assim resumida: uma primeira fase em que se estabeleceu uma estratégia para efetivar a emancipação política em relação à Metrópole espanhola, um segundo momento no qual esteve associada à organização e consolidação nacionais, com o objetivo de assegurar sua soberania e, por fi m, o período de defi nição de fronteiras com os países vizinhos (PIÑERO, 1913b).
Piñero apresentou como um de seus argumentos centrais, além da coerência da política externa portenha, a importância da diplomacia nos processos de manutenção da paz. Segundo o autor, naquele momento, primeiros anos do século XX, a comunidade internacional buscava, por meio de tratados e alianças, estabelecer uma era de paz. Tal objetivo seria “resultado de um acúmulo considerável de fatores; um efeito da civilização; em parte obra da diplomacia essa estratégia de paz.”4.
Uma das formas de consolidação desses objetivos seriam as Conferências de Paz de Haia, instrumento que permitia o debate diplomático em prol do equilíbrio entre as nações. De acordo com Piñero:
4 PIÑERO, Norberto. A política internacional Argentina. Revista Americana, janeiro de 1913.p 294
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
330
A conferência de Haia, estabelecida para cumprir uma tarefa regular e celebrar reuniões periódicas, é o acontecimento mais saliente e de maior transcendência encaminhado para aquele propósito [de construção da paz]. A conferência tem empreendido a meta de fundar o equilíbrio do mundo, a harmonia de todos os estados cultos ou no caminho de civilizar-se na Terra (PIÑERO, 1913, p. 295).
Por mais que seja observável uma leitura pouco precisa do contexto em que o artigo foi produzido, uma vez que o mundo estava às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em um cenário crescentemente beligerante e que, portanto, o equilíbrio entre as nações, base para a paz mundial, era mais um sonho distante do que algo palpável é interessante notar que as posições de Piñero remetem para uma clara defesa do projeto nacional argentino que teria apresentado como segmento fundamental, para a sua consolidação, a ação da sua diplomacia.
Em síntese, é possível assinalar que tanto Cárcano quanto Piñero defendem como regras gerais para a diplomacia argentina a não incorporação, por meio da força, de territórios à União Nacional, bem como a guerra ser um instrumento válido apenas em caso de defesa da integridade e soberania nacionais. Outros pontos que merecem destaque seriam: a defesa pela manutenção de uma política de neutralidade, respeitados os limites e a as circunstâncias entre os vizinhos, a defesa de tratados e de uma arbitragem ampla. Estes aspectos seriam responsáveis pela consolidação da paz continental e, portanto, elementos chaves de uma “exemplar moral americana”, devendo, portanto, servir de modelo para outras nações.
Tais princípios, segundo ambos os autores, que haviam sido a pouco apropriados pela Chancelaria brasileira, devido ao recente processo de Proclamação da Republica, já seriam, naquele momento, norteadores da política externa brasileira, pois caracterizariam e, por conseguinte, valorizariam os aspectos positivos do espírito americano que garantiriam o equilíbrio entre as nações, bem como serviriam de
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
331
exemplo para os outros países do continente e, em última análise, na visão dos autores, para os demais continentes.
A defesa de uma política internacional americana, em oposição aos paradigmas europeus, que traria um novo papel para a diplomacia do continente foi igualmente abordada na Revista Americana que valorizava o modelo americano que garantia a paz para a região. Reside aí a grande linha argumentativa da Revista, baseada na valorização do corpo diplomático na nova ordem que garantia um estreitamento das relações internas do continente, fato que exigiria além de uma aproximação política e econômica, uma aproximação cultural e intelectual, obviamente capitaneada pelas diplomacias nacionais. Nesse sentido, estariam lançadas as bases para se estabelecer o lugar do Ministério das Relações Exteriores na nova ordem republicana.
Dentre os autores que enfatizaram esse novo momento do Brasil e do continente, baseado nessa moral diplomática americana, temos Pinto da Rocha que, à época, elaborou uma severa crítica ao fazer referência a uma determinada visão, classifi cada por ele como imperialista, na qual o Direito Internacional seria uma mera utopia e, consequentemente, as soluções para quaisquer tipos de querelas internacionais deveriam ser resolvidas pelo canhão. O autor considerava tal posicionamento, apesar de bastante comum naquele contexto, altamente pessimista e impreciso (ROCHA, 1913, p. 45).
Suas críticas, após exposição de aspectos da história europeia, em particular do período bismarckiano, foram baseadas no fato de alguns confl itos envolvendo a recém unifi cada Alemanha terem sido resolvidos nas mesas de negociação e não nos campos de batalha. Essa tradição baseada em uma “diplomacia sem canhões”, e que teria infl uenciado, segundo Pinto da Rocha, explicitamente a diplomacia brasileira que sendo contrária às ambições imperialistas tornar-se-ia fundamental para, doravante, consolidar os princípios do Direito Internacional. Para o autor:
O Direito Internacional pode ser violado ou desconhecido, sacrifi cado aos interesses ou às paixões; mas nem por isso deixa de existir como princípio regulador das
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
332
relações entre os povos e encontra, fi nalmente, a sua sanção nas represálias que experimentam, cedo ou tarde, aqueles que desprezam e sacrifi cam a severidade das leis internacionais. A guerra será sem dúvida e por muito tempo ainda o recurso extremo, mas se a arbitragem internacional puder alojar-se defi nitivamente entre os costumes dos Estados, as soluções violentas, que estão bem longe de assegurar sempre o triunfo do direito, serão evitadas, para o bem geral da humanidade. E as nações confi ando a uma terceira entidade, assim superiormente considerada pelos contendores, a decisão da pendência, deixarão de ser juízes nas suas próprias causas (ROCHA, 1913, p. 47)5.
Pinto da Rocha valeu-se dessa argumentação para enaltecer a diplomacia brasileira afi rmando ter sido ela baseada no respeito à moral existente nos princípios norteadores do Direito Internacional. Tal respeito, que para o autor seria a base da ação política do Ministério, só foi possível na medida em que a República brasileira foi proclamada, fato que possibilitou a superação, nos seus dizeres do “isolamento imposto pelo Império”.
Dando prosseguimento a sua análise, Pinto da Rocha defendeu a tese de que com a República um novo horizonte se abriu para a diplomacia brasileira. O Brasil, após se integrar no “amplo regime republicano que constitui a atmosfera americana” rompeu com os paradigmas isolacionistas da época anterior, construindo uma política de aproximação no plano internacional. Convém salientar, entretanto que a estratégia do Barão, para o autor, seguiu uma dupla perspectiva, a saber: antes da aproximação com os vizinhos, havia sido necessário defi nir os limites territoriais brasileiros.Nas palavras de Pinto da Rocha:
5 Segundo o autor, a diplomacia imperial, que teve no Barão de Cotegipe e no Visconde do Rio Branco seus mais destacados estadistas, tinha a necessidade de se isolar do restante das “Repúblicas vizinhas”.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
333
O Chanceler eminente6 compreendeu que não podia fi car como o Prometeu da lenda, amarrado ao cadeado constitucional, pelas correntes de uma pretensa indissolubilidade territorial que, segundo alguns, o pacto fundamental da República havia fi xado com rematada imprudência, antes de saber positivamente até onde podia chegar a soberania brasileira, nas linhas divisórias que ninguém havia determinado (ROCHA, 1913).
Convém salientar, no entanto, que não é possível concordar plenamente com as posições de Pinto da Rocha, uma vez que este afi rmou ter sido Rio Branco um radical anti-belicista, um verdadeiro representante do não armamentismo, condição que o colocaria, segundo o autor, na contra mão de sua época. Discordo na medida em que uma das preocupações centrais do Barão, desde antes de se tornar ministro das Relações Exteriores, era em relação à defesa nacional. Com base nos seus conhecimentos acerca da história diplomática e militar brasileira, o Chanceler tinha convicção da necessidade do reaparelhamento do Exército e, sobretudo, da Marinha nacional, sem os quais, em sua opinião, o Brasil, devido à sua posição geográfi ca no Continente, não poderia assegurar a sua paz, uma vez que o “diplomata e o soldado são sócios” (BUENO, 1995, p. 207).7
Neste sentido, tanto a logística das forças armadas, quanto a educação cívica e militar do povo seriam fundamentais para o processo de construção da soberania e da paz, uma vez que evitariam eventuais afrontas estrangeiras. O rearmamento naval brasileiro atenderia questões referentes à segurança e defesa do extenso litoral, bem como recolocaria
6 Uma referência ao Barão do Rio Branco. Cabe ressaltar que essa perspectiva de ruptura entre a política externa do Império e da República carece de relativização, uma vez que, por mais que tenham havido algumas mudanças de paradigmas entre os dois períodos, é possível observar linhas de continuidade entre as épocas. Sobre isso ver: BUENO, Clodoaldo e CERVO, Amado Luiz. História da Política Exterior no Brasil.Brasília, Ed UnB, 2002 ; RODRIGUES, José Honório & SEITENFUS, Ricardo. Uma História diplomática do Brasil, 1531-1945. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1995. MAGNOLI, Demétrio. O Corpo da Pátria. São Paulo, Moderna/UNESP, 1997, 7 Convém salientar que nos projetos de construções nacionais República no Brasil, militares e diplomatas sempre assumiram uma posição de “servidores” dos interesses da Nação. Sobre o papel assumido pelos militares nos primeiros anos republicanos ver, entre outros, o trabalho de CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2005.
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
334
a Marinha na sua antiga função de preeminência que desfrutava no período imperial.8
Apesar dessa ressalva fi ca evidente a defesa, por parte de Pinto da Rocha, tanto dos princípios do Direito Internacional Público, como referência fundamental para as Relações Internacionais de então, quanto o destaque ao momento histórico brasileiro com a consolidação da República. Ambos os fatos convergiam para a aproximação entre as nações sul-americanas, fato que deveria ser o pilar central para a diplomacia do continente, constituindo-se no elemento chave da manutenção da paz.
Inserida nessa lógica de aproximação americana como estratégia para garantir a paz continental ganhou força a defesa de um equilíbrio entre as nações sul-americanas, como forma de proteção contra ameaças externas. A defesa desse equilíbrio na América do Sul explicitava, mais uma vez, a importância da diplomacia nos processos de construção de uma nova ordem continental Essa perspectiva assumira, desde fi ns do século XIX, um viés diplomático, fundamentalmente pelo desenvolvimento de alianças internacionais, vistas como um meio civilizador, principalmente por serem compreendidas como instrumentos para evitar confl itos.
Um dos autores a se aproximar de tais premissas foi Félix Bayon, que defendeu a ideia de que as alianças seriam instrumentos fundamentais no processo de consolidação da paz. Nas suas palavras, em artigo de 1910:
As alianças consolidam a paz quando não se formalizam para conquistas militares. É necessário selecionar o aliado e buscar na aliança o meio de evitar confl itos. As alianças são um meio civilizador. O valor das alianças e a virtude de sua gestão os estamos verifi cando todos os dias: (BAYON, 1910).
8 Nesse ponto cabe ressaltar que a Proclamação da República representou uma acentuada perda de prestígio por parte da Marinha do Brasil, tanto pelo fato dela não ter apoiado o chamado Movimento Republicano, quanto por resistências políticas e até mesmo armadas, como a Revolta da Armada, ocorridos nos anos seguintes à instalação do governo republicano.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
335
Para Bayon, o estabelecimento de alianças seria premissa básica tanto para que houvesse um equilíbrio interno no continente, impedindo possíveis choques de interesses, entre as Nações sul-americanas, quanto para que a América do Sul não sofresse com possíveis ameaças externas ao seu status quo.O autor chamava a atenção para a importância de se estabelecer um critério doutrinário em questões internacionais, uma vez que faria parte do processo histórico o anseio do mais forte dominar o mais fraco, sendo que cada povo, cada nação, sempre teria em mente tornar-se o mais forte com um claro objetivo de dominação (BAYON, 1910, p. 318).
Algumas questões, segundo o autor, seriam inerentes à formação da América do Sul e deveriam estar na pauta de discussões do continente como forma de impedir a instabilidade da região, garantindo, nesse sentido a paz continental. Sobre pontos nevrálgicos do tema, Bayon afi rmava que:
Os países que vivem no coração da América necessitarão aliviar suas dores; os que possuem portos aspirarão a ampliar seus mercados; todos desejarão privilégios aduaneiros; alguns necessitarão ajuda diplomática para debater suas questões: o trânsito fl uvial e terrestre reclamará correções, melhoras, tarifas diferenciais, etc., e o continente inteiro terá necessidade de glória, de paz, de riqueza, de ilustração; e de tudo isto não se poderá conseguir sem o culto das liberdades e da ordem, bases iniludíveis da felicidade dos povos (BAYON, 1910, p. 320).
Caberia à diplomacia estabelecer os parâmetros da política internacional sul-americana, a serem reconhecidos e respeitados por todo o continente. As alianças deveriam se consolidar enquanto prática diplomática a partir de alguns elementos básicos neutralizadores de quaisquer receios existentes entre vizinhos para evitar alarmes infundados e desconfi anças, sendo incentivadoras da paz e da defesa do Direito como instrumentos utilizados para difi cultar, ao máximo, guerras entre países americanos garantindo a segurança continental contra as ameaças imperialistas europeias (BAYON, 1910, p. 320).
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
336
Bayon, em outro ponto abordado em seu artigo, sinalizou para as difi culdades das relações internacionais daquele período, fortemente marcado pela corrida imperialista, que estava, entre outros aspectos, estabelecendo um novo sentido para as estratégias diplomáticas. Tais estratégias baseavam-se nas profundas rivalidades econômicas, assim como nos novos confl itos geopolíticos, frutos de disputas territoriais. Logo, de acordo com o autor, estava sendo construído um cenário internacional que, apesar da América do Sul não fazer parte diretamente e, por conseguinte, a sua diplomacia não estar envolvida, gerava uma nova era para a política internacional baseada, para o imenso receio de Bayon, muito mais em intrigas e mesquinharias, do que em aspectos relacionados à alta cultura e à moral política, que deveriam ser os fundamentos básicos do jogo diplomático (BAYON, 1910, p. 320).
Esta aproximação diplomática marcava uma clara oposição em relação à Europa, sinalizando para o perfi l político, que representaria, para o autor, a verdadeira tradição americana, de paz e equilíbrio entre suas nações com valorização de tratados e alianças internacionais.
Próximo da argumentação de Bayon acerca da importância do estabelecimento de alianças no processo de equilíbrio continental encontram-se os artigos de Victor Vianna (1915) que analisam o papel da “convenção de arbitragem obrigatória” entre Argentina, Brasil e Chile que fi cou conhecido como Pacto ABC. O texto, escrito em plena Primeira Guerra, marca de maneira explícita as diferenças entre a Europa, bélica e, portanto, propensa à guerra e a América que apresentava uma clara tendência ao equilíbrio político, sinalizado, naquele momento, pelo acordo entre as principais nações sul-americanas. Segundo Vianna:
Enquanto a Europa, apesar de sua cultura, é obrigada à Guerra, porque está presa ainda a antigos preconceitos e a velhas aspirações, na América os povos que não estão contentes de seu território são em número tão limitado que é possível conseguir através de uma ação diplomática, serena e justa, que a paz do A.B.C se desdobre pelo abecedário inteiro. Os internacionalistas e os antigos pacifi stas encontrarão nos artigos da convenção motivos para exclamações de contentamento (VIANNA, 1915, p. 69).
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
337
Convém salientar que Vianna, ao longo de sua argumentação, não associa a paz do continente americano ao tratado9 e sim ao fato da América possuir uma espécie de vocação pacífi ca, fruto de sua história.De acordo com o autor, não haveria confl ito por não ser interesse do povo americano, uma vez que qualquer tipo de tratado entre nações só tem a possibilidade de cumprimento quando a guerra não for possível. Essa premissa é destacada pelo autor que afi rma serem as terras americanas caracterizadas pela cooperação e pela ausência de hostilidades. 10
Portanto, a guerra, para Vianna, seria algo distante não necessariamente pelos mecanismos de arbitragem, mas pela tradição americana, explicitando-se as diferenças entre a Europa e a América. De acordo com Vianna: as convenções, convênios e tratados não teriam valor pelo que eles determinavam como obrigação, uma vez que efetivamente eles não obrigariam a nada. Seu verdadeiro valor encontrar-se-ia inserido no estado de alma que representavam. Nessas representações residiria seu grande valor.
A convenção, em síntese, para o autor, proclamaria, anunciaria, exprimiria um estado de alma, de fraternidade, de compreensão, de boa vontade, diferenciando-se da Europa que, naquele momento vivia a maior guerra da história, enquanto a Argentina, o Brasil e o Chile (o ABC) expressavam, de acordo com Vianna, a sua fé nas harmonias dos seus interesses e de suas aspirações e asseguravam, de acordo com a sua prática diplomática, que, em caso de confl ito, optariam pela arbitragem à guerra. Nas palavras do autor:
Nós outros, críticos de fatos sociais, sabemos que não há confl ito, não pode haver justamente porque não há confl itos sérios que mereçam o sacrifício da guerra. Mas por isso mesmo saudamos com alegria o pacto que confi rma, assinala ofi cialmente o estado de alma dos sul-americanos (VIANNA, 1915, p. 70 e 71).
9 Em uma primeira leitura poderíamos associar essa visão ao fato do Tratado, apesar de assinado após alguns anos de negociação, não ter sido ratifi cado. No entanto, o que se observa é uma inversão de análise proposta pelo autor 10 VIANNA,Victor. A política internacional.Revista Americana, junho de 1915. p 69
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
338
Na continuação do artigo, na segunda quinzena de junho de 1915, Vianna continuou a desenvolver sua linha de raciocínio argumentando acerca da importância, para a política internacional da época, do exemplo dado pela América do Sul. Também salientou a necessidade de existir uma ação diplomática coerente, justa e equilibrada para garantir o êxito de quaisquer tipos de tratados internacionais referentes a mecanismos de arbitragens, tendo em vista que nas relações entre Estados haveria sempre, obrigatoriamente, a necessidade de se respeitar as soberanias nacionais.
Diante dessa linha argumentativa, a defesa dos institutos de arbitramento ganhava cada vez maior visibilidade no contexto das relações internacionais, justamente como estratégia de manutenção da paz. Esta prática era defendida como inerente à uma pretensa tradição sul-americana que, naquele momento com a eclosão da Primeira Guerra Mundial deveria ganhar uma relevância ainda maior no cenário mundial
A importância da arbitragem para as relações internacionais naquele momento foi também destacada por Sá Vianna que em artigo publicado em francês, em fevereiro de 1917, defende o princípio da arbitragem como modelo que deveria ser utilizado de forma perene, obrigatório e universal, pois seria uma prática que ao evitar a guerra garantiria, em defi nitivo, a paz. É importante frisar que Vianna, com evidente entusiasmo, destaca a importância que, historicamente, a América do Sul concedeu aos tratados de arbitragem, negociados e concluídos desde os processos de independências nas primeiras décadas do Oitocentos e que teriam sido a base da diplomacia do continente notabilizando-se, nas palavras do autor:
como uma característica permanente e obrigatória, não como um simples compromisso, mas como principio orgânico de uma concepção política ampla e complexa que os Estados Americanos haviam imaginado para garantir contra os ataques da ex- metrópole espanhola (VIANNA, 1915, p. 19).
Convém salientar que tal visão de Sá Vianna carrega em si elementos que evidenciam de forma bastante clara a época na qual o
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
339
texto foi produzido. Em primeiro lugar não podemos perder de mente que o artigo foi publicado durante a Primeira Guerra Mundial, período que acirrou uma série de questões, sobretudo no que tange a valorização da América em relação à Europa. No campo das relações internacionais tal processo caminhou no sentido da defesa dos princípios ligados ao Direito Internacional e, consequentemente da atuação da diplomacia como instrumento de manutenção da paz.
A elaboração de uma moral própria da América que, para aquela geração de diplomatas/intelectuais, explicaria a paz continental, fato que a colocaria como exemplo a ser seguido pela Europa, mergulhada em grave confl ito bélico, passou a ser a bandeira de luta dessa intelectualidade americana como forma tanto de construção de uma identidade americana, em especial na parte sul do continente, e que passaria pelos princípios de solidariedade e intercâmbio, tão presentes entre os articulistas da Revista, quanto pelo reconhecimento externo do continente que deveria ser visto como algo coeso e equilibrado, sem guerras, fato que o diferenciaria das outras regiões do Globo.
Logo, o ponto central do que estou denominando como sendo o viés diplomático da Revista se remete a valorização do continente americano como uma região que, mesmo apresentando diferenças entre si, reunia condições para se inserir em posição bastante favorável no novo concerto internacional que naquele momento se desenhava.
Para tal, a síntese intelectual do periódico, isto é, o argumento que de certa forma norteia a publicação transformando-a em uma comunidade argumentativa, é a elaboração de um ideário americano, baseado no intercâmbio e na cooperação entre as nações americanas, capitaneadas pela diplomacia do continente. Fato relevante, pois a observação e legitimação do que poderíamos defi nir como sendo a singularidade americana seria o caminho que aquela geração diplomática/intelectual ofereceu como legado para seus sucessores, tendo sido sistematizado no Brasil, pela primeira vez, na Revista Americana, que tinha como objetivo explícito, estabelecer os parâmetros de aproximação entre as nações americanas.
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
340
Esse ideal americano pode ser observado em vários autores. Arthur Orlando11,aponta para o que ele defi niu como sendo “um caráter americano próprio” marcado por um conjunto de Estados que respirariam uma mesma atmosfera política, aspirando, por conseguinte, um mesmo ideal, que “age iluminando e ilumina agindo”, um exemplo para todos, na medida em que para Orlando esse ideal teria a função básica de:
harmonizar o nacionalismo e o humanismo, as duas grandes forças, a que no mundo físico, correspondem a atração e a repulsão, os Estados que forem envolvidos em sua órbita nada sofrerão em sua autonomia, independência e integridade (ORLANDO, s.d., p. 351).
Victor Vianna ressalta a tradição pacifi sta americana, como sendo o pilar central do continente e o marco fundamental de diferenciação em relação à Europa. Para o autor, nas Américas, em especial a do Sul, não poderiam sobreviver os ódios e as sedições comuns ao continente europeu, uma vez que lá os povos se entrechocaram na disputa de territórios, fenômeno que gerou enorme rancor e feridas abertas que só poderiam ser resolvidos por meio de confl ito armado. Em última análise o processo histórico europeu defi niu uma tradição, pautada em ideais nacionalistas e teorias de domínio, que teriam levado o Velho Mundo à Guerra (VIANNA, 1915, p. 66).
Já a América representaria o novo, a mudança, a busca de uma nova tradição baseada em uma releitura dos princípios europeus em que os preconceitos foram desaparecendo diante das necessidades americanas. Vianna, mesmo reconhecendo que houve desafi os e tensões que resultaram em guerras no Novo Mundo, relativiza-os afi rmando terem sido muito mais guerras civis do que guerras internacionais. Paralelo a isso, afi rmava que esses embates não resultaram em tensões permanentes e rancores entre as nações e caso houvesse algum tipo de instabilidade a diplomacia do continente resolveria tais pendências, pois a vocação americana seria a da estabilidade promovida e garantida pela ação diplomática (VIANNA, 1915, p. 68 e 69).
11 ORLANDO, Arthur. Educação Internacional Americana.. Revista Americana, Op cit
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
341
Mesmo reconhecendo que a visão dominante na Revista Americana merece todas as relativizações tendo em vista que era evidente a existência de uma rivalidade entre as nações sul-americanas, é possível observar na Revista a valorização de uma suposta moral americana pautada na defesa de princípios considerados chaves para se estabelecer quais paradigmas deveriam ser seguidos pela América do Sul no alvorecer do século XX.Tal premissa é fundamental para a compreensão do projeto da Revista e da própria retórica da diplomacia brasileira e sul-americana nas duas primeiras décadas do século XX.
A análise das posições de alguns dos articulistas do periódico apresentados neste artigo permite afi rmar esses intelectuais que escreviam na Revista Americana defendiam, mesmo com divergências de opiniões em alguns pontos, o respeito aos princípios gerais do Direito Internacional como forma de se estabelecer uma moral americana que deveria servir de exemplo para os outros continentes. Paralelamente, nas argumentações realizadas, evidenciou-se a importância fundamental concedida à diplomacia como responsável pela legitimação de tais projetos assim como a necessidade do estabelecimento de uma integração, de uma cooperação entre as nações do continente, especialmente entre Brasil e Argentina, fato que se tornara possível a partir do momento em que o Brasil havia se tornado uma República e, consequentemente, na visão dos autores da Revista, se aproximado de seus vizinhos o que possibilitaria, de forma concreta, o estreitamento entre as nações sul-americanas.
Sobre essa perspectiva Bayon elabora uma refl exão acerca da ação diplomática sul-americana compreendida como chave do projeto de cooperação intelectual preconizado pela Revista Americana, isto é, o intercâmbio que deveria ser realizado partiria do corpo diplomático que, nesse sentido, seria “responsável” pela construção de uma moral sul-americana, bem como pelo equilíbrio continental que deveriam servir de exemplo para as outras regiões do planeta. Sobre essa questão pode-se observar o posicionamento do argentino ao afi rmar que caberia a partir daquele momento específi co do contexto mundial, fortemente abalado pela Primeira Grande Guerra, fundamentalmente à diplomacia agir como
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
342
“meio civilizador” com o intuito de garantir uma política internacional coerente colocada a serviço da coletividade sul – americana.
Logo, o ponto central do que se pode denominar como viés diplomático da Revista Americana aproxima-se da valorização do continente americano como uma região que reuniria condições para se inserir em posição bastante favorável no novo concerto internacional que naquele momento se desenhava e que teria no seu corpo diplomático seu principal artífi ce.
Neste sentido, fi ca evidente que os artigos da Revista Americana expressam uma determinada leitura acerca de qual papel deveria assumir a diplomacia brasileira na nova cena política que naquele momento estava sendo construída, tanto em nível externo, com o novo concerto das nações no contexto da Primeira Guerra Mundial, quanto internamente com a consolidação da ordem republicana na qual o Ministério das Relações Exteriores e, consequentemente, a diplomacia brasileira buscavam seu espaço. Em ambas as perspectivas havia a valorização de uma aproximação entre as nações americanas como mote para a construção de uma nova ordem continental que passaria pela construção de mecanismos de soluções de confl itos por meio de uma moral americana pautada em um conjunto de normas que garantiriam a paz e o equilíbrio entre as nações.
A Revista Americana apresentou uma preocupação constante em reforçar a importância de se pensar uma integração continental por meio da geração de mecanismos para incrementar o conhecimento entre as nações sul-americanas, para que fosse superado o isolamento entre elas através da construção de projetos culturais para o continente a partir do reconhecimento de especifi cidades da América do Sul. Dentre os autores que mais se destacaram na defesa dessa premissa esteve Félix Bayón (1909) que acreditava não poder haver união sem conhecimento mútuo. Portanto, o autor propôs uma série de maneiras para aproximar, intelectualmente, os povos americanos. A primeira estratégia seria o estabelecimento de convênios intelectuais e sociais, que teriam como objetivo verifi car as opiniões, próximas e diferentes a fi m de elaborar uma identidade cultural americana acerca de temas contemporâneos.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
343
Corroborando com essa perspectiva, a imprensa deveria ser um agente divulgador das ideias intelectuais, bem como os governos e particulares deveriam incentivar a publicação de livros como instrumentos de refl exão e, sobretudo, de aproximação entre grupos intelectuais e nações. Ligando-se a tais estratégias de estreitamento, legações diplomáticas seriam os órgãos responsáveis pelo estabelecimento de relações intelectuais internacionais, articulando as visitas que seriam, juntamente com o incentivo à criação de revistas mensais que versariam acerca dos problemas e das manifestações culturais do continente, a base do intercâmbio intelectual da América do Sul.
Convém salientar que tal intercâmbio deveria ser conduzido pelo corpo diplomático, grupo que reuniria as condições, morais e culturais necessárias, para elaborar as novas diretrizes continentais. Nas palavras de Bayon:
É necessário, então, que os intelectuais americanos cooperem para a realização sublime do ideal de solidariedade, buscando na diplomacia o melhor dos meios de união e de amor sem que se sacrifi quem nem a honra nem a soberania nacional (BAYON, 1910).
À guisa de conclusão, cabe salientar que a busca de um ideal americano que se traduziria na elaboração de uma moral do continente para o campo das relações internacionais, pode ser considerado como um “lance” da Revista Americana tendo sido preocupação de vários autores servindo de base para o projeto da publicação. Daí sua importância para a análise dos intelectuais que formaram as fi leiras da diplomacia sul-americana, em especial a brasileira nos primeiros anos do Novecentos e que buscaram criar, inventar uma tradição republicana. Tal “invenção” de certa forma serviu de base para o pensamento e a ação diplomática nas décadas seguintes.
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
344
A periodic to refl ect America: the revista americana and its proposal of construct a diplomatic moral in
South America
AbstractThe objective of this article is to analyze, as an argumentative
community, the “Revista Americana”, that has been published by the Itamaraty, with some interruptions, from 1909 to 1919. The scope of this thesis was based upon some debates’ analyzes and the perception and understanding of diplomacy’s new role at the international scenario, pointing out some arguments about South America’s position in the world’s panorama.
Keywords:
Revista Americana – South América – Diplomacy
Bibliografi aACCIOLY, Hildebrando Pompeu Pinto. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1956. BAYON, Felix. Solidaridad Intelectual.Revista Americana, dezembro de 1909.
BAYON, Francisco Felix. Virtud de uma alianza em la Politica latino-americana. Revista Americana, setembro de 1910.
BUENO, Clodoaldo e CERVO, Amado Luiz. História da Política Exterior no Brasil.Brasília, Ed UnB, 2002.
BUENO, Clodoaldo. A República e sua Política Exterior (1889 a 1902). São Paulo: UNESP/IPRI, 1995.
CÁRCANO, Ramon. Relaciones Internacionales – El critério Argentino Tradicional. Revista Americana.
CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
345
FALCON, Francisco. História das Ideias. In: Ciro CARDOSO e Ronaldo VAINFAS. Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
HEREDIA, Edmundo. O Cone Sul e a América Latina. In: Amado Luiz CERVO e Mario RAPOPORT (Orgs). História do Cone Sul. Brasília e Rio de Janeiro: UnB e Revan, 1998.
MAGNOLI, Demétrio. O Corpo da Pátria. São Paulo: Moderna/UNESP, 1997.
ORLANDO, Arthur. Educação Internacional Americana. Revista Americana.
PIÑERO, Norberto. A política internacional Argentina. Revista Americana, janeiro de 1913.
POCOCK, J.G. Linguagens do ideário político. São Paulo, EDUSP, 2003.
ROCHA, Francisco Heitor Leão da. O Instituto do Arbitramento nas questões dos limites do Brasil. Brasília: UnB, Dissertação de Mestrado, 1990.
ROCHA, Pinto da. O Barão do Rio Branco e o Direito Internacional. Revista Americana, abril de 1913.
RODRIGUES, José Honório & SEITENFUS, Ricardo. Uma História diplomática do Brasil (1531-1945). Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1995.
SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
TUCK, Richard. História do Pensamento Político. In: Peter BURKE. A Escrita da História. São Paulo: UNESP, 1992.
TULY, James. Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. Princeton: Princeton University Press, 1988.
VIANNA, Victor. A política internacional. Revista Americana, junho de 1915.
FERNANDO LUIZ VALE CASTRO
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
UM PERIÓDICO PARA SE PENSAR A AMÉRICA: A REVISTA AMERICANA E SUA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORAL DIPLOMÁTICA SUL-AMERICANA
346
VIANNA, Sá. L’Arbitrage au Brésil. Revista Americana, fevereiro de 1917.
VIANNA, Victor. A Política Internacional. Revista Americana, junho de 1915.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS
DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO
Eduardo Scheidt1
Resumo:A questão da integração latino-americana, embora bastante
debatida, ainda não obteve resultados práticos signifi cativos. Na formação histórica da América Latina, tem prevalecido a fragmentação e a desintegração. Em princípios do século XIX, as independências foram demarcadas pelos localismos e regionalismos, proporcionando o surgimento de vários Estados independentes, à exceção do caso brasileiro. A despeito disto, durante o século retrasado divulgaram-se e defenderam-se projetos de integração, ainda que no âmbito da América hispânica. No presente trabalho, analisamos duas destas propostas em distintos contextos: a do libertador Simón Bolívar, durante o processo de independência e a do intelectual chileno Francisco Bilbao, à época da consolidação dos regimes oligárquicos. Tomando como fonte as principais obras de Bolívar e Bilbao, procuramos analisar comparativamente suas ideias e projetos para a integração americana.
Palavras-chave:
Integração latino-americana – ideias políticas – história latino-americana.
A questão da integração latino-americana tem suscitado crescentes debates em meios acadêmicos, governamentais e instituições da sociedade civil dos países do subcontinente. Em meados da década
1 Professor do Programa de Mestrado em História Social da USS. Doutor em História Social pela USP.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO348
de 1980, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai formalizaram o início do processo de formação de um mercado comum intitulado “Mercosul”. Atualmente, além dos países membros, o Mercosul conta com países “associados” – Chile e Bolívia –, enquanto a Venezuela está em processo de se integrar ao bloco. Apesar de a integração comercial ser ainda bastante incipiente, devido aos confl itos de interesses dos países membros e de ainda não se ter avançado rumo à adoção de uma moeda única e criação de um parlamento do bloco, o Mercosul indiscutivelmente tem tido resultados mais profícuos do que iniciativas de períodos anteriores como a “Alac” e a “Aladi” das décadas de 1960 e 1970 respectivamente. A Venezuela de Hugo Chávez tem tomado outras iniciativas em relação à união continental como a proposta da “Alba” (em contraposição à “Alca”), além da criação de uma rede de televisão e de um banco sul-americanos, bem como da integração do setor petroleiro2.
Os inúmeros obstáculos e difi culdades de integração explicam-se pela formação histórica dos países da América Latina. Desde o período colonial, as tendências fragmentadoras sempre prevaleceram em relação às integradoras. Especialmente na América hispânica colonial, priorizou-se a formação de distintos espaços econômicos de produção predominantemente exportadora que se ligavam prioritariamente à Europa, ainda que existissem importantes rotas comerciais internas entre as colônias. Politicamente, forjou-se uma rede fragmentada de instituições político-administrativas, tais como vice-reinados, capitanias, audiências, além dos poderes locais: alcadías mayores, corregimientos e cabildos3. Após a vitória das lutas de independência, a América Latina, a exceção do Brasil, dividiu-se em várias republicas durante o longo e confl ituoso processo de formação dos Estados nacionais. No período, as identidades locais e regionais eram predominantes frente a uma tênue 2 Para maiores detalhes sobre os caminhos e descaminhos da integração latino-americana ao longo do século XX, consultar OLIVEIRA, Francisco de. “Fronteiras invisíveis”. In: NOVAES, Adauto (Org.). Oito visões da América Latina. São Paulo: Senac, 2006, p. 23-47.3 Há inúmeras obras que analisam a história latino-americana durante o período colonial. Ver, por exemplo, BETHELL, Leslie (Org.) História da América Latina. São Paulo: Edusp, 2002, vol. 1 e 2; SCHWARTZ, Stuart B. e James Lockhart. História da América Latina na época colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; e WASSERMAN, Cláudia (Org.). História da América Latina: cinco séculos. Porto Alegre: Edufrgs, 1996.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
349
identidade americana e a inexistência de identidades nacionais4. Houve uma longa e tumultuada luta, marcada por inúmeras guerras civis e internacionais, entre setores das elites que pretendiam formar Estados centralizados politicamente e setores desejosos das manutenções das soberanias locais e regionais, propondo Estados federativos. Mesmo no Brasil, que manteve a unidade política, estes confl itos se fi zeram presentes5. De meados ao fi nal do século XIX, a fragmentação latino-americana consolidou-se com a relativa estabilização política concomitante com a formalização dos Estados oligárquicos6.
O distanciamento entre os países do subcontinente também se tornaram perceptíveis em aspectos ideológicos. O Brasil, por exemplo, procurou, através da manutenção do regime monarquista, se aproximar da “civilizada” Europa, distanciando-se das “bárbaras” e “sanguinárias” repúblicas hispano-americanas7. Nos países de colonização espanhola, que optaram pelo regime republicano, o discurso ideológico caracterizou-se pela dicotomia entre a América “democrática”, “republicana” e “igualitária” e o Brasil “monarquista” e “tirânico”, considerado uma anomalia para o continente e uma “ameaça europeia na América”. Apesar da identidade de elementos políticos como o republicanismo e culturais, como língua e religião, a América hispânica manteve a divisão em vários Estados nacionais.
A despeito disto, durante o século retrasado divulgaram-se e defenderam-se alguns projetos de integração do subcontinente, ainda que no âmbito da América hispânica. No presente trabalho, analisamos duas destas propostas em distintos contextos: a do libertador Simón
4 As identidades políticas múltiplas e o confl ituoso processo de construção dos Estados na-cionais em meio às lutas de soberanias distintas, são temas minuciosamente analisados pelo historiador argentino José Carlos Chiaramonte. Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires: Ariel, 1997. Ver também GUERRA, François-Xa-vier. Modernidad e indepencencias. México: Fondo de Cultura Económica, 1993; e BETHELL, Leslie (Org.), op. cit., vol. 3.5 Consultar Istvan Jancsó. Brasil: a formação do Estado e da nação. São Paulo/Ijui-RS: Huicitec/Uniijui, 2003. 6 Sobre a formação dos regimes oligárquicos, ver Marcelo Carmignani. Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930. Bercelona: Crítica, 1984; e Leslie Bethell (Org.), op. cit., vol. 4 e 5.7 Para uma análise das imagens e símbolos da América hispânica construídas no Brasil durante o século XIX, consultar o artigo de PRADO, Maria Ligia Coelho. “O Brasil e a distante América do Sul”. In: Revista de História, num. 145. São Paulo: USP, 2001, p. 127-149.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO350
Bolívar, durante o processo de independência e a do intelectual chileno Francisco Bilbao, à época da consolidação dos regimes oligárquicos. Embora na contramão das tendências dominantes entre as elites da época, ambos os personagens defenderam a unidade americana e criticaram sistematicamente as fragmentações político-administrativas. O objetivo central deste estudo é analisar a ideia de união da América em ambos os autores, tomando como fonte algumas de suas principais obras. De Bolívar, analisamos os textos Carta de Jamaica (1815) e o Discurso de Angostura (1819). Em relação a Bilbao, utilizamos o manifesto El Congreso Normal Americano (1856) e o livro La América en peligro (1862).
No que se refere à fundamentação teórico-metodológica de nossa pesquisa, partimos do princípio de que as propostas de integração de ambos os personagens são decorrentes de suas ideias políticas. Analisamos as ideias sob a ótica do conceito de “representação”. Embora ainda em construção, este conceito vem sendo cada vez mais utilizado em várias áreas do conhecimento, entre as quais a história política8. Neste sentido, entendemos que as ideias integram as representações. Em outras palavras, a construção de uma ideia é uma forma de representação.
No campo da história cultural, consideramos bastante relevante o conceito de representação fundamentado por Roger Chartier (1990). Para este autor, as representações estão conectadas com interesses de grupos sociais:
A história cultural, tal como entendemos, tem como principal objeto identifi car o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. [...] As representações
8 Cf. CAPELATO, Maria Helena Rolim & DUTRA, Eliana Regina de Freitas. Representação política: o reconhecimento de um conceito na historiografi a brasileira. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & MALERBA, Jurandir (Orgs.). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000, p. 227-267. As autoras dividem o texto em duas partes. Primeiramente, analisam as fundamentações teóricas mais frequentes entre os autores que utilizam o conceito de representação política, inclusive recorrendo a outras áreas do conhecimento, tais como a linguistica, a antropologia e a fi losofi a política. Capelato e Dutra também estabelecem relações entre a utilização do conceito de representação com o de imaginário. Na segunda parte, as autoras analisam o uso do conceito de representação política na produção historiográfi ca brasileira recente, concluindo que o mesmo ainda está em construção.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
351
do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses do grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza (CHARTIER, 1990, p.16 e 17).
Neste sentido, nosso entendimento é que as propostas de integração americana se constituem em representações, construídas por diferentes indivíduos e grupos sociais. Em sintonia com a argumentação acima do historiador francês, pensamos que as representações estão diretamente relacionadas com os diferentes interesses inerentes a indivíduos e grupos componentes de uma sociedade.
As representações, assim, entrelaçam-se com as lutas políticas. Elas têm um relevante papel nos atos de persuasão sobre o conjunto da sociedade, tendo como intuito conquistar um maior número adeptos para determinadas concepções. Sobre esta questão, Chartier também afi rma que:
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justifi car, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. [...] As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio. (CHARTIER, 1990, p.17).
Compartilhamos com o autor a perspectiva que as lutas de representações são tão importantes quanto as econômicas. É a partir das ideias que as pessoas são impelidas a participar de processos de transformação social, ou em outros casos, a lutar contra sua execução. Desse modo, as representações agem sobre a realidade, modifi cando-a, transformando-a ou tentando conservá-la.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO352
Isto não signifi ca afi rmar, entretanto, que haja um determinismo simplista. Nosso entendimento é que há uma complexa interação entre as representações e os demais componentes da realidade, uma vez que, ao mesmo tempo em que as primeiras agem sobre a segunda, elas são elaboradas em sintonia com elementos econômicos, sociais e políticos de uma determinada sociedade em uma conjuntura. Além disso, as representações são elaboradas por indivíduos ou grupos a partir do lugar que eles ocupam numa sociedade, conforme seus distintos interesses, sua classe social, as visões de mundo de sua época.
Ainda sobre representação, também é relevante para nossa pesquisa o texto Por uma história conceitual do político de Pierre Rosanvallon (ROSANVALLON, 1995, p. 9-22). No que se refere à abordagem do estudo de ideias políticas, o autor sugere uma “história conceitual do político”, argumentando que: “[...] as representações do político se modifi cam em relação às transformações nas instituições; às técnicas de gestão e às formas de relação social.” (ROSANVALLON, 1995, p. 16). Neste sentido, estamos atentos às modifi cações das representações de nação, tanto ao longo do período pesquisado como entre os diferentes segmentos sociais em um mesmo contexto.
Rosanvallon também afi rma que é objetivo da história conceitual do político compreender como uma determinada sociedade em um determinado contexto refl ete, utilizando-se de representações, sobre ela mesma, procurando construir respostas para questões que ela identifi ca, com mais ou menos precisão ou confusão, como problemas (ROSANVALLON, 1995, p. 16).
Passemos, a seguir para a análise das representações da integração americana em Simón Bolívar.
***
Simón José Antonio de la Trinidad Bolívar y Palacios nasceu a 24 de julho de 1793 em Caracas. Pertencia a uma das mais ricas famílias criollas da então colônia, proprietária de extensas áreas rurais onde se cultivava cacau, anil, algodão e açúcar. Bolívar perdeu prematuramente seu pai em 1786 e sua mãe em 1792. Teve como preceptores destacados intelectuais da época, como Andrés Bello e Simón Rodrigues. Este,
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
353
partidário das ideias de Rousseau, exerceu uma infl uência maior sobre Bolívar. Entre 1799 e 1802, nosso personagem viveu na Europa, tendo se estabelecido na Espanha, onde conheceu e contraiu núpcias com María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, oriunda de uma rica família de Caracas. Poucos meses após do retorno do casal à Venezuela, María Teresa faleceu em decorrência da febre amarela. Abalado com a morte prematura da esposa, Bolívar retornou para a Europa em 1803, ampliando contatos com pessoas destacadas do mundo científi co europeu como Humboldt e Bonpland. Em 1804, estabeleceu-se em Paris onde assistiu a coroação de Napoleão como imperador. No ano seguinte, Bolívar realizou uma viagem à Itália juntamente com Simón Rodríguez, durante a qual proferiu o famoso juramento, no Monte Sagrado, de que libertaria a América da dominação espanhola. Em outubro de 1806, partiu rumo à Venezuela, permanecendo um período nos Estados Unidos e chegando a Caracas em junho de 1807. A partir de então, passou a organizar reuniões políticas com o propósito de lutar contra a Espanha. Em 1810, iniciou-se o processo de independência com a instalação de uma junta de governo em Caracas, momento em que Bolívar recebeu a patente de coronel. Nosso personagem recebeu a missão de representar o governo criollo na Grã-Bretanha, onde entrou em contato com Francisco de Miranda, revolucionário venezuelano exilado na Inglaterra. A primeira independência da Venezuela foi proclamada em 1811, sem contar, entretanto, com o apoio de todas as províncias. Bolívar teve um destacado papel na luta contra as províncias, passando a criticar as ideias federalistas e defender um governo centralizador. Após várias derrotas militares, partiu para o exílio em 1812, estabelecendo-se em Curação e depois em Cartagena. Lá redigiu o Manifesto de Cartagena, documento em que começou a forjar seu conceito continental de América. No ano seguinte, partiu para novas ações militares, entrando vitorioso em Caracas no mês de agosto, quando se proclamou a Segunda República da Venezuela. Nesta ocasião, Bolívar recebeu o título de “Libertador” pela municipalidade de Caracas. Com o recrudescimento das lutas contra os espanhóis, os americanos sofrem novas derrotas, obrigando Bolívar a partir a um novo exílio em 1814, estabelecendo-se na então Nova Granada e na Jamaica no ano seguinte. Redigiu sua famosa Carta de Jamaica (ou
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO354
Carta Profética), documento que expressa os principais aspectos de seu ideário político, incluindo a questão da unidade americana. No mesmo ano, embarcou para o Haiti, onde obteve o apoio do presidente Alexandre Petión com o compromisso de libertar os escravos na América. Com a retomada das lutas pela independência, Bolívar entrou em choque com outras lideranças do movimento, acentuando seu viés autoritário e centralizador. A partir de 1819, obteve sucessivos triunfos, libertando várias regiões da dominação espanhola. No mesmo ano, proferiu o Discurso de Angostura, durante um Congresso na Venezuela para organização dos novos Estados independentes. Esforçou-se no estabelecimento do governo da Grã-Colômbia, que reunia os atuais Estados da Venezuela, Equador, Panamá e Colômbia. Em 1822, encontrou-se em Guayaquil com San Martín, ocasião em que os principais líderes das lutas pela independência traçaram os planos fi nais para a derrota dos espanhóis, que ainda dominavam a maior parte do então Vice-Reinado do Peru. Em 1824, as batalhas de Junín e Ayacucho, selaram a vitória dos americanos contra o domínio espanhol. Em 1826, foi convocado um congresso no Panamá com o propósito de reunir representantes dos novos Estados americanos. O fracasso do evento decepcionou profundamente Bolívar, que então lutava pela formação de uma liga das nações americanas. A partir de então, exercendo o cargo de presidente da Grã-Colômbia, concentrou seus esforços para manutenção de uma federação andina. No mesmo ano, lutou contra o general José Antonio Paéz que liderava um movimento separatista na Venezuela. Bolívar entrou em choque igualmente com o vice-presidente da Colômbia, general Santander. Em 1829, eclodiu novo movimento separatista na Venezuela, cuja independência foi formalizada no ano seguinte. Desiludido com as tendências fragmentadoras, desgastado com as lutas contra outras lideranças e abatido por doenças, Bolívar renunciou ao cargo de presidente em 1830. A 17 de dezembro do mesmo ano, veio a falecer na localidade de San Pedro de Alejandrino9.
Passemos, a partir de agora, a analisar a questão da unidade americana na obra de Simón Bolívar. O nome do Libertador é
9 As informações sobre a trajetória de Bolívar foram obtidas em CORREA, Anna Maria Martinez & BELLOTTO, Manuel Lello (Orgs.).
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
355
comumente associado à ideia da unifi cação da América. Passou para a História como o incansável defensor da formação de uma única nação americana, mesmo que no âmbito de uma América hispânica. Seu ideário foi recorrentemente apropriado ao longo do tempo por distintos grupos políticos, especialmente na Venezuela. Atualmente, o regime de Hugo Chávez alude à exaustão à fi gura de Bolívar e à ideia da unidade latino-americana, sendo que os artífi ces do regime denominam a ascensão dos chavistas ao poder de “Revolução Bolivariana”.
Em sua obra Carta de Jamaica, escrita em 1815, Bolívar representou a América hispânica como uma unidade. Utilizou a expressão “minha pátria” ao se referir ao subcontinente. Criticou veementemente a ação dos espanhóis no “grande hemisfério de Colombo” e defendeu com vigor a independência da América. Embora escrito num momento em que a luta dos libertadores sofria revezes contra os espanhóis, o autor já afi rmava que a América tinha rompido os laços com a Espanha. Ainda que se referisse à América como uma unidade, Bolívar não negligenciou suas subdivisões político-administrativas, procurando descrever nas partes iniciais do texto as especifi cidades das “províncias do Prata”, do “reino do Chile”, do “vice-reinado do Peru”, da “Nova Granada”, da “Venezuela”, da “Nova Espanha” e até das “ilhas de Porto Rico e Cuba”.
Ao tratar da América como uma unidade, o Libertador procurou dar uma identidade ao subcontinente e sua população, conforme percebemos no trecho abaixo:
Somos um diminuto gênero humano; possuímos um mundo á parte, cercado por dilatados mares, novo em quase todas as artes e ciências, embora, de certo modo, seja velho nos costumes da sociedade civil [...]. Por outra parte, não somos índios nem europeus, mas uma espécie intermediária entre os legítimos proprietários do continente e os usurpadores espanhóis: em suma, sendo americanos por nascimento e nossos direitos os da Europa, temos que disputar estes ao do país e mantermo-nos nele contra a invasão dos invasores – encontramo-nos, assim, na situação mais extraordinária e complicada. (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 79 e 80).
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO356
Para Bolívar, a América constituía-se em algo diferente, nem europeu e nem indígena. Seria uma “mescla” entre os dois povos. Como era muito frequente entre os artífi ces das independências, nosso autor aludiu ao indígena para se distinguir dos espanhóis. Referiu-se a estes como os “legítimos proprietários” da terra, enquanto os espanhóis eram retratados como “invasores”. Ao mesmo tempo reconheceu elementos europeus na formação da América, ao caracterizar os americanos como “uma espécie intermediária” entre os indígenas e os colonizadores.
Sobre a questão da formação de uma única nação na América, ideia que posteriormente foi frequentemente relacionada ao ideário de Bolívar, percebemos certa ambiguidade ao longo do texto. Num trecho o autor afi rmou que: “[...] tal nação será república ou monarquia, esta será pequena e aquela grande?” (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 79). Neste ponto, fi ca explicitado que não iria se constituir uma, mas várias nações, cabendo a dúvida se seriam monarquistas ou republicanas, grandes ou pequenas. Mais adiante, porém, o Libertador defende claramente a formação de uma única nação: “Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela sua liberdade e glória.” (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 84).
Logo em seguida, o autor explicitou seu reconhecimento de que a formação de uma única nação não seria possível naquele momento. Ele era contrário a uma monarquia, para evitar o despotismo e todos os males do colonizador espanhol. Uma república unitária também seria inviável no contexto, tanto pelas inúmeras subdivisões, mas também pelo fato de que a população ainda não estaria preparada para o republicanismo, devido às mazelas impostas pelos colonizadores. Segundo Bolívar, os Estados americanos necessitariam de “governos paternais” que curassem “[...] as chagas e as feridas do despotismo e da guerra.” (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 84).
O posicionamento de Bolívar sobre a questão da unidade americana fi cou explicitado próximo do fi nal do texto:
É uma idéia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma única nação com um único vínculo que ligue
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
357
as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes Estados que haverão de se formar; mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América. (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 88).
A “nação americana” almejada pelo Libertador seria uma confederação que reunisse os diversos Estados que estavam se organizando. Possivelmente, o exemplo dos Estados Unidos foi utilizado como inspiração. Chamamos a atenção para utilização de elementos culturais, tais como língua, religião e origem comum na defesa de uma nacionalidade num momento em que o termo nação era mais frequentemente caracterizado por elementos essencialmente políticos, como uma comunidade soberana de cidadãos, muitas vezes tomada como sinônimo de Estado.
Entretanto, Bolívar afi rmava que isto seria impossível. Ele reconheceu as inúmeras subdivisões político-administrativa, os regionalismos e as diversas lutas pelos poderes locais e regionais como empecilhos para unidade americana. Note-se que o texto foi redigido em 1815, antes ainda da formalização das independências e do processo de construção dos Estados nacionais. Bolívar teve uma grande capacidade de análise da realidade concreta das diversas regiões da América e soube prever que as futuras lutas internas impossibilitariam a unidade do subcontinente.
No outro texto que analisamos, Discurso de Angostura, Bolívar aprofundou-se na caracterização de uma identidade americana, conforme o trecho seguinte:
Tenhamos presente que nosso povo não é o europeu, nem o americano do norte, é antes um composto de África e América do que uma emanação da Europa, pois que a Espanha mesmo deixa de ser Europa pelo seu sangue africano, pelas suas instituições e por seu caráter. É impossível caracterizar com propriedade a que família
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO358
humana pertencemos. A maior parte do indígena se aniquilou, o europeu mesclou-se com o americano e com o africano e este mesclou-se com o índio e o europeu. (BOLÍVAR in CORREA; BELLOTTO, 1983, p. 122).
O Libertador fez uma precisa defi nição da população americana, reconhecendo sua diversidade e sua múltipla origem, da mistura de europeus, indígenas e africanos. A caracterização do autor é muito semelhante aos estudos contemporâneos, que vem ressaltando as misturas e mestiçagens como características marcantes da formação histórica das populações latino-americanas. Como podemos perceber, esta abordagem está longe de ser original.
Embora tenha se aprofundado na confi guração de uma identidade americana, nosso personagem parece ter abandonado, neste texto, a defesa da unidade continental. Ele continuava a condenar o federalismo e as lutas intestinas, ao mesmo tempo em que se mantinha irredutível na defesa da centralização e da unidade. Mas esta se refere ou à “Grã-Colômbia”, como na página 135 ou à Venezuela, como na página 133. Quatro anos depois, a convicção de que a unidade americana seria impossível parece ter fi cado mais sólida na concepção do autor.
Podemos concluir que de fato Bolívar foi um defensor da unidade americana, elaborando representações sobre o subcontinente, seu povo e a integração. Entretanto, soube reconhecer que as diversidades regionais e lutas pelo poder impossibilitariam sua concretização. A “nação americana” não passaria de um sonho impossível de se realizar num futuro próximo. No segmento seguinte, analisaremos como um outro intelectual num contexto histórico posterior, tratou da questão da unidade do subcontinente.
***
Francisco Bilbao nasceu em Santiago a 09 de janeiro de 1823. Em 1842, integrou-se ao movimento intelectual “Sociedade da Literatura”, surgido no mesmo ano de fundação da Universidade do Chile, sob a
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
359
liderança de Andrés Bello, Victorino Lastarria e Eusebio Lillo. Em 1844, publicou seu primeiro livro, La Sociabilidad Chilena, cujo conteúdo radical suscitou profunda comoção entre os conservadores chilenos, ao ponto de a obra ser queimada em praça pública. As repercussões de seu livro custaram-lhe um exílio no exterior, entre 1844 e 1850, durante o qual participou ativamente dos movimentos revolucionários de 1848 na França, ao lado de Edgar Quinet e Jules Michelet. No retorno ao seu país, Bilbao fundou, juntamente com seu compatriota Santiago Arcos, a “Sociedade da Igualdade”, com o intuito de congregar os intelectuais e setores populares, excluídos da participação política. Bilbao redigiu os princípios políticos da associação e contribuiu com artigos para seu periódico, denominado El Amigo del Pueblo. O rápido crescimento dos igualitários assustou o governo, levando à decretação de estado de sítio e ao fechamento da organização. Na clandestinidade, Bilbao e seus companheiros protagonizaram uma tentativa de insurreição em 1851, logo sufocada pelo governo, obrigando o autor a um novo período de exílio, desta vez no Peru. Devido a seu envolvimento em movimentos revolucionários no país visinho, foi obrigado a se refugiar novamente na Europa, instalando-se em Paris no ano de 1855. Durante o novo exílio europeu, procurou organizar politicamente os refugiados da América Latina. No ano seguinte, publicou La Iniciativa de América, propondo a união dos latino-americanos. De volta ao continente, fi xou residência em Buenos Aires no ano de 1857, onde fundou a Revista del Nuevo Mundo. Embora vivendo na capital portenha, o autor deu apoio a Justo José Urquiza e à Confederação, posicionando-se contra o Estado independente de Buenos Aires. Também nesta cidade, publicou duas de suas obras mais importantes: La América en Peligro e El Evangelio Americano, em 1862 e 1864 respectivamente. Faleceu a 19 de fevereiro de 1865, vítima de infecções pulmonares10.
Como era recorrente entre os contemporâneos, Bilbao identifi cava a América a partir de características essencialmente políticas, como
10 Os dados sobre a biografi a de Bilbao foram extraídos do prólogo de Alejandro Witker em Francisco Bilbao. El evangelio americano. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988; de Pierre-Luc Abramson. Las utopias sociales en América Latina en el siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1999; e de Carlos M. Rama. Utopismo socialista (1830-1893). Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO360
o continente em que se construía um regime republicano, igualitário e democrático, contrastando com a Europa monárquica, autoritária e marcada pelas desigualdades sociais. Em sua obra El Congreso Normal Americano, publicada em 1856 durante seu segundo exílio na Europa, o autor foi além de uma caracterização política, fazendo uso de elementos culturais para construção da identidade americana. Logo no início de seu texto, ele descreveu a América como um continente vasto habitado por duas “raças”, que cultuam duas religiões, falam dois idiomas, mas que desenvolveram uma única forma política. Além da república, o continente era caracterizado pela presença de hispânicos e anglo-saxões, dos idiomas inglês e espanhol, bem como das religiões católica e protestante. Havia, pois, não uma e sim duas Américas.
Diferente do que era recorrente no início do século, neste texto de 1856, Bilbao já fazia uma clara distinção entre as Américas do Norte e do Sul. Outra questão central no pensamento do autor era a proposta de união dos sul-americanos, que estariam enfrentando dois “perigos”: da Rússia e dos Estados Unidos, ambos imbuídos do desejo de dominar o mundo. A primeira representaria o perigo da implementação da servidão enquanto os segundos seriam perigosos devido ao “individualismo dos ianques”.
Ao longo do texto, Bilbao procurou caracterizar os EUA de forma tanto elogiosa como crítica. O autor admirava o movimento de independência, sua revolução (que antecedeu à francesa) e a edifi cação do republicanismo. Mas afi rmou que os norte-americanos “degeneraram” para o egoísmo individualista, levando-os a pretensões de dominar outros povos. Bilbao se referia à guerra contra o México, protagonizada alguns anos antes, após a qual, os EUA arrebataram mais de um terço do território então mexicano. Não há como deixar de comentar o quanto nosso autor soube perceber as futuras posturas imperialistas dos norte-americanos em relação aos demais países do continente. Bilbao foi um dos pioneiros em criticar o expansionismo norte-americano, num momento em que a maioria dos intelectuais e políticos latino-americanos identifi cava o vizinho do norte como um modelo a ser admirado e seguido.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
361
Em suas argumentações, Bilbao procurava caracterizar a América do Norte com elementos negativos e a do Sul com positivos. Embora os EUA fossem ricos e desenvolvidos, mantiveram a escravidão e exterminaram os indígenas, enquanto na América do Sul a escravidão fora abolida e haveria um respeito e incorporação das populações indígenas às sociedades. O autor tentava passar a ideia de que, em muitos aspectos, seriam na verdade os sul-americanos superiores em relação aos habitantes do norte. As populações do sul eram retratadas como preferindo o social ao individual, a justiça ao poder político, o dever com a sociedade aos interesses egoístas11.
Para enfrentar os “perigos” da Rússia e dos EUA, Bilbao propunha a unidade da América hispânica. Podemos afi rmar que o texto constitui um manifesto em prol da unidade do subcontinente. Somente através da união os latino-americanos superariam a inferioridade material e de riquezas, único elementos, segundo o autor, de desvantagens dos americanos do sul em relação aos do norte. Esta unidade se daria na forma de uma confederação:
Tenemos que desarrollar la independência, que conservar las fronteras naturales y morales de nuestra patria, tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina, que desarrollar la República, desvanecer las pequeñeces personales para elevar la gran nación americana, la Confederación del Sur. [...] Debemos preparar esa revelación de la libertad que debe producir la nación más homogénea, más nueva, más pura, extendida en las pampas, llanos y sabanas, regadas por el Amazonas y el Plata y sombreadas por los Andes. Y nada de esto se puede
11 É evidente que o autor construiu seu texto imbuído de discursos ideológicos. Sua caracterização da América do Sul é claramente idealizada, não representando em sua íntegra a realidade histórica do subcontinente. Os historiadores já demonstraram à exaustão que os indígenas foram mortos e explorados pelos colonizadores espanhóis e, quando incorporados à sociedade, o foram de forma excludente, processo este que teve continuidade após as independências. Além disto, os Estados nacionais, então em construção, estavam longe de realizarem na prática o discurso republicano e igualitário, já que a grande maioria da população fi cou à margem dos direitos políticos e do acesso às riquezas produzidas. Entretanto, devemos avaliar o texto a partir do contexto em que foi redigido e publicado. Neste sentido, ele foi escrito durante o exílio de Bilbao na Europa, quando o personagem envolveu-se num movimento pela unidade dos latino-americanos que estavam no exterior. Suas caracterizações idealizadas da América, naquela perspectiva, tinham o propósito de promover a união entre os países da América Latina, que, como já mencionamos, foi um dos objetivos centrais de sua obra.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO362
conseguir sin la unión, sin la unidad, sin la asociación. (BILBAO, 1988, p. 277).
O autor, pois, conclamava pela formação de uma “nação americana”, que reunisse todos os povos do subcontinente que tiveram origens comuns, tais como língua e religião, conformando uma “raça latina”12. Bilbao criticava com veemência a subdivisão continental em diversos países, apontando este fato como um dos elementos principais dos “perigos” que os sul-americanos enfrentavam.
Para efetivação da unidade, o intelectual chileno conclamou a convocação de um Congresso de representantes dos países latino-americanos. Neste manifesto, ele já apresentava os termos de sua confederação almejada:
Siendo el Congreso la autoridad moral, la norma de las reformas y el espíritu que debe imperar en la Confederación, debe aceptar como base de sus trabajos al reconocimiento de la soberania del pueblo, y la separación absoluta de la Iglesia e del Estado. [...]1º La ciudadanía universal. Todo republicano puede ser considerado como ciudadano en cualquier República que habite.[...]3º Un pacto de alianza federal y comercial.4º La abolición de las aduanas inter-americanas.[...]6º La creación de un Tribunal Internacional, o constituirse el mismo Congreso en tribunal, de modo que no pueda Haber guerra entre nosostros, sin haber antes sometido la cuestión al Congreso y esperado su fallo, a menos en el caso de ataque violento.[...]13º Que ese Congreso sea declarado el representante de América en caso de confl icto con las naciones extrañas.[...]
12 Bilbao foi um dos pioneiros a utilizar o termo “América Latina”, já que o mais frequente na época, incluindo seus escritos, era “América do Sul” ou simplesmente “América”.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
363
17º Además de las elecciones federales para representantes del Congreso, puede haber elecciones unitárias de todas lãs Repúblicas, sea para nombrar un representante de la América, un Generalísimo de sus fuerzas, o bien para votar las proposiciones universales del Congreso.18º En toda votación general sobre asuntos de la Confederación, la mayoria será la suma de votos individuales y no la suma de votos nacionales. Esa medida unirá más los espíritus. (BILBAO, 1988, p. 286 e 287).
Podemos perceber que enquanto Bolívar via na unidade americana apenas um desejo irrealizável naquele contexto, Bilbao não apenas defendia essa unidade com convicção como forjou um projeto bastante detalhado da união da América.
O autor elaborou sua proposta quando estava exilado na Europa e engajado num movimento de união dos latino-americanos que viviam no exterior. A defesa da unidade do subcontinente permaneceu no ideário de Bilbao quando de seu retorno para a América, se radicou em Buenos Aires a partir de 1857. A conclamação pela unidade americana continua presente, por exemplo, em seu livro La América em peligro, publicada em 1862 e considerada uma de suas principais obras.
O livro foi escrito com o intuito de denunciar a invasão francesa do México. Na perspectiva de Bilbao, a independência americana e o próprio regime republicano estariam em perigo de sucumbir frente à invasão do europeu, identifi cado como colonialista, tirânico e monárquico. Bilbao abandonou a visão idealizada, adentrando-se em uma análise mais realista e crítica da América Latina. Neste sentido, seus habitantes também seriam responsáveis pelo “perigo francês”, já que a invasão teria sido possível devido a erros do “inimigo interno”, que teriam deixado o subcontinente vulnerável.
Para justifi car seus argumentos, Bilbao denunciava os regimes autoritários e ditatoriais que demarcaram a maior parte da vida política dos países nas décadas após as independências. O regime de Rosas era especialmente apontado como prova cabal do “erro” em tentar unir ideal republicano com catolicismo. Este intuito só teria levado à ditadura, ao engano das massas, ao fanatismo e à obediência cega aos
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO364
chefes políticos. Neste sentido, Bilbao compartilhava do diagnóstico sobre a situação americana, partilhado pelas elites liberais que então se consolidavam no poder. Entretanto ele apresentava distintos fatores para explicar a realidade americana. Enquanto a maioria dos dirigentes políticos latino-americana via na suposta “inferioridade racial” e no determinismo geográfi co as causas das mazelas americanas, Bilbao inovou ao culpar as próprias elites locais (que ele utilizava o termo de “ilustrados”) pela situação.
Além da luta contra os governos excludentes das elites, a unidade americana continuava a ser fator fundamental para o desenvolvimento continental, segundo o ideário do autor. Nessa obra, fi ca explicitado que o Brasil (e também o Paraguai) não fariam parte da América:
Creemos que la gloria de la América, exeptuando de su participación al Brasil, Imperio con esclavos, y al Paraguay, dictadura con siervos, y a pesar de las peripécias sangrientas de la anarquia y despotismo transeuntes, sea por instinto, intuición de la verdad, necesidad histórica, o lógica del derecho, consiste esa gloria de haber identifi cado con su destino la república. (BILBAO, 1988, p. 191).
No contexto do século XIX, ser americano não se limitava numa questão geográfi ca. A ideia de América era associada a republicanismo, independência e liberdades. Neste sentido, o Brasil fi cava de fora devido à opção monarquista, relacionada pelos hispano-americanos ao colonialismo e despotismo europeus.
Nessa obra, Bilbao acentuou que a unidade americana não se reduziria a uma associação entre os diversos países, mas que a almejada Confederação teria que ser edifi cada sobre os princípios republicanos:
Debemos pues, presentar el espectáculo de nuestra unión Republicana. Todo clama por la unidad. La América pide una autoridad moral que la unifi que. La verdad exige que demos la educación de la libertad a nuestros pueblos; un gobierno, un dogma, una palabra, un interes, un vínculo solidário que nos una, una pasión universal que domine
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
365
a los elementos egoístas, al nacionalismo estrecho y que fortifi que los puntos de contacto. (BILBAO, 1988, p. 267 e 268).
Diferentemente de Bolívar, que desenvolveu um viés autoritário em suas práticas e ideias, Bilbao se manteve defensor das liberdades, do bem comum e da igualdade entre os cidadãos. Em oposição às elites dominantes, sempre esteve fora do poder, combatendo as políticas elitistas e de exclusão social. O intelectual chileno via na unidade hispano-americana, calcada no republicanismo e igualitarismo, a única forma de a sociedade da América Latina poder se desenvolver e evitar as intervenções estrangeiras.
***
Ao longo do artigo, analisamos duas distintas representações da unidade americana em diferentes contextos do século XIX. Tanto Bolívar quanto Bilbao foram defensores da unidade do subcontinente, mas enquanto o primeiro reconhecia que a sonhada união era irrealizável naquele contexto, o segundo não apenas defendeu a proposta ao longo da vida como também elaborou um projeto acabado de uma confederação das repúblicas hispano-americanas.
As diferenças nas propostas dos dois autores explicam-se não apenas pelas distintas conjunturas de suas atuações e divulgações de seus ideários, mas, sobretudo, pelos diferentes papéis que ambos os personagens exerceram como agentes históricos. Bolívar, um destacado lutador pelas independências, assumiu também funções de chefe de Estado, o que o fez ter uma perspectiva pragmática da unidade do subcontinente. Para ele, a união americana era um sonho impossível de ser conquistado naquele contexto, pois era predominante entre a grande maioria das elites políticas e econômicas a defesa dos interesses locais e regionais. Como líder das lutas pela independência e chefe de Estado, Bolívar teve que negociar com setores daquelas elites e logo pode perceber que as propostas de unidade continental não encontravam ecos ente eles. Apesar de ter fi cado conhecido historicamente como um ferrenho defensor da unidade hispano-americana, Bolívar jamais desenvolveu um projeto elaborado de união e quando defendeu a
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO366
proposta, foi de forma ambígua, sendo que a abandonou em seus escritos posteriores.
Já Bilbao não apenas foi um incansável defensor da integração ao longo de toda sua trajetória intelectual como também defendeu um projeto constitucional de unidade do subcontinente. Diferente de Bolívar, Bilbao foi um intelectual radical de oposição, que sempre se manteve fora do poder, combatendo as elites dirigentes. Sem necessidades de negociar, pode-se manter fi el ao seu ideário. Suas propostas, entretanto, tiveram poucos ecos na sociedade da época, num período em que os regimes oligárquicos se consolidavam, aprofundando as divisões e o isolamento entre os países latino-americanos.
Em suma, ambos os personagens foram defensores da integração, mas num contexto em que a empreitada era impossível, legando para as gerações futuras dar continuidade no desenvolvimento das ideias integradoras e avançar rumo a implementação de ações no sentido da unidade continental. Está nas mãos das sociedades latino-americanas o desafi o de aprofundar as primeiras iniciativas de integração, colocadas em prática nas últimas décadas, para que a tão sonhada unidade da América Latina deixe de pertencer ao plano das utopias e passe a ser uma realidade histórica concreta.
Representations of the American integration on the political ideias of Simón Bolívar and Francisco Bilbao
Abstract:The question of the Latin-American integration has still not
obtained practical signifi cant results. In the historical formation of the Latin America, the fragmentation and the disintegration have been prevailed. In beginnings of the century XIX, the independence’s movements were demarcated by the regionalisms, providing the appearance of several independent States, with the exception of the Brazilian case. In spite of this, during the century XIX, some projects
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
367
of integration have been defended, still than in the context of Hispanic America. In the present work, we have analyzed two of these proposals in different contexts: that of the liberator Simón Bolívar, during the process of independence and that of the Chilean intellectual Francisco Bilbao, to the time of the consolidation of the oligárquico regimes. Taking the principal works of Bolívar and Bilbao as sources, we have tried to analyze their ideas and projects for the American integration.
Key words:
Latin-American integration – political ideas – Latin-American history.
FONTESBILBAO, Francisco. La América em peligro. In: El evangelio americano. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988, p. 187-271 [1862].
______. El Congreso Normal Americano. In: El evangelio americano. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988, p. 273-289 [1856].
BOLÍVAR, Símon. Carta de Jamaica. In: CORREA, Anna Maria Martinez e BELLOTTO, Manuel Lello (Orgs.). Bolívar. São Paulo: Ática, 1983, p. 74-90 [1815].
______. Discurso pronunciado por ocasião da instalação do Congresso de Angostura. In: CORREA, Anna Maria Martinez e BELLOTTO, Manuel Lello (Orgs.). Bolívar. São Paulo: Ática, 1983, p.114-136 [1819].
BIBLIOGRAFIAABRAMSON, Pierre-Luc. Las utopías sociales en América Latina en el siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
BACZCO, Bronislaw. Utopia. In: Enciclopédia Einaudi. V. 5. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 333-396.
BETHELL, Leslie. (Org.). História da América Latina. São Paulo/Brasília: Edusp/Imprensa Ofi cial/ Funag, 2001, v. 1, 2, 3, 4 e 5.
EDUARDO SCHEIDT
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAO368
CAPELATO, Maria Helena Rolim; DUTRA, Eliana Regina de Freitas. Representação política: o reconhecimento de um conceito na historiografi a brasileira. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (Orgs.). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000, p. 227-267.
CARMAGNANI, Marcelo. Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930. Bercelona: Crítica, 1984.
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990
CHIARAMONTE, José Carlos. Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires: Ariel, 1997.
______. El mito de los origenes en la historiografi a latinoamericana. Cuadernos del
CORREA, Anna Maria Martinez e BELLOTTO, Manuel Lello (orgs.). Bolívar. São Paulo: Ática, 1983.
DONOSO, Armando. Bilbao y su tiempo. Santiago do Chile: Zig-Zag, 1913.
______. El pensamiento vivo de Bilbao. Santiado do Chile: Nascimiento, 1940.
GUERRA, François-Xavier. Modernidad e indepencencias. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
JANCSÓ, Istvan. Brasil: a formação do Estado e da nação. São Paulo/Ijui-RS: Huicitec/Uniijui, 2003.
NOVAES, Adauto (Org.). Oito visões da América Latina. São Paulo: Senac, 2006.
OLIVEIRA, Francisco de. Fronteiras invisíveis. In: NOVAES, Adauto (Org.). Oito visões da América Latina. São Paulo: Senac, 2006, p. 23-47
PRADO, Maria Ligia Coelho. O Brasil e a distante América do Sul. In: Revista de História, num. 145. São Paulo: USP, 2001, p. 127-149.
RAMA, Carlos M. Utopismo socialista (1830-1893). 2. ed. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987.
REPRESENTAÇÕES DA INTEGRAÇÃO AMERICANA NAS IDEIAS POLÍTICAS DE SIMÓN BOLÍVAR E FRANCISCO BILBAOU
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
EDUARDO SCHEIDT
369
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história conceitual do político. In: Revista Brasileira de História. V. 15, n. 30. São Paulo: ANPUH, 1995, p. 9-22
SCHEIDT, Eduardo. Carbonários no Rio da Prata: jornalistas italianos e circulação de idéias na Região Platina (1827-1860). Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
______. Representações de América nas obras dos intelectuais utópicos Esteban Echeverría e Francisco Bilbao. In: SANTOS, Cláudia Andrade dos e SENA FILHO, Nelson (Orgs.). Estudos de política e cultura: novos olhares. Goiânia, Ed. Vieira, 2006, p. 107-123.
______. Representações de América no pensamento de Francisco Bilbao. In: Dimensões, n. 19. Vitória: Ufes, 2007, p. 27-47.
SCHWARTZ, Stuart B. e LOCKHART, James. História da América Latina na época colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002
WASSERMAN, Cláudia (Org.). História da América Latina: cinco séculos. Porto Alegre: Edufrgs, 1996.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA?
Iram Rubem 1
Resumo: O período pós-abolição acirrou os confl itos entre práticas e
representações dos diversos grupos envolvidos e estabeleceu novas demandas. Nessa situação crítica, anuncia-se o inesperado retorno do imperador, que se submetia a tratamento médico na Europa, com prognósticos quod-valitudinem e mesmo, quod-vitam muito reservados. Neste trabalho, analisam-se duas manifestações antagônicas sobre o regresso de Pedro II, o da lavoura, expresso no jornal Novidades e o do abolicionismo radical de José do Patrocínio, declarado no Cidade do Rio.
Palavras-chave:
Império – república – abolicionismo radical – lavoura-imprensa
O fi nal do século XIX, no Brasil, vem-se revestindo de especial interesse para o historiador, revelando-se como um período de grande aceleração histórica, quando se precipitaram situações gestadas ao longo do século. Foi um cenário de confl itos econômicos, sociais e políticos a requerer medidas modernizadoras principalmente em relação ao destino da mão de obra. Nele, concorreram discursos diversos, conservadores ou liberais, dotados de estratégias políticas, que se amparavam nos “repertórios” disponíveis2.
1 Mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra2 Para Swindler, os repertórios representam um conjunto de recursos intelectuais disponíveis em uma sociedade, num determinado período histórico. Formados por arranjos de padrões ana-líticos, noções, argumentos, fi guras de linguagem, não importando uma necessária consistên-cia teórica, são como uma caixa de ferramentas (kit tool) que se destinam a municiar a ação. Tilly acrescenta que eles não se originam de abstrações fi losófi cas ou resultam de propaganda política, ao contrário, emergem da luta e representam escolhas. Ver SWINDLER, Ann. Culture in Action: symbols and strategies. American Sociological Review, 1986, vol. 51, abril, 1986, p. 273-286.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 372
Antes balizado apenas pelos marcos da abolição e da proclamação da República, esse período vem recebendo novos olhares, quando dissecado pela historiografi a contemporânea. E, a partir daí, têm-se revelado momentos marcantes e atores, antes considerados coadjuvantes ou mesmo relegados ao silêncio.
O propósito deste trabalho é estudar, nesta conjuntura, mais precisamente no pós-abolição imediato, um desses momentos que, embora efêmero, revestiu-se de importância para a defi nição de posições nas demandas que se seguiriam. É quando, numa ambiência de indefi nição tanto para o projeto abolicionista da corte quanto para os ex-proprietários de escravos, preocupados com a possível continuidade do projeto abolicionista radical, surge um fato inesperado. Anuncia-se o retorno de Pedro II, que fora para a Europa com a fi nalidade de submeter-se a tratamento de saúde, sem grande esperança de sucesso.
A perspectiva da morte do imperador já vinha produzindo efeitos, acirrando confl itos, principalmente pela exacerbação da propaganda republicana. No início de 1888, a Câmara Municipal de São Borja havia sugerido a realização de um plebiscito, para discutir a sucessão em caso de vacância do imperante. Obviamente, a moção provocativa gerou repressão do governo e o apoio dos republicanos, repercutindo inclusive em virtude da adesão de outras Câmaras. Ocorre que, apesar do prognóstico muito reservado, em função da gravidade do quadro clínico e mesmo das limitações clínicas da época, ele sobrevivera, ainda que não houvesse um restitutio ad integrum.
Outras indagações e inquietações agora cruzavam o horizonte político. Estaria o monarca em condições de reassumir a direção do Império? Deveria abdicar em nome de sua fi lha, Isabel? Haveria alternativa para o nome da regente? Estaria instalado inapelavelmente o terceiro reinado?
Apesar da pluralidade envolvida na controvérsia, interessa-nos especialmente o embate entre dois segmentos, cujas ideias serão expressas a partir de dois órgãos de imprensa, o Cidade do Rio, de propriedade do líder abolicionista José do Patrocínio, e o Novidades, sob
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
373
a batuta de Alcindo Guanabara, que defendia os interesses da lavoura3. A imprensa aqui não é vista como agente passivo, um mero repórter das circunstâncias. Ao contrário, é entendida como um ator político, capaz, da mesma forma que quaisquer outros, de produzir discursos sobre os fatos, que, por sua vez, encerram estratégias passíveis de mobilizar interesses e estabelecer possibilidades, na medida em que criam outros fatos e constroem novas realidades.
Em relação às folhas citadas, reconheciam-se, de um lado, conservadores, que já descontentes com uma abolição considerada abrupta e inesperada, temiam ainda o risco de um terceiro reinado, capaz de promover a reforma fundiária prevista no projeto da democracia rural, de André Rebouças4. Parte desse grupo aderira a um republicanismo oportunista, o que lhes valeu uma crítica contundente de Patrocínio, que os chamou de “quatorzistas”, ou seja, os republicanos de 14 de maio. Reivindicavam também a indenização pela perda do braço escravo, a emigração de mão de obra estrangeira e ajuda fi nanceira à lavoura, que competia com a industrialização e o comércio urbanos. Era um momento em que se invertiam as posições, a discussão de direitos, antes centrada no escravo, era desviada para o proprietário, que passava, inclusive, a receber apoio político dos liberais. A palavra de ordem falava na urgência da “liberdade do branco”5. Simultaneamente,
3 O Cidade do Rio, fundado em 1887, era um jornal político, que se ocupava principalmente da propaganda abolicionista. Embora originalmente republicano, fez um interregno monarquista no período entre as quedas do gabinete Cotegipe, até a de seu sucessor, João Alfredo. A partir daí, voltou à propaganda republicana. O Novidades, de propriedade de Santos, era um jornal conservador, monarquista, apoiava Cotegipe na defesa da extinção progressiva do trabalho escravo.Vai mudar sua orientação quando da queda desse gabinete e da abolição, alinhando-se com o republicanismo da lavoura. À frente de ambos, havia dois jornalistas combativos e virulentos e as questões excediam o terreno ideológico. Guanabara havia começado pelas mãos de Patrocínio, e, agora no Novidades, havia se tornado seu ferrenho opositor; uma situação que abrigava intensa disputa pessoal, com troca permanente de insultos. 4 Rebouças escreveu, “não adianta lutar contra o progresso [...] Não há mais lugar para patriarcas nem para barões feudais. A aristocracia territorial já é impossível no Velho Mundo, quanto mais na jovem e ardente América, o futuro pertence à democracia rural”. Cidade do Rio, 22/06/1888, “Republiquistas IVPara um estudo detalhado do projeto da democracia rural, consultar JUCÁ, Joselice. André Rebouças - Reforma e Utopia no Contexto do Segundo Império: quem possui a terra, possui o homem. Rio de Janeiro: Odebrecht, 2001, p. 60.5 GEBARA, Ademir. Evolução da Legislação Civil e o Problema da Indenização. In: SZMRECSANYI, Tamás & LAPA, José Roberto Amaral (Org.). História Econômica da Independência e do Império. São Paulo: EDUSP/HUCITEC, 2002, p. 96.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 374
tentavam-se manobras de reescravização e aumentava a percepção de ameaça com a presença dos libertos6. Insistia-se no reconhecimento de uma cidadania precária para eles, diferente daquela do homem livre comum (MATTOS, 1998, p. 280 e 281). Em oposição, estavam os abolicionistas radicais da Corte, contrários a qualquer indenização e cujo objetivo não se restringia à liberdade formal do escravo, mas à sua inclusão que se faria, principalmente, com a obtenção da posse da terra. Exigiam o fi m do monopólio fundiário7.
É claro que à abolição formal, apesar de tão festejada, não corresponderia a liberdade. Uma cultura escravista atingia todo o arco da sociedade, principalmente nas relações de trabalho na lavoura. E, de forma idêntica, a proposta de cidadania na aliança governo-abolicionistas implicava numa tutela do liberto, obrigando-o ao trabalho como forma de disciplinarização da liberdade8.
Do grupo abolicionista radical, além de Rebouças e Joaquim Nabuco, também fazia parte José do Patrocínio, um republicano que defendia – circunstancialmente – a permanência da monarquia.
Alegava a necessidade de se priorizar a abolição sobre a república, acrescentando que esta só iria se consolidar, de fato, se modifi cadas as relações trabalhistas na lavoura (GEBARA in SZMRECSANYI & LAPA, 2002, p. 96). Num meeting, em maio de 1885, ele defendera o projeto de criação de um fundo para o liberto, com a fi nalidade de transformá-lo em “um trabalhador contendo um pequeno lavrador e
6 A busca de novas experiências de autonomia pelos libertos, como parte de uma resistência ao projeto disciplinador que se avizinhava, inclusive por parte do próprio governo, criava inevitáveis confl itos. Cf. GOMES, Flávio dos Santos. No Meio das Águas Turvas: racismo e cidadania no alvorecer da República, a Guarda Negra na Corte 1888-1889. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos / UCAM, n.21, dez.1991, p.77.7 Para um aprofundamento da questão entre as diversas propostas abolicionistas e a própria historiografi a relativa a elas, consultar SANTOS, Cláudia Regina Andrade dos. Abolicionismo e Visões da Liberdade. Revista do IHGB, 168: 437, out - dez 2007, p. 319-334.8 Preocupada com a disciplinarização da liberdade, a regente, na abertura da 3ª sessão, da 20ª legislatura, reafi rma a necessidade do controle da ociosidade, propondo uma legislação repressiva capaz de promover pelo trabalho a educação moral. O artigo “Sessão Imperial”, publicado no Cidade do Rio, de 03/05/1888, aplaude a proposta. Cláudia Santos chama a atenção para a historicidade desta ideia de liberdade ligada à ociosidade, a exigir medidas repressivas e garantidoras do trabalho. Ela começara após a crise de mão de obra resultante da lei de 1850, que extinguiu o tráfi co. Até então, os proprietários investiam na concessão de alforrias e na cessão de pequenos lotes de terra aos libertos, como estratégia de fi xação da mão de obra.Ver em: SANTOS, Cláudia Regina Andrade dos. Op. Cit., p. 320.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
375
pequeno proprietário [...]”9. E, em janeiro de 1888, explicava no Cidade do Rio:
O problema servil não se resolve simplesmente com o decreto de extinção da escravatura [...] Para que a Abolição seja trabalho sério, sob um ponto de vista social, é preciso que ela seja seguida imediatamente pela reconstrução fi nanceira e agrícola do país10.
Em maio, foi direto, “se a coroa, [...] continuar levando a campanha da terra e da autonomia local, como ela vem fazendo até agora, jamais encontrará aliado mais fi el [...]11 ,“a divisão de terras é uma necessidade palpitante”12.
Para o grupo abolicionista, o momento seria de êxito, a extinção do trabalho servil teria sido um sucesso não apenas no aspecto humanitário, mas também no econômico. Valorizam-se os números de uma “extraordinária exportação de café” e do “câmbio inalterado”, procurando contestar uma alegada inação dos libertos: “os negros não desapareceram, estão em crisálida, estão fazendo a evolução sublime da escravidão para a liberdade”13.
Para atestar o aumento da produção, Patrocínio utilizava como indicadores do sucesso o número de casamentos entre os libertos e o consumo com os “enxovais da liberdade”14.
Falando pela lavoura, o Novidades fazia uma análise pessimista, procurando mostrar a desorganização da produção e as possíveis consequências para o país, “[a lavoura] agora pagando salários elevadíssimos e desproporcionados, sujeitando-se aos caprichos e exigências dos libertos [...]”. Simultaneamente, fala da penúria dos
9 Participação de Patrocínio em Conferência da Confederação Abolicionista, em 17 de maio de 1885, após a dissolução do gabinete Dantas e assunção de Saraiva. Apud SANTOS, Cláudia Regina Andrade dos. Op.Cit, p. 328.10 Cidade do Rio, 16/01/1888. Patrocínio criticava a proposta de Cotegipe às Câmaras, sugerindo uma emancipação dos escravos, por uma depreciação de 33% a/a:11 A Rua, 18/05/188812 Cidade do Rio, 26/05/1888. “Interior”13 Idem, “Gloriosa Abolição”.14 Cidade do Rio, 06/07/1888.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 376
libertos, que estariam apelando até para o “infanticídio”, e da vida dissipada que estariam levando, entregando-se “a todos os vícios e crimes”. A vida do liberto, na verdade, dependeria do lavrador15. Para a folha, o abolicionismo, agora destituído da presença do escravo, descambava para sua verdadeira orientação, desorganizar o país, atacando a propriedade:
O abolicionismo permanece pregando ódio ao lavrador, vilipendiando-o, atribuindo-lhe sentimentos ignóbeis e procurando convencer de que a salvação(do país) está no roubo da propriedade territorial para distribuí-la pelos que nada têm. Abolicionismo está, pois, como sinônimo de comunismo16.
Mais adiante diria,
O abolicionismo, percebendo que não podia fazer aqui o que o boulangismo fez na França, isto é, ser um partido de idéias indefi nidas e vagas, cujas opiniões difi cilmente se apreendiam, desencapotou-se para patentear-se como inimigo do capital da propriedade, e, por conseguinte, inimigo da lavoura, que mais diretamente o representa17.
Em novembro, outro artigo criticava a insistência do governo em afi rmar que não ocorriam alterações na ordem pública, após o 13 de maio. Ao contrário, haveria uma onda crescente de desprestígio da autoridade, até estudantes já se levantavam contra professores18.
Os diagnósticos confl itantes ilustram as diferentes representações e práticas políticas que se vão radicalizando. Baczo, ao tratar do funcionamento dos imaginários sociais como campo de expressão das representações, aponta o fato de elas se intensifi carem nas conjunturas de crise (BACZO, 1994, p. 310). E Pierre Rosanvallon, na sua História Conceitual do Político, fundamenta-se na mesma ideia ao falar em “nó
15 Novidades, 24/07/1888. Para um aprofundamento sobre as novas relações entre proprietários e libertos, consultar MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit, p. 253-272.16 Idem, 5 /10/1888. “O Abolicionismo”.17 Idem, 08/10/1888. “Notas Políticas”.18 Idem, 23/11/1888. “Ordem Pública”
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
377
histórico”. Estes representariam momentos críticos, geradores de novas racionalidades e de seus discursos, que se irão digladiar no campo do político, ou seja, num espaço “onde se articulam o social e suas representações, a matriz simbólica na qual a experiência coletiva se enraíza e se refl ete”. Poder-se-ia falar de uma (re)visão do social a partir do político (ROSANVALLON, 1995, p. 15 e 16).
O recorte temporal escolhido é exemplar pela radicalização das ideias e consequentemente das práticas. Para a lavoura, haveria uma conjuntura pré-explosiva, marcada por suas progressivas perdas e o risco da subversão da ordem constituída. O Novidades repercutia a ideia. A ameaça viria da presença de um grupo no poder capaz de dissolver as relações formais da tradição brasileira, principalmente no concernente ao direito de propriedade. Um “corrilho” revolucionário que infl uenciava negativamente a regente, interpretada como uma fi gura despreparada, altamente infl uenciável e voluntariosa, que subvertera a ambiência ordeira e de paz deixada pelo imperador ausente19. Mais à frente, mesmo após o retorno do imperador, continua a campanha, agora numa tentativa de conciliação, procurando atenuar as diferenças, homogeneizando os segmentos sociais, “esta nação não tem privilégios de classe, nem de castas: todos somos povo”. Mas se contradiz, “o povo do abolicionismo [...] esta legião de pés-rapados que se quer contrapor à lavoura, esse sim, não existe senão na fantasia dos inimigos da propriedade [...]. Diz que o que existe aqui é um confronto entre
interesses estáveis, sólidos, que são a garantia do crédito público, representados na indústria e especialmente na indústria agrícola e interesses instáveis que só se afi rmam pela subversão da propriedade e da ordem subsistentes que se chamam na Europa de socialismo e comunismo e que aqui se adornam com o nome de abolicionismo (VIANNA, 1959, p. 78).
19 Novidades, 11/08/1888. A Regente estaria cercada por um “corrilho de nulidades, sem um homem notável pelo talento ou pela ilustração, dedicada às suas amizades pessoais, para as quais não conhece limites [...] age como uma dissolvente do sistema de governo”. O rompimento com o governo se dera quando da demissão do ministério do barão de Cotegipe, substituído pelo gabinete de 10 de março, de João Alfredo, outro conservador mas com melhor trânsito com a regente.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 378
Na visão conservadora, o retorno do imperador representava a esperança do resgate da ordem. Ele representaria a temperança, o fi el de uma cultura política de conciliação e gradualismo. Usando a ameaça da república, O Novidades explicitava, “independente do estado de saúde do imperador, o importante é a cessação da investidura senhorial que tem exercido a princesa [...]”. A Regência teria sido “o absolutismo, uma manifestação de poder senhorial [...] a lei da abolição veio nos dar em espetáculo a intervenção direta e ostensiva da coroa.” Adverte que as classes conservadoras, antes o esteio da monarquia, agora assustadas, se retraíam diante dos riscos e, em consequência, “o movimento republicano explodiu como a prova mais frisante do desgosto [...]”. Finalmente, pergunta, qual seria repercussão disso tudo no imperador20.
Nas hostes abolicionistas, o entusiasmo arrefece. Patrocínio percebe as contradições e vê na volta uma ameaça ao projeto político que se fazia com a anuência da princesa, ainda mais que Pedro II, apesar de dizer-se satisfeito, havia confi denciado que “se estivesse aqui, talvez não se fi zesse o que fez”21. Junto com ele, poderiam voltar a inconstância e o jogo político derrogatório, superados nas ocasiões em que Isabel estivera à frente do trono.
Contingenciado pela situação, Patrocínio publica na sua coluna “Semana Política”, de 27 de agosto, um diagnóstico alentado sobre a conjuntura política do país, comentando os riscos percebidos com o retorno do imperador e procurando mostrar a necessidade da adesão do governo ao projeto em curso. O conteúdo refl ete não apenas a inquietação comum ao grupo, mas revela ideias e propostas do próprio autor. Do longo texto, selecionamos alguns trechos julgados mais pertinentes.
Começa, assinalando a importância da regente. Exaltar sua participação seria exaltar a importância do movimento abolicionista da corte, respondendo à corrente que colocava a abolição como fato inevitável, esvaziando a importância do abolicionismo. Adverte sobre os riscos a que se expõe a monarquia e, consequentemente, a nação,
20 Novidades, 11-08-1888- A Regência.21 OLIVEIRA VIANNA, O Ocaso do Império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959, p. 78.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
379
deixando clara a intenção de associar o futuro desta à consecução do projeto libertador do “proletariado”.
Está terminada a Terceira Regência. A virtuosa senhora, que encheu de cantos e de sorrisos, de amor e de liberdade um desvão sombrio da consciência nacional, retirou-se já à vida modesta de fi lha, esposa e mãe. O Império volta às mãos que o manejaram há quarenta e oito anos, mas desta vez muito mais como maquinismo, muito mais complicado, devendo ter como combustível o futuroda dinastia e como motor as esperanças da nação. Por algumas frases atribuídas ao Imperador, sabe-se que Sua Majestade concordou com o golpe decisivo e profundo desfechado na instituição negra, mas o que não se sabe ainda é se o soberano quer ou não continuar a política de emancipação do proletariado, que resultou da lei de 13 de maio, política tão patrioticamente iniciada pelo ministério [...]”22 (grifos meus).
Para reforçar a inquietação, relembra o esfriamento que sofrera o abolicionismo, em 1871, também após o retorno do Imperador: “depois da lei de 28 de setembro de 1871, deu-se com a volta de sua majestade um contra-movimento emancipador no espírito do governo”. E “naquela época a situação não era tão melindrosa como na atualidade”. A onda abolicionista teria criado contradições para o próprio regime, altamente dependente do apoio da lavoura.
[...] O Império não havia sido varejado até os últimos recessos pela busca da opinião pública, encarnada na propaganda abolicionista, que não considerava nada sagrado e tendo a necessidade de desagregar as instituições da escravidão, foi cortando todos os liames que lhes serviam de garantia à estabilidade [...]
Adverte para as novas exigências da opinião pública,
[...] O trono que a princesa entregou ao Imperador não é o mesmo de outrora, é uma construção de ontem feito com
22 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”. As citações até o item 28 pertencem a esta matéria.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 380
o melhor da alma nacional, mas exposto à onda vária da popularidade, ainda que tendo como alicerces a justiça e a liberdade.A política que lhe convem é bem diversa de toda a tradicional e de toda a empregada contra ele neste momento e é bem difícil fazer a seleção [...]
Fala dos riscos representados pelo republicanismo crescente, potencialmente revolucionário, que seria o instrumento de uma burguesia usurária e colocado a serviço de uma lavoura feudal. Reitera a necessidade de mudanças de processos e mesmo dos quadros tradicionalmente atuantes em nome do necessário enfrentamento de um processo revolucionário, que procurava fundamentar-se numa ciência social falsifi cada. Parece fazer alusão ao positivismo” revolucionário” de Silva Jardim,
a propaganda republicana atual é uma das mais atentatórias à dignidade popular, é certo, mas cumpre demonstrar ao povo que esta é a verdade. Ora, esta espécie de demonstração só é possível pelos fatos e daí o embaraço do Império, que a querer manter-se coerente com seu passado, só pode empregar os mesmos homens e os mesmos processos já muito conhecidos e na sua maior parte desmoralizados.Em nome da ciência social que ela falsifi ca, a atual propaganda republicana aproveita-se de todos os elementos revolucionários, os mais poderosos, que são, entretanto os elementos mais dissolventes da moralidade pública. A exploração da burguesia, que não tem outro exemplo, que não seja o seu bem estar fi nanceiro e político, espécie de corte de Luiz XIV, que não vê o povo senão como massa tributária, que deve alimentar-lhe os prazeres e os vícios foi o meio a que recorreu a atual propaganda republicana. Não é preciso aprofundar muito a vista para descobrir a fermentação revolucionária que a lei de 13 de maio produziu na massa burguesa [...]
Reitera a ideia da existência de uma articulação perversa entre a lavoura e o comércio, gerenciada pela usura. Acusa os ex-proprietários
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
381
de imprevidência e de má-gestão dos recursos fi nanceiros, expressando a repulsa comum ao grupo em relação às propostas de indenização. Para eles, ela era indevida, porque a posse do escravo constituiria uma “propriedade extravagante, contra a moral e a razão. Não pode ter valor venal o que não é objeto de comércio”23. Rebouças, já em 1883, criara um bordão: “indústria imoral não tem direito à indenização”24.
O texto continua,
[...] Ela, que solidária no erro, entendeu que a escravidão devia ser eterna, para garantir-lhe de um lado a perpetuação do [ilegível], do outro a eternidade da usura, acordou de súbito sacudida por essa força desconhecida que se impôs ao governo – o pudor do povo brasileiro e viu que era impossível lutar, porque a resistência seria respondida pela assolação.Este comércio que emprestou dinheiro à lavoura, para que ela o empregasse mal, este comércio que acoroçoado à cultura singular e só fez crédito ao latifúndio, vale bem aquela agricultura extensiva feudal, que na cegueira de seu orgulho não viu que a extensão territorial, afastando o mercado, onerava o produto com a dupla despesa improdutiva do frete pelo deserto e do comissário sem fi scalização imediata [...]25
Patrocínio, embora republicano, havia rompido com o partido Republicano, durante a campanha abolicionista, pela falta de defi nição abolicionista da agremiação e pela aceitação do ingresso de fazendeiros insatisfeitos. Estrategicamente, procurava situar o republicanismo, de forma homogênea, como um movimento revolucionário, embora a corrente majoritária no partido fosse a favor do evolucionismo de Quintino Bocaiúva, em detrimento da proposta disruptiva de Silva
23 Idem, 20/06/1888. “A indenização” 24 REBOUÇAS, André. Abolição Imediata e sem Indenização. Panfl eto nº1. Rio de Janeiro: Typographia Central, 1883, p.2. O autor usa essa frase como um bordão.25 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 382
Jardim. Este se apoiava no republicanismo radical pregado por certo sectarismo positivista em voga26.
Também infl uenciado pelo positivismo, Patrocínio denuncia o parlamento, os partidos e a academia como entraves políticos às novas necessidades. Não se limita apenas a questionar o parlamentarismo, procura desqualifi car o próprio parlamento, tomando-o como um elemento dissolvente, propiciador da revolução.
[...] O império tem pois que lutar antes de tudo, com essa força, que se impõe pelo parlamentarismo e reproduz o seu ódio pelas academias. Quem estuda a feição do nosso parlamento é que pode sentir bem as difi culdades que vão se acumulando. Os partidos desaparecem como agregação de idéias e se transformam em agregação de interesses. Cada representante da nação mede sua dedicação ao partido pela conveniência particular de seu eleitorado [...] Este ministério que acaba de realizar a maior obra da pátria, não vale para a maioria de seus amigos a nomeação de um juiz municipal, hábil em manejos eleitorais [...] Ora, toda a aspiração moderna de sociocracia é consubstanciada em individualidades gerais de modo a criar centros de irradiação sistemática das idéias impulsoras do movimento social. Desde que o parlamento escolhe para representá-lo entidades absolutamente negativas, porque representam a nação ou a falta de escrúpulos, é claro que o parlamentarismo desceu ao nível mais baixo a que pode chegar. Já de si originariamente um mal, o parlamentarismo nestas condições é o mais fecundo dos instrumentos revolucionários, pela carência de prestígio e, sobretudo por ser o ponto visível de decadência moral da nação27.
Na fala que se segue, ele volta a acionar elementos que fazem alusão a uma possível luta de classes ou, pelo menos, à clara diversidade de interesses entre elas. 26 Após o congresso do partido Republicano do Rio de Janeiro,em outubro de 1888, fi caram claras as dissensões entre as duas lideranças, levando mesmo a uma crise no ano seguinte. Cf. BOEHRER, George C. A. Op. Cit. p. 197 e 198.27 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”. As citações até o item 32 pertencem a essa matéria.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
383
Quanto às academias, é sabido que nelas se formam, na sua maioria, os fi lhos da burguesia e produzem classes como os bacharéis em direito e os médicos, que vivem imediatamente do parasitismo da burguesia. Não é o proletariado que lhes fornece a clientela e a clínica rendosa e aí está a história, salvo honrosas exceções, para demonstrar durante a propaganda abolicionista o que podemos esperar deles [...]
É interessante porque em outra matéria, o Cidade do Rio acusava os indenizistas de pleitear uma república baseada no “socialismo parasitário, o socialismo dos vagabundos, dos desacreditados e dos incapazes”28.
Volta a discutir a ação revolucionária dos republicanos, alertando sobre os riscos de uma cooptação do proletariado insatisfeito,
[...] usando do direito de manifestação, a propaganda revolucionária procura trazer o alarme à população, pela exibição teatral do seu número, aumentado sempre pela curiosidade. Sabemos que os fazendeiros por um acordo geral taxaram o salário do trabalhador e procuram já pela ameaça das remessas de inválidos da escravidão,
28 Idem, 11/07/1888.Leonídio fala de uma suspeita de que Patrocínio, juntamente com Lopes Trovão e outros, participasse da redação do jornal O Socialista, editado no Rio de Janeiro em 1878... Cf. LEONÍDIO, Adalmir. O Republicanismo Social no Brasil na Passagem do Império à República. Diálogos. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, v.11, 2007, p. 23-47. Disponível em www.dialogos.uem.br/viewarticle.php?id=401Consultando a folha, percebe-se um estilo absolutamente diverso daquele usado por Patrocínio. O jornal, no entanto, insiste em publicar que a suspeita de participação deles seria infundada, cabendo a redação a “Villegaignon, Francforte e Leterre”. Em duas situações, Patrocínio fez uma defesa explícita de um “socialismo de estado”, que estaria relacionado à uma desejável intervenção estatal. Primeiro, foi ao referir-se à Argentina, lá “as venturosas bases do Socialismo de Estado”, seriam os responsáveis pelo sucesso daquele país”. Cidade do Rio, 09/07/1888. “Homenagem à República Argentina”. E outra, ao defender, para o Brasil, o modelo intervencionista alemão: “O socialismo de Estado largo, franco, sem hesitações é o único meio de movimentar esta grande máquina enferrujada pela escravidão”, Cidade do Rio, 30/07/1889. “Semana Política”. Patrocínio iria falar diretamente sobre socialismo em 1895, por ocasião de sua candidatura, o fazendo de forma entusiástica como uma evolução natural. Ver em: Cidade do Rio, 04/08/1895. Em 1901, ao comentar a espoliação dos países periféricos, escreveu: “o que os monopolizadores do câmbio e do café fazem conosco é o mesmo que na Europa eles fazem, roubando o operariado e criando a sociedade socialista e anarquista, que só vitima as liberdades humanas,o proletariado e seus defensores”. Ver em: Cidade do Rio, 06/07/1901. “Finanças Sulamericanas”.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 384
já pela ostentação dos seus sentimentos revolucionários, entibiaram o governo para obter dele a compreensão que indisporá o proletariado [...]29
Novamente num vezo positivista, mas agora radical, sugere para o enfrentamento do que chama de republicanismo escravista a instituição de uma ditadura nos moldes da doutrina do Apostolado Positivista. Tratava-se de um regime presidencialista, centralizador, previsto por Comte em seu Sistema de Política Positiva, no qual o parlamento deveria ser extinto, por ser considerado como uma falsa e onerosa representação. As decisões emanadas do ditador, em comum com um colegiado, seriam auscultadas diretamente na opinião pública através de plebiscitos. O sufrágio seria abolido, por ser “a consagração da moléstia ocidental" (COMTE in LACERDA, 1995, p. 16). Para o positivismo sectário era preciso opor-se ao “republicanismo democrático” ou “metafísico"(PAIM, 1981, p. 6). A proposição é a mesma de Aníbal Falcão, no Manifesto Republicano de Pernambuco, apoiada por Silva Jardim, lideranças republicanistas radicais. Este último dizia ser necessário uma “Presidência poderosa - instituída pela vontade popular, a princípio por aclamação, sujeita em seguida ao sufrágio universal" (MATOS, 1989, p. 169).
Voltando ao texto,
[...] Não há dúvida de que uma república parlamentar, fi lha de tais elementos revolucionários, seria uma calamidade muito maior do que o Império com todos os seus defeitos inveterados, mas em todo caso, resta aos verdadeiros republicanos a esperança de se tornar possível uma ditadura republicana que se [ilegível] de poder, prepare o país para uma forma defi nitiva e regular de governo. Com a Regência ou mesmo com o reinado da Princesa Redentora era possível constituir-se, apesar das difi culdades do parlamentarismo, uma ditadura de fato, progressiva e patriótica limitada à vida do imperante e capaz de encaminhar os verdadeiros elementos
29 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
385
republicanos do país a uma orientação real e científi ca [...]30
Faz a defesa do bismarquismo, ressalvando o “defeito do militarismo”,31
[...] A ditadura de Bismarck tem aproveitado mais à Alemanha do que o parlamentarismo republicano à França e das mãos do grande chanceler há de sair para a humanidade, apenas com o defeito do militarismo, que é redutível numa nação sociologicamente modelada [...]32
O papel que seria destinado a João Alfredo,
[...] investido da missão ditatorial em nome do Império, o Sr. João Alfredo, por exemplo, S. Exª que tem todas as qualidades de espírito e de caráter, poderia dar conta dessa preparação necessária para a nação reempossar-se da sua autonomia [...]
Denuncia as revoluções havidas no país como sendo excludentes.
[...] Quem estuda os movimentos revolucionários de nosso país, vê que ele não quer se encarregar de incorporar o proletariado, mas de segregá-lo do governo da nação pela mais ferrenha compreensão, tal como a taxa de salário arbitrária e a negação sistemática de cargos elevados. Demais, aí está a origem: esta revolução é uma resposta à Abolição [...]
Da mesma forma que Alcindo Guanabara escreverá no Novidades, procura adivinhar a repercussão da conjuntura sobre o imperador. Para ele, o povo agora seria diferente e a política que lhe convém é bastante
30 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”.31 Patrocínio defendia o modelo de intervenção do Estado, conforme dirá explicitamente mais tarde: “o segredo da força do governo alemão é este: ele compreendeu que o Estado deve ser o primeiro mestre econômico do povo, e não hesita em intervir sempre que essa intervenção é benéfi ca.”. Ver em Cidade do Rio, 30/07/1889. “Semana Política”. 32 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”. As citações até o item 41 pertencem a essa matéria.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 386
diferente daquela tradicional, que inevitavelmente se manteria, caso “o Imperador viesse a dispor dos mesmos homens e dos mesmos processos desmoralizados”.
O Imperador entenderá, como nós, que a situação do país é esta e não outra? O seu estado de saúde permitir-lhe-á transformar a sua infl uência pessoal de outrora em ditadura patriótica e desinteressada?
Reitera sua compreensão a respeito dos limites do parlamento em deter o republicanismo revolucionário.
O parlamentarismo monárquico que temos atualmente não basta para impedir a revolução [...] pedimos sempre insistentemente fazer a revolução do alto, se não quereis que ela seja feita de baixo [...]
Patrocínio, que sempre fora um defensor do voto popular, pregando o censo baixo e denunciando qualquer manobra absenteísta, naquele momento, da mesma forma que o republicanismo radical, negava a importância da representação indireta33. Exatamente por participarem, juntamente com grande número de atores políticos de sua época, de uma mesma gramática fundamentada no positivismo, seus discursos acabavam por aproximar-se. Mesmo assim, Patrocínio, como visto acima, insistia em denunciá-los como mistifi cadores da doutrina.
Continuando no texto, faz uma síntese de um grande projeto reformista que, ainda num viés positivista, dependeria de uma orientação científi ca, pela “política experimental”.
[...] O país precisa nessa transição parlamentar ter o voto desenfeudado, largo, popular; precisa ser governado para todos e não para algumas classes; precisa ser leigo e paisano; precisa de uma educação industrial e comercial, patriótica e científi ca; precisa de se tornar apto para bastar-se a si mesmo pela educação fabril, agrícola e
33 Em 1880, em defesa do censo baixo na reforma eleitoral, publicou na Gazeta da Tarde,de 14/06/1880, “[...] [o ministério] lançou à excomunhão universal o povo pobre. A urna é o tabernáculo só acessível aos sumos sacerdotes do fi sco [...] Esquecem de que a urna é o caminho legal do povo ao direito, e quando lhe fecham, ele abre outro, mais direto e curto”.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
387
pastoril; precisa dar uma orientação científi ca à sua viação e precisa reproduzir menos as classes parasitárias das academias; precisa de [ilegível] universalmente a sua moeda, emancipar a sua produção do parasitismo dos intermediários; precisa de uma larga criação bancária; precisa de uma reforma radical do método de [lacerado], tornando-o profi ssional de [lacerado]. Uma tal reforma não se pode fazer pelo processo unitário e absoluto do parlamentarismo banal, mas pela política experimental que exige, de par com a unidade e a permanência do governamental, a mais completa autonomia regional; e daí a urgência e a fatalidade da criação de uma ditadura patriótica e progressiva que devia ser republicana e que o será logo que a propaganda revolucionária se orientar cientifi camente [...]34
Na verdade, nem ele nem a corrente republicana radical defi niram como se constituiria e articularia o pretendido governo ditatorial. A solução proposta era comum, exceto pela aliança dos republicanos com os “quatorzistas”, absolutamente inaceitável para os abolicionistas. No artigo em tela, Patrocínio parece perceber certa contradição, quando escreve, “deve parecer descomunal esta proposição e inteiramente contraditória com o republicanismo hoje contestado, de quem a escreve, mas, entretanto, é ela a afi rmação dos verdadeiros sentimentos humanitários”. A impressão é de que ele compunha um repertório estratégico, buscando harmonizar, ainda que com quadros da monarquia, uma forma de governo híbrida, centralizadora e transitória (enquanto durasse a vida da imperante), capaz de garantir não só a continuidade do projeto abolicionista, mas também a passagem sem percalços para a República. Essa presunção de que se tratava apenas de um texto de ocasião fi ca reforçada pela forma estrepitosa com que romperia com o positivismo, nos anos vindouros35.34 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”. As citações até o item 43 pertencem a essa matéria.35 Já em 1890, ele começa a denunciar o positivismo, ver em: Cidade do Rio, 03/04/1893. “Candidaturas”. Em 1895, responsabiliza a doutrina pelo suporte intelectual ao jacobinismo sanguinário. Ver Cidade do Rio, 03/06/1895. Em seguida, trata de forma jocosa o maior de seus ícones, Comte, ao afi rmar que o fi lósofo, ao elaborar a doutrina, estaria atacado de uma forma de “loucura raciocinante”. Cidade do Rio, 22/07/1895. Em 1897, ofende outra referência de veneração positivista, ao escrever: “estamos fora da igrejinha que venera a dengosa Clotilde
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 388
Conclusão:Conforme visto, existe uma pluralidade de representações que
se opõem e se aproximam. O conservadorismo, não imobilista, tinha no evolucionismo spenceriano a base ideológica para a postulação de um progresso sem saltos, conduzido por uma elite senhorial. Conforme Mercadante, o liberalismo, motivado pelas relações externas, e o conservadorismo, que tinha seu mote nas relações internas, acabavam por se aproximar. A possível ruptura colocada nesta conciliação pelo positivismo também acabará cedendo ao evolucionismo (MERCADANTE, 2003, p. 47-49). Examinando especifi camente as posições colocadas nos jornais estudados, percebe-se a existência de um elemento diferenciador, a preocupação com a “questão social”. É ela que dirige as representações e as consequentes ações, gerando a efervescência dos “ismos” do fi nal do XIX. Patrocínio fala do abolicionismo como instrumento formador da nacionalidade e merecedor dos apoios, enquanto o “escravismo” cingia-se aos interesses corporativos.
o abolicionismo [...] que é uma idéia generosa, por isso mesmo que contem dentro de si o gérmen da formação da nossa nacionalidade [...] Pergunta-se ao Sr. Barão de Cotegipe o que ele quer ele responde simplesmente, indenização [...]36
Por outro lado, existe um elemento comum entre eles, a ideia da necessidade de um projeto reformista, saneador e disciplinador, em ambos os casos, altamente dependente da ação do governo.
Pedro II has not died. And now?
[Clotilde de Vaux] viúva e virgem, mademoiselle perpétua como qualquer dessas que o trottoir parisiense cria e glorifi ca [...] Somos também servis e tanto que queríamos o escândalo capaz de fazer a De Vaux arrepanhar as saias e levar as mãos aos quadris”. Ver em: Cidade do Rio, 24/12/1897. “Com o Positivismo”36 Cidade do Rio, 27/08/1888. “Semana Política”.
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? U
NIVER
SIDA
DE S
EVERIN
O SO
MB
RA
IRAM RUBEM
389
Abstracts: During a critical period, after the abolition, the announcement of
the return of the emperor, who was being submitted to medical treating for a severe situation in Europe, despite of a bad prognosis for survival, gave rise to different and opposing discourses involving different groups, mainly the planters and the abolitionists .
Key-words:
Empire – republic – radical abolitionism – press
Referências:
I – Fontes:
Cidade do Rio, 1888
Novidades, 1888
REBOUÇAS, André. Abolição Imediata e sem Indenização. Panfl eto nº1. Rio de Janeiro: Typographia Central, 1883.
II – Periódicos:American Sociological Review, 1986, vol. 51, abril, 1986
Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos / UCAM, n.21, dez.1991
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, n. 4, 1989
Revista Brasileira de História. São Paulo, v.15, n.30, 1995.
Revista do IHGB. Rio de Janeiro, 168: 437, out-dez 2007
III – Bibliografi a:
BACZO, Bronislaw. A Imaginação Social. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional, 1994, Vol.5.
BOEHRER, George C. A. Da Monarquia à República: história do partido Republicano do Brasil (1870- 1889). Rio de Janeiro: MEC, s/d.
CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
IRAM RUBEM
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
PEDRO II NÃO MORREU. E AGORA? 390
______. Pontos e Bordados: escritos de história política. Belo Horizonte: UFMG, 1988
JUCÁ, Joselice. André Rebouças, Reforma e Utopia no Contexto do Segundo Império: quem possui a terra, possui o homem. Rio de Janeiro: Odebrecht, 2001.
LACERDA NETO, Arthur Virmond de. A República Positivista: teoria e ação no pensamento de Auguste Comte. Curitiba: Juruá, 2000.
MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do Silêncio, os signifi cados da liberdade no sudeste escravista, Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1998
MERCADANTE, Paulo. A Consciência Conservadora no Brasil contribuição ao estudo da formação brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Topbooks/Univercidade, 2003.
OLIVEIRA VIANNA, O Ocaso do Império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.
PAIM, Antônio. O Apostolado Positivista e a República. Brasília: UnB, 1981.
SOHIET, Rachel et allii (Org.) Culturas Políticas: ensaios de história cultural e ensino de história. Rio de Janeiro: FAPERJ/Mauad, 2006.
SZMRECSANYI, Tamás & LAPA, José Roberto Amaral (Org.). História Econômica da Independência e do Império. São Paulo: EDUSP/HUCITEC, 2002.
Resenhas
STÉDILE, João Pedro (Org.). A questão agrária no Brasil: o debate tradicional (1500-1960). São Paulo: Editora Expressão Popular, 2005.
Nancy Cardoso Pereira1
O trabalho de organização de uma coleção de artigos dá ao organizador o poder de elencar, escolher, criar uma sequência e produzir uma unidade interpretativa a partir de unidades autônomas de significado. A questão agrária de João Pedro Stédile é um exercício político que articula história e teoria com o objetivo de oferecer uma trajetória de compreensão das teorias sobre o campesinato e suas variações. Mais do que um livro sobre o campesinato, Stédile oferece no primeiro volume da coleção um percurso de entendimento das interpretações sobre a questão agrária no Brasil a partir da economia política historicamente situada entre 1950 e 1960.
Os textos representam um esforço teórico não vinculado necessariamente às questões acadêmicas, mas uma intensa disputa entre posicionamentos políticos sobre o caráter escravista colonial do Brasil que se expressava na polêmica entre passado feudal – passado capitalista que repercutia com intensidade nas teses político-ideológicas dos partidos de esquerda no período e suas práticas de organização e intervenção.
Stédile reconhece alguns dos espaços privilegiados de polêmica que vão aglutinar os artigos neste primeiro volume:
1- o debate no PCB2- o pensamento cepaliano3- o pensamento do PCB de esquerda
1 Professora do programa de Mestrado em História da Universidade Severino Sombra – USS.
NANCY CARDOSO PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL392
Nos anexos, o autor oferece alguns documentos importantes como a Lei de Terras de 1850 com comentários (p. 283-292) e uma apresentação de dados de evolução da população brasileira (p. 293-298) a partir do trabalho de Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro.
Para entender as escolhas de Stédile é preciso evidenciar a moldura política e econômica que distingue o debate da questão agrária na década de 60 do século XX. O modelo de industrialização dependente a partir da Era Vargas – nas palavras de Florestan Fernandes – se consolidava sem a ruptura com as economias dos países centrais e sem rompimento com as oligarquias rurais gerando um processo de modernização capitalista dos latifúndios e de subordinação do campesinato na forma do êxodo rural respondendo às necessidades de mão-de-obra barata para a indústria e seus baixos salários, o deslocamento da produção agrícola para a produção de matéria prima para o setor industrial (p.28-30).
Nestas novas confi gurações a esquerda brasileira buscou interpretar os intensos processos de mudança tendo que considerar também o quadro político mais amplo da guerra-fria e as pressões político-ideológicas do comunismo stalinista que insistia no caráter do Brasil como “país semicolonial e semifeudal” o que correspondia a uma política de alianças com a burguesia nacional na “luta por um governo democrático e popular”.
Em setembro de 1960, no V Congresso do PCB, reafi rmava-se a política de apoio à “burguesia nacional” apontando como tarefas fundamentais: a emancipação do país do domínio imperialista e a eliminação da estrutura agrária atrasada. Esta posição reforçava os vínculos do PCB à política populista nacional-desenvolvimentista, mas escondia um forte processo de debate e dissidência que denunciava os elementos direitistas e conciliadores principalmente a partir da revolução cubana em 1959 e a ampliação da posição de uma via latino-americana não alinhada com os ditames da política de colaboração de classe.
O impacto dessas dissidências se concretizará tanto nos aspectos tático-organizativos como também no reposicionamento teórico sobre a interpretação da realidade brasileira e de modo especial sobre a questão
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
NANCY CARDOSO PEREIRA
393RESENHA: A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL
agrária que, entre outras coisas oferecia uma interpretação da formação social brasileira que defendia a transição da sociedade do escravismo ao capitalismo, sem passagem “obrigatória” pelo feudalismo. O abandono da tese do caráter feudal da realidade agrária brasileira reposicionava os movimentos sociais camponeses fora do etapismo antifeudal e negava qualquer colaboração com uma suposta burguesia progressista agrária e industrial.
O debate teórico ensejava assim uma superação das matrizes marxistas centradas no desenvolvimento europeu e seus determinismos histórico-interpretativos (na sequência: comunismo primitivo-escravismo clássico-feudalismo-capitalismo-socialismo) e oportu-nizava.
O golpe militar de 1964 acontece neste quadro de polêmica na esquerda brasileira sem processos amadurecidos de crítica da história e das teorias da história e sem uma interpretação estrutural da realidade brasileira a partir de suas contradições. Apresento aqui alguns deste debates em especial aqueles que se ocupam da questão histórica.
Os textos selecionados por Stédile deixam ver as polêmicas e oscilações no tratamento histórico-teórico do período colonial em especial na primeira parte do livro que se ocupa do debate dentro do PCB e que são mais elucidativos para perceber as recepções e interpretações diversas sobre a história e a formação da estrutura agrária na esquerda dos anos 1960.
No artigo de Alberto Passos Guimarães que pergunta pelo regime econômico colonial: feudalismo ou capitalismo (p. 35-78). Para Guimarães a metrópole não conseguiu impor a economia mercantil na colônia que foi submetida “à estrutura tipicamente nobiliáquica e ao poder feudal” (p. 37). Em especial na análise da monocultura do açúcar Guimarães reforça sua tese afi rmando que “Viria o açúcar possibilitar a ocupação da terra em moldes inteiramente ao gosto feudal da época” (p. 60).
“Trata-se de um quadro feudal inequívoco”, afi rma Nelson Werneck Sodré no texto de A formação histórica do Brasil, de 1962 (p. 111-126) em que analisa as transformações econômicas da primeira
NANCY CARDOSO PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL394
metade e da segunda metade do século XIX, em especial sobre a marcha do café para o interior e sua ascensão comercial (p. 113) e as alterações no campo do trabalho (p. 114) quando a senzala desaparece da paisagem cafeeira (p. 115). Citando Marx (nota 3), Sodré analisa estas alterações a partir da lógica do desperdício inerente do trabalho escravo que não interessava mais aos interesses da produção exportadora. A transição de áreas de trabalho escravista para o regime de servidão ou semi-servidão se explica pela disponibilidade de terras e o processo de violência pura e simples (p. 118) de proteção dos interesses senhoriais: regressão feudal.
“O fardo da escravidão foi largado na estrada pela classe dominante. Tornara-se demasiado oneroso para que ela o carregasse” (p.125).
O artigo de Caio Prado Júnior A questão agrária e a revolução brasileira (p. 79-88), o autor reconhece na herança colonial um dos fatores principais da concentração de terra no Brasil contemporâneo (p. 81) destacando de modo específi co o fator histórico de isenção fi scal da propriedade fundiária rural. Para Caio Prado, a política possível (em 1960) é a tributação territorial como forma de pressão para o barateamento e mobilização comercial da terra o que viabilizaria o impedimento da expansão do latifúndio. Estas seriam as condições para a garantia do acesso á terra aos trabalhadores e a melhoria de suas condições de vida (p. 86). Nesta lógica antifeudal, o preço da terra atrela o trabalhador como bem de capital representando uma forma capitalista de remuneração do trabalho2, impossibilitando historicamente o campesinato de desenvolver-se como formatação social específi ca de produção.
O recorte feito da obra de Caio Prado, entretanto, não ajuda a entender o conjunto de suas propostas nem seus pontos principais de polêmica. Tirado de um conjunto de teses apresentado ao V Congresso do PCB em 1960, o fragmento apresentado começa com um “ [...] Não há pois como esperar do desenvolvimento do capitalismo...” não dando condições para que o conjunto do pensamento de Caio Prado possa participar da polêmica proposta pela coleção. Possivelmente
2 PRADO Jr., Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1966, p. 51.
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
NANCY CARDOSO PEREIRA
395RESENHA: A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL
esta fragmentação pode ser facilmente superada pelo acesso direto aos textos do autor em especial A Revolução Brasileira de 1966.
Moisés Vinhas (p. 127-169) explicitará o confronto, questionando abertamente as teses de Caio Prado no artigo Problemas agrário-camponeses no Brasil (1968). De acordo com Vinhas, a negação da tese feudal tem como resultado a negação da existência de camponeses no Brasil e também do latifúndio (p. 130), a defesa da grande propriedade como “base essencial de produção”. Em termos históricos a negação da tese feudal ou semifeudal teria como conclusão que nem o escravo, nem o colono, nem o arrendatário desejaram ou desejam a posse da terra, mas sim melhores trabalhos. Para Vinhas, o erro de Caio Prado está em considerar o Brasil um país capitalista e reduzir o campesinato a um assalariamento dependente do esquema urbano-industrial (p.131). O autor buscará nos processos de colonização os argumentos para a estrutura agrária brasileira baseada no latifúndio de monocultura (p. 136-139) verdadeiros “feudos” coloniais com características antieconômicas, anti-sociais e pré-capitalistas (p. 138).
O artigo de Fragmon Carlos Borges (p. 259-281) Origens históricas da propriedade da terra apresenta um estudo sobre as capitanias hereditárias e seu estatuto feudal através da análise das cartas de doação e os poderes e limitações impostos aos donatários. O estudo se ocupa também da doação de sesmarias em especial em Pernambuco durante o período da capitania real (1654-1822) e no período de dominação holandesa. Uma das conclusões do autor é a ausência de demarcação racional e de um serviço organizado de registro de terras gerando confl itos insolúveis que chegam até aos nossos dias.
As escolhas de Stédile nessa coleção de debates sobre a questão agrária em seu recorte tradicional explicita diversos níveis de interpretação: as concepções e práticas políticas como exercício de teoria e história se deixam ver no confl ito tridimensional do passado mediado pelas concepções modernas e suas escolhas das referências deixadas pelo continuum da luta de classes.
Pedro Paulo Funari afi rma que a história da sociedade de classes implica num duplo movimento de estudo da apropriação de excedentes
NANCY CARDOSO PEREIRA
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL396
e também da exploração que gera confl itos e contradições internas e as consequentes formas de dominação e resistência.
A localização de um espaço de interpretação da sociedade – como, por exemplo, a questão agrária – agiliza a formação de um conjunto de textos complexos na forma de discurso também confl itivo.
“Se confl ito e subjetividade fazem parte tanto da evidência quanto de sua interpretação, é inevitável a multiplicidade de interpretações e não se pode evitar tomar posições”3.
A coleção de Stédile cumpre plenamente seu objetivo de oferecer subsídios para a compreensão do intenso debate sobre a questão agrária no Brasil e o faz mantendo o confl ito como princípio epistêmico e metodológico. O horizonte de crise política que emoldura o volume 1 desta coleção exige uma leitura de singularidades e simultaneidades recriando os estreitos espaços do debate sobre o campesinato e a questão agrária no Brasil. Os artigos colecionados são ao mesmo tempo evidência e interpretação das estruturas e formatações da realidade brasileira e um convite ao exercício das possibilidades teóricas e políticas: tomar posição, propor saídas.
Confl ito e subjetividade também estão presentes no anexo Dados sobre os Autores (p.299-303); juntando dados biográfi cos, produção bibliográfi ca e trajetória de militância dos autores, Stédile reúne apresentações de terceiros tornando mais complexa o caleidoscópio das interpretações.
Nas palavras de André Moysés Gaio (UFJF) apresentando Alberto Passo Guimarães, esta coleção fi ca “como ensinamento e inspiração para que todos brasileiros possam recusar o insulto, a injustiça e a humilhação” (p.300).
3 FUNARI, Pedro Paulo, Heterogeneidade e Confl ito na Interpretação do Quilombo dos Palmares, Revista de História Regional 6(1):11-38, Verão 2001.
LOPES, Marco Antônio. Idades da História. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
Por José D’Assunção Barros1
Idades da História, que acaba de ser publicado pela Editora da PUC do Rio Grande do Sul, é o mais recente livro do historiador Marcos Lopes, especialista em historiografia do período moderno. O autor, em momentos anteriores, publicou obras importantes sobre o pensamento historiográfico que precede a historiografia dita científica, e possui entre suas obras publicadas uma consistente tríade de obras sobre o pensamento e a produção literária de Voltaire (Voltaire Político, Voltaire Historiador, e Voltaire Literário). Nesta nova obra, Marcos Antônio Lopes procura explorar, além do próprio Voltaire, alguns outros historiadores, recuando também para períodos anteriores, inclusive a Antiguidade.
A obra possui o mérito inicial de explorar atentamente a diversidade historiográfica. Conforme o próprio autor anuncia em seu texto de advertência, busca-se “ressaltar a diversidade de gêneros e modos de se escrever História ao longo de três ou quatro séculos”. Uma atenção aos gêneros historiográficos que precedem a Historiografia dita científica – a partir do século XIX – presente em alguns dos ensaios desenvolvidos por Marcos Lopes, faz com que esse livro contribua para preencher uma lacuna importante nos estudos de historiografia, pois ainda são poucos, proporcionalmente, os estudos que se dedicam a examinar a historiografia de séculos mais recuados.
Desde os primeiros momentos, o leitor irá perceber no historiador Marcos Lopes um autor extremamente preocupado com a precisão conceitual, com a necessidade de evitar anacronismos, com a demonstração das fontes e com o rigor argumentativo. Outro elemento em destaque é o diálogo amplo e aprofundado que Marcos Lopes
1 Professor Adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Autor dos livros O Campo da História (2004), O Projeto de Pesquisa em História (2005), Cidade e História (2007), e A Construção Social da Cor (2009), todos publicados pela Editora Vozes.
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
REV
ISTA
DO M
ESTR
AD
O D
E H
ISTÓ
RIA
RESENHA: IDADES DA HISTÓRIA398
desenvolve com autores vários, revelando invejável erudição e domínio da historiografi a.
Quais as várias maneiras de fazer a História conhecidas desde a Antiguidade, e como se gestaram as condições para que, a partir do século XIX, surgisse um novo tipo de historiografi a, já científi ca e amparada na constituição de uma comunidade de historiadores reconhecível a partir de procedimentos comuns? Que variedades de gêneros nos ofereceu a Ars História, tão bem estudada por Marcos Lopes no primeiro de seus ensaios, antes que se afi rmassem as necessidades que levaram a História em (re)direção aos modernos padrões de cientifi cidade? Pode a História, nos dias de hoje, oferecer materiais que a habilitem a se tornar magistra vitae, permitindo que os homens do presente e do futuro aprendam com a experiência vivida registrada pelos historiadores? Ou esta antiga função dos gêneros historiográfi cos, examinada no segundo ensaio deste livro a partir de autores como Maquiavel, já não pode mais encontrar respaldo na historiografi a contemporânea? Se assim é, que expectativas, funções e necessidades preenchem os historiadores quando desenvolvem nos dias de hoje suas pesquisas e seus discursos? De resto, o que ainda se pode aprender com os antigos, mesmo contra o pano de fundo das sempre renovadas querelas entre os “Antigos e Modernos”, e sempre no sentido de buscar os “Benefícios do Tempo”, para aqui retomar o título do terceiro ensaio de Marcos Lopes?
Questões como estas, certamente imprescindíveis para que os historiadores e estudantes de história melhor conheçam o seu próprio ofício, são abordadas por Marcos Lopes nos diversos ensaios desse livro com vivacidade, erudição, e precisão intelectual. A atenção a temáticas menos estudadas pelos historiadores da historiografi a, como a “Tradição e Renovação no Século das Luzes”, que dá título ao quarto ensaio de Marcos Lopes, mostram-nos um historiador não apenas preocupado com as grandes questões, mas também dedicado a contribuir para a elucidação de cada peça-chave do grande quebra-cabeças da história da historiografi a ocidental. É assim que também investe na História Conceitual, como mostra o precioso ensaio “Uma Ideia de Antigo Regime”, no qual examina, com um atento olhar historiográfi co que perscrutar autores como Tocqueville, expressões
UN
IVERSID
AD
E SEVER
INO S
OM
BR
A
JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
399RESENHA: IDADES DA HISTÓRIA
hoje já muito conhecidas, e por vezes desgastadas pela imprecisão do uso, como “Absolutismo” e “Antigo Regime”. Em vista disto, os historiadores somente podem saudar, com a publicação desses cinco ensaios historiográfi cos de Marcos Lopes, mais uma valiosa contribuição à historiografi a brasileira, sempre necessitada de refl exões desenvolvidas pelos nossos próprios historiadores.