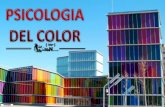O Enigma de Wittgenstein: Dos fundamentos da psicologia
Transcript of O Enigma de Wittgenstein: Dos fundamentos da psicologia
O Enigma de Wittgenstein:
Dos fundamentos da psicologia
Fernando R. Santos
Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Portugal
ResumoO presente trabalho pretende contribuir para a definição formal do objecto de estudo da psicologia. Partindo do Enigma de Wittgenstein, definido como a dúvida acerca da possibilidade da existência de uma psicologia científica, analisa-se histórica e teoricamente a evolução da concepção do objecto de estudo desta disciplina, com especial ênfase nos períodos behaviorista, cognitivista e pós-cognitivista. As principais linhas ao longo das quais esta análise é desenvolvida consistem nas relações entre a psicologia e a filosofia e na distinção entre aspectos epistémicos normativos e descritivos. Após ter definido o estado actual da questão, avança-se uma proposta de resolução para a indefinição do objecto de estudo da psicologia esclarecendo o significado e a relevância da distinção normativo-descritivo e defendendo a autonomia epistemológica e teórica da disciplina. Epistemologicamente procura-se transcender o carácter vago dos conceitos de emergência e superveniência pelo recurso a considerações recentes sobre o reducionismo interteórico. Do ponto de vista teórico é feita uma resenha da definição formal do objecto de estudo da biologia a partir da qual é considerada uma possível saída para o Enigma de Wittgenstein. Ao longo do trabalho são tecidos comentários relativos à importância da adopção de uma perspectiva propriamente desenvolvimental para a resolução das questões levantadas.
“Estes prolegómenos não são para uso dos principiantes, mas dos futuros docentes, e não devem também servir-lhes para
ordenar a exposição de uma ciência já existente, mas, acima de tudo, para inventar essa mesma ciência. (...)
“A minha intenção é convencer todos os que crêem na utilidade de se ocuparem de metafísica de que lhes é absolutamente
necessário interromper o seu trabalho, considerar como inexistente tudo o que se fez até agora e levantar antes de tudo a questão: «de se uma coisa como a metafísica é simplesmente
possível.”
– Immanuel Kant, 1783, Prolegómenos a toda a Metafísica Futura
Enviar correspondência para:Fernando R. Santos: [email protected]
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
1. Introdução: O Enigma de Wittgenstein
Sabe-se que Kant foi marcado pelo cepticismo radical de Hume ao ponto de o considerar intelectualmente irrefutável. Porém Kant “despertou do seu torpor dogmático” e estabeleceu um sistema filosófico que se assume como uma reacção contra esse cepticismo (Strathern, 1996a). Hessen (1926) intitula a filosofia kantiana de criticismo, posição filosófica intermédia entre o dogmatismo e o cepticismo, podendo o termo ser utilizado de duas formas: como sistema e como método. “Em Kant o criticismo significa ambas as coisas: não só é o método de que o filósofo se serve e opõe ao dogmatismo e ao cepticismo, mas também o resultado determinado a que chega com a ajuda deste método. O criticismo de Kant representa, portanto, uma forma especial do criticismo geral.” (p. 56). É neste sentido geral do criticismo como método que este trabalho se alicerça e somente neste aspecto pode ser considerado kantiano.
No presente trabalho o desafio céptico provém da consideração relativa à psicologia com que Wittgenstein encerra o seu livro Investigações Filosóficas (1953/1995):
“1. A confusão e a desolação da Psicologia não se podem explicar pelo facto de se tratar de um «ciência jovem»; o seu estado não é, por exemplo, comparável ao da Física, nos seus primeiros tempos. (É mais comparável a certos ramos da Matemática. Teoria dos Conjuntos) Na Psicologia há, de facto, métodos experimentais e confusão conceptual. (Como em Matemática, há confusão conceptual e métodos de demonstração).
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
O Enigma de Wittgenstein 05
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
A existência do método experimental leva-nos a crer que temos meios para resolver os problemas que nos inquietam; apesar de os problemas e os métodos passarem uns ao lado dos outros.
2. É possível conduzir uma investigação para a Matemática, completamente análoga à nossa investigação da Psicologia. Será tão pouco uma investigação matemática como a outra foi uma investigação psicológica. Nela não haverá cálculos, não é por exemplo, Logística. Podia merecer o nome de uma investigação dos «Fundamentos da Matemática».” (Wittgenstein, 1953, p. 611; ênfase no original).
D e f a c t o , t o m a d a p o r s i d e f o r m a descontextualizada, esta passagem parece condenar a psicologia, considerando-a um empreendimento fundamentalmente mal direccionado. Porém o contexto em que aparece (no final das Investigações
1Filosóficas ) e o carácter enigmático da vida e obra de Wittgenstein permitem imputar-lhe um significado diferente.
Normalmente, os académicos falam de dois Wittgenteins: o primeiro, autor do Tractatus Logico-Philosophicus (1921), e o segundo, autor das Investigações Filosóficas (1953) (Frawley, 1997). Nesta segunda obra encontram-se várias passagens que contradizem o Tractatus, chegando a fazê-lo num tom zombateiro, mas apesar disso há linhas de continuidade entre as duas obras. Por um lado os processos analíticos descritos no Tractatus não são renegados, apenas as suas conclusões, e mantém-se a intenção de acabar a filosofia. No Tractatus Wittgenstein deixa a filosofia desempregada: “6.53 O método correcto da Filosofia seria o seguinte: só dizer o que pode ser dito, i.e., as proposições das ciências naturais – e portanto sem nada que ver com a Filosofia – e depois, quando alguém quisesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que nas suas proposições existem sinais aos quais não foram dados uma denotação.” (1921, p. 142). Mas a recepção desta obra teve o efeito contrário e, em vez de dissipar os empreendimentos filosóficos, estimulou-os (Strathern, 1996b). Assim nas Investigações Filosóficas reencontramos a preocupação em desqualificar os problemas filosóficos, mas a partir de uma abordagem diferente, em que se considera que a filosofia que queremos (uma filosofia-primeira) não é a filosofia que podemos ter (tal como quando queremos magia e na verdade só podemos ter ilusionismo2). Normalmente esperamos que a filosofia venha a resolver as “grandes questões”, mas “[a] Filosofia, de facto, apenas apresenta as coisas e nada esclarece nem nada deduz.” (Wittgenstein, 1953, p. 263). Neste
contexto os dois parágrafos com que Wittgenstein remata as Investigações Filosóficas ganham um carácter enigmático.
De certo modo Wittgenstein parece estar a dizer que, acabada a filosofia, sobram dois ramos activos na sua estrutura sem vida: um analítico, algo como os fundamentos da matemática, e o outro sintético, algo como os fundamentos da psicologia, que corresponde ao trabalho por ele efectuado nas Investigações Fi losóf icas . Ass im, mais que um ataque descontextualizado à psicologia científica, esta passagem pode ser uma justificação da pertinência do trabalho realizado no livro. Neste sentido é possível uma leitura das Investigações Filosóficas como um empreendimento deste tipo, i.e., algo que define o que a psicologia, ainda que ostracizada do domínio das ciências, pode ser. A esta questão, “o que pode ser a psicologia?”, chamamos Enigma de Wittgenstein. Embora Wittgenstein nunca tenha desenvolvido explicitamente uma perspectiva alargada sobre a psicologia científica, quando se refere a esta disciplina é no mesmo tom céptico da primeira passagem citada acima (salvo as referências presentes no Tractatus, que são de carácter negativo, i.e., definem a psicologia como sendo aquilo que a filosofia não é). Assim, por exemplo:
“Quando estudamos psicologia pode parecer-nos que existe qualquer coisa de pouco satisfatório, uma dificuldade acerca do tema de estudo – porque tomamos a física como a nossa ciência ideal. Pensamos na formulação de leis na física. E então descobrimos que não podemos usar a mesma espécie de 'métrica', as mesmas ideias de medição que na física. (...) E no entanto os psicólogos querem dizer: «Deve haver uma lei» - ainda que nunca se tenha encontrado nenhuma lei. (...) Enquanto para mim o facto de que não existem na realidade tais leis me parece importante.” (Wittgenstein, 1966, pp. 80-81; ênfase no original).
Se aceitarmos aquela que parece ser a resolução Wittgensteiniana do Enigma, o carácter não científico da psicologia é essencial, pois a partir do momento em que a disciplina aborda a linguagem deixa de pertencer em absoluto às ciências naturais. Esta é a consequência de considerar a autonomia da psicologia em relação à ciência num sentido forte. O problema fundamental implícito no Enigma de Wittgenstein é de como tratar a psicologia como uma ciência natural que explique o seu objecto de estudo através de causas, quando este objecto parece ser determinado por razões ou, por outras palavras, como fazer dela uma ciência descritiva (cujas leis são derivações das regularidades empíricas)
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
quando o seu objecto é normativo (cujas leis são prescrições para o que deve ser). É aqui que o veredicto Wittgensteiniano se torna claramente céptico. No entanto, apesar da psicologia nunca poder ser uma ciência como a física (estritamente natural), talvez ela possa ser outro tipo de ciência (que dê conta também do normativo). O problema é que talvez esse tipo de ciência ainda não tenha sido inventado. É neste contexto que a citação de Kant relativa à metafísica ganha sentido em relação à psicologia: é necessário, antes de mais, esclarecer se uma coisa como a psicologia científica é simplesmente possível.
Esta pode parecer uma consideração pessimista no sentido em que de algum modo implica que a psicologia como disciplina científica, existindo há mais de um século, nunca soube muito bem o que andou a fazer – sucumbindo assim ao cepticismo Wittgensteiniano. Esta posição não é totalmente verdadeira, mas também não é totalmente falsa. Por um lado houve momentos da história da psicologia em que se chegaram a perspectivas altamente formalizadas e sofisticadas do ponto de vista teórico e metodológico que permitiram estabelecer uma ideia clara dos limites do objecto de estudo da disciplina e dos processos para o estudar. Mas a formalização e a sofisticação não existiram sem um custo, a saber, a eliminação de grande parte do que intuitivamente se considera “psicológico” do domínio da pesquisa científica. O caso mais paradigmático será o do behaviorismo (tomado como perspectiva integrada sobre a psicologia) que se preocupou claramente em estabelecer os limites da psicologia. O que aconteceu foi que, a longo prazo, a redução do psicológico ao comportamental se mostrou problemática (especialmente para a filosofia). Após o que autores como Bruner (1990) chamam “o longo inverno de objectivismo” behaviorista, o mental voltou ao psicológico, no que ficou conhecido como a revolução cognitiva (Gardner, 1985; Bruner, 1990). As críticas do cognitivismo emergente ao behaviorismo instalado (e.g., Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Fodor, 1968; 1975) são patentes nas obras seminais da perspectiva cognitivista em psicologia e serão retomadas no presente trabalho apenas na medida em que iluminam a verdadeira natureza desta revolução. Apesar da aparente contradição entre estas perspectivas, a semelhança relevante entre as duas é que ambas definem claramente o que a psicologia deve ser, definindo explicitamente os limites do seu objecto de estudo. De facto o trabalho de Fodor encara de frente o enigma de Wittgenstein (Wittgenstein e também Ryle são “ódios de estimação” de Fodor) e a sua obra constitui uma tentativa de lhe dar resposta.
Desde a posição cognitivista ortodoxa (Bem & de Jong, 1997) quanto ao objecto de estudo da psicologia, e apesar da multiplicação dos críticos da mesma, ainda não foi avançada uma proposta coerente acerca de que é que, presumindo que a resposta cognitivista não é válida, se deve ocupar a psicologia. Se a teoria computacional da mente, pedra de toque do cognitivismo ortodoxo, não sobreviver aos seus críticos (e procuraremos demonstrar onde e porque é que de facto não sobrevive) então o que restará à psicologia? Se tivermos razão, então, a psicologia encontrar-se-á de novo na posição frágil e dúbia em que Wittgenstein a deixa no final das suas Investigações Filosóficas (1953) – posição que denominámos de enigma de Wittgenstein. O restante deste trabalho consistirá em estabelecer linhas programáticas de resolução deste enigma. Sucintamente, começaremos por mapear a evolução teórica da psicologia científica, com especial ênfase nos períodos behaviorista e cognitivista, propondo uma revisão da forma como são tradicionalmente perspectivados. De seguida apresentaremos os limites da perspectiva cognitivista, abordaremos as vozes críticas desta perspectiva e procuraremos avançar uma formulação integrada do objecto de estudo da psicologia científica.
2. Pseudoproblemas na Psicologia
O que pode ser a psicologia? A resposta a este enigma poderia seguir várias vias de resolução. Poderíamos olhar para o que os/as psicólogos/as fazem e dizer que a psicologia é isso mesmo. Aliás esta é talvez a resposta dada mais frequentemente quando a legitimidade da ciência psicológica é posta em causa. Porém esta não é de facto uma resposta, incorre numa circularidade falaciosa: nesta lógica a prática psicológica define a ciência psicológica, mas é nesta que a prática se baseia. Outra resposta possível é apontar os sucessos c ien t í f icos da ps ico logia , os exemplares paradigmáticos de práticas de investigação, de explicações e teorias psicológicas. Estes “troféus” garantem a relevância da disciplina, mas a própria história interna da psicologia já demonstrou que são insuficientes para fundamentar uma perspectiva forte acerca da sua natureza – e.g., os sucessos explicativos do behaviorismo foram reenquadrados no cognitivismo sem perda de poder explicativo. Estas respostas não são, no entanto, desprovidas de sentido. Surgiram provavelmente em contextos sociais e institucionais de competição por recursos tendo por objectivo legitimar uma prática, um objectivo muito mais pragmático do que científico.
O Enigma de Wittgenstein
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
06
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Porém a questão que anima este trabalho é de facto teórica. “O que pode ser a psicologia?” é no fundo uma notação abreviada para um conjunto de questões interrelacionadas e que abrangem pelo menos dois níveis de análise, um interno e outro externo, mas também eles interdependentes. O nível de análise que denominámos de interno pode ser perspectivado como intradisciplinar, implicando olhar para a teoria psicológica tal como é ou deve ser feita na investigação psicológica. Assim, por análise interna entendemos o abordar de preocupações relativas à teoria psicológica quando esta é tomada como produto da prática científica. Quando perspectivamos a teoria-como-produto, o tipo de questões que surgem têm a ver, e.g., com a operacionalização de conceitos, com a adequação da teoria aos dados empíricos disponíveis e com a utilização da teoria na orientação de pesquisas posteriores pelo levantamento de hipóteses testáveis empiricamente e consequente avanço teórico intradisciplinar. A este nível os problemas teóricos são essencialmente problemas metodológicos e neste contexto o quadro epistemológico tem de ser dado à partida ou nenhum progresso pode existir na investigação. O nível externo, por sua vez, tem um âmbito interdisciplinar, localizando-se nas fronteiras da teoria psicológica com as teorias de outras disciplinas científicas, e implica olhar para o processo de construção teórica em psicologia. Abordar estes processos levanta questões epistemológicas acerca das teorias. Estas questões têm a ver, e.g., com a forma como as teorias satisfazem critérios epistémicos gerais e com a compatibilidade entre teorias psicológicas e teorias aceites de outras ciências. Esta distinção entre interno e externo pode, no geral, ser resumida como a distinção entre a pressão que o investigador em psicologia sente para adequar a teoria ao empírico e a pressão que o filósofo da ciência sente para adequar a teoria ao epistemológico.
Assim a questão inicial poderia ser expandida perguntando (a) “qual é o objecto de estudo da psicologia e qual a sua natureza?”, (b) “qual é a natureza da explicação e das teorias psicológicas?”, (c) “qual a posição da psicologia no sistema das ciências?”. As questões variam no grau em que apelam a análises internas ou externas à disciplina, mas os limites desta distinção têm de ser compreendidos. Responder à questão (c) implica um determinado tipo de resposta às questões (a) e (b), e vice-versa. Por outras palavras a autonomia interna da psicologia está relacionada com a sua dependência externa. Por exemplo, no behaviorismo clássico o objecto da psicologia é mais determinado pela (suposta) posição da psicologia no sistema das ciências – como
demonstraremos abaixo, o comportamento cumpre os requisitos epistemológicos do positivismo lógico –, do que o inverso. O modelo estímulo-resposta (S-R) é plausível a nível biológico se for identificado ao conceito biológico de arco reflexo (e respectivamente os complexos S-R com associações neurológicas de nível superior) e relaciona-se com as ciências sociais permitindo que um indivíduo adquira comportamentos socializados através da aprendizagem. Mas esta coerência externa implicou que se desistisse da tentativa de explicação do mental, intuitivamente considerado psicológico. Já no cognitivismo a situação inverte-se: as considerações funcionalistas relativas ao objecto da psicologia implicam que a psicologia se torne uma ciência especial (special science; Fodor, 1975; 1995) no sistema das ciências, sendo negada assim a possibilidade de redução estrita de enunciados psicológicos a enunciados biológicos (deste ponto de vista um processo psicológico pode ser realizado biologicamente de diversas formas – realizabilidade múltipla; Fodor, 1968; 1975) e desligando estes processos, considerados como “realmente” psicológicos (as competências, supostamente universais), de variações sócio-culturais (as performances, consideradas particulares). No cognitivismo o estabelecimento da coerência interna levou à desistência de atingir coerência externa (Fodor, 1968).
Do nosso ponto de vista, uma resposta satisfatória às questões levantadas neste trabalho implica abordar os dois níveis propostos – o interno e o externo – sem prejuízo de um em função do outro. Assim definir o estatuto da psicologia implica esclarecer aspectos teóricos internos da disciplina tanto quanto aspectos relativos às relações interdisciplinares que esta estabelece, de forma integrada. Se isto não for tido em consideração cria-se confusão conceptual, em que as respostas pertencem a níveis de análise diferentes dos das perguntas – confundem-se os papéis epistemológicos descritivo e normativo.
2.1. A dicotomia normativo-descritivo em psicologia
Esta distinção é originária da filosofia, considerando-se o normativo como aquilo que “deve ser” (“ought”) e o descritivo aquilo que “é” (“is”), servindo para distinguir o que são questões de princípio e o que são questões de contingência. O tratamento desta questão começa geralmente com a reminiscência da máxima Humeana de que nenhuma prescrição que determina o que “deve ser” pode ser derivada logicamente de uma descrição daquilo que “é”. Com a
O Enigma de Wittgenstein 07
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
“viragem linguística” (linguistic turn) a filosofia assume-se como disciplina normativa, relegando para as ciências empíricas a função descritiva (O'Donohue & Kitchener, 1996; Rorty, 1992). Nas palavras de Ayer “[a]s proposições da filosofia não são de carácter factual, mas linguístico – isto é, não descrevem o comportamento de objectos físicos ou mesmo mentais; mas expressam definições, ou consequências formais de definições.” (cit. in Rorty, 1992, p. 5, tradução livre – t.l.). Esta perspectiva integra-se numa tradição mais antiga relativa às relações entre a filosofia e a psicologia, que, estando presente pelo menos desde Kant, foi claramente articulada por Frege e Popper (1934; 1996), definindo que as tarefas da psicologia e da filosofia são fundamentalmente diferentes (O'Donohue & Kitchner, 1996). Enquanto que a psicologia é responsável por descobrir e explicar os processos que levam um indivíduo a produzir conhecimento, a filosofia deve garantir a validade dos conteúdos desse conhecimento, independentemente dos pormenores de contingência da sua produção (Popper, 1996). Desrespeitar esta distinção leva às falácias do psicologismo (quando se tentam resolver assuntos conceptuais por meios estreitamente empíricos) e do logicismo (quando se tentam resolver assuntos empíricos por meios estritamente conceptuais). Assim considera-se a existência de uma dicotomia fundamental entre os domínios empírico e filosófico, conforme o quadro 1.
Este modo de relacionamento entre filosofia e psicologia foi característico do período behaviorista das décadas de 1930 e 1940, que pretendia estabelecer a psicologia como ciência empírica tout court ao lado do positivismo lógico4, que, com a “viragem linguística”, s e a s sumia como f i l o so f i a e s t r i t amen te normativa/conceptual (O'Donohue & Kitchener, 1996), espelhando nitidamente a dicotomia analítico-sintético que se presumia aplicar às proposições
(Putnam, 2002). Porém, grande parte do tratamento retrospectivo do behaviorismo parece sugerir que este sempre esteve associado ao programa positivista lógico em filosofia da ciência quando, na verdade, o behaviorismo precede a emergência do Círculo de Viena e sobrevive ao declínio das ideias deste.
2.1.1. O estabelecimento da dicotomia: o positivismo lógico e o behaviorismo
No primeiro período da história da psicologia como ciência esta era marcada por uma coalescência entre ciência natural e epistemologia (no sentido anglófono de teoria do conhecimento), consistindo numa síntese tripartida entre a física, a fisiologia e a filosofia mental, de que são exemplos claros, entre outros, os escritos de Wundt e James (Chaplin & Krawiec, 1979; O'Donohue & Kitchener, 1996). O behaviorismo surge precisamente contra estas perspectivas, todas elas relativamente dependentes do conceito de introspecção. O primeiro período da fase behavirorista (o behaviorismo clássico – Staddon, 1993) é protagonizado intelectualmente por Watson e o seu espírito resume-se no primeiro parágrafo do artigo seminal deste autor “Psychology as the Behaviorist Views It”, publicado originalmente em 1913:
“A psicologia como o behaviorista a vê é um ramo experimental puramente objectivo da ciência natural. O seu objectivo teórico é a predição e o controlo do comportamento. A introspecção não toma parte essencial nos seus métodos, nem o valor científico dos seus dados depende da prontidão com que estes se prestam a interpretação em termos de consciência. O behaviorista, nos seus esforços para obter um esquema unitário da resposta animal, não reconhece nenhuma linha divisória entre homem e besta. O comportamento do homem, com todo o seu refinamento e complexidade, forma apenas uma parte do esquema total de investigação do behaviorista.” (Watson, 1997, p. 396, t.l.).
Este parágrafo define as linhas gerais da perspectiva behaviorista em psicologia mais de uma década antes dos primeiros textos dos positivistas lógicos terem sido publicados. Assim, embora existam afinidades nítidas entre as duas perspectivas, não houve de facto interacção entre elas. O “casamento” entre positivismo lógico e behaviorismo só teve lugar posteriormente, no período neobehaviorista (Staddon, 1993). A transição do behaviorismo clássico para o neobehaviorismo está associada a quatro fontes: (1) a emergência do positivismo lógico (que exerce uma
O Enigma de Wittgenstein 08
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Quadro 1Perspectivas sobre a distinção normativo-descritivo nas relações entre filosofia e psicologia
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
pressão objectivista, mas também no sentido de construção de teorias formais logicamente válidas), (2) o operacionismo (que exigia a definição dos constructos teóricos em termos das operações utilizadas para os observar ou medir), (3) o foco em estudos em animais (que levou à fase da “psicologia dos ratos”) e (4) o ênfase na aprendizagem, e nesta como adaptação ao ambiente (Benjamin, 1997). É nesta fase que o behaviorismo se alia ao positivismo lógico, especialmente no behaviorismo metodológico de Hull. Hull desenvolveu a sua teoria da aprendizagem baseada no conceito de condicionamento clássico Pavloviano, aderindo aos cânones positivistas lógicos de forma bastante linear – a sua teoria era objectiva, foi exposta numa forma hipotético-dedutiva e tinha um carácter quantitativo (Marx & Hillix, 1973). De facto, o carácter explícito com que Hull apresentou a sua teoria, o que permitia que os seus diversos componentes fossem fac i lmen te ope rac iona l i zados e t e s t ados empiricamente, é apontado como um factor-chave na sua “vitória” sobre o neobehaviorista “rival” Tolman, marcada por uma proliferação de teses académicas de carácter Hulliano durante a década de 1940 (Benjamin, 1997; Marx & Hillix, 1973). De facto a teoria da aprendizagem de Tolman, centrada na noção de mapas cognitivos, foi articulada de forma vaga em vários aspectos importantes (facto admitido pelo próprio Tolman) (Benjamin, 1997). Para além disso a crescente influência do zeitgeist positivista lógico tornava a sua proposta de um behaviorismo intencional suspeita, ao associar elementos behavioristas com elementos da psicologia da gestalt na postulação de estados internos dificilmente operacionalizáveis, e.g., o conceito de aprendizagem latente. De facto Tolman talvez tenha sido um behaviorista por falta de alternativas teóricas e possa ser descrito retrospectivamente como um cognitivista sem computador (Marx & Hillix, 1973; Staddon, 1993).
No entanto, apesar das divergências entre Tolman e Hull, esta fase inicial do neobehaviorismo demarca-se do behaviorismo clássico na sua preocupação propriamente teórica. Watson afirmou que o objectivo teórico da psicologia behaviorista era simplesmente a predição e o controlo do comportamentos, mas os sistemas de Hull e de Tolman têm, para além destas, também preocupações teóricas ligadas à explicação propriamente dita dos fenómenos psicológicos. Assim o neobehaviorismo aderiu à epistemologia do positivismo lógico, enquanto que behaviorismo clássico foi, epistemologicamente, aliado do positivismo clássico, na linha dos empiristas britânicos como Locke e Hume.
A f i losof ia da c iênc ia da ps ico logia neobehaviorista foi portanto o positivismo lógico (O'Donohue & Kitchener, 1996) e procuraremos agora, esclarecida a sua emergência histórica, entender a natureza conceptual desta associação.
O neobehaviorismo, embora preocupado com a teoria propriamente dita, continuava a ser uma forma de behaviorismo e a defender o carácter científico-natural da psicologia o que, naquele período, era definido pelo positivismo lógico. Como tal, qualquer referência à “mente” como objecto de estudo empírico estava para além desta ciência pois era destituída de sentido, dado não satisfazer o critério de sentido cognitivo5 do positivismo lógico. Este critério determina que uma proposição só pode ter sentido cognitivo (i.e., ser verdadeira ou falsa) se for (1) analítica, e portanto verdadeira ou falsa por virtude da definição dos seus termos, ou (2) sintética, sendo portanto possível, pelo menos em princípio, testar a sua correspondência ou não à realidade e consequentemente o seu valor de verdade (Carnap, 1928; Hempel, 1959). Este critério é sugerido por Wittgenstein (1921) e, no caso das proposições sintéticas, logicamente formalizado por Tarski (1944) naquilo que ele denomina de concepção semântica da verdade. Esta concepção propõe que, sendo 'p' uma frase arbitrária e 'X' o nome dessa frase (normalmente o nome X consiste em p entre aspas),X é verdadeira se, e somente se, p.(E.g., “A frase «A neve é branca» é verdadeira se, e somente se, a neve é branca.”; Tarski, 1944, p.78).
Proposições complexas (i.e., associações de proposições como, e.g., “p e q” – “A neve é branca e a relva é verde”) não põe problemas a esta concepção pois podem ser decompostas em proposições elementares e o seu valor de verdade determinado pelo cálculo do valor de verdade dessas proposições elementares associadas (e.g., “p e q” é verdadeira se p é verdadeira e q também, mas é falsa se qualquer uma delas for falsa; “A neve é branca e a relva é verde” é verdade se a neve for branca e a relva for verde – este cálculo é sistematizado por Wittgenstein (1921) no seu tratamento das tabelas de verdade de proposições). Assim, do ponto de vista do positivismo lógico, proposições que não satisfaçam o critério de sentido cognitivo não têm sentido em ciência porque não denotam nada (Wittgenstein, 1921) e, portanto, as t e n t a t i v a s d e a s e s c l a r e c e r c o n s t i t u e m pseudoproblemas na filosofia (Carnap, 1928).
Dado este contexto epistémico normativo, a função de determinar a verdade das proposições sintéticas é remetida para as ciências empíricas que devem
O Enigma de Wittgenstein 09
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
operacionalizar as proposições em causa e levar a cabo experiências que permitam verificar (indutivamente) ou infirmar a sua verdade. Este processo de verificação é em última análise fundado em termos observacionais – termos directamente relacionáveis com os dados sensoriais segundo Carnap, ou idênticos às instruções dos protocolos experimentais segundo Neurath –, que dotam, deste modo, os termos primitivos da teoria de significado empírico. A estrutura teórica restante deve ser construída logicamente sobre estas proposições fundamentais que contêm os termos observacionais – primitivos – da teoria (Echéverria, 1999).
É assim compreensível o compromisso do positivismo com o programa da Unidade da Ciência e a concepção de reducionismo6 a ele associado (Carnap, 1934). Nesta perspectiva toda a ciência deveria ser expressa numa única linguagem formal, dentro da qual a ciência seria sistematizada dedutivamente sob a forma de teorias axiomatizadas. Cada teoria seria, como vimos, derivada indutivamente a partir de um conjunto de enunciados observacionais fundamentais, a nível da física, da química, da biologia e das ciências sociais. Estas teorias seriam então reduzidas logicamente aos níveis disciplinares precedentes e, em última instância, ao vocabulário da física, considerada a ciência fundamental, o que garantiria uma unidade formal à ciência (Hooker, 2001). Esta visão sobre as teorias científicas foi claramente exposta por Oppenheim e Putnam (1958) sob a forma de hipótese de trabalho. De acordo com eles a Unidade da Ciência num sentido forte depende da Unidade da Linguagem, que implica a redução do vocabulário das diferentes disciplinas científicas (e.g., o termo “gene” na biologia é redutível a/é idêntico a “conjunto de moléculas de DNA responsáveis pela síntese de uma proteína no contexto da síntese proteica a nível celular” ou “sequência de moléculas de DNA que representam uma sequência de aminoácidos que constitui uma proteína” na bioquímica), e da Unidade das Leis, que, para além da Unidade da Linguagem, implica redução também dos princípios explicativos (e.g., a formação de uma molécula de H2O – cujo domínio de estudo é a química – é explicada pelas propriedades sub-atómicas dos átomos de hidrogénio e oxigénio definidas a nível mecânica quântica – parte da física). Os princípios que regulam a relação entre as teorias redutoras e reduzidas são os chamados princípios ponte (Thompson, 2001).Assim a psicologia behaviorista, comprometida com estes princípios, exclui do seu vocabulário observacional todos os termos cuja referência não pode ser operacionalizada objectivamente, pois fazê-lo destituiria os enunciados observacionais de significado empírico e consequentemente cognitivo, e nenhum
destes termos pode ser não-físico, pois isso inviabilizaria a possibilidade de redução das teorias ao vocabulário da física. Estabelece-se assim, tendo em conta este quadro de referência normativo, a necessidade do objecto de estudo da psicologia se limitar aos estímulos ambientais e comportamentos observáveis.
Nesta análise das relações entre o positivismo lógico e o neobehaviorismo está patente uma divisão social clara do trabalho intelectual de filósofos da ciência e psicólogos. Os primeiros definem os aspectos epistémicos normativos, prescrevendo e avaliando processos de construção de conhecimento, e os segundos trabalham a nível descritivo, descrevendo e explicando a realidade seguindo as regras metodológicas dos primeiros.
A mente, porém, veio a tornar-se o aspecto central da ciência psicológica. Para tal concorreram as críticas à epistemologia do positivismo lógico, que reorganizaram os cânones normativos da prática científica, e a introdução da teoria computacional da mente (TCM), que permitiu perspectivar a mente como um objecto científico respeitável.
2.1.2. O colapso da dicotomia: o mito da revolução cognitiva
Normalmente considera-se que a distinção clara que se estabeleceu entre os empreendimentos normativo e descritivo no período da aliança entre positivismo lógico e behaviorismo foi abalada por três acontecimentos: (1) o projecto da epistemologia naturalizada de Quine (1991), derivado da sua crítica da distinção analítico-sintético, (2) a defesa de Kuhn (1970) da impossibilidade de eliminação de termos teóricos da investigação empírica (que torna as observações “impregnadas-de-teoria” – theory-laden; Bem & de Jong, 1997) e (3) a emergência da ciência cognitiva como campo interdisciplinar que, ao tentar explicar cientificamente a mente quebra com as fronteiras tradicionais entre as disciplinas e assim com uma distinção clara entre os respectivos papéis intelectuais (O'Donohue & Kitchener, 1996) e pretende, pelo menos em princípio, oferecer uma explicação empírica (descritiva) para aqueles fenómenos que se presumiam estritamente normativos/conceptuais. Estes três acontecimentos podem ser classificados como fazendo parte da “viragem naturalista” em epistemologia (Lennon, 2003), cujo objectivo último é fornecer uma explicação causal para o conhecimento e referem-se,
O Enigma de Wittgenstein 10
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
respectivamente, a questões propriamente epistemológicas, a questões da filosofia da ciência e a questões psicológicas, que serão aprofundadas adiante.No entanto surge-nos um hiato cronológico entre o período da aliança do positivismo lógico com o neobehaviorismo Hulliano (décadas de 1930 e 1940) e os três acontecimentos desencadeadores mencionados (o artigo de Quine relativo à naturalização da epistemologia data de 1969; a primeira edição da obra de Kuhn data de 1962, mas é a segunda edição, de 1970 com um posfácio original, a normalmente citada como seminal; e a 'revolução cognitiva', embora com importantes precursores nos anos 50 e 60, só na década de 1970 ganha expressão real). De facto este hiato não é acidental e corresponde ao período em que a psicologia científica se encontrou sobre o fascínio das ideias de um homem: Skinner.
Nalguns relatos históricos Skinner é integrado no período neobehaviorista, porém nesta categorização considera-se como “neobehaviorista” qualquer perspectiva posterior ao behaviorismo clássico de Watson (Benjamin, 1997). Uma análise mais atenta demonstra que o behaviorismo radical de Skinner dificilmente pode ser considerado neobehaviorista no sentido em que as perspectivas de Tolman e Hull o eram (Staddon, 1993). De facto o behaviorismo radical de Skinner consiste numa elaboração do behaviorismo clássico acrescentando ao arsenal conceptual do condicionamento clássico os conceitos do condicionamento operante (dentro dos quais o conceito de reforço será talvez o principal). Porém para Skinner não há propriamente um lugar para a teoria em psicologia – ele leva ao extremo a perspectiva de que o objectivo da ciência é exclusivamente a predição e o controlo dos fenómenos e portanto a postulação de mecanismos explicativos é excluída da ciência psicológica (se houver mecanismos estes serão do domínio da fisiologia) que, na sua definição, deve estudar o comportamento ao nível do comportamento. Metodologicamente as experiências de Skinner apoiaram-se em engenhos que permitiam o registo automático de dados (i.e., sem a intervenção directa e contínua de um observador), dos quais é paradigmático a “caixa de Skinner”, o que resolvia o problema da interferência do observador na recolha de dados e permitia uma recolha de dados prolongada no tempo do comportamento de um organismo. Os organismos estudados no behaviorismo radical eram geralmente animais, e os dados eram interpretados na mesma lógica em que os modelos animais o são em ciências biomédicas – os animais constituem objectos de estudo com determinadas semelhanças aos seres humanos que permitem generalizar os resultados obtidos nas
experiências com os primeiros, para os segundos, e os limites éticos para a experimentação animal são menos rigorosos do que para a experimentação humana. De facto, Skinner frequentemente extrapolava quase linearmente os resultados obtidos com animais em laboratório para o domínio humano e social (e.g., o caso da formação de 'superstições' em pombos pela administração de reforços aleatórios, i.e., não contingentes com comportamentos) (Staddon, 1993).
Esta tendência ateórica (senão mesmo antiteórica) de Skinner é reminescente da postura que considerámos positivista clássica de Watson. Mas Watson avançou a sua perspectiva antes da difusão das ideias do movimento positivsta lógico, que de algum modo consistiu na continuidade do projecto positivista original, enquanto que o trabalho de Skinner surge depois desse movimento e depois da aliança desse movimento com a psicologia no neobehaviorismo Hulliano. Assim o behaviorismo radical vem opor-se ao positivismo lógico, embora este facto histórico seja muitas vezes ignorado nas reconstruções racionais que são feitas retrospectivamente do período behaviorista em geral. De facto, o behaviorismo radical de Skinner é compatível com uma formulação teórica de tipo positivista lógico como a que avançámos acima, mas esta compatibilidade analítica sucumbe perante as contra-evidências históricas. A investigação de Skinner nunca foi informada (formalmente) pelo positivismo lógico. Este facto torna-se claro nas obras mais tardias de Skinner, em que as suas preocupações estão mais afastadas da investigação comportamental propriamente dita e se centram, em vez disso, na aplicação (ou talvez devêssemos dizer 'extensão') desse conhecimento a problemas sociais. Nestas obras os problemas filosóficos tradicionais são tratados partindo do princípio que o behaviorismo radical é a perspectiva fundamental sobre o funcionamento humano e portanto assumem implicitamente a forma 'partindo do pressuposto de que o behaviorismo radical é a perspectiva certa, o que significa uma coisa como verdade ou justiça?' (Staddon, 1993)
Assim torna-se clara a filiação filosófica de Skinner: o pragmatismo americano inicial. A filosofia pragmatista nasce e desenvolve-se nos Estados Unidos da América na segunda metade do século XIX. Formalmente considera-se o seu fundador Charles Sanders Pierce, mas o autor de maior relevo deste período inicial é William James, cujo pensamento deu origem ao movimento funcionalista em psicologia (Murphy, 1990; Marx & Hillix, 1973). No entanto neste período inicial, antes da sua difusão, o pragmatismo tinha, com Pierce, o carácter de um empirismo radical,
O Enigma de Wittgenstein 11
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
cuja definição de crença era “aquilo para o qual um homem está preparado para agir” (Murphy, 1990, p. 34), o que leva à teoria da verdade de Pierce: “A verdade é aquilo que todos os investigadores científicos estão destinados a dar finalmente acordo.” (Murphy, 1990, p. 70). É neste pragmatismo Pierciano em que Skinner se filia. James desviou-se desta concepção, que considera a definição de verdade absoluta, no sentido em que implica um sujeito com um conhecimento e experiências completas. Para os casos não ideais James afirma que “[o] que é verdadeiro no nosso modo de pensar é a produção de crenças que se provam a si próprias serem boas, e boas por razões definidas, determináveis.” (Murphy, 1990, p. 81), e é esta a concepção subjacente à perspectiva funcionalista que o sucedeu.
Qual o significado da posição de Skinner do ponto de vista da dicotomia normativo-descritivo? Historicamente quem responde a esta questão é Quine, que durante algum tempo leccionou em Harvard enquanto Skinner também era aí professor. A estratégia de Quine é, no geral, semelhante à de Skinner: utilizar o behaviorismo radical como base de crítica da epistemologia positivista lógica propondo a naturalização da epistemologia, mas de forma filosoficamente sofisticada. Enquanto Skinner se limitou a especular sobre um mundo “Para Além da Liberdade e da Dignidade” (Staddon, 1993), Quine conhecia bem o “inimigo” (ele próprio foi aluno de Carnap) e teceu as suas críticas de forma cirúrgica. De facto Quine pode ser descrito como um “pragmatista relutante” (Murphy, 1990, p. 129), que combina o carácter provocatório típico dos pragmatistas com uma capacidade de análise e de sistematicidade típicas da filosofia analítica.
2.1.2.1. Confusões em epistemologia
A proposta de Quine relativa ao projecto de naturalização da epistemologia pode ser perspectivada como partindo de uma questão: como é que a partir da estimulação sensorial chegamos ao conhecimento teórico? (Quine, 1991). E a resposta a esta questão implica, para Quine, que se abandonem as preocupações (filosóficas) normativas, que nos levam a perspectivar o nosso conhecimento sempre em relação às prescrições de um filosofia-primeira, e que nos contentemos com a psicologia, disciplina empírica responsável pela elaboração de uma teoria que una causalmente estimulação e conhecimento (Sigel, 1996). Esta perspectiva surge no período de falência da epistemologia do positivismo lógico, falência essa para
a qual Quine contribuiu consideravelmente com a sua crítica da distinção entre proposições analíticas e sintéticas. A distinção entre proposições analíticas e sintéticas é essencial para o positivismo lógico porque justifica, respectivamente, a existência das ciências formais (matemática, lógica – fornecem uma linguagem formal definindo quaisquer termos em função de outros mais claros) e ciências reais (ciências empíricas – fornecem acesso à realidade). Para Quine as proposições analíticas ou são lógicas, e portanto não têm relevância para as ciências empíricas, ou são relações entre sinónimos, e a sinonímia tem uma base empírica pois só podemos identificar dois termos como sinónimos a partir da observação do comportamento dos falantes. No que concerne às proposições sintéticas, Quine critica o conceito de verificação do positivismo lógico salientando que as proposições não são individualmente confrontadas com a realidade (o que implica o atomismo lógico), mas como um corpo total – tese Duhem-Quine (Echeverría, 1999). Este ataque ao atomismo lógico está relacionado com a sua tese da indeterminação da tradução: a tradução é indeterminada porque sempre que nomeamos um objecto temos múltiplos referentes possíveis – no exemplo clássico o termo de uma língua nativa “gavagai” dito na presença de um coelho não determina se o referente é “coelho”, “parte não separada de coelho” ou “estádio temporal de coelho”, e sempre que estamos na presença de um coelho estamos na presença de todos esses referentes possíveis, pelo que é impossível determinar qual deles constitui a tradução correcta (Quine, 1995). Assim “(...) um enunciado sobre o mundo não tem sempre, ou não tem frequentemente, um conjunto separável de consequências empíricas que se possa dizer que lhe é próprio” (Quine, 1991, p. 286). Tendo em conta estas críticas, a naturalização da epistemologia, i.e., o seu reenquadramento como um capítulo da psicologia, é, do ponto de vista de Quine, a única forma de evitar o seu desaparecimento (Quine, 1991).
A principal crítica a este projecto de naturalização da epistemologia consiste na perda do seu papel normativo na regulação da produção de conhecimento. O argumento principal articula-se da seguinte forma: (a) O papel normativo da epistemologia define os critérios de produção de conhecimento válido. (b) Se queremos explicar causalmente (descritivo) a epistemologia temos de abandonar a pretensão de usar a epistemologia para regular (normativo) a produção de conhecimento válido. Donde concluímos, (c) então se queremos explicar causalmente a epistemologia ficamos sem critérios que garantam a validade do conhecimento e, consequentemente, nunca a podemos
O Enigma de Wittgenstein 12
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
explicar adequadamente (Siegel, 1996). No fundo o argumento retoma a oposição clássica entre psicologismo e logicismo mencionada acima, que parece assim ser um tema recorrente na história das relações entre a psicologia e a filosofia. Isto é interessante porque é precisamente a este nível que a discussão está situada – entre a psicologia e a filosofia. A psicologia, tida como uma ciência empírica, aparece como uma intrusa no domínio tradicionalmente filosófico, e portanto necessariamente não empírico, do conhecimento (entendido num sentido forte). Assim existe de facto uma assimetria em termos de herança intelectual que cada disciplina traz para a discussão, sendo a herança filosófica claramente maior. Como tal o problema normativo-descritivo inerente ao projecto de naturalização da epistemologia é enquadrado na concepção de conhecimento da filosofia.
A filosofia analítica (domínio onde surge o problema da naturalização da epistemologia) debruça-se sobre o conhecimento teórico (know that), mais do que com o conhecimento prático (know how). Como tal neste domínio conhecimento é conhecimento proposicional, i.e., conhecimento de que um proposição é verdadeira ou falsa, sendo o verdadeiro conhecimento definido como “crença verdadeira justificada”. Assim o sujeito S tem conhecimento de que a proposição p é verdadeira se, e só se, (1) p é verdadeira, (2) S acredita que p é verdadeira e (3) S é capaz de justificar p, i.e., apresentar evidências adequadas de que p é verdadeira (Double, 1999). Ora apesar do estatuto desta definição de conhecimento não ser univocamente estabelecido como descritivo ou normativo, parece-nos que o seu propósito é essencialmente normativo – mais do que uma descrição do que é o conhecimento, esta definição exprime um critério de discriminação entre conhecimento e não-conhecimento. O único aspecto que parece escapar em absoluto ao domínio normativo nesta definição tripartida é a “crença” – normalmente pensamos em crença como um estado psicológico de um sujeito. Mas também aqui a definição de conhecimento não nos diz o que esta crença é ou pode ser, apenas que é necessário que o sujeito a possua, e este sujeito deve ser considerado um sujeito epistémico abstracto, não um sujeito psicológico particular, i.e., a definição de conhecimento apresentada constitui uma situação cognitiva ideal, sendo a crença apenas a interpretação epistémica da situação psicológica.
Considerar a definição do conhecimento como estritamente normativa pode ser relevante como um pré-requisito para o estudo empírico do conhecimento porque permite enunciar os diferentes resultados da
satisfação ou não dos vários critérios presentes nessa definição, estabelecendo, para além do caso ideal, outros casos possíveis. Uma abordagem empírica do conhecimento tem de explicar não só o caso ideal (normativo), mas também os casos não-ideais em que os critérios normativos não são satisfeitos (Quadro 2).
Assim é compreensível que o estudo empírico do conhecimento não poderá invalidar as definições formais do conhecimento, desde que estas se perspectivem como propriamente normativas. A existência de processos cognitivos em sujeitos reais que se desviem do caso ideal não tornam esse caso inválido porque ele não pretende ser uma descrição daquilo que acontece realmente. O problema é que este passo é considerado suspeito, porque as críticas à epistemologia tradicional parecem implicar o colapso da dicotomia entre normativo e descritivo. Neste ponto acrescentaremos apenas que este colapso da dicotomia fundamental entre os dois domínios não implica que não possa haver uma distinção entre normativo e descritivo, mas este ponto será elaborado adiante.
Ainda assim não basta perspectivar o conhecimento tal como é definido ao nível da filosofia como normativo e partir para o trabalho empírico. O nível a que a filosofia trabalha é explicitamente proposicional, referindo-se portanto ao conhecimento teórico, e caracteriza-se por um elevado grau de formalização (especialmente patente após os avanços em lógica simbólica do início do século XX). Ora é obviamente necessário que este nível seja explicado por uma teoria empírica do conhecimento adequada, mas não há qualquer tipo de necessidade que determine que este tenha de ser o ponto de partida do estudo na direcção dessa teoria. E de facto parece-nos intuitivamente mais plausível que uma teoria empírica adequada surja a partir de considerações acerca de
O Enigma de Wittgenstein 13
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Quadro 2Resultados da satisfação ou não dos critérios normativos da definição de conhecimento
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
como é que, filo e ontogeneticamente, organismos pré-cognitivos se tornam cognitivos e, depois desse passo, tornam os seus processos de conhecimento cada vez mais formalizados, chegando a sistemas formais altamente abstractos. Mas isto não implica que não possa ser feita alguma engenharia invertida sobre esses sistemas abstractos mais ou menos acabados que existem actualmente na tentativa de os perceber. A questão não se põe como uma escolha entre uma perspectiva naturalizada que implica um relativismo epistemológico e uma perspectiva normativa desligada da realidade psicológica – o que é necessário numa teoria empírica do conhecimento é precisamente uma perspectiva naturalizada que forneça substância à normatividade formal.
2.1.2.2. Confusões em filosofia da ciência
O positivismo lógico em filosofia da ciência foi alvo de inúmeras críticas que o tornaram inviável como proposta epistemológica. A crítica de Popper (1934) à possibilidade de suporte indutivo das teorias, a crítica de Quine (1951, cit. in Murphy, 1990) à distinção entre proposições analíticas e sintéticas e a sua defesa do holismo semântico das teorias (a tese Duhem-Quine – Watkins, 1984) e a proposta de Kuhn (1970) relativa à estrutura do empreendimento científico e à natureza dos termos observacionais, entre outras críticas, tornaram a defesa do positivismo lógico um caso perdido (Echeverría, 1999). O que aconteceu então do ponto de vista da dinâmica do empreendimento científico em geral, na segunda metade do século XX, foi a flexibilização dos padrões normativos da filosofia da ciência e não a rigidificação dos padrões de funcionamento em termos de rigor conceptual das disciplinas científicas. A imagem de marca desta viragem no domínio específico da filosofia da ciência foi a obra The Structure of Scientific Revolutions de Thomas Kuhn (1970) – as restantes objecções levantadas ao positivismo lógico são de carácter mais geral. Considera-se normalmente que esta obra marca o início de uma consciência historicista em filosofia da ciência, que se traduz na ideia de que a filosofia da ciência, considerada tradicionalmente como uma disciplina essencialmente normativa, se presta a abordagens empíricas. De facto desde os anos 70, marcados por filósofos da ciência historicistas (como Kuhn, Lakatos, Feyerabend e Laudan) e pela emergência da chamada sociologia do conhecimento científico, que falar de filosofia da ciência implica falar de estudos sociais da ciência, falando-se por vezes deste fenómeno como uma viragem sociológica no conhecimento sobre a ciência (Echeverría, 1999). Um
exemplo desta tendência é o programa forte em sociologia do conhecimento científico que defende que “o sociólogo ocupa-se do conhecimento, o conhecimento científico incluído, simplesmente como um fenómeno natural [...] em lugar de o definir com uma crença verdadeira – ou talvez como uma crença verdadeira e justificada –, para o sociólogo é conhecimento qualquer coisa que o conjunto das pessoas considere como conhecimento” (Bloor, cit. in Echeverría, 1999, p. 268). Assim se Quine propôs naturalizar a epistemologia de “baixo para cima”, i.e., a partir das ciências naturais, esta perspectiva propõe naturalizá-la (embora talvez um termo mais adequado fosse “socializá-la”) de “cima para baixo”, i.e., partindo das ciências sociais.
Um projecto deste género debate-se com o mesmo tipo de problemas que levantámos em relação ao projecto de naturalização da epistemologia em geral – tem de lidar com a confusão entre os domínios normativo e descritivo do conhecimento. Como referimos, o trabalho de Kuhn adquiriu um estatuto (ironicamente) paradigmático desta perspectiva ao salientar a necessidade de um olhar histórico na compreensão do conhecimento científico. No entanto, Fuller (2003) salienta o sincretismo da sensibilidade histórica de Kuhn, na medida em que ele combina diferentes aspectos de vários períodos da história das ciências “como se eles tivessem estado sempre presentes” (p. 147) quando na verdade estes se excluíram sociologicamente uns aos outros, não existindo nenhum episódio histórico integrado e alargado que exemplifique o modelo completo de Kuhn. Este sincretismo foi utilizado também na tradução de Kuhn do problema filosófico da racionalidade na ciência. Em termos históricos a dicotomia racional-irracional assumiu no Iluminismo a forma crítica-tradição e no Positivismo a forma método-desordem. No modelo kuhniano a dicotomia racional-irracional é substituída por ciência normal-ciência revolucionária, categorias onde as formas Iluminista e Positivista desta questão são cruzadas (quadros 3 e 4).
O Enigma de Wittgenstein 14
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Quadro 3A filosofia da ciência antes de Kuhn (reproduzido de Fuller, 2003, p. 149)
Esta estratégia “neutralizou a linguagem carregada de normatividade na qual as versões Iluminista e Positivista de racionalidade haviam sido moldadas.” (Fuller, 2003, p. 148). Esta perda de normatividade da filosofia da ciência foi particularmente bem recebida no domínio das ciências sociais, incluindo a psicologia, e em campos “pseudo-científicos”, pois permitia uma melhoria do estatuto epistémico dessas disciplinas. Deste modo, tal como na epistemologia em geral, também em filosofia da ciência assistimos ao colapso da dicotomia normativo-descritivo, expresso essencialmente no processo de redefinir o normativo em termos descritivos.
2.1.2.3. Confusões em psicologia
Como vimos, o behaviorismo radical, quando levado ao extremo das suas consequências lógicas, vem por em causa a relevância da epistemologia como disciplina filosófica autónoma, fazendo assim desmoronar a dicotomia normativo-descritivo. De facto a proposta da naturalização da epistemologia reduz o problema do conhecimento ao lado descritivo da dicotomia: a epistemologia tem de ser explicada e logo não pode ter um papel normativo. A chamada revolução cognitiva é normalmente perspectivada como uma mudança de paradigma em psicologia que marca o fim do domínio behaviorista e o início do domínio cognitivista e o seu grande troféu é a reintrodução da mente na psicologia, feita de forma cientificamente respeitável. No entanto, como procuraremos demonstrar, a principal justificação para chamar a este acontecimento uma revolução é essencialmente retórica. O que acontece no cognitivismo é o retomar de alguns aspectos da psicologia neobehaviorista (numa espécie de síntese entre Hull e Tolman) alicerçado nas inovações conceptuais da cibernética, mas que dá continuidade (se não em princípio pelo menos na prática) ao projecto de naturalização da epistemologia iniciado pelo behaviorismo radical (o que não deve ser confundido com dar continuidade ao próprio behaviorismo radical – de facto, o papel fundador para o cognitivismo da recensão cáustica que Chomsky fez do livro “Verbal Behavior” de Skinner mostra bem que o behaviorismo
radical é o inimigo a abater) . Assim, pondo entre parêntesis aquilo que no cognitivismo advém da perspectiva cibernética, a expressão “revolução cognitiva” parece referir-se, paradoxalmente, a um movimento essencialmente conservador. De facto, se há algo que podemos denominar de revolucionário foi a emergência da cibernética, mas essa, como veremos adiante, talvez seja uma revolução que ainda estamos a tentar compreender. Assim, pode parecer estranho o ataque ao behaviorismo de que resulta a revolução cognitiva, dado que na prática esta veio estabelecer linhas de continuidade com vários aspectos das perspectivas behavioristas. Em psicologia normalmente retrata-se esta revolução como a salvação de um nível de estudo propriamente psicológico perante a ameaça de redução comportamental – mas o comportamento era já considerado um nível de análise autónomo e como tal passível de legitimar uma disciplina científica autónoma. A motivação da revolução cognitiva, encarada como a emergência do cognitivismo em psicologia, encontra-se fora da psicologia, na filosofia da mente. Aliás, a afirmação desta como domínio de pleno direito está ligada precisamente à revolução cognitiva. O objectivo da filosofia da mente era salvar a psicologia popular (folk phychology), i.e., a forma como os seres humanos interpretam e explicam quotidianamente acções e crenças, suas e dos outros, em termos de razões determinadas por estados mentais dotados de conteúdo semântico. Ora o behaviorismo é eliminativista em relação a explicações da psicologia popular pois, se o comportamento é causado por condicionamentos, essas explicações são apenas resultados secundários sem qualquer poder causal. A filosofia da mente pretende legitimar este tipo de explicação popular fornecendo-lhe uma fundação naturalista e materialista, mas volta a reencontrar os problemas da dicotomia normativo-descritivo. A explicação de comportamentos em termos de razões “pressupõe e revela a racionalidade de agentes individuais, e possui portanto um componente normativo. «Naturalizar» este tipo de explicação requer alicerçá-la num contexto físico no qual as explicações fundamentais são explicações em termos de causas.” (Dupuy, 1994, p. 13, t.l.). A solução para conciliar este problema foi o recurso a um nível intermédio, o nível computacional, que une o nível interpretativo da compreensão, onde damos significado às acções e crenças através de razões, e o nível neurofisiológico, onde essas acções e crenças são causadas, através do híbrido normativo-descritivo 'causas mentais' (Dupuy, 1994).
Debrucemo-nos agora sobre a Teor ia Computacional da Mente (TCM) para esclarecer a
O Enigma de Wittgenstein 15
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Quadro 4A filosofia da ciência depois de Kuhn (reproduzido de Fuller, 2003, p. 149)
natureza deste nível intermédio.
A TCM, segundo Bem e de Jong (1997), tem três origens principais: (1) a revolução cognitiva em psicologia, que reintroduziu a noção de processos mentais internos como causas do comportamento observado, (2) a semelhança entre os problemas da filosofia da mente e as questões tradicionais da filosofia da linguagem e (3) o aparecimento dos computadores e da Inteligência Artificial (IA), que sustentavam a ideia de que pensar é manipular símbolos e portanto o computador é um meio elegível para o estudo do pensamento. Comecemos pelo último destes pontos que é aquele que sustenta os dois anteriores.
Inteligência Artificial. O argumento fundamental da TCM é que pensar é processar informação, ou seja, manipular símbolos. Esta ideia tornou-se aceitável a partir do momento em que os avanços em IA permitiram construir um sistema físico de símbolos (physical symbol system) que, programado correctamente, produzia comportamento que, se observado num ser humano, consideraríamos inteligente.
Os princípios de funcionamento de um computador baseiam-se na lógica formal e instanciam procedimentos lógicos automatizados: a álgebra Booleana constitui uma formalização das regras da lógica em que as variáveis apenas podem assumir valores binários (0 ou 1), interpretados, no caso do cálculo proposicional, como o valor de verdade da proposição (0 = falso e 1 = verdadeiro) (Weisstein, S/D); estas regras são instanciadas em mecanismos que possam alternar entre dois estados físicos (virtualmente) discretos que representam os valores binários da álgebra Booleana de forma a respeitar essas regras (esta ideia foi avançada por Shannon em 1938 – Gardner, 1985; Weisstein, S/D). Consequentemente uma máquina construída desta forma é uma implementação de uma máquina universal de Turing, i.e., uma máquina que pode, em princípio, computar qualquer função computável (Barker-Plummer, 2005; Bem & de Jong, 1997).
A hipótese do sistema físico de símbolos de Newell e Simon parte do pressuposto de que “um sistema físico de símbolos tem os meios necessários e suficientes para acção inteligente geral” (Newell & Simon, 1976, cit. in Simon, 1996, p. 161) e propõe que (1) um sistema deste género pode ser programado de modo a comportar-se de forma inteligente e (2) que os seres humanos são inteligentes pelo facto de serem sistemas deste tipo, pelo que o seu comportamento
inteligente deve ser explicado em termos de símbolos e de processamento simbólico (Simon, 1996). A mesma ideia foi expressa por Putnam (1981) numa fase da sua carreira, embora ele tenha vindo a rejeitá-la.
Da hipótese do sistema físico de símbolos decorre a ideia fundamental da concepção forte da IA, a ideia de que a cognição7 é computação (Phylyshyn, 1984), e portanto que os programas que simulam o pensamento humano pensam – por oposição à concepção fraca da IA que apenas pretende produzir programas cujos resultados sejam idênticos aos de uma acção inteligente (Bem & de Jong, 1997).
Filosofia da linguagem e a Revolução cognitiva. A existência de computadores digitais capazes de comportamentos inteligentes e estruturalmente determinados pelos cânones da lógica veio coroar (e ao mesmo tempo salvar) a tradição analítica de Frege, Russell e do primeiro Wittgenstein em filosofia da linguagem. Os principais interesses destes autores (i.e., intencionalidade, referência, significado, conteúdo mental proposicional) podem ser agrupados sobre o título de representação mental, e a abordagem desta questão pretendia transcender os problemas das linguagens naturais (polissemia, ambiguidade, contradição, etc.) pelo recurso a uma linguagem formal – algo como a ideografia (begriƒƒsschriƒt) de Frege (Imbert, Zaslawsky, Jacques, Armendaud, Granger, Devaus, & Sebestik, S/D). De facto tendo sido demonstrado que a estrutura formal da linguagem (tal como era concebida pela filosofia analítica da linguagem) era mecanicamente realizável a nível da estrutura interna dos computadores, esta tornou-se um modelo plausível da mente na TCM (Bem & de Jong, 1997).
Um dos principais propulsionadores desta perspectiva foi Jerry Fodor, e o seu livro “The Language of Thought” (Fodor, 1975) pode ser visto quase como um manifesto cognitivista. O ponto de partida de Fodor é a posição funcionalista de Putnam (na linha da concepção forte em IA, que este autor veio mais tarde a rejeitar) que defende que os sujeitos psicológicos são máquinas de Turing, e que os seus estados psicológicos são estados de máquinas de Turing (Putnam, 1981). A transição entre estes estados faz-se, numa máquina de Turing, via computação e assim a computação é considerada verdadeiro funcionamento psicológico, como vimos na secção relativa à IA. No caso da psicologia, Fodor argumenta que esta posição permite conciliar uma perspectiva materialista com um nível de explicação científico propriamente psicológico (Fodor, 1968). Esta perspectiva pretende libertar o nível
O Enigma de Wittgenstein 16
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
psicológico dos dois tipos de reducionismo de que é refém: o behaviorismo lógico (que pretende reduzir eventos mentais a eventos comportamentais) e o reducionismo fisiológico (que pretende reduzir o psicológico ao neurológico).
Por “behaviorismo”, Fodor entende qualquer perspectiva que considere que para cada predicado mental que pode ser empregue numa explicação psicológica, tem de haver pelo menos uma descrição de comportamento com a qual aquele estabelece uma ligação lógica. Esta ligação ao comportamento é necessária para que a explicação possua um carácter causal; se essa ligação não se verificar então a relação pode ser apenas conceptual, e portanto desprovida de força causal. O behaviorismo lógico acusa os mentalistas de utilizar relações conceptuais como se fossem relações causais. Fodor defende a posição cognitivista afirmando que o behaviorismo lógico não apresenta argumentos convincentes para dissuadir o mentalista.
Relativamente ao reducionismo fisiológico, Fodor diferencia a tese da generalidade da física, i.e., a posição de que as leis físicas se mantêm para todos os níveis de explicação científica e que as leis das ciências especiais se obtêm dentro das possibilidades da física, da tese da unidade da ciência. Nas suas palavras “[o] propósito da redução não é encontrar algum predicado de termos naturais da física que seja coextensivo com cada predicado de uma ciência especial. É, em vez disso, explicar os mecanismos físicos mediante os quais os eventos obedecem às leis das ciências especiais” (Fodor, 1975, p. 19, t.l.). Assim na redução inter-teórica da psicologia é necessário diferenciar a identidade de tipo (type) e de token. A identidade de tipo é a identidade no sentido reducionista forte do tipo 'água é H2O' – podemos dizer que é identidade estrutural, e a relação é de um-para-um. A identidade de token é uma identidade funcional, podendo por isso ser realizada de múltiplas formas. É o tipo de identidade que permite que possamos dizer que quer um cheque, quer uma nota são dinheiro. Assim no caso dos fenómenos mentais estamos perante identidades de token, em que um evento psicológico pode ser realizado de várias formas a nível do funcionamento do sistema nervoso, mas manter, apesar disso, a sua identidade como um evento psicológico de tipo X. Este tipo de identidade, ao contrário da identidade de tipo, estabelece uma relação de um-(token)-para-muitos-(instanciações possíveis). Assim o funcionamento psicológico tem um nível de descrição relevante em termos mentais (funcionais), pois a sua instanciação a nível neurofisiológico dota-os de poderes causais
(Fodor, 1975).
Esclarecidas as condições de possibilidade de uma teoria cognitiva da mente, Fodor prossegue para a descrição desse sistema. Se os processos cognitivos são computações simbólicas então a mente necessita de um sistema representacional simbólico sobre o qual são efectuadas as computações. Do ponto de vista cognitivista o complexo S-R é representacional. O estímulo é representado pelo sistema cognitivo, processado e daí emerge a representação de uma resposta que o sistema implementa. Ora a representação implica um meio de representação. Esta representação é simbólica e a simbolização implica a existência de símbolos. Daqui decorre que uma representação (simbólica) interna implica uma linguagem interna. Esta necessidade torna-se clara na análise de Fodor da aprendizagem de uma linguagem natural:
“Aprender uma l inguagem ( incluindo, obviamente, uma primeira linguagem) envolve aprender o que significam os predicados dessa linguagem. Aprender o que os predicados de uma linguagem significam envolve aprender a determinação da extensão desses predicados. Aprender a determinar a extensão dos predicados envolve aprender que eles obedecem a certas regras (e.g., regras de verdade). Mas não podemos aprender que P obedece a R se não tivermos uma linguagem em que P e R possam ser representados. Então não podemos aprender uma linguagem a não ser que já tenhamos uma linguagem. Em particular, não podemos aprender uma primeira linguagem a não ser que já tenhamos um sistema capaz de representar predicados dessa linguagem e as suas extensões. E, para evitar a circularidade, esse sistema não pode ser a linguagem que está a ser aprendida. Mas as primeiras linguagens são aprendidas. Então, pelo menos algumas operações cognitivas são levadas a cabo em linguagens que não as linguagens naturais.” (Fodor, 1975, pp. 63-64, t.l.).
Assim é necessário que o sistema cognitivo possua uma linguagem do pensamento (LoT), i.e., um sistema representacional capaz de representar os predicados das linguagens naturais e as suas extensões. Esta LoT tem de ser inata, pois como vimos não pode haver aprendizagem sem ela. Neste ponto, Fodor dá-nos razões para parafrasear o seu inimigo Wittgenstein: os limites da minha linguagem (do pensamento) significam os limites do meu mundo (psicológico). Assim, tal como não podemos derivar um sistema lógico mais poderoso de um sistema lógico menos poderoso (estes são expressos em linguagens formais), também não podemos ter um sistema conceptual mais
O Enigma de Wittgenstein 17
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
poderoso que a LoT com que supostamente nascemos. Esta perspectiva mina o empirismo, pois retira-lhe a legitimidade da sugestão que os nossos sistemas conceptuais são adquiridos por associação de sensações e mina também as teorias de estádios da psicologia do desenvolvimento cognitivo pela introdução da distinção entre competência (capacidade intrínseca do sistema cognitivo) e performance (utilização prática dessa capacidade). Assim o facto de uma criança parecer não possuir um sistema conceptual é ilusório – a criança possui a capacidade, mas ainda não é capaz de a actualizar na performance devido a questões como a falta de recursos cognitivos (entendidos do mesmo modo que na informática, como quantidade de memória disponível, acessibilidade do processador central, etc.).
A conceptualização da LoT é a de uma linguagem formal, no sentido referido quando abordámos a influência da filosofia analítica da linguagem na TCM: compreender um predicado é determinar a sua extensão, i.e., determinar a sua referência, i.e., determinar as suas condições de verdade (condições sob o qual é considerado verdadeiro). Ora tudo isto são aspectos importantes numa linguagem formal, porque as linguagens formais são precisamente linguagens artificiais construídas para evitar a ambiguidade das linguagens naturais. Nesse sentido têm um propósito bastante diferente das linguagens naturais, cujas funções excedem a função puramente denotativa das linguagens formais. Numa linguagem formal, a semântica reduz-se à sintaxe, pois se os elementos de um predicado formal (a sua sintaxe) estão organizados da mesma forma que a realidade, o caracter denotativo desse predicado linguagem obtém-se – o que falta dizer nesta história é que essa propriedade semântica só emerge quando a congruência sintática do predicado é interpretada. A sintaxe só pode garantir a manutenção do significado e daí que a propriedade central de uma linguagem formal seja a validade, i.e., dada uma operação possível numa linguagem formal válida, as suas conclusões serão verdadeiras se as premissas também o forem. Porém, a máxima cognitivista é a seguinte: se tratarmos da sintaxe, a semântica trata dela própria (Haugeland, 1981). E assim torna-se claro como os tokens mentais cognitivistas são híbridos normativos-descritivos: o seu lado sintático, que é instanciado neurofisiologicamente, opera causalmente e o seu lado (putativamente) semântico funciona normativamente.
No entanto, apesar destes problemas, o cognitivismo foi recebido teoricamente como a reconciliação do materialismo com o mentalismo e
aplaudido por isso. Assim, virtualmente qualquer teoria que apelasse a estados internos na sua explicação do psicológico aproveitou a boleia rebaptizando-se de “teoria X” para “teoria cognitiva X”.
Estas preocupações podem parecer quase esotéricas quando saímos do domínio da ciência fundamental e passamos para o domínio da ciência aplicada. Aí a tradição de investigação, submersa em pressões pragmáticas, valoriza mais o sucesso prático do que o progresso teórico. Isto não seria problemático se os resultados desse tipo de estudos não fossem interpretados linearmente como teoricamente relevantes. Por exemplo, um teste clássico de inteligência pode ser um instrumento de trabalho bastante útil, mas é suspeito que os resultados obtidos a partir da sua aplicação sejam uma fonte de informação essencial para a elaboração de uma teoria fundamental da inteligência. Este tipo de instrumentos (de inspiração psicométrica) diz-nos o que já sabemos: por exemplo, que uma criança que têm bons resultados em tarefas de multiplicação terá muito provavelmente bons resultados em tarefas de adição. O que acontece é que o instrumento é construído à partida com um objectivo pragmático, para o qual pode ser mais ou menos adequado, mas a sua relevância teórica é sempre relativa. Pense-se no objectivo do teste de inteligência de Binet que não foi estudar a inteligência, mas, a pedido do Ministério de Instrução Francês, diferenciar crianças “normais” de crianças “atrasadas” (Braunstein & Pewzner, 1999). De facto há técnicas metodológicas de construção de questionários que permitem optimizar a discriminação inter-individual, mas os limites em que um instrumento discrimina indivíduos são os limites da teoria implícita ou explícita que esteve na base da construção desse instrumento e como tal não traz nada de novo à teoria. Para discriminar crianças “normais” de crianças “atrasadas” é necessário que se possuam, à partida, os critérios para a determinação do que conta como “normal” e “atrasado”. Partindo daí, o teste pode ser um excelente instrumento para diferenciar uns de outros, mas nada mais nos diz acerca do que é pertencer a um grupo ou ao outro do que aquilo que já sabíamos, senão em termos operacionais: se inteligência é o que o teste mede, então ser inteligente é ter um resultado elevado num teste de inteligência – a circularidade é evidente e perniciosa. Para além disso, o teste funciona adequadamente no contexto do seu objectivo pragmático de discriminar entre indivíduos precisamente por não haver preocupações teóricas acerca da inteligência – o significado real dos resultados do teste, i.e., aquilo que ele de facto mede, será algo do tipo “uma amostra dos resultados escolares do indivíduo”.
O Enigma de Wittgenstein 18
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
O que acontece em investigações não experimentais (ou quase-experimentais) em que há interpretação teórica deste tipo de instrumentos é que se confunde “engenharia de instrumentos” com “metodologia científica” – e esta crítica é extensível ao cognitivismo se substituirmos a primeira por “engenharia da computação”. Isto não quer dizer que instrumentos psicométricos sejam irrelevantes para a teoria psicológica, mas, como dissemos acima, que os resultados decorrentes deles não são linearmente relevantes para a teoria. Construir e aplicar um questionário, submeter os resultados a um procedimento de análise factorial e apresentar a solução factorial encontrada como uma estrutura psicológica é dizer que, reformulando a máxima de Binet, a teoria é aquilo que os dados nos dizem. Ora este passo é suspeito porque caímos no indutivismo que, se tomado como perspectiva exclusiva em ciência, é problemático, pois a partir de um conjunto de dados podemos, por indução, inferir um número infinito de leis, o que implica a impossibilidade de explicação (Harré, 1984). “Neste género de ciência, a teoria de que se dispõe é tomada apenas no sentido de expediente abstracto de cálculo capaz de fornecer previsões, mas não no sentido de explicação dos fenómenos (...)” (Harré, 1984, p. 61). Esta tradição de investigação retoma o behaviorismo metodológico de Hull. Actualmente essa tradição de realização de estudos entre-grupos com recurso à estatística inferencial para extrair conclusões domina a investigação não experimental em psicologia. Depois do colapso do positivismo lógico, abandonou-se o termo “behaviorismo” mas manteve-se o “metodológico” – a agravante é que no behaviorismo metodológico sabíamos do que estávamos a falar, mesmo se o campo de estudos estava limitado ao comportamento observável operacionalizado. De facto era essa limitação do campo de estudos que permitia uma relação clara entre variáveis (cuja natureza era conhecida – eram de natureza puramente comportamental) e teoria. Actualmente, por virtude do colapso da dicotomia normativo-descritivo, os limites são mais difusos e como tal a natureza das variáveis psicológicas é relativamente indeterminada.
Apesar da perspectiva cognitivista continuar a ser implícita e explicitamente utilizada como referência teórica em psicologia, os seus críticos têm-se multiplicado. Agrupámos estas vozes críticas em dois grupos: um proveniente da biologia, das neurociências e das perspectivas conexionistas em ciência cognitiva e o outro proveniente das ciências sociais e humanas. O primeiro grupo argumenta essencialmente contra a plausibilidade biológica do cognitivismo. Nas versões
mais radicais o argumento advoga o eliminativismo redutivo que sugere que a linguagem psicológica será abandonada quando tivermos teorias biológicas suficientemente desenvolvidas para explicar o comportamento. O segundo grupo argumenta contra a insensibilidade social do cognitivismo. As perspectivas extremas desta orientação serão posições radicais da psicologia discursiva e do construtivismo social, que sugerem que tudo aquilo que é relevante para a psicologia é construído socialmente e apenas existe no discurso.
Na verdade, exceptuando as posições radicais, os dois ângulos de crítica ao cognitivismo são bastante complementares e autores de cada um dos grupos transmitem este facto (e.g. Maturana e Varela, 1992, do lado da biologia; Harré e Gillett, 1994, do lado da psicologia discursiva). Existe em ambos um compromisso ontológico com o construtivismo.
A perspectiva construtivista pode ser descrita no geral como a ideia de que o conhecimento é uma construção subjectiva do sujeito a partir das suas experiências. Como tal, o objectivo fundamental do conhecimento não é representar a realidade – acreditar nisso, segundo os construtivistas, é cair na armadilha objectivista –, pois o conhecimento é constitutivo do mundo experiencial do sujeito (von Glasersfeld, 1995). Esta consideração parte do reconhecimento da circularidade fundamental conhecedor-conhecido – Varela (S/D) refere-se a perspectivas que integram esta cirularidade como enactivas. Ora isto é problemático porque colapsa num só nível a ontologia e a epistemologia (o que pode ser encarado como o levar ao extremo das consequências lógicas do projecto de naturalização da epistemologia que elimina absolutamente o normativo). O nosso argumento aqui será apenas a prudência e a recomendação de, antes de deitar fora a água do banho, verificar atentamente se o bebé não é deitado fora junto com ela. O facto da epistemologia ser redutível à ontologia pode ser verdade, mas de qualquer modo faz parte da ontologia do conhecimento a possibilidade deste estar errado. O demónio Laplaciano (que conhece todo o universo incluindo o passado e o futuro) poderia dizer dos nossos conhecimentos certos e errados que são apenas eventos determinados num universo determinista e por isso a sua classificação como certos ou errados é irrelevante, pois é também ela apenas mais um evento determinado. Mas nós, agentes cognitivos limitados, talvez não nos devêssemos dar a esse luxo.
De um ponto de vista menos extremo Harré e Gillett (1994), na sua defesa da psicologia discursiva
O Enigma de Wittgenstein 19
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
(por vezes identificada como a alternativa que provavelmente sucederá ao cognitivismo; Potter, 2000), salientam o carácter duplo do objecto de estudo da psicologia e os dois tipos de ontologia que implica:“Os seres humanos vivem em dois mundos. Um mundo é essencialmente de carácter discursivo; isto é, é um mundo de signos e símbolos sujeito a constrangimentos normativos. Emerge através da acção intencional. Esse é o mundo que consideramos como o objecto de estudo próprio da psicologia como ciência. (...) O outro mundo em que vivemos, o mundo físico ou material, é estruturado por processos causais. A nossa linguagem é o nosso principal meio para nos gerirmos no mundo de símbolos, e as nossas mãos e cérebros encontram-se no mundo material.” (Harré & Gillett, 1994, pp. 99-100, t.l.).
Os dois mundos de Harré e Gillett correspondem a duas ontologias, conforme o quadro 5.
Nesta concepção, que segundo os autores resulta da 2ª revolução cognitiva, o mundo simbólico não pode ser reduzido ao material nem implica um dualismo de tipo Cartesiano. O mundo simbólico é superveniente ao mundo físico. A relação de superveniência é uma alternativa à relação de identidade, que implica redução inter-teórica e é portanto uma doutrina sintática acerca da estrutura das teorias. A superveniência é, em vez disso, uma doutrina semântica acerca da natureza dos objectos aos quais as teorias se aplicam e que pode ser definida do seguinte modo: um domínio A é superveniente em relação a um segundo domínio B se e só se qualquer mudança em A requiser uma mudança em B (Seager, 2001). Assim não poderia haver linguagem sem a actividade cerebral, mas a linguagem têm propriedades normativas que os estados cerebrais não têm – estes não podem estar certos nem errados, apenas são (Harré & Gillett, 1994). Os problemas que surgem desta perspectiva são dois. Primeiro ela mantém o veredicto de Wittgenstein relativo à dissociação necessária entre ciência e psicologia. Segundo, a relação de superveniência é relativamente opaca (i.e., não se presta a clarificação de modo a permitir ver o modo pelo qual os processos
psicológicos são de facto supervenientes em relação aos processos físicos) e assim a emergência do nível do discurso fica por explicar. A superveniência convida a indulgência (Seager, 2001).
No geral, a crítica construtivista do cognitivismo pode ser resumida à proposta de substituição do modelo cognitivista da mente como linguagem formal pelo modelo da mente como linguagem natural.
2.2. O problema do desenvolvimento
A t é a q u i p r o c u r á m o s d e n u n c i a r o s pseudoproblemas que surgem em psicologia devido à indefinição seu objecto de estudo. De seguida iremos voltar-nos para um ramo da psicologia onde a questão central deste trabalho é inevitável: a psicologia do desenvolvimento. De facto, a psicologia do desenvolvimento tem de explicar como é que o psicológico surge a partir do não psicológico.
A tendência geral da maior parte da investigação em psicologia do desenvolvimento não difere do que se passa na psicologia em geral. Na verdade, a maioria das investigações “desenvolvimentais” são estudos de comparação entre-grupos cuja única peculiaridade é o facto destes grupos consistirem (aproximadamente) dos mesmos sujeitos em mais do que um momento d e s e n v o l v i m e n t a l . A a d e s ã o a e s t e “desenvolvimentalismo metodológico” desvirtua qualquer concepção propriamente desenvolvimental, mas é, no entanto, garante de publicação das investigações (Valsiner, 2004), o que é compreensível dado que este tipo de investigação parte de concepções saídas da psicologia geral.
No entanto, a relativa autonomia de que a psicologia do desenvolvimento goza dentro da psicologia permitiu-lhe algum espaço de manobra teórico de modo a pensar os seus próprios problemas, de forma mais ou menos alheia ao que se passava na psicologia em geral. As suas raízes são distintas das da psicologia geral. Cairns (1998) identifica-as na embriologia (que deu origem ao princípio d e s e n v o l v i m e n t a l , q u e d e t e r m i n a q u e o desenvolvimento consiste num processo de diferenciação e organização) e na teoria da evolução (que teve consequências mistas: por um lado o ênfase na evolução filogenética contraria as preocupações desenvolvimentais ontogenéticas, por outro abriu a porta a estudos propriamente desenvolvimentais com animais). Assim, a psicologia do desenvolvimento não se envolveu profundamente na polémica físico-mental
O Enigma de Wittgenstein 20
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Quadro 5As duas ontologias de Harré e Gillett (1994)
que marca a revolução cognitiva (e que, como vimos corresponde a uma agenda filosófica), revolvendo muito mais em torno da polémica biológico-ambiental.
De facto, o objecto de estudo central da psicologia do desenvolvimento não é o comportamento ou a cognição, mas o próprio desenvolvimento e as suas origens biológicas e sociais. Assim, o problema teórico clássico é o nature vs. nurture (natureza vs. educação) quanto à origem dos resultados desenvolvimentais que, com o avanço da genética na explicação dos mecanismos transmissão hereditária, assume a forma genético vs. ambiental. Actualmente, podemos argumentar que o problema não se centra (ou não se devia centrar) na procura do lado “certo” da dicotomia mas, parafraseando o título do artigo de Anastasi (1958, cit. in Bronfenbrenner & Ceci, 1994), a questão é como é que hereditariedade e ambiente interagem para dar origem aos resultados desenvolvimentais obtidos. O paradigma tradicional de investigação desta questão é a genética comportamental, que procura estabelecer a p r o p o r ç ã o d a v a r i â n c i a d o s r e s u l t a d o s desenvolvimentais que é, respectivamente, atribuível à hereditariedade e ao ambiente, donde resultam coeficientes de hereditabilidade que exprimem a proporção da variação fenotípica total atribuível a variação genética (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Esta perspectiva assume a independência das contribuições hereditária e ambiental ou, pelo menos, cede ao imperativo metodológico da análise de variância que implica a concepção da independência desses resultados (Wachs & Plomin, 1991). De qualquer m o d o , u m a p e r s p e c t i v a p r o p r i a m e n t e desenvolvimental deve atender ao alerta de Anastasi e, mais do que descrever quanto cabe a cada lado da dicotomia, explicar como é que os dois lados desta i n t e r a g e m n a p r o d u ç ã o d e r e s u l t a d o s desenvolvimentais.
De facto, tem sido esta a tendência de vários a u t o r e s : e s t a b e l e c e r a l e g i t i m i d a d e d o desenvolvimento contra perspect ivas que sobrevalorizam o lado natural da controvérsia. Este esforço levou à emergência daquilo que tem vindo a ser considerado a teoria dos sistemas desenvolvimentais (Lerner, 2002). Esta perspectiva actua em várias frentes, algumas das quais referiremos a título de exemplo. Bronfenbrenner (1979), numa fase inicial da sua teoria, avança um modelo ecológico onde elabora a estrutura do ambiente, propondo vários níveis ambientais que possuem propriedades sistémicas (microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema) e que influenciam o desenvolvimento. Posteriormente, complementa o modelo original, passando a chamar-lhe bioecológico, e definindo-o
pela consideração, no desenvolvimento, de quatro aspectos: Pessoa-Processo-Contexto-Tempo (PPCT) (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Gottlieb postula, na sua perspectiva epigenética probabilística, a actuação de uma causalidade relacional entre os níveis genético, neuronal, comportamental e ambiental (Gottlieb, Wahlsten, & Lickliter, 1998). Sameroff avança com uma estratégia de simetrização da dicotomia biológico-ambiental ao propôr conceitos como o contínuo de morbilidade de prestação de cuidados (caretaking casua l ty) e mesót ipo que cor respondem, respectivamente, às versões ambientais do contínuo de morbilidade reprodutiva (reproductive casualty) e do genótipo, sendo o desenvolvimento, nesta perspectiva, o resultado das transacções que se estabelecem ao longo do tempo entre os dois domínios (Sameroff, 1981; Sameroff & Fiese, 1990). Se ignorarmos as peculiaridades de cada modelo torna-se claro que todos eles obedecem a uma intuição básica, nomeadamente, de que o desenvolvimento é o resultado da interacção entre características biológicas e características ambientais (físicas e sociais), interacção essa que não pode ser reduzida à adição dos efeitos independentes de umas e de outras e que possui uma extensão temporal.O desenvolvimento destes modelos teóricos tem sido acompanhado (se não rebocado) por considerações metodológicas que procuram suprir as insuficiências daquilo que chamámos desenvolvimentalismo metodológico e dos paradigmas naturalistas como a genética comportamental. Assim metodologicamente salienta-se a ênfase em estudos longitudinais centrados nos processos, i.e., nas interacções entre influências no desenvolvimento (Wachs, 2000; Wachs & Plomin, 1991).
Assim, tal como a psicologia geral tem evoluído sem prestar grande atenção à psicologia do desenvolvimento (no sentido de teoria dos sistemas desenvolvimentais), também se tem verificado o i n v e r s o . O p s i c o l ó g i c o é p e n s a d o s e m desenvolvimento, e o desenvolvimento é pensado um pouco à parte do psicológico. Este, do nosso ponto de vista, é um problema real e não um pseudoproblema e será abordado na secção final deste trabalho.
3. Resolvendo o Enigma?
3.1. Esclarecer a distinção normativo-descritivo
A dificuldade inerente à dicotomia normativo-descritivo decorre do facto da psicologia ser a ciência cujo objecto de estudo é o próprio sujeito do conhecimento. E esta circularidade não é acidental,
O Enigma de Wittgenstein 21
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
pelo contrário pode ser considerada como uma necessidade epistemológica. Na investigação em ciência cognitiva em geral, esta circularidade não é tida em conta, apenas se consideram, por um lado, estruturas cognitivas e/ou biológicas e, por outro, comportamentos e experiências, explicados pelas primeiras. Mas modelos deste tipo dependem da própria estrutura cognitiva do cientista, inserida num meio ambiente definido por práticas biológicas, sociais e culturais, sendo nesse contexto que emergem os pensamentos filosóficos do cientista, necessariamente corporalizado, acerca do seu objecto de estudo (Varela, Thompson, & Rosch, 1991). Assim a explicação de um fenómeno psicológico implica uma estrutura psicológica (do cientista), que nesse momento carece de explicação, o que nos leva a um retrocesso explicativo infinito. Deste modo, a dicotomia normativo-descritivo é relevante, não só a nível da divisão do trabalho social entre filosofia e psicologia, mas para a compreensão do próprio objecto da psicologia – um objecto que não está univocamente situado em nenhum dos lados da dicotomia.
Harré (1984) salienta que as “teorias psicológicas”, que descrevem processos psicológicos, “podem tornar-se parte da realidade psicológica” (p. 218), actuando assim como conteúdos que influenciam os processos que pretendem ter descri to exaus t ivamente . Es ta in te rdependência é particularmente clara no âmbito da tradição ecológica em psicologia, o que não é de estranhar, dado que a sua preocupação é o estudo do comportamento e do desenvolvimento em contextos ecológicos naturais. Barker (1968), acerca da estrutura dos ambientes ecológicos, salienta, a título de exemplo, que a observação de todos os detalhes empíricos de um jogo de baseball não revelam o jogo de baseball. “São as regras do jogo, e o arranjo de coisas e pessoas de acordo com as regras, que constituem o ambiente ecológico essencial e unitário dos jogadores.” (p. 9; ênfase nosso, t.l.). O conceito de regra é um conceito normativo, enquanto que o arranjo de coisas e pessoas é um aspecto descritivo. Os dois aspectos mantêm a sua autonomia, i.e., não os podemos identificar ou procurar reduzir o fenómeno total a apenas um dos aspectos, mas estabelecem uma relação de interdependência, pois as regras são apenas instruções formais que servem para dar significado à prática: sem prática as regras são vazias, mas sem regras a prática é desprovida de sentido.
Até agora temos considerado a distinção descritivo-normativo no âmbito epistemológico, i.e., a distinção entre conhecimento de alguma coisa e
processos de garantia da validade do conhecimento. Porém a distinção descritivo-normativo é mais geral do que isso – a sua aplicação na epistemologia é um caso particular.
De um ponto de vista histórico, considera-se normalmente que, de um modo geral, as ciências “descendem” da filosofia (Chaplin & Krawiec, 1979). Neste sentido é interessante notar que as raízes da distinção entre os domínios descritivo e normativo remotam provavelmente à distinção moderna entre filosofia natural e filosofia política e civil (cf., e.g., Hobbes, 1651/1988), devendo a primeira dominar a natureza e as suas leis (no sentido Baconiano de conhecer para prever e controlar – Carrilho, 1994) e a segunda dominar os assuntos humanos, discutindo a distribuição dos bens materiais e os direitos e liberdades d o s i n d i v í d u o s ( Wo l f f , 1 9 9 6 ) . A s s i m , genealogicamente, as ciências naturais descendem da filosofia natural enquanto que domínios como a ética normativa e o direito descendem da filosofia política. A psicologia e as ciências sociais, surgindo mais tarde, já no século XIX, são como uma irmã mais nova, fruto de uma gravidez não planeada, que se vem impor ao sistema familiar, e que, nos primeiros tempos, dorme no quarto dos pais (filosofia) e depois, na ausência de um quarto só para si, vai alternando a sua estadia entre os quartos (já respectivamente mobilados com móveis naturais e políticos) das irmãs mais velhas.
Em sentido lato, podemos atribuir a distinção entre filosofia natural e filosofia política à distinção entre, respectivamente, objectos, cuja natureza deve ser estudada (empreendimento descritivo), e sujeitos, cujo comportamento deve ser regrado (empreendimento normativo). A psicologia (bem como as ciências humanas em geral, e as ciências sociais nalguma medida também) não respeita esta distinção e, como dissemos, é necessário que assim seja.
Assim é compreensível que a ciência psicológica se tenha agrupado historicamente em escolas que se localizam algures entre o descritivo e o normativo.
O Enigma de Wittgenstein 22
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Quadro 6Configuração tradicional das heranças natural e política
Porém a localização das perspectivas teóricas ao longo desta dimensão raramente é explicitada, com a excepção das perspectivas objectivistas radicais (como o behaviorismo radical), e as diferentes escolas elegem objectos de estudo híbridos, em que é pouco claro se estamos a lidar com objectos ou sujeitos. O pólo descritivo é necessariamente o mais atractivo visto ser o mais compatível com os cânones científicos tradicionais e por isso a roupagem do vocabulário da psicologia tende a aproximar-se desses moldes (não é por acaso que não existem perspectivas teóricas estritamente subjectivistas), mas os aspectos normativos continuam implícitos na teoria – e tanto mais quanto mais mentalista for a teoria. Por exemplo, o conceito de auto-conceito é tratado como um objecto, considerando-se mensurável através de instrumentos específicos como questionários, mas, ao mesmo tempo, implica necessariamente um sujeito que faça uma avaliação de si próprio – pode ser postulado um mecanismo intrapsicológico responsável por esta avaliação, mas este homúnculo não deixa de ter as características de um sujeito.
Deste ponto de vista uma teoria descritiva é boa se for verdadeira, i.e., se representar correctamente estados de coisas possíveis8. Uma teoria normativa não é verdadeira nem falsa – a questão do valor de verdade não se põe – porque o propósito da normatividade não é descrever e explicar a realidade, mas prescrever e avaliar acções. Uma teoria normativa prescreve estados de coisas desejáveis dentro de um conjunto de estados de coisas possíveis, o que implica sempre um critério (ou norma) de desejabilidade, ou avalia estados de coisas em função desse critério. Se um protótipo de uma teoria descritiva é um modelo da realidade, um protótipo de uma teoria normativa pode ser um guião ou um livro de instruções, i.e., um modelo do conjunto de acções necessárias para alcançar determinado objectivo.
A cibernética emergiu como uma área de estudo preocupada essencialmente com sistemas de controlo, sistemas que, por virtude da sua organização física, têm comportamentos aparentemente normativos (e.g., braços mecânicos de fábricas com produção automatizada; mísseis inteligentes). Estes sistemas funcionam como se o seu comportamento fosse determinado por razões e não por causas. A nossa forma de pensar a causalidade é o modelo simplista das bolas de bilhar em que uma bola em movimento causa a deslocação de uma outra bola. Porém, um braço mecânico parece demonstrar intencionalidade quando constrói aquilo que seja para o que foi desenhado, mas está a funcionar de forma absolutamente causal, se bem
que a complexidade do sistema físico que dá origem a essa causalidade é de uma ordem de grandeza bastante superior à causalidade das bolhas de bilhar. O que acontece é que destes artefactos podemos dizer sem problemas que tudo está na física, pois conhecemos a sua micro-estrutura e o seu objectivo, dado que fomos nós que os construímos com algum propósito em mente (Varela, 1984).
Assim, o estado actual de coisas não respeita a distinção entre o normativo e o descritivo e a aceitação actual de objectos híbridos normativos-descritivos deve muito da sua legitimidade ao funcionalismo. Este facto decorre da circularidade inerente ao objecto de estudo da psicologia. As perspectivas behavioristas que separavam claramente o normativo e o descritivo e limitavam a psicologia ao domínio descritivo eram incompletas e as suas consequências levaram ao colapso da própria dicotomia que lhes era inerente no behaviorismo radical e ao ressurgimento desta de forma dissimulada no cognitivismo. De facto, se pretendemos compreender o objecto de estudo da psicologia entre o normativo e o descritivo, a dicotomização destes domínios não é a melhor estratégia. No entanto isto não quer dizer que eles devem colapsar num só nível híbrido como existe actualmente. A distinção entre normativo e descritivo é importante e deve ser preservada. Será esta a via que seguiremos no resto deste trabalho ao tentar sugerir uma possível saída para o Enigma de Wittgenstein.
3.2. Autonomia epistemológica da psicologia
Perante os recentes avanços das neurociências, a incapacidade da psicologia em fornecer teorias que unif iquem os fenómenos tradicionalmente considerados psicológicos com o substrato biológico parece constituir uma evidência que apoia o argumento céptico de Wittgenstein, sendo como tal um sinal de morte disciplinar eminente. A expectativa, nesse caso, é que os fenómenos que habitualmente consideramos psicológicos serão exaustivamente explicados a nível da biologia. De facto, a década de 1990 assistiu a um surto de estudos e descobertas a nível da neurobiologia, em parte devido aos novos meios de imagiologia cerebral, ao ponto desta ser considerada a “década do cérebro” (Rennie, 2002). Do nosso ponto de vista, os desenvolvimentos recentes e a sua cobertura mediática apenas vêm reforçar a pressão no sentido da unificação teórica, que os precedia.
A reacção da psicologia a esta pressão têm passado essencialmente pelo conceito de emergência. Galifret
O Enigma de Wittgenstein 23
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
(1999) defende a autonomia da psicologia com base neste conceito. Este autor começa por distinguir entre reducionismo prático e reducionismo filosófico. O primeiro refere-se à tentativa de explicar o complexo a partir de elementos simples conhecidos ou facilmente acessíveis, enquanto que o segundo postula (embora Galifret não utilize este conceito) a Unidade da Ciência no sentido forte. Este tipo de reducionismo filosófico, levado ao extremo das suas consequências lógicas, é considerado pelo autor “evidentemente absurdo”, e embora um reducionismo filosófico local (por exemplo da psicologia à neurofisiologia) possa parecer apelativo, falha em captar o fenómeno, por “querer definir um processo exclusivamente pelo seu modo de produção” (tradução livre de Zazzo, 1975, cit. in Galifret, 1999, p. 25). A alternativa ao reducionismo proposta baseia-se na concepção de Wallon de que “a criança, desde o seu nascimento, é um ser biológico e social” (Galifret, 1999, p. 26), sendo o seu psiquismo o resultado da interacção dos dois aspectos, embora o salto de condições biológicas, sociais e psicológicas para fenómenos psicológicos não seja em nada linear. Neste aspecto a psicologia está a par da antropologia (que procura justificar a sua autonomia em relação à biologia – Kroeber, 1952) e da sociologia (que com Durkheim procura justificar a sua autonomia em relação à psicologia) (Galifret, 1999; Sawyer, 2002).
No entanto, é possível uma perspectiva positiva em relação ao reducionismo interdisciplinar tal como foi reformulado após as formulações clássicas do reducionismo que emanaram do positivismo lógico (e.g., Oppenheim & Putnam, 1958; ver acima). Em vez disso, a perspectiva adoptada neste trabalho baseia-se na proposta de Barendregt e van Rappard (2004) que propõem que o reducionismo, ligando diferentes teorias, é um factor generativo (no sentido Lakatosiano) em ciência, caracterizado por uma postura (stance) que favorece a cooperação interdisciplinar e é distinto do problema ontológico mente-corpo – que é normalmente o nível a que as questões acerca do reducionismo são discutidas em psicologia teórica e filosofia da mente.
Do ponto de vista da filosofia da ciência propriamente dita, este modelo do reducionismo consiste numa elaboração do modelo clássico, definindo este último como texto redutivo ideal (redução “total”), mas aceitando relações redutivas inter-teóricas que se afastam desse modelo (reduções “parciais”) como informação redutiva. O texto redutivo ideal não assume um carácter normativo, i.e., não é ideal no sentido de que é aquele que deve ser procurado, mas sim no sentido de consistir numa idealização, tal
como um “gás ideal”, em que se assume que todos os aspectos do modelo funcionam sem contingências adversas. Nesta perspectiva, o trabalho epistemológico é realizado pela informação redutiva, que consiste numa aproximação real do texto redutivo ideal e que tem um papel generativo na prática científica ao permitir a cooperação interdisciplinar através do estabelecimento de relações entre teorias de disciplinas diferentes. Esta perspectiva é mais forte que a concepção da superveniência adoptada por Harré e Gillett (1994) elaborada acima.
Este tipo de redução inter-teórica é compatível com a autonomia disciplinar. De facto, pode ser instrutivo relembrar a história da biologia. Aí assistimos a uma redução de vários aspectos da biologia à bioquímica, que marcou a vitória definitiva do mecanicismo sobre o vitalismo. No entanto a biologia não desapareceu na química e na física, porque apesar de se provar que as estruturas biológicas são estruturas físico-químicas, o que define o biológico, o vivo, é a organização particular que essas estruturas assumem (Maturana & Varela, 1980). De facto, a aplicação da perspectiva informacional à biologia (Jorge, 1995) ao mesmo tempo que abriu a biologia “para baixo”, no sentido da física e da química, também a abriu “para cima”, no sentido dos conceitos cibernéticos (Morin, 1973).
3.3. Autonomia teórica da psicologia
Do nosso ponto de vista, a proposta de Harré e Gillett (1994) quanto ao objecto de estudo da psicologia é plausível mas, para enfrentar o Enigma de Wittgenstein, é preciso integrar os “dois mundos” e isto passa por explicar como é que emerge o psicológico.
No percurso de autonomização da biologia Maturana e Varela (1980; 1992) tiveram um papel importante ao tratarem frontalmente esta questão. A questão fundamental para estes autores é a definição formal do vivo, pois se conseguimos sem grande dificuldade dizer de um sistema se é um sistema vivo ou não, os critérios que usamos nesta distinção não são claros. O seu trabalho gira em torno do conceito de organização autopoiética que se refere à natureza auto-referencial dos sistemas vivos que só podem ser caracterizados por referência a si próprios, por oposição a sistemas alo-referenciais, que só podem ser caracterizados por referência a um contexto. Varela (1979) formaliza logicamente esta ideia, apoiando-se no cálculo de indicações de Spencer-Brown, um sistema da lógica formal mais fundamental que a
O Enigma de Wittgenstein 24
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
aritmética booleana (Herbst, 1995). Esta distinção está ligada ao fenómeno da percepção na medida em que nesta perspectiva a operação cognitiva fundamental que realizamos como observadores é a operação de distinção. Através de uma distinção “especificamos uma unidade e um pano de fundo que possuem as propriedades com que esta operação os dota, e especificamos a sua separabilidade.” (Maturana & Varela, 1980, p. xix, t.l.). Como observadores podemos estabelecer putativamente qualquer distinção, mas no caso dos sistemas vivos eles próprios emergem do pano de fundo como unidades. Este facto deve-se às relações que o sistema vivo estabelece entre organização e estrutura:
“As relações entre os componentes que definem uma unidade composta (sistema) como uma unidade composta de um tipo particular, constituem a sua organização. (...) Os componentes reais (incluindo todas as suas propriedades) e as relações reais mantidas entre elas que realizam concretamente um sistema como um membro particular de uma classe (tipo) de unidades compostas ao qual pertence por virtude da sua organização, constitui a sua estrutura.” (Maturana & Varela, 1980, p. xix, t.l.).
O conceito de autopoiese denota o facto de, nos sistemas vivos, a relação entre organização e estrutura ser interdependente – o metabolismo celular produz componentes (estruturas) que fazem parte da rede de transformações (organização) que os produziu. Assim, um sistema autopoiético é um sistema continuamente auto-produzido, sem distinção de produtor e produto – e o exemplo mais imediato é o sistema celular, que é considerado um sistema autopoiético de 1ª ordem. Esta consideração tem como consequência a autonomia deste sistema, que se auto-define como uma unidade, pois se a organização do sistema resulta na manutenção do próprio sistema, a sua interacção com o exterior (ambiente) é feita não de acordo com as características dos elementos externos, mas de acordo com a forma como esses elementos são “vistos” pelo sistema conforme este os incorpora na sua dinâmica autopoiética – estamos perante o que podemos chamar de fenomenologia biológica (Maturana & Varela, 1992). O que se entende aqui por fenomenologia refere-se à forma como a estrutura e organização do sistema vivo determina o tipo de distinções e acções que ele poderá efectuar sobre o meio ambiente. Uma célula é sensível a determinadas moléculas e pode incorporá-la na sua estrutura celular através do seu metabolismo. O que Maturana e Varela sugerem é que isto não deve ser visto como resultado das características dessas moléculas, mas da organização do sistema – é notório
aqui o compromisso com as perspectivas construtivistas abordadas atrás. A autonomia dos sistemas vivos está assim ligada à sua clausura funcional, pois um sistema destes nunca pode incorporar elementos exteriores sem ter previamente uma estrutura sensível a eles.
Estabelecida a ideia de autopoiese e de clausura funcional a ela associada é necessário perceber como é que nestas circunstâncias aparentemente fechadas puderam os sistemas vivos evoluir. Esta evolução dependeu da capacidade destes sistemas se reproduzirem, sendo introduzidas variações na sua estrutura de geração para geração, mas variações que permitiam a manutenção da organização autopoiética.
Assim cada novo sistema possui semelhanças e diferenças estruturais em relação ao sistema que lhe deu origem, e estas são conservadas ou perdidas dependendo das circunstâncias da ontogenia do novo sistema. A ontogenia é definida como “(...) a história de mudança estrutural de uma unidade sem perda da organização dessa unidade. Esta mudança estrutural permanente ocorre na unidade de momento a momento, desencadeada quer por interacções oriundas do ambiente onde ela existe, quer como o resultado da sua própria dinâmica interna.” (Maturana & Varela, 1992, p. 74, t.l.). Um sistema vivo na sua ontogenia estabelece um acoplamento estrutural com o ambiente (que pode incluir, e quase sempre inclui, outros sistemas vivos), i.e., estas interacções assumem um carácter recorrente, mas esta interacção é determinada pela estrutura do sistema na manutenção da sua organização e nunca pela estrutura do ambiente, que nunca especifica nem dirige a mudança estrutural do sistema. É a acoplagem estrutural entre sistemas autopoiéticos de 1ª-ordem (células) que dá origem a sistemas autopoiéticos de 2ª-ordem (organismos metacelulares).
Um sistema vivo, dada a sua determinação estrutural, pode estabelecer diferentes tipos de interacções com o ambiente durante a sua ontogenia. Estas podem ser classificadas em quadro domínios:
1) o domínio de mudanças de estado (mudanças estruturais com manutenção da organização, i.e., conservação da identidade de classe);
2) o domínio de mudanças destrutivas (mudanças estruturais que resultam na perda da organização e consequente perda da identidade de classe);
3) o domínio de perturbações (interacções de desencadeiam mudanças de estado);
4) o domínio de interacções destrutivas (perturbações que resultam numa mudança
O Enigma de Wittgenstein 25
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
destrutiva).
Assim os organismos que, por virtude da sua estrutura e das condições ambientais, conseguem manter a sua organização autopoiética consideram-se adaptados e vêm eventualmente a reproduzir-se, perpetuando na geração seguinte as características que garantiram a sua adaptação (funcionam nos domínios de perturbações e de mudanças de estado), enquanto que os organismos não adaptados perecem sem transmitir as suas características à geração seguinte (envolvem-se em interacções destrutivas e sucumbem a mudanças destrutivas). A este processo de variação filogenética Maturana e Varela (1992) chamam deriva natural dos seres vivos, expressão que caracteriza o carácter não teleológico da mudança – os organismos não evoluem para um fim determinado à partida, simplesmente mudam arbitrariamente de geração para geração e alguns deles sobrevivem e reproduzem-se novamente. Noutras palavras não há optimização do uso do ambiente por parte dos organismos, mas apenas conservação da adaptação e autopoiese. Para Maturana e Varela isto não é equivalente a dizer que o ambiente selecciona os indivíduos – embora possamos dizer isso, tal não é válido do ponto de vista científico, porque se o ambiente selecciona os organismos viáveis, também estes alteram o ambiente.
Porém, do nosso ponto de vista, há aqui uma confusão das escalas temporais filogenética e ontogenética. Primeiro temos de distinguir entre mudanças estruturais filogenéticas e ontogenéticas. As primeiras referem-se a alterações da estrutura do sistema duradouras, no sentido em que alteram, mesmo que ligeiramente, a forma como os organismos mantêm a sua organização autopoiética – por exemplo, a emergência da respiração aeróbia é, em relação à respiração anaeróbia, uma mudança estrutural deste tipo, em que o sistema realiza a sua organização autopoiética de forma diferente. As segundas, as mudanças estruturais ontogenéticas, são alterações da estrutura do sistema provisórias ou contingentes e referem-se a alterações da estrutura do sistema sem que haja alteração da forma como a organização autopoiética é mantida – é o caso, e.g., de da absorção de nutrientes na digestão que vão figurar em estruturas orgânicas regenerativas. De algum modo, as mudanças estruturais filogenéticas alteram o plano do organismo, enquanto que as mudanças estruturais ontogenéticas seguem o plano pré-estabelecido. Assim, a escala temporal filogenética pode ser caracterizada por uma relativa estabilidade do ambiente e por uma alteração progressiva da estrutura dos organismos. Quando o ambiente é muito estável, a deriva natural dos seres
vivos leva à estabilização de características estruturais, quando o ambiente é instável esta deriva leva à diferenciação das estruturas organísmicas, mas mesmo neste último caso a “instabilidade” do ambiente é relativa, porque é preciso pelo menos uma geração para que se notem quaisquer diferenças estruturais na população de organismos, i.e., mudanças ambientais que durem menos que isso e não sejam recorrentes não podem ser actuantes a nível filogenético. A gravidade é um exemplo de uma característica do ambiente estável e virtualmente todos os organismos (com um valor mínimo de massa corporal) se adaptaram a ela. Um Inverno rigoroso também pode ter consequências filogenéticas se dos organismos de uma população apenas alguns sobreviverem devido às suas características estruturais, mas um dia de tempestade ou de frio extremo dificilmente tem relevância filogenética. Por outro lado a escala temporal ontogenética caracteriza-se pela relativa estabilidade da estrutura dos organismos e pela variação rápida de características ambientais. Durante a vida de um organismo este encontra normalmente variadas condições ambientais relativamente imprevisíveis. De algum modo o termo “ambiente” parece ter um significado diferente quando é usado no âmbito filogenético e no âmbito ontogenético – no primeiro refere-se a características com alguma ou muita estabilidade temporal; no segundo refere-se às características instáveis. Assim a circularidade estrutura organísmica-ambiente que Maturana e Varela propõem não é tão circular quanto isso: do ponto de vista filogenético as condições ambientais relativamente estáveis de facto seleccionam características estruturais dos organismos e do ponto de vista ontogenético passa-se o inverso, e são as características estruturais dos organismos que determinam os aspectos do ambiente aos quais o organismo é sensível. Deste modo não há de facto optimização dos organismos em relação ao ambiente, mas podemos dizer que existe o estabelecimento de uma adequação ao ambiente, embora isto seja feito de forma negativa, criando estruturas variadas (hipoteticamente adaptadas) e eliminando as desadaptadas.
Depois destas considerações mais gerais acerca dos sistemas vivos, Maturana e Varela viram-se para o sistema nervoso. O comportamento não é uma característica exclusiva de organismos com sistema nervoso, mas este permite ao organismo expandir as suas possibilidades de interacção. Normalmente, quando nos referimos a comportamento, pensamos em acções de um organismo que implicam movimento (como andar, comer, procurar, etc.). Debruçando-nos
O Enigma de Wittgenstein 26
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
sobre a capacidade de locomoção de organismos unicelulares verificamos que o que acontece é o estabelecimento de uma correlação interna entre uma estrutura capaz de admitir certas perturbações, a superfície sensorial, e uma estrutura capaz de gerar movimento, a superfície motora, sendo que por vezes estas superfícies correspondem à mesma estrutura. Em organismos multicelulares o movimento implica uma coordenação de diferentes unidades e aqui o sistema nervoso torna-se relevante ao facilitar a interacção entre elementos sensoriais e elementos motores distantes. Em organismos com sistemas nervosos relativamente simples a coordenação sensório-motora é relativamente linear, tal como o seu próprio sistema nervoso. Mas a forma como o sistema nervoso realiza esta função varia tanto quanto a variação de complexidade de sistemas nervosos existentes. O que se mantém constante, segundo Maturana e Varela, é a clausura operacional do sistema nervoso, que determina que, do ponto de vista do sistema nervoso e independentemente do seu grau de complexidade, tudo o que existe são correlações internas. A relativa plasticidade estrutural deste sistema não mina este facto. Por plasticidade devemos entender a capacidade do sistema nervoso incorrer em mudanças estruturais como resultado de interacções no âmbito da deriva estrutural do organismo com conservação da adaptação. Segundo estes autores, estas mudanças estruturais não ocorrem no esquema geral da conectividade do sistema nervoso, pois a arquitectura neuronal é específica da espécie, mas sim a nível sináptico. Porém a noção de estabilização selectiva de sinapses de Changeaux (1981) e alguns resultados da literatura desenvolvimental relativa a períodos críticos (Bruer, 2001) sugerem que há, pelo menos durante períodos de maturação do sistema nervoso, algum grau de plasticidade a nível da conectividade neuronal. A plasticidade permite diferenciar entre comportamentos instintivos ou inatos (estruturas que os possibilitam d e s e n v o l v e m - s e i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s peculiaridades da história de interacções do organismo) e comportamentos aprendidos (estruturas que os possibilitam apenas se desenvolvem mediante uma história de interacções particular), embora, como comportamentos, sejam indistintos na sua natureza e implementação.
Na deriva estrutural dos sistemas vivos dotados de sistema nervoso estes estabelecem acoplamentos estruturais com outros organismos, no que Maturana e Varela denominam acoplamento de 3ª-ordem, que surge através dos mesmos mecanismos que dão origem a sistemas autopoiéticos de 2ª-ordem mais a presença de sistema nervoso. Consideram-se fenómenos sociais
aqueles que estão associados à participação dos organismos na constituição de unidades de 3ª-ordem. Como observadores podemos denominar os comportamentos que ocorrem nesta acoplagem social como comunicativos, e a coordenação comportamental que resulta de interacções deste tipo como comunicação. A plasticidade do sistema nervoso dos organismos permite-lhes adquirir ontogeneticamente (aprender) comportamentos como resultado de interacções comunicativas no seio dos sistemas sociais. Quando estes padrões comportamentais adquiridos on togene t icamente adqui rem es tab i l idade transgeracional podemos falar de comportamentos culturais.
No caso dos insectos sociais, a clausura operacional continua a aplicar-se a esta unidade de 3ª-ordem, mas no caso das sociedades humanas esta clausura é quebrada pela linguagem. No entanto é necessário perceber o lugar da linguagem como um acontecimento biologicamente plausível, o que implica afastarmo-nos da concepção intuitiva de que a linguagem é um sistema de comunicação de informação, e afastarmo-nos ainda mais da concepção cognitivista de que a linguagem é um sistema representacional relacionado com uma linguagem formal interna:
“A compreensão da origem evolutiva das linguagens naturais requer o reconhecimento nelas de uma função biológica básica que, propriamente seleccionada, as pudesse originar. Até agora esta compreensão tem sido impossível porque a linguagem tem sido considerada como um sistema simbólico denotativo de transmissão de informação. De facto, se essa fosse a função biológica da linguagem, a sua origem evolutiva implicaria a pré-existência da função de denotação uma vez que esta é necessária para desenvolver o sistema simbólico de transmissão de informação, mas esta função é precisamente aquela cuja origem evolutiva deve ser explicada. Inversamente, se se reconhecer que a linguagem é conotativa e não denotativa e a sua função foi orientar o orientado dentro do seu domínio cognitivo, e não apontar para entidades independentes, torna-se aparente que interacções de orientação aprendidas incorporam uma função de origem não-linguística que, sob pressão selectiva no sentido da sua aplicação recorrente, pode originar através da evolução o sistema de interacções cooperativas consensuais entre organismos que é a linguagem natural.” (Maturana e Varela, 1980, pp. 30-31, t.l.).9
Noutro lugar (Maturana e Varela, 1992), os autores
O Enigma de Wittgenstein 27
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
apresentam este ponto de forma mais clara. Perante determinadas interacções comunicativas de um organismo, um observador pode fazer uma descrição semântica delas, i.e., pode descrevê-las como se o seu significado determinasse o curso da interacção, embora elas obedeçam ao princípio de clausura operacional. Estes comportamentos comunicativos, por virtude da história de interacções que lhe dá origem, tal como o comportamento em geral, podem ser inatos (dependendo da estabilidade genética da espécie) ou aprendidos (dependendo da estabilidade cultural do sistema social em que ocorre).
O comportamento comunicativo inato orienta o comportamento dos outros organismos de uma forma determinada geneticamente e portanto necessária no âmbito daquela espécie. Uma abelha não interpreta a “dança” de outra como um sinal de que há alimento naquela direcção, s implesmente reage ao comportamento de “dança” desencadeando um p r o g r a m a c o m p o r t a m e n t a l d e t e r m i n a d o geneticamente. No caso dos seres humanos um exemplo de comportamento comunicativo inato são os reflexos inatos. Tomemos o reflexo de sucção: um recém-nascido normal, quando estimulado na bochecha ou lábio inferior, vira a cabeça, abre a boca e inicia movimentos de sucção (cf., Papalia, Olds, & Feldman, 2001). Este comportamento reflexo é determinado geneticamente e as suas vantagens em termos de adaptação filogenética são óbvias.
Por outro lado o comportamento comunicativo aprendido orienta o comportamento dos outros organismos de uma forma culturalmente determinada e portanto necessária àquele sub-grupo cultural, mas contingente do ponto de vista da espécie. Este tipo de c o m p o r t a m e n t o p o d e s e r a d q u i r i d o p o r condicionamento, como na reacção de medo do pequeno Albert perante um peluche branco no estudo de Watson e Raynor. Este comportamento foi aprendido, mas a presença do estímulo desencadeia automaticamente a resposta.
Neste ponto a perspectiva de Maturana e Varela encrava, porque entra numa circularidade. Eles avançam que os comportamentos comunicativos ontogenéticos que um observador descreveria em termos semânticos são considerados linguísticos, sendo o domínio linguístico de um organismo o domínio de todos os seus comportamentos linguísticos, que pode variar ao longo da ontogénese desse organismo. A linguagem surge quando as operações do organismo no domínio linguístico resultam em coordenações de acções que pertencem ao próprio
domínio linguístico. À emergência da linguagem é inerente a emergência do observador como entidade que usa uma linguagem. Assim, o observador define o domínio linguístico, mas comportamentos linguísticos recorrentes definem o observador. Esta circularidade podia ser tolerável, mas a questão é que se presume que a recorrência de comportamentos linguísticos semanticamente vazios dá origem a um observador semanticamente capaz.
Talvez este seja o limite da biologia teórica neste aspecto. De facto talvez seja preciso neste ponto introduzir uma visão desenvolvimental para compreender a emergência do psicológico. Como tal apelaremos à conceptualização que Piaget (1983) vai buscar a Saussure para dar conta do desenvolvimento da função semiótica. Assim, percebermos a emergência da semântica é estabelecer aquilo que falta na perspectiva de Harré e Gillett (1994) – uma sugestão do aspecto possível da relação de superveniência (ou de redução) entre os mundos psicológico e físico.
Retomando a discussão de Maturana e Varela (1992), o que determina que os comportamentos linguísticos sejam semanticamente vazios é o facto de constituírem respostas automáticas. A sua determinação estrutural torna-os estritamente causais. Nesse sentido constituem índices, i.e., “significantes que não estão diferenciados dos seus significados pois constituem uma parte ou um resultado causal deles.” (Piaget, 1983, p.115, t.l.). Assim o comportamento reflexo de sucção, para retomar o exemplo mencionado acima, é, num contexto comunicativo, um índice.
Com o desenvolvimento normal do sistema nervoso os comportamentos reflexos são inibidos. Assim as respostas automáticas originais deixam de ter o carácter de ligação causal que tinham. Agora o comportamento de sucção está liberto de ligações causais imediatas e o seu uso fora do contexto de sucção real adquire o estatuto de símbolo, i.e. um significante diferenciado do seu significado, mas que mantém alguma similaridade com ele (Piaget, 1983). A ligação causal dá aqui origem a uma ligação fenomenológica, i.e., a um tipo de ligação que implica não a reacção ao comportamento, mas o seu reconhecimento. Este é um domínio epistémico relativamente livre, pois o organismo pode simbolizar como quiser, pelo menos para si próprio – é um nível que podemos considerar proto-semântico.
Do símbolo ao signo, i.e., um significante relat ivamente arbi t rár io , mas socialmente convencional, temos essencialmente um processo de
O Enigma de Wittgenstein 28
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
convergência com as normas sociais da comunicação. Estas ganham prioridade sobre o aspecto fenomenológico e, nas linguagens naturais, levam à utilização de uma palavra ou expressão pelo indivíduo para substituir o próprio comportamento no contexto da comunicação. Estamos perante uma ligação conceptual. Neste nível a distinção entre significante e significado está propriamente estabelecida.
Estas ideias carecem, obviamente, de elaboração, mas parecem-nos um bom ponto de partida para a conceptualização das questões teóricas que temos vindo a discutir.
Estas transições entre níveis semióticos dependem, é claro, de interacções com outros indivíduos falantes de uma linguagem. Depois de adquirida uma linguagem natural por um indivíduo entramos no mundo discursivo de Harré e Gilllett (1994), onde de facto reside a maior parte daquilo que consideramos psicológico.
4. Conclusão
A natureza deste trabalho dificulta a sua finalização com uma secção relativa às suas conclusões. No dito de Otto Neurath, a nossa posição é semelhante à do marinheiro que enquanto navega tem de reconstruir a sua embarcação. As conclusões a que chegámos foram sendo apresentadas ao longo dos vários pontos e o fecho do trabalho não é muito mais que uma muito breve sistematização delas.
Partindo do Enigma de Wittgenstein, definido como a dúvida acerca do que pode ser a psicologia e especificado ao longo do trabalho como o problema que emerge da irredutibilidade entre questões normativas e descritivas, procurámos mostrar que soluções têm sido propostas historicamente para o resolver. Vimos que, na psicologia geral, a que mais se aproxima do problema é a perspectiva construtivista da psicologia discursiva de Harré & Gillett (1994). Porém, para responder de facto ao Enigma será necessário não só reconhecer a pertinência da distinção normativo-descritivo, mas também propor soluções para o problema da sua integração. Essa foi a tarefa que nos ocupou no resto do trabalho. O Enigma de Wittgenstein fica, no entanto, por resolver, mas esperamos que pelo menos um pequeno passo tenha sido dado nesse sentido.
Do ponto de vista metodológico, o esclarecimento da natureza do objecto de estudo da psicologia também
p o d e a j u d a r. I d e a l m e n t e a f o r m a c o m o conceptualizamos esse objecto deveria cortar a realidade pelas suas juntas, sendo assim mais simples trabalhar com variáveis psicológicas e interpretá-las, evitando o recurso às variáveis de morada social (social address – Bronfenbrenner & Crouter, 1983), de morada o rgan í smica e de morada de r e su l t ados desenvolvimentais (Wachs, 1991), que pela sua natureza escondem os processos psicológicos debaixo do véu da variabilidade.
Referências
Ayer, A. J. (Ed.) (1959). Logical Positivism. New York: The Free Press.
Barendregt, M., & van Rappard, J. F. H. (2004). Reductionism revisited: On the role of reduction in psychology. Theory & Psychology, 14( 4), 453-474.
Barker, R. G. (1968). Ecological Psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford, CA: Stanford University Press.
Barker-Plummer, D. (2005). "Turing Machines", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2005 Edit ion), Edward N. Zalta (ed.) , URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/ turing-machine/ (disponível online em Janeiro de 2006).
Bem, S., & de Jong, H. L. (1997). Theoretical Issues in Psychology: an introduction. London: Sage.
Benjamin, L. T. Jr. (1997). A History of Psychology: Sources and contemporary research (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.
Braunstein, J.-F., & Pewzner, E. (1999). História da Psicologia. Lisboa: Instituto Piaget.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective : A bioecological model. Psychological Review, 10(4), 568-586.
Bronfenbrenner, U., & Crouter, A. C. (1983). The Evolution of Environmental Models in Developmental Research. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology, Vol. (4th Ed.). New York: John Wiley & Sons.
Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (1998). The Ecology of Developmental Processes. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology, Volume 1: Theoretical Models of Human
O Enigma de Wittgenstein 29
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Development. New York: John Wiley & Sons.
Bruer, J. T. (2001). A Critical and Sensitive Period Primer. In D. B. Bailey Jr., J. T. Bruer, F. J. Symons & J. W. Lichtman, Critical Thinking About Critical Periods. Baltimore: Paul H. Brookes.
Bruner, J. (1990). Actos de Significado: Para uma psicologia cultural. Lisboa: Edições 70.
Cairns, R. B. (1998). The Making of Developmental Psychology. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology, Volume 1: Theoretical Models of Human Development. New York: John Wiley & Sons.
Carnap, R. (1928). Pseudoproblemas na Filosofia: A psique alheia e a disputa em torno do realismo. Lisboa: Edições Cotovia.
Carnap, R. (1934). The Unity of Science. Bristol: Thoemmes.
Carrilho, M. M. (1994). A Filosofia das Ciências: De Bacon a Feyerabend. Lisboa: Editorial Presença.
Changeux, J.-P. (1983). O Homem Neuronal. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Chaplin, J. P., & Krawiec, T. S. (1979). Systems and Theories of Psychology (4th Ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
Dennett, D. (2004). Philosophers, Zombies, and Feelings: The Illusions of 'First-Person' Approaches to Consciousness. Comunicação pessoal apresentada nas Conferências Pedro Hispano 2004. Lisboa.
Double, R. (1999). Beginning Philosophy. New York: Oxford University Press.
Dupuy, Jean-Pierre (1994). The Mechanization of the Mind: On the origins of cognitive science. Princeton: Princeton University Press.
Echeverría, J. (2003). Introdução à Metodologia da Ciência. Coimbra: Almedina.
Fodor, J. A. (1968). Psychological Explanation; An Introduction to the Philosophy of Psychology. New York: Random House.
Fodor, J. A. (1975). The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Fodor, J. A. (1995). Special Sciences. In P. K. Moser and J. D. Trout, Contemporary Materialism: A Reader. London: Routledge.
Frawley, W. (1997). Vygotsky and Cognitive Science: Language and the unification of the social and computational mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Fuller, S. (2003). Os Estudos de Ciência e Tecnologia e a Filosofia das Ciências Sociais. Fórum Sociológico,
9/10, 135-162.
Galifret, Y. (1999). Pychologie et Neurosciences. In H. Rodriguez-Tomé & Y. Galifret, Doutes, Constats et Mirages em Psychologie: Mélanges en hommage à René Zazzo. Paris: Presses Universitaires de France.
Gardner, H. (1985/2002). A Nova Ciência da Mente: Uma história da revolução cognitiva. Lisboa: Relógio D'Água.
Gottlieb, G., Wahlsten, D., & Lickliter, R. (1998). The Significance of Biology for Human Development: A developmental pshychobiological systems view. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology, Volume 1: Theoretical Models of Human Development. New York: John Wiley & Sons.
Harré, R. (1984). As Filosofias da Ciência. Lisboa: Edições 70.
Harré, R., & Gillett, G. (1994). The Discursive Mind. Thousand Oaks, CA: Sage.
Haugland, J. (1981). Semantic Engines: An introduction to mind design. In J. Haugeland (Ed.), Mind Design: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence. Cambridge, MA: MIT Press.
Hempel, C. G. (1959). The Empiricist Criterion of Meaning. In A. J. Ayer (Ed.), Logical Positivism. New York: The Free Press.
Herbst, D. P. (1995). What Happens When We Make a Distinction: An elementary introduction to co-genetic logic. In T. A. Kindermann & J. Valsiner (Eds.), Development of Person-Context Relations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hessen, J. (1926). Teoria do Conhecimento. Coimbra: Arménio Amado Editora.
Hobbes, T. (1651/1988). The Leviathan. New York: Prometheus Books.
Hooker, C. (2001). Unity of Science. In W. H. Newton-Smith (Ed.), A Companion to the Philosophy of Science. Oxford: Blackwell.
Imbert, C., Zaslawsky, D., Jacques, F., Armendaud, F., Granger, G. G., Devaus, P., & Sebestik, J. (S/D). Filosofia Analítica. Lisboa: Gradiva.
Jorge, M. M. A. (1995). Biologia, Informação e Conhecimento. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.
Kant, I. (1783/1982). Prolegómenos a toda a Metafísica Futura. Lisboa: Edições 70.
Kroeber, A. L. (1952). A Natureza da Cultura. Lisboa: Edições 70.
Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific
O Enigma de Wittgenstein 30
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Lagache, D. (1949). A Unidade da Psicologia. Lisboa: Edições 70.
Lennon, K. (2003). Naturalizing and Interpretive Turns in Epistemology. International Journal of Philosophical Studies, 11(3), 245-259.
Lerner, Richard M. (2002). Concepts and Theories of Human Development. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Marx, M. H., & Hillix, W. A. (1973). Sistemas e Teorias em Psicologia. São Paulo: Culturix.
Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and Cognition: The realization of the living. Dordrecht: Kluwer.
Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1992). The Tree of Knowledge: The biological roots of human understanding – Revised Edition. Boston: Shambhala.
Miller, G. A., Galanter, E., Pribram, K. H. (1960). Plans and the Structure of Behaviour. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Morin, E. (1973). O Paradigma Perdido: A natureza humana. Mem Martins: Publicações Europa-América.
Murphy, J. (1990). O Pragmatismo: de Pierce a Davidson. Porto: Edições Asa.
Nunes, C., Santos, F. R., Tavares, P., & Bairrão, J. (2004). “Algures entre o Budismo e a Biologia encontramos a Psicologia”: Subsídios para a definição do objecto psicológico entre o natural e o social. Trabalho de licenciatura não publicado. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
O'Donohue, W., & Kitchener, R. F. (Eds.) (1996). The Philosophy of Psychology. London: Sage.
Oppenheim, P., & Putnam, H. (1958). Unity of Science as a Working Hypothesis. In H. Feigl, M. Schriven & G. Maxwell, Concepts, Theories and the Mind-Body Problem (Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume II). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). O Mundo da Criança. Lisboa: McGraw Hill.
Piaget, J. (1983). Piaget's Theory. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology, Volume 1 (4th Ed.). New York: John Wiley & Sons.
Popper, K. (1934). A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Editora Culturix.
Popper, K. (1996). O Conhecimento e o Problema Corpo-Mente. Lisboa: Edições 70.
Potter, J. (2000). Post-cognitive Psychology. Theory &
Psychology, 10, 31 - 37.
Putnam, H. (1981). Reductionism and the Nature of Psychology. In J. Haugeland (Ed.), Mind Design: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence, Cambridge, MA: MIT Press. (Publicação original: 1973).
Putnam, H. (2002). The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Pylyshyn, Z. W. (1984). Computation and Cognition: Toward a foundation for cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.
Quine, W. v. O. (1991). A Epistemologia Naturalizada. In M. M. Carrilho (Org.), Epistemologia: Posições e Críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (Publicação original: 1969).
Quine, W. v. O. (1995). Filosofia e Linguagem. (Organização de João Sàágua). Porto: Edições Asa.
Rennie, J. (2002). Letter from the editor – On our minds. Scientific American (Special Issue “The Hidden Mind”), 12(1), p. 1.
Rorty, R. M. (1992). Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy. In R. M. Rorty, The Linguistic Turn: Essays in philosophical method (pp. 1-39). Chicago: University of Chicago Press.
Salmon, W. C. (2001). Logical Empiricism. In W. H. Newton-Smith (Ed.), A Companion to the Philosophy of Science. Oxford: Blackwell.
Sameroff, A. J. (1981). Early Influences on Development: Fact or fancy?. In W. Swann (Ed.), The Practice of Special Education: A reader. Guilford: Basil Blackwell and the Open University Press.
Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (1990). Transitional regulation and early intervention. In S. J. Meisels, & J. P. Shonkoff (Eds.), Handbook of early childhood intervention. Cambridge: Cambridge University Press.
Sawyer, R. K. (2002). Emergence in Psychology: Lessons from the history of non-reductionist science. Human Development, 45, 2-28.
Seager, W. (2001). Supervenience and Determination. In W. H. Newton-Smith (Ed.), A Companion to the Philosophy of Science. Oxford: Blackwell.
Siegel, H. (1996). Naturalism and the Abandonment of Normativity. In W. O'Donohue and R. F. Kitchener (Eds.), The Pshilosophy of Psychology. London: Sage.
Simon, Herbert A. (1996). The Sciences of the Artificial. Cambridge, MA: MIT Press.
Strathern, P. (1996a). Kant em 90 Minutos. Mem Martins: Inquérito.
O Enigma de Wittgenstein 31
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Strathern, P. (1996b). Wittgenstein em 90 Minutos. Mem Martins: Inquérito.
Staddon, John (1993). Behaviorism. London: Duckworth.
Tarski, A. (1944). A Concepção Semântica da Verdade e os Fundamentos da Semântica. In J. Branquinho (Org.), Existência e Linguagem. Lisboa: Editorial Presença.
Thompson, P. (2001). Biology. In W. H. Newton-Smith (Ed.), A Companion to the Philosophy of Science. Oxford: Blackwell.
Valsiner, J. (2004). Aula de doutoramento. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Varela, F. J. (S/D). Conhecer - As Ciências Cognitivas: Tendências e Perspectivas. Lisboa: Instituto Piaget.
Varela, F. J. (1979). The Extended Calculus of Indications Interpreted as a Three-valued Logic. Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. XX, No. 1, 141-146.
Varela, F. J. (1984). The Creative Circle: Sketches on the natural history of circularity. In P. Watzlawick (Ed.), The Invented Reality: How do we know what we believe we know? (Contributions to Constructivism). New York: W. W. Norton & Company.
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). A Mente Corpórea: Ciência Cognitiva e Experiência Humana. Lisboa: Instituto Piaget.
von Glasersfeld, E. (1995). Construtivismo Radical: Uma forma de conhecer e aprender. Lisboa: Instituto Piaget.
Wachs, T. D. (1991). Environmental Considerations in Studies with Nonextreme Groups. In T. D. Wachs & R. Plomin (Eds.), Conceptualization and Measurement of Organism-Environment Interaction. Washington: American Psychological Association.
Wachs, T. D. (2000). Necessary but not sufficient: The respective roles of single and multiple influences on individual development. Washington: American Psychological Association.
Wachs, T. D., & Plomin, R. (Eds.) (1991). Conceptualization and Measurement of Organism-Environment Interaction. Washington: American Psychological Association.
Ward, A. (2004). FeralChildren.com, URL = http://www.feralchildren.com (disponível online em Janeiro de 2006).
Watson, J. B. (1997). Psychology as a Behaviorist Views It. In L. T. Jr. Benjamin, A History of Psychology: Sources and contemporary research (2nd
Ed.). New York: McGraw-Hill.
Watkins, J. W. N. (1984). Ciência e Cepticismo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Weisstein, E. W. (S/D) Boolean Algebra. From MathWorld--A Wolfram Web Resource. URL = http://mathworld.wolfram.com/BooleanAlgebra.html (disponível online em Janeiro de 2006).
Wittgenstein, L. (1966/1998). Aulas e Conversas: sobre estética, psicologia e fé religiosa (Compilado a partir de notas recolhidas por Yorick Smythies, Rush Rhees e James Taylor; organizadas por C. Barrett). Lisboa: Edições Cotovia.
Wittgenstein, L. (1995). Tratado Lógico-Filosófico * Investigações Filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (Publicações originais: 1921 * 1953).
Wolff, J. (1996). Introdução à Filosofia Política. Lisboa: Gradiva.
O Enigma de Wittgenstein 32
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007
Notas de Rodapé
1 - Na verdade a localização destes parágrafos não pode ser directamente atribuída a Wittgenstein dado que as Investigações Filosóficas foram publicadas postumamente a partir de manuscritos não totalmente organizados tendo sido a compilação final da responsabilidade de G. E. M. Anscombe, R. Rhess e G. H. Von Wright.
2 - Esta analogia foi referida por Dennett (2004, comunicação pessoal) em relação ao problema da consciência em filosofia da mente. O ilusionismo consiste em truques, não é magia “real”, mas esta “magia real” é precisamente o tipo de magia que não existe. Para Dennett a consciência como é definida pela maioria dos filósofos é como a “magia real”, algo que simplesmente não podemos ter.
3 - Na tradição continental, e em especial na latina, “epistemologia” confunde-se com “filosofia da ciência”. No entanto, na tradição anglo-saxónica, “epistemologia” refere-se essencialmente ao que se designa de teoria do conhecimento (cf. Hessen, 1926) e a filosofia da ciência constitui a parte da filosofia que se interessa pelos problemas levantados pelo conhecimento científico em particular (Carrilho, 1994). No âmbito deste trabalho adoptaremos a terminologia anglo-saxónica, considerando a epistemologia como a parte da filosofia preocupada com os problemas relativos ao conhecimento em geral, dentro da qual enquadraremos a filosofia da ciência.
4 - Embora possa ser argumentado que positivismo lógico e empirismo lógico foram movimentos diferenciados em filosofia (o primeiro associado ao Círculo de Viena e o segundo ao Círculo de Berlim; Salmon, 2001), foram também movimentos interdependentes e, em grande parte, sobrepostos. Nesse sentido, para os propósitos do presente trabalho, utilizaremos apenas a expressão positivismo lógico para nos referirmos a estes movimentos, justificados pelo facto do seu legado ter sido recebido em ciência e em filosofia de forma essencialmente unitária, i.e., sem sensibilidade às distinções entre os dois. Outra denominação possível e correntemente utilizada para esta herança em filosofia da ciência é a de concepção herdada (received view), avançada por Putnam (1962, cit. in Thompson, 2001; Echeverría, 1999). O movimento positivista lógico foi alvo de uma breve descrição em Nunes, Santos, Tavares e Bairrão (2004).
5 - Este termo deve ser aqui entendido no seu sentido filosófico tradicional, sentido esse que foi empregue pelos positivistas lógicos (e.g., Carnap, 1928; Hempel, 1959) e que significa “epistémico”, e não no sentido em que é normalmente usado em psicologia nos dias que correm, quase como sinónimo de “mental”.
6 - A questão da Unidade da Ciência foi já abordada pelo autor e outros (Nunes, Santos, Tavares, & Bairrão, 2004), sendo a presente descrição uma elaboração desse trabalho.
7 - Note-se que neste contexto o termo “cognição” já não é utilizado no sentido “epistémico”, conforme a nota 5, mas precisamente no sentido actual de “mental”.
8 - Isto, claro, numa situação idealizada. Na prática uma boa teoria científica deve satisfazer critérios de simplicidade, aplicabilidade e falsificabilidade, que, no fundo, apenas nos permitem aproximações à verdade.
9 - Na verdade, o argumento que Maturana e Varela (1980) apresentam aqui é essencialmente o mesmo que Fodor (1975) utiliza na defesa da LoT, nomeadamente, a consideração da impossibilidade da emergência per si de um sistema linguístico denotativo ou referencial, sem nada que o suporte (ainda que Maturana e Varela argumentem a um nível filogenético e Fodor a nível ontogenético). No entanto, perante a constatação dessa impossibilidade, Maturana e Varela tentam encontrar uma saída explicativa, reconsiderando a natureza fundamental da linguagem, enquanto que Fodor, não abdicando da ideia de que a natureza da linguagem é formal, esgota o seu crédito explicativo.
O Enigma de Wittgenstein 33
FACULDADE DE PSICOLOGIAE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO PORTO
Actas do Fórum Jovens Cientistas 2007