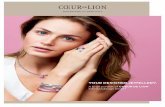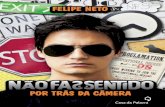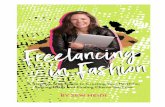Cartografias de uma profssora recém-formada: as diversas esferas de produção de sentido
O designer e a produção do sentido
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of O designer e a produção do sentido
26
A imAgem nA idAde mídiA
Raquel gomes noronha
O designer e a produção de sentido na construção de iconografias
27
neste artigo, pretendemos refletir acerca do papel do designer, entendendo-o como mediador no processo de construção de iconogra-fias a partir de sua atividade como intérprete e tradutor da representação da identi-dade cultural. iniciaremos nosso percurso explorando a própria noção de iconografia objetivando aprofundar nossa reflexão sobre as categorias identi-dade, imagem e represen-tação, buscando referên-cias na Antropologia.
28
A imAgem nA idAde mídiA
Abordaremos, ainda, a dicotomia matéria-forma, si-
tuando-a como uma questão fundamental para nossos
estudos sobre a tangibilização da cultura em imagens.
Propomos como estudo de caso o projeto Iconogra-
fias do Maranhão1, nossa atual experiência de mapea-
mento iconográfico. Ao refletirmos sobre as etapas do
processo de pesquisa – a análise e a síntese iconográfi-
ca2 – estaremos problematizando acerca da produção e
do consumo da cultura – mais especificamente sobre a
sua imagem – no âmbito da contemporaneidade.
iconogRAfiA: constRuindo umA cAtegoRiA
Iconografia é o ramo da História da Arte que
trata do conteúdo temático ou significado das
obras de arte, enquanto algo diferente da sua for-
ma. (PANOFSKY, 1982: 19). Em nossa abordagem,
propomos uma ampliação do conceito. Considera-
mos iconografia como um conjunto de imagens re-
presentativo de uma coletividade, de um assunto,
de um lugar: sua fauna, flora, elementos arquite-
tônicos, a religião, as festas, os saberes e as pesso-
as. Estamos falando de uma representação cole-
tiva, categoria que aprofundaremos a seguir. Em
uma iconografia, busca-se identificar que elemen-
tos são estruturantes da vida social e constroem as
relações de significação em determinado grupo, ou
qualquer outro recorte estabelecido para o mape-
amento. Para Canclini (2004: 41), estes elementos
que constroem o mundo das significações, as rela-
ções de sentido, constituem a cultura.
1. O projeto, que atualmente en-
contra-se na sua quarta etapa, con-siste em construir
tecnologias de inovação em pro-cessos e produtos a partir da icono-
grafia da identi-dade local do Ma-
ranhão. Neste artigo, referimo-
nos à segunda etapa do proje-
to, aprovada pelo edital do PROEXT-
CULTURA 2008, e concluída em
2009, abordando a cultura afroma-
ranhense, incluin-do-se 5 grupos de bumba-meu-boi;
2 tambores de crioula; 4 blocos
afro e 2 casas reli-giosas, a partir de
entrevistas com os agentes sociais
envolvidos e ob-servação dos seus
cotidianos.
29
A pRodução do sentido
Em um mapeamento iconográfico, o objetivo é es-
tabelecer prioridades, hierarquias sobre quais fenôme-
nos e artefatos constitutivos da sociedade possuem um
caráter diacrítico e evidenciam as suas peculiaridades.
Ao representarmos graficamente um artefato de
importância simbólica para determinado grupo, não
temos o controle – e nem o desejamos – sobre a ma-
nutenção nas relações de significação dos sujeitos da
pesquisa para com a representação que construimos
deste artefato. Machado nos indica queO artesão da flauta conhece as entranhas
de seu objeto, o modo como o instrumen-
to produz escala musical, os segredos que
determinam sua perfeição ou imperfei-
ção; o pintor pinta uma flauta fantasma-
górica, da qual conhece apenas a aparên-
cia externa. (MACHADO, 2001: 9)
Podemos comparar a ação do pintor, tal qual en-
tendida por Machado, ao trabalho de representação
gráfica de um designer. Essa atividade é corriqueira-
mente empreendida por esse profissional. Se tomar-
mos a etimologia da palavra iconografia, temos, na sua
origem grega, a construção: eikon, imagem + graphia,
escrita. Escrita por meio da imagem.
Quando designers escolhem um determinado fe-
nômeno ou artefato pertencente a um grupo social
para tangibilizá-los em imagens, devemos observar
que tal fenômeno ou artefato é uma instância dinâmi-
ca, que foi produzida, circula e é consumida na histó-
ria social. Não é algo que apareça sempre da mesma
maneira. Quando retiramos um artefato ou fenôme-
2. Adotamos a perspectiva me-todológica de Erwin Panofsky (1982) para ca-racterizar as eta-pas de trata-mento da obra de arte, em nos-so caso, as ima-gens que repre-sentam a cultura afro-maranhen-se. O autor traba-lha com uma di-visão triádica – a análise pré-ico-nografica; a aná-lise iconográfica; e a síntese ico-nográfica. Como o próprio au-tor propõe, es-tas etapas não são estanques; se misturam em um processo orgâni-co e interdepen-dente.
30
A imAgem nA idAde mídiA
no de seu lugar3 de origem e promovemos uma desti-
nação diversa da qual foi prevista por seus produtores,
estamos estabelecendo um trânsito intercultural deste
signo. Sobre sua experiência como pesquisador do ar-
tesanato no México, Canclini aponta que:Muitos artesãos sabem que o objeto vai
ser utilizado de modo diferente do origi-
nal, mas, como precisam vender, adap-
tam a concepção ou o aspecto do objeto
artesanal para que seja usado mais facil-
mente nesta nova função, que talvez evo-
que seu sentido anterior por causa da
iconografia, ainda que seus fins pragmá-
ticos e simbólicos predominantes par-
ticipem de outro sistema sociocultural.
(CANCLINI, 2004: 42)
Estamos falando de circulação de bens e mensa-
gens, e este movimento acarreta mudanças de signi-
ficado. Este processo caracteriza a passagem de uma
instância social para outra.
Quando escolhemos um artefato e o representa-
mos graficamente, produzimos um ícone daquele arte-
fato. Este ícone é a sua representação. Se este ícone for
vendido impresso em uma camiseta para um turista, há
um processo de ressignificação do ícone: uma nova in-
terpretação, mediada por uma interpretação anterior –
a do designer, que realizou a representação gráfica.
E esta é a grande questão de nossa investigação:
no ato de iconografar, como se escreve a imagem?
Com que traço gráfico o designer – a partir de uma
pesquisa de campo, de um sistema sêmico (RAFFES-
TIN, 1993), e do uso sistêmico dos elementos da co-
3. Utilizamos a categoria lugar a partir da con-cepção de Marc
Augé: “O lugar antropológico é a
construção con-creta e simbólica
do espaço, que se refere à casa, às aldeias, ou seja, aos lugares que
têm sentido, que são identitários,
relacionais e his-tóricos e que tra-
zem subjacente o sentido de per-
manência [...]” (AUGÉ, 1994: 34).
31
A pRodução do sentido
municação visual – identifica, descreve, classifica e in-
terpreta os seus sujeitos da pesquisa? Nosso objetivo é
entender qual é essa linguagem capaz de transitar in-
terculturalmente e cambiar entre o icônico e o simbó-
lico, entre a representação identitária – construída a
partir do entendimento da identidade local – e as re-
presentações coletivas – construídas a partir de refe-
renciais simbólicos diversos e heterogêneos.
Esta indagação torna-se mais obscura quando
contextualizamos nossa análise no âmbito da con-
temporaneidade, quando falamos de hibridização da
identidade e compartilhamento de códigos culturais.
Quando as fronteiras do sentido se tornam fluidas e
todas essas relações de trânsito não obedecem a uma
sequência linear.
RepResentação, identidade e imagem
O uso da categoria representação apresenta-se
com ambiguidade neste estudo. Ora falamos de re-
presentação gráfica, como sendo o resultado de uma
interpretação gráfica de um artefato ou fenômeno,
ora falamos de representação coletiva, definida por
Durkheim como “modos de agir, de pensar e de sentir
que apresentam a notável propriedade de existir fora
das consciências individuais”. (DURKHEIM, 1978: 88).
Neste item, abordaremos as relações destas duas
categorias, que, por hora, diferenciamos: representa-
ção gráfica e representação coletiva. A principal ques-
tão é: como uma representação gráfica torna-se uma re-
presentação coletiva? Como o designer deve mediar este
processo discursivo entre uma representação gráfica e
32
A imAgem nA idAde mídiA
uma representação coletiva, traduzindo os códigos es-
pecíficos da linguagem verbal em códigos visuais com-
patíveis e dialógicos, durante a interpretação sobre o
que será integrado a um mapeamento iconográfico?
Primeiramente, buscamos traduzir para o âmbito
do nosso projeto de pesquisa, as definições das cate-
gorias identidade e imagem. Tomamos contribuições
do campo do Design e empréstimos das bases episte-
mológicas da Antropologia a fim de construirmos es-
tas definições para uma metodologia de mapeamen-
to iconográfico. Traduzir a identidade cultural de uma
comunidade, de um grupo social em uma imagem,
uma marca visual, uma representação gráfica, implica
apreender as diferenças (sociais e visuais) nos limiares
deste lugar. Entendemos identidade como algo que nos confere conforto e aqui-
lo que nos tranqüiliza, aquilo que é co-
mum a um grupo, a uma comunidade, a
uma sociedade. A busca dessa identida-
de tem a função simbólica de consolidar
o pensamento sobre determinado assun-
to, fato ou artefato, estabelecendo limia-
res, fronteiras. A identidade é uma repeti-
ção, que gera representações, discursos. A
categoria de identidade se materializa nas
marcas que produz. A identidade torna-se
uma característica de superfície. (NORO-
NHA et al, 2008: sp)
Um mapeamento iconográfico coloca em relevo
a materialidade dos artefatos, e neles poderemos en-
contrar imagens autoconstruídas, ou seja, referências
sobre os sistemas sêmicos construídos sob a égide das
33
A pRodução do sentido
disputas de poder nos lugares pesquisados e as estra-
tégias de visibilidade destas identidades. É no espaço
que propomos, durante a pesquisa, para que os agen-
tes sociais falem, reflitam sobre seus artefatos e suas
imagens de referência, é que os traços identitários
emergem, nos discursos sobre suas peculiaridades,
nas fronteiras e limites das comparações com os ou-
tros grupos. O que os diferencia e funciona como traço
diacrítico se converte em símbolo do grupo, e durante
o processo da iconografia, é traduzido em um ícone.
De forma complementar, tomamos a categoria
imagem como estas “marcas produzidas” pela iden-
tidade. Impressões plasmadas na (e pela) sociedade.
Estamos falando de signos que são ao mesmo tempo
produzidos e consumidos por essa sociedade. Mais a
diante, teremos a oportunidade de aprofundar a dis-
cussão sobre o fluxo de produção e consumo de repre-
sentações gráficas, que, a partir daqui, tomamos como
sinônimo de imagem. A imagem, conclui Platão, pode se parecer
com a coisa representada, mas não tem a
sua realidade. É uma imitação de superfí-
cie, uma mera ilusão de óptica, que fasci-
na apenas as crianças e os tolos, os desti-
tuídos de razão. O pintor, portanto, produz
um simulacro [eidolon, de onde deriva a
palavra ídolo], ou seja, uma representação
do que não existe ou do que não é verdade,
engodo, imagem [eikon] destituída de rea-
lidade (...) (MACHADO, 2001: 9).
A abordagem platônica nos interessa na medida
em que amplia a distância entre a imagem e seu ob-
34
A imAgem nA idAde mídiA
jeto, entre significante e significado, afastando da pri-
meira os significados simbólicos e apenas conside-
rando apenas a “imitação da superfície”. A partir da
derivação eikon – ícone – iconografia, ao propormos
uma ampliação do sentido da categoria iconografia,
incluindo as etapas cognitivas do processo de cons-
trução da imagem, estamos trazendo para o signifi-
cante imagem estes processos e operações semióticas.
Sob a perspectiva platônica, de que a imagem é um si-
mulacro, ela agora, a partir desta proposta de amplia-
ção de sentido, contempla não apenas a visualidade
mas também o pensamento e as hierarquizações ope-
racionalizadas no momento do mapeamento icono-
gráfico, e assim nos afastamos da idéia de que imagem
é “representação do que não existe”, e forjamos, no seu
bojo, a união das duas formas de representação que
desejamos problematizar: representações coletivas e
representações gráficas.
O designer, quando inserido em um campo de
pesquisa, tem uma dupla tarefa acerca da categoria re-
presentação: apreender as representações dos sujeitos
de sua pesquisa, por meio da vivência no lugar da pes-
quisa e constatar preferências, gostos, novas formas
de fazer, o saber local (símbolos da identidade cultu-
ral), que podem ser inspiradores, servindo como re-
ferência ao seu projeto; e representar, traduzir em lin-
guagem gráfica (ou imagens, ou ícones da identidade
cultural) as representações coletivas destes sujeitos.
Quando estes ícones da identidade cultural são
lançados ao consumo, com a sua transformação em
produtos, acontece um novo processo de tradução, o
da sua apreensão por parte de quem os consome co-
35
A pRodução do sentido
nhecendo pouco ou mesmo não conhecendo a sua di-
mensão simbólica enquanto representação coletiva da
cultura de um grupo social. O que difere nesta apre-
ensão destes signos é onde, em que lugar eles foram
consumidos. A partir de qual sistema sêmico eles serão
ressemantizados? Se há uma relação de territorialida-
de (RAFFESTIN, 1993) no ato do consumo ou se foram
consumidos no não-lugar. Assim, o sentido da repre-
sentação é reelaborado:Os recursos simbólicos e seus diversos
modos de organização têm a ver com os
modos de auto-representar-se e de repre-
sentar os outros nas relações de diferen-
ça e desigualdade, ou seja, nomeando ou
desconhecendo, valorizando ou desquali-
ficando. (CANCLINI, 2004: 46)
A iconografia do artefato ou fenômeno represen-
tado passa a ser o signo que informa. E como, no des-
terro, esses signos ainda comunicam a sua identidade?
A imagem deixa de ser a representação iconográfica e
passa a ser o símbolo em si.
Assim, em trânsito, ela deixa de se relacionar com
seu artefato ou fenômeno diretamente e então ocor-
re um processo de ressemantização. A interpretação
do signo se constrói a partir de um referencial distan-
te, de segunda, terceira, quarta mão. Acreditamos que
essa remissão às representações dos outros opera se-
gundo as sistematizações que Foucault (2004) realiza
acerca dos jogos de remissões. Perde-se a noção de ori-
gem, os discursos4 são nós em uma rede de muitos ou-
tros discursos. Não está claro de qual lugar de fala o
discurso parte.
4. Entendemos por discurso mui-to mais do que a fala. Como in-dica Foucault (2004), o discurso vai além do seu sentido linguísti-co. É no seu sen-tido mais amplo, como construção de saberes, práti-cas, instituições, ações e reações, que utilizaremos o conceito no de-correr deste tra-balho.
36
A imAgem nA idAde mídiA
O grau de eficiência desta tradução da identida-
de em imagem – a eficiência da representação – está
associado ao nível de aproximação do designer com
os sujeitos da pesquisa, ou seja, o quão inserido o de-
signer estará no sistema sêmico do grupo social em
questão. Para Raffestin, A representação proposta aqui é, portan-
to, um conjunto definido em relação aos
objetivos de um ator. Não se trata, pois,
do “espaço”, mas de um espaço cons-
truído pelo ator, que comunica suas in-
tenções e a realidade material por inter-
médio de um sistema sêmico. Portanto,
o espaço representado não é mais o es-
paço, mas a imagem do espaço, ou me-
lhor, do território visto e/ou vivido. É em
suma, o espaço que se tornou território
de um ator desde que tomado numa re-
lação social de comunicação. (RAFFES-
TIN, 1993: 147, grifo nosso)
Desta forma, a construção do sistema sêmico está
relacionada com a apropriação do espaço, portanto,
associada à categoria de territorialidade. Mas esta re-
lação, no âmbito da produção e do consumo da cul-
tura, parece-nos extremamente volátil, sem limia-
res definidos. Estamos falando de territorialidade em
tempos de diáspora (HALL, 2003). Essa possibilida-
de nos leva a pensar na construção de inúmeras redes
de significações sobre o mesmo artefato ou fenôme-
no, que, longe de sua “origem”, assume conotações di-
versas. As posições dos agentes sociais no espaço re-
velam as relações de comunicação que Raffestin nos
evidenciou: uma estrutura triádica, baseada nos agen-
37
A pRodução do sentido
tes, suas representações e práticas sobre um espaço/
tempo, e a consequente interação entre esses agentes,
formando tessituras – conjuntos de relações de poder,
simétricas ou assimétricas.
o consumo dA RepResentAção
Neste item, partimos da definição de intercultu-
ralidade de Canclini para analisar as relações de po-
der envolvidas no ato da apreensão das representações
coletivas dos grupos sociais e a sua tradução na for-
ma de representação gráfica. Observaremos como es-
tes ícones transformam-se em artefatos e permeiam
a dimensão sociomaterial da sociedade. Ao cambia-
rem entre representação coletiva e representação grá-
fica, em um movimento orgânico, sem limites ou re-
gras, as imagens adquirem um significado intrínseco,
que Panofsky define como mundo dos valores simbó-
licos (PANOFSKY, 1982). Ao se tornarem uma apro-
priação de uma pessoa ou grupo ou mesmo de toda
uma comunidade, essa imagem comunica um senti-
do convencional, compartilhado por aquelas pessoas.
A construção deste significado intrínseco muitas vezes
é mediada pelo designer que, então, torna-se a figura
estratégica, considerando a atribuição de valor simbó-
lico aos objetos a partir dos estudos sobre a magia, de
Mauss (2003).
Para Canclini, a interculturalidade remete à con-
frontação e ao entrelaçamento, àquilo que sucede
quando os grupos entram em relações de troca. “(...)
[A interculturalidade] implica que os diferentes são
o que são, em relações de negociação, conflito e em-
38
A imAgem nA idAde mídiA
préstimos recíprocos.” (CANCLINI, 2005: 17). Se o ob-
jetivo de uma iconografia é levar signos identitários
de determinado grupo social para um público maior
que não vivencia as práticas sociais no lugar onde elas
acontecem, o que ocorre é uma ressignificação des-
tes ícones. E, em um processo de distanciamento en-
tre os “detentores” do signo identitário, passando pela
tradução realizada pelo designer – a representação – e
chegando à recepção deste signo por uma pessoa que
não tenha uma memória de uma experiência prévia
do artefato ou fenômeno em questão, temos um pro-
cesso de alienação do caráter icônico daquele signo.
Ícone bandei-rinhas, em dois momentos, no
seu lugar, no bar-racão do Boi da Floresta, na sua
origem, e no des-terro, na passa-
rela do desfile de apresentação de produtos, re-alizado na Feira do Empreende-dor (07/11/09),
exemplificando o processo do trân-sito intercultural
do signo.
39
A pRodução do sentido
Como dissemos anteriormente, a imagem deixa de ser
a representação iconográfica e passa a ser o símbolo
em si. Transforma-se em um objeto, ou, melhor dizen-
do, em um artefato. Sobre a palavra artefato, Cardoso
nos expõe uma curiosa etimologia, que nos leva a rela-
cionar os termos artefato e feitiço:Para explorar melhor essa questão do de-
sign como uma espécie de fetichismo, vale
a pena mais uma visita ao país das etimo-
logias. Lembrando que ‘fetichismo’ deriva,
na sua origem indireta, do vocábulo por-
tuguês ‘feitiço’, faz-se relevante examinar
mais detidamente esta última palavra. ‘Fei-
tiço’ se relaciona ao particípio passado ‘fei-
to’, no sentido de ‘coisa-feita’, tanto que na
sua acepção como adjetivo é ‘artificial’, ‘fac-
tício’, ‘postiço’ ou ‘falso’, como em ‘pérolas
feitiças’. O sentido mais comum que atri-
buímos hoje à palavra, como substantivo,
é o de bruxaria, cuja origem está na idéia
de um ‘trabalho feito’ contra alguém. Pois
é justamente nessa idéia do ‘trabalho fei-
to’ que reside o ponto comum entre feitiço,
arte e design. ‘Feitiço’, ‘feito’ e ‘factício’ têm
a sua origem comum no adjetivo latim fac-
tittius, que significa ‘artificial’. (...) Existe um
paralelo conceitual importantíssimo entre
esse mau sentido de ‘feito com arte’ e o bom
sentido da mesma idéia, que se expressa em
latim por arte factus, que dá origem ao nos-
so ‘artefato’. (CARDOSO, 2001: 29)
Após o percurso descrito por Cardoso, propomos
um aprofundamento na discussão sobre o papel do de-
signer ao atuar como um mediador de representações.
40
A imAgem nA idAde mídiA
Um fenômeno social, representado por um desig-
ner na forma de uma imagem, circula e sofre uma sé-
rie de re-interpretações ao longo de seu percurso na
sociedade. Adquire um valor de uso, que pode ser o de
converter-se em um imã de geladeira, estampado com
uma imagem de bumba-meu-boi. Adquire um valor
de troca, pois passa a ter um valor de mercado, rela-
cionando trabalho e produção, traduzido por um pre-
ço em moeda corrente. Essas seriam traduções em um
nível sociomaterial, processos nos quais o designer
está tradicionalmente envolvido. Questões estéticas e
formais, relacionadas aos materiais e aos usos do pro-
duto, envolvendo os meios de produção e seus custos,
chegando ao preço final do produto.
Porém, os objetos possuem, segundo Baudrillard
(1974), mais duas dimensões que se relacionam às re-
presentações deste artefato, que se denominam va-
lor signo e valor símbolo: o primeiro diz respeito aos
elementos semióticos do produto, que o diferen-
ciam dos demais, como o uso das cores, o acabamen-
to do azulejo, o fato de ter sido pintado à mão ou ter
sido impresso em serigrafia, enfim, as características
que agregam outros valores sem ser os de uso. O valor
símbolo está vinculado aos rituais, ao fato, por exem-
plo, de ser presenteado com um imã de azulejo de São
Luís, por uma pessoa querida que visitou a cidade.
Este fato confere a este artefato sentido distinto, que o
torna não-permutável porque nasce da relação entre
as pessoas entre si e entre elas e os artefatos.
A partir de convenções e simbolismos, credencia-
mos os artefatos a ingressarem na sociedade e a cons-
tituírem o seu amálgama, suas relações de sentido, que
41
A pRodução do sentido
Ícone da corei-ra D. Analice no trânsito intercul-tural: (1)no mo-mento da análise pré-iconográfica, o contato com a própria ima-gem; (2) a repre-sentação gráfica, no momento da análise iconográ-fica; (3)a imagem convertida em produto, na pas-sarela, na Feira do Empreende-dor (07/11/09) e (4) na oficina de serigrafia, quan-do D. Analice re-produz a própria imagem, na for-ma de camiseta.
1
3
2
4
42
A imAgem nA idAde mídiA
organizam a vida social e as relações de significação. Ao
designer, cabe o papel de ser o mensageiro, o mediador
entre as relações de poder e as relações de sentido, exer-
cendo o seu papel de interpretação de códigos culturais
e a sua tradução em códigos materiais.
Ao interpretar a cultura, o designer faz as vezes do
feiticeiro. Mauss, em seus estudos sobre a magia e a
relações entre as pessoas e os símbolos mágicos, nos
aponta que “a imagem está para a coisa assim como a
parte está para o todo. Dito de outro modo, uma sim-
ples figura é, fora do contato e de toda comunica-
ção direta, integralmente representativa.” (MAUSS,
2003:104). No caso da representação em magia, há
uma série de leis que regem a relação entre a pessoa
ou coisa e a sua representação, no que tange às pro-
priedades mágicas.
No nosso caso, são as convenções do sistema sê-
mico do lugar no qual estamos inseridos como pes-
quisadores que norteiam e indicam que partes da-
quele todo (a cultura) podem ser alienadas, para que,
mesmo no desterro do trânsito intercultural, uma ima-
gem tenha autonomia sígnica, ainda que seja para sig-
nificar conceitos demasiadamente distantes do seu lu-
gar de origem.A natureza essencial dos trabalhos de de-
sign não reside nem em seus processos,
nem em seus produtos, mas em uma con-
junção muito particular de ambos: mais
precisamente, na maneira em que os pro-
cessos de design incidem sobre seus pro-
dutos, investindo-os de significados
alheios à sua natureza intrínseca. Esta ação
de investimento, que pretendo enquadrar
43
A pRodução do sentido
aqui dentro de uma categoria um tanto es-
drúxula, que denominarei, contrariando o
senso comum da palavra, de fetichismo dos
objetos. (CARDOSO, 2001: 17)
Quando estas imagens são consumidas, elas ne-
cessariamente são uma apropriação de segunda-mão.
Quando um interpretante constrói a sua relação de co-
municação com o artefato, ele a realiza a partir do seu
próprio sistema sêmico, que pode ser próximo ou dis-
tante – simbólica ou fisicamente – do contexto inicial
da produção do sentido. Quando este artefato é produ-
zido por um designer, ainda somam-se a ele as repre-
sentações deste profissional, que, enquanto mediador e
tradutor, transita entre as representações coletivas das
pessoas que foram suas informantes e as suas próprias
representações. Sobre uma informação inicial, novas
camadas de sentidos são superpostas, sem anular as
anteriores. A produção e o consumo da cultura são pro-
cessos que transformam matéria em forma, e nova-
mente forma em matéria, e assim sucessivamente. Per-
de-se a noção de origem e de destino: um artefato que
agora é um nó central da teia de significado, daqui a al-
guns instantes é apenas um ponto secundário. A teia
de significados é complexa, não tem início nem fim, e o
trânsito entre o ícone e o símbolo acontece simultanea-
mente, sem regras ou limites pré-estabelecidos.
infoRmAção e expeRiênciA
Como observamos no item anterior, em um ma-
peamento iconográfico o designer busca nas represen-
44
A imAgem nA idAde mídiA
tações dos grupos sociais a matéria para construir suas
representações. Então, o design é um dos métodos de
dar forma à matéria e de fazê-la aparecer como apa-
rece, e não de outro modo. Existe, portanto, uma in-
tenção projetual. Propomos, no âmbito do projeto Ico-
nografias do Maranhão, tratar as representações dos
grupos sociais que estamos pesquisando como artefa-
tos ou fenômenos, para englobar as dimensões ditas
materiais e intangíveis do patrimônio5. Tanto os artefa-
tos como os fenômenos possuem uma existência ma-
terial, ainda que representem manifestações conside-
radas intangíveis6. Portanto, a cultura é a matéria sobre
a qual o designer constrói a iconografia. Essa represen-
tação gráfica (iconografia) traduz as marcas diacríti-
cas dos grupos sociais pesquisados. Para Flusser, a área
do Design é fruto de um processo de codificação da ex-
periência. Todo artefato é produzido por meio da ação
de dar forma à matéria seguindo uma intenção. In-for-
mar, no sentido etimológico, é dar forma a algo.
O designer cria a forma para acondicionar a maté-
ria. A essa forma, ou melhor dizendo, a esta fôrma, da-
mos o nome de linguagem. É a forma que faz o material
aparecer. Mapear iconografias, no sentido strictu, é for-
malizar (informar) as representações sobre a cultura.
Essa linguagem, que na verdade é um processo
de estilização, constitui-se de representações coletivas
(símbolos da cultura – identidade) convertidos em re-
presentações gráficas (ícones da cultura – imagem).
Porém o processo não cessa nesta primeira conver-
são. Ele continua, com o consumo destas imagens,
com o seu trânsito intercultural, com as novas esti-
lizações provocadas com as transformações de ima-
5. As questões sobre as noções de patrimônio,
suas dimensões materiais e in-
tangíveis no âm-bito do centro antigo de São
Luís foram am-plamente dis-
cutidas e apro-fundadas em:
NORONHA, 2007.
6. Ver mais so-bre a materiali-
dade das dimen-sões imateriais do patrimônio
em GONÇALVES, 2003.
45
A pRodução do sentido
gens em objetos, com usos diferenciados dos atribuí-
dos em sua “origem”, na sua territorialidade. Quando
uma imagem é consumida no desterro, ela assume
uma significação diferente, sem os referenciais sim-
bólicos do contexto na qual foi criada. De um ícone
de determinado grupo social, a imagem consumida
passa a ser novamente um símbolo, uma convenção,
sem uma ligação direta (icônica) com uma tessitura
“original”. Novos valores de uso, troca, signo e símbo-
lo são atribuídos a esta imagem-artefato-fenômeno.
Enquanto linguagem, o processo de estilização
pode ser considerado uma tradução, uma representa-
ção de uma realidade a partir de traços característicos
de registro, de gênero ou de período. Aí entra o traço
gráfico do designer, ou a sua capacidade de interpre-
tar e traduzir a matéria. O texto é considerado desconstrutivamente
como o lugar para a produção de significados
de um modo interativo e dinâmico, que envol-
ve o leitor em determinações sociais, culturais
e institucionais e em uma multiplicidade de in-
terpretações possíveis e análises baseadas em
diferentes formações de leitura para diferentes
propósitos críticos. (SANTAELLA, 2007:60)
Onde lemos texto, proponho que leiamos imagem,
ou representação. Nessa linha, a análise de uma imagem
é também a análise das interações entre várias posições
subjetivas e das intertextualidades e histórias a que essas
posições se filiam. Quanto mais o designer se aprofun-
dar na experiência da cultura que ele irá interpretar, mais
apto a traduzi-la ele estará. “Disso resulta uma visão do
texto como bricolagem, múltiplos fragmentos que se su-
46
A imAgem nA idAde mídiA
turam a realidades sociais e culturais por meios institu-
cionais e culturais.” (SANTAELLA, 2007:60)
O designer como autor, transcende a sua função
de intérprete-tradutor. Ele deixa sua marca na repre-
sentação, ou seja, suas próprias representações sobre
a cultura. No processo de in-formar, estamos atuando
de forma ativa na construção do sentido. Estamos es-
tabelecendo hierarquias e classificações, estamos no-
meando, dando forma à matéria. Estamos construindo
discursos a partir de um lugar privilegiado de fala. Ao
darmos forma à matéria, estamos produzindo modelos,
que passarão a ser repetidos, reinterpretados e reposi-
cionados sob as estruturas de força da sociedade. O reencontro com a própria
imagem e a afir-mação da iden-
tidade: orgulho e auto-estima.
47
A pRodução do sentido
RefeRênciAs bibliogRáficAs
AUGÉ, Marc. Não-lugares: intro-dução a uma antropologia da su-permodernidade. Campinas: Papi-rus, 1994.
CANCLINI, Néstor Garcia. Diferen-tes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.
CARDOSO, Rafael. Design, Cultura Material e o Fetichismo dos Obje-tos. In: Arcos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 14-39, 1998.
FLUSSER, Vilém. O mundo codi-ficado: por uma filosofia do de-sign e da comunicação. Rafael Cardoso (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2007.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Fo-rense Universitária, 2004.
GONÇALVES, José Reginaldo S. O patrimônio como categoria de pensamento. In: Abreu, R. e CHA-GAS, M. (orgs). Memória e patri-mônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
HALL, Stuart. Da diáspora – identi-dades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003
MACHADO, Arlindo. O quarto ico-noclasmo e outros ensaios here-ges. Rio de Janeiro: Rios Ambicio-sos, 2001.
MAUSS, Marcel. Sociologia e an-tropologia. São Paulo: Cosac Nai-fy, 2003.
NORONHA, R. G; OLIVEIRA FILHO, H. L; RODRIGUES, C. D. Lugares comuns: a marca territorial do Des-terro, identidade e etnografia. In: P&D, 2008, São Paulo. Anais do VIII P&D design. São Paulo : P&D, 2008.
NORONHA, Raquel. No coração da Praia Grande: representações sobre a noção de patrimônio na Feira da Praia Grande, São Luís, Maranhão. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Ciências So-ciais. Orientação: Profa. Dra. Maris-tela de Paula Andrade. UFMA, 2007.
PANOFSKY, Erwin. Estudos de Ico-nologia. Lisboa: Editorial Estam-pa, 1982.
RAFFESTIN, Claude. Por uma ge-ografia do poder. São Paulo: Áti-ca, 1993.
SANTAELLA, Lucia. Linguagens lí-quidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007.