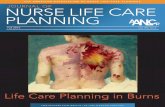O amor ainda é um fogo que arde sem se ver? - Is love still a fire that burns without being seen?
Transcript of O amor ainda é um fogo que arde sem se ver? - Is love still a fire that burns without being seen?
Running Head: O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 1
O amor ainda é um fogo que arde sem se ver?
Sandra Ramos e Jorge A. Ramos
ISCTE-IUL
Notas dos Autores
Sandra Ramos (n.º 60164) e Jorge A. Ramos (n.º 60113) são discentes que
pertencem à turma PB1 do 2.º ano da Licenciatura em Psicologia no ISCTE-IUL em Lisboa,
ano letivo de 2013-2014.
Este trabalho faz parte da Unidade Curricular com o nome Aprendizagem,
Motivação e Emoção ministrada pela Professora Doutora Patrícia Arriaga.
A correspondência para os autores deste trabalho pode ser remetida para
[email protected] ou para a Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-IUL situada
na Avenida das Forças Armadas, Edifício I, Sala 1W6, 1649-026 Lisboa, Portugal.
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 2
Resumo
Este trabalho dá sequência ao que é requerido como trabalho de grupo para esta unidade
curricular: efetuar uma revisão de literatura sobre uma emoção. Dos exemplos propostos
escolhemos o amor, por ser o mais positivamente desafiante, o que se iniciou na dificuldade
em defini-lo, se transferiu para as suas funções adaptativas e logo de seguida para as suas
disfuncionalidades, mais ainda na possibilidade de o induzir, um pouco menos nas formas de
o avaliar. Concluímos com dois estudos empíricos e, conforme proposto, refletimos sobre as
conclusões dos autores, tentando responder à questão que serve de título a este artigo.
Palavras-chave: amor romântico, amor apaixonado, amor companheiro, teoria triangular do
amor, compromisso, intimidade, paixão, escala triangular do amor
Abstract
This paper follows up the requirements for the group work of this curricular unit: make
literature review on an emotion. From the proposed examples we choose love, as it is the
most positively challenging, which began in the difficulty of defining it, moved to its
adaptive functions and then immediately to its dysfunctions, even more in the possibility of
inducing it, slightly less in the forms of assessing it. We conclude with two empirical studies
and, as proposed, reflecting on the authors' conclusions, trying to answer the question that
serves as the title of this article.
Keywords: romantic love, passionate love, companionate love, triangular theory of love,
commitment, intimacy, passion, triangular love scale
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 3
De acordo com Sternberg (1997, p. 313) “os amantes podem ser ilusórios com
frequência, mas ao sê-lo, estão a espelhar o próprio fenómeno do amor”, por isso, ao ser
estudado, os construtos que se criam na psicologia em torno do amor, são ainda mais
ilusórios; porém, esse ilusionismo não desencoraja os investigadores no sentido de
entenderem a essência do amor, o que é algo a que nos propomos, um pouco, com este artigo,
cientes porém de que o amor que nos motiva a entender melhor o amor ilusiona-o ainda mais.
1. O Que é o Amor?
As Definições de Amor
Segundo Strongman (2003, p. 142) “se o amor é uma emoção é provavelmente a
mais complexa de todas. Se é um estado de ser, que inclui várias emoções, algumas delas
decididamente positivas, então é um estado muito complexo de ser”. Porém, Rubin (1970,
citado em Martins-Silva, Trindade & Junior, 2013, p. 19) define o amor como “uma atitude
em relação a uma pessoa em particular que envolve uma predisposição para pensar, sentir e
se comportar de certa forma em relação a essa pessoa”.
Todavia de acordo com Shiota e Kalat (2007) definir o amor não é uma tarefa fácil
para qualquer pessoa (onde se incluem os investigadores das emoções) dado usar-se
comummente a palavra amor quando se expressa verbalmente afeto, por exemplo,
relativamente ao cônjuge, aos pais, aos filhos, como também ao chocolate, à música ou a um
dia na praia. E se nos centrarmos num dos referidos alvos de afeto, como por exemplo o
cônjuge, onde já se fala de amor romântico, torna-se ainda mais árduo definir o que é o amor
dado que no decurso de uma relação deste tipo podem-se sentir muitos outros sentimentos
(e.g., a preocupação, a gratidão, a dependência, a atração física e um afeto caloroso), o que
não acontece, por exemplo, com a música.
Ainda assim, os especialistas no estudo do amor, Reis e Aron (2008, citados em
Reevy, 2010, p. 359) definem o amor como “um desejo para entrar, manter ou expandir um
relacionamento próximo, conectado e em curso, com outra pessoa ou outra entidade”.
Já segundo Petersen e Seligman (2004, p. 304) o “amor representa uma postura
cognitiva, comportamental e emocional para com os outros, a qual possui três formas
prototípicas”: (1) o amor dos filhos para com os pais (que são a principal fonte de afeto para
as crianças, através dos seus cuidados, proteção e disponibilidade); (2) o amor dos pais para
com os filhos (cujo bem-estar depende muito dos seus progenitores, os quais podem mesmo
colocar as necessidades dos seus filhos à frente das suas); e (3) o amor romântico, que de
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 4
acordo com os mesmos autores (idem) “envolve o desejo apaixonado de proximidade sexual,
física e emocional com um indivíduo que consideramos especial e que nos faz sentir
especial”. Neste trabalho focar-nos-emos nesta última dimensão do amor.
O Amor Romântico
Parece-nos desde logo óbvio que o amor romântico possui variações culturais, uma
vez que, nas sociedades humanas monogâmicas é inaceitável ter mais do que um parceiro, ao
passo que em culturas poligâmicas essa regra social não existe. Por outro lado, conforme
Swidler (2001, citado em Shiota e Kalat, 2007, p. 217) “nas culturas ocidentais modernas, o
amor romântico é visto com frequência como o motivador para o casamento e a reprodução”,
porém (de acordo com Shiota e Kalat, 2007) isso não ocorre em todas as culturas uma vez
que, em muitas sociedades humanas, os pais forçam os filhos a casar com determinados
sujeitos por razões económicas ou outros interesses práticos.
O amor romântico nas culturas ocidentais modernas. Numa sociedade humana,
como a portuguesa, normalmente o amor romântico possui vários estágios. Conforme Shiota
e Kalat (2007) os primeiros estágios podem ser designados por amor apaixonado, onde, duas
pessoas que se atraem mutuamente pensam com frequência uma sobre a outra, desejam estar
juntas, tendem a ignorar as falhas e a valorizar os aspetos positivos do outro. Se a relação se
mantém, aumenta o compromisso com a relação, são apresentadas as famílias, partilham-se
mais recursos e assume-se um compromisso mais duradouro (e.g., o casamento ou mesmo a
coabitação sem casamento). Entra-se assim nos estágios do amor companheiro que enfatiza a
segurança, a proteção, os cuidados mútuos e que, sendo forte, se relaciona com frequência a
altos níveis de satisfação com a vida, pois nestes estágios ajustam-se as incompatibilidades e
já se veem as falhas, que são percecionadas como específicas a determinadas situações. No
amor companheiro a atração física ainda está presente, mas há menos entusiasmo com a
presença do outro e menos necessidade de estarem juntos constantemente, porém, é possível
avivar a relação com a experiência conjunta de atividades entusiasmantes.
Estes estágios do amor romântico associam-se às três componentes do amor
propostos por Sternberg (1997), dado que (segundo Reevy, 2010, p. 360) “em geral, a paixão
tende a ser associada ao amor apaixonado, e a intimidade e o compromisso tendem a ser
associados ao amor companheiro”. Outra teoria sobre o amor romântico (mais antiga, mas
que não deixa de ser interessante) é a de Maslow (1962, citado em Martins-Silva et al., 2013)
que defende que o amor romântico pode ser de dois tipos: D-love (o amor deficiente, que
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 5
surge com o objetivo de sanar as próprias deficiências, amando o outro) e B-love (o ser amor,
que ocorre entre sujeitos autorrealizados, que amam o outro tal como ele é de facto).
2. O Amor Pode ser Adaptativo e/ou Disfuncional?
O Amor Darwiniano
Segundo Reevy (2010, p. 360) “Charles Darwin afirmou que a atração sexual é
necessária para a sobrevivência da nossa espécie e, por conseguinte, o amor sexual é
funcional”. Esta perspetiva evolucionista do amor também é defendida por Reis e Aron
(2008, citados em Reevy, 2010) que argumentam que o amor apaixonado leva a relações que
se mantenham o tempo suficiente para haver reprodução e que o amor companheiro (onde se
inclui não só o amor entre os pais como o amor dos pais para com os filhos) aumenta a
probabilidade de os filhos sobreviverem.
O Amor Disfuncional
De acordo com Reevy (2010) Bowlby e Harlow, com os seus estudos sobre a
vinculação na infância, provaram que a qualidade do vínculo entre o bebé e a mãe pode
influenciar as futuras relações amorosas da criança. Porém esta conclusão não deve ser vista
como taxativa pois, para além da mãe (e do pai), os seres humanos interagem noutros
contextos sociais que os influenciam, daí que, conforme Belsky (1999, citado em Martins-
Silva et al., 2013, p. 25) “algumas crianças desenvolvem [sic] apego seguro mesmo que os
cuidadores não estejam tão próximos”. Por outro lado, Werner e Smith (1982, citados em
Martins-Silva, 2013, p. 24), nos seus estudos sobre resiliência, aferiram que “algumas
crianças que viveram em ambientes considerados de risco (pobreza, stresse perinatal,
cuidados parentais deficientes – pais alcoólatras ou com distúrbios mentais) não
desenvolveram problemas relacionados com a aprendizagem, o comportamento ou com os
aspetos afetivo-emocionais”.
Segundo os estudos realizados por vários investigadores entre 1976 e 2001 (citados
por Shiota e Kalat, 2007) alguns preditores da estabilidade marital são:
Ter mais de 20 anos; crescer com ambos os pais; namorar bastante tempo antes de
casar, mas não viver juntos; ter o mesmo nível de escolaridade, principalmente se for
alto; ter bons ordenados; ter uma boa disposição; viver numa cidade pequena ou
rural; ser religioso e ter a mesma afiliação religiosa; ter idades próximas e atitudes
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 6
semelhantes; ter relações sexuais frequentes, e poucas discussões. (Shiota e Kalat,
2007, p. 223)
Poder-se-á então inferir que, por exemplo, não ter crescido com ambos os pais ou
viver numa grande cidade serão preditores de futuras disfuncionalidades na relação de um
casal? Não necessariamente pois não foram aferidas relações causais mas sim correlações, o
que significa que os preditores supra elencados são tendências. Parece-nos porém algo óbvio
que se um casal não tem relações sexuais frequentes isso pode ser disfuncional para a relação,
a não ser que algum dos membros do casal, ou ambos, tenham dificuldades nesse nível.
Reis e Aron (citados em Reevy, 2010, p. 360) salientam também que “o amor está
associado a alguns aspetos negativos, a que chamam o “lado negro” do amor, incluindo o
luto, o amor não correspondido, o ciúme, o abandono e a violência”. Assim sendo parece-nos
que a disfuncionalidade do amor pode ocorrer também na ausência de bidirecionalidade
afetiva, isto é, um sujeito pode amar outro mas se não existir reciprocidade o amor reveste-se
de uma camada de sofrimento.
Por sua vez Gottman et al. (citados em Shiota e Kalat, 2007, p. 225) identificaram
quatro padrões emocionais – a que deram o nome de “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” –
que são preditores de disfuncionalidade numa relação romântica: o criticismo (em especial
quando se apontam os defeitos do parceiro), a atitude defensiva (que é normalmente uma
resposta à crítica, com crítica), o desprezo (que inclui o uso de sarcasmo e insultos) e a
obstrução da comunicação (recusando cooperar com as tentativas de comunicação do outro).
3. Poderá o Amor ser Induzido e Avaliado?
Não Será Antiético Induzir o Amor?
Não encontrámos nenhum estudo em psicologia onde o amor tenha sido induzido.
Provavelmente pelas questões éticas que esse procedimento poderia levantar. De acordo com
a APA (2010, p. 11) “os psicólogos não podem iludir os possíveis participantes acerca de
investigações onde se espera potencial dor física ou stresse emocional grave”. Imaginemos
uma situação experimental onde um sujeito com baixa autoestima era induzido por outro
(muito bem aparentado) no sentido de o primeiro ficar apaixonado pelo segundo. Depois
induzir-se-ia compromisso e intimidade. E por fim, após a experiência estar concluída o
sujeito ingénuo seria confrontado com a verdade. Não poderia ser altamente perturbador?
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 7
Tentativas de Medir o Amor
Segundo Massuda (2003, citado por Andrade, Garcia & Cassepp-Borges, 2013) a
teoria triangular do amor de Sternberg é uma das mais importantes no âmbito dos
relacionamentos românticos. De acordo com Sternberg (1997) o seu modelo sugere que o
amor romântico abarca componentes que podem ser vistas como os três vértices de um
triângulo, os quais representam diferentes aspetos do amor: a intimidade (que engloba a
proximidade e o investimento emocional na outra pessoa), o compromisso (que possui duas
dimensões: a do curto prazo onde se observa o desenvolvimento do amor na relação e a
dimensão do longo prazo onde ambos se comprometem em manter o amor) e a paixão (um
estado de ativação e desejo por outra pessoa que se consuma no ato sexual). A partir destas
três componentes do amor é possível gerar oito tipos de amor: o desamor (que é a ausência
das três componentes); a amizade (quando se experiencia intimidade sem paixão e
compromisso), o amor apaixonado (quando se sente paixão, sem intimidade e compromisso),
o amor vazio (quando há compromisso, sem paixão e intimidade), o amor romântico (quando
há intimidade e paixão, sem compromisso), o amor companheiro (onde há intimidade e
compromisso, sem paixão), o amor fátuo (onde há paixão e compromisso, sem intimidade) e
o amor consumado ou completo (onde estão presentes as três componentes do amor).
Preconizando medir os construtos do amor com base na sua teoria Sternberg (1997)
construiu uma escala (Triangular Love Scale) do tipo Likert de concordância com 36 itens,
12 para cada componente do amor; por exemplo (idem, p. 318): “sinto-me emocionalmente
chegado a…”, “não consigo imaginar a vida sem…” e “estou seguro do meu amor por…”.
Porém Sternberg aferiu que as correlações entre as três componentes eram muito elevadas (e
logo estavam a ser analisadas como se fossem o mesmo construto). Ao substituir alguns itens
e adicionando outros (três a cada construto), Sternberg construiu uma segunda escala com 45
itens e concluiu que (idem, p. 333) “o conjunto de resultados, no seu todo, é no mínimo
encorajador no que diz respeito à validade interna e externa da teoria triangular.”
Cassepp-Borges e Teodoro (2007) aplicaram a versão portuguesa (Escala Triangular
do Amor) com 45 itens, a uma amostra de 361 estudantes universitários brasileiros mas
depararam-se com o problema inicial de Sternberg (altas correlações entre as componentes do
amor). Reanalisaram então os mesmos dados mas reduzindo os itens a 18 e apesar das
correlações se terem mantido elevadas concluíram que “os resultados sugerem que ambas as
versões da ETAS são psicometricamente adequadas para se mensurar o amor”. Por seu turno
Andrade et al. (2013) aplicaram a versão portuguesa da escala de Sternberg numa versão
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 8
reduzida de 15 itens (com a estrutura fatorial do Anexo 1), a uma amostra de 1530 sujeitos
brasileiros e concluíram que “as inter-relações presentes entre os três construtos ajustam-se à
hipótese triangular do amor de Sternberg (…), comprovando, dentro dessa perspetiva, a
relevância dos componentes paixão, compromisso e intimidade na construção do amor”.
Por outro lado as novas tecnologias possibilitam avaliar o amor a manifestar-se em
tempo real. Bartels e Zeki (2000, citados em Shiota e Kalat, 2007) ao estudarem 17 jovens
adultos (que disseram estar profundamente apaixonados) aferiram (com o auxílio de imagens
de ressonâncias magnéticas funcionais) que quando os jovens viam imagens da pessoa por
quem estavam apaixonados (em comparação com imagens de amigos) a atividade cerebral
era mais ativada (sendo mesmo designada pelos autores como “excitação eufórica”) e incluía
as áreas do cérebro que se ativam como resposta a recompensas como a cocaína e o álcool.
4. Outros Estudos Empíricos Sobre o Amor
A Importância de Olhar Também para o Positivo
Graber, Laurenceau, Miga, Chango e Coan (2011) salientam que a investigação
sobre a interação marital se tem focado maioritariamente nos contextos conflituosos e, por
conseguinte, os contextos positivos têm sido desconsiderados. Para tentar preencher este
vazio, estes investigadores efetuaram um estudo correlacional longitudinal com 119 casais
(casados há 4,4 meses em média) onde compararam os comportamentos dos casais em
interações conflituosas (através de uma tarefa onde elegiam um conflito que tinham
experienciado para o debater e tentar resolver como se estivessem em casa) e em interações
amorosas (por intermédio de outra tarefa onde pensavam sobre os aspetos positivos do outro,
e.g. amor, paixão, desejo e respeito, expressando-os ao outro durante 12 a 15 minutos como
se estivessem em casa), com o objetivo de medir e prever a satisfação na relação e a
inclinação para o divórcio (dentro dos 6 meses após o casamento e cerca de 15 meses depois).
Os resultados mostraram que as emoções positivas e negativas (demonstradas nas
duas tarefas) são preditoras da qualidade e da estabilidade do relacionamento do casal,
aferindo-se concretamente que as emoções positivas (expressas na segunda tarefa) são
preditoras de maior satisfação marital e que as emoções negativas (expressas na primeira
tarefa) predizem situações de divórcio, levando os investigadores (Graber et al., 2011, p. 547)
a concluir que estes resultados salientam “implicações potencialmente importantes para a
avaliação e o tratamento de problemas nos relacionamentos (…) devendo também ser
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 9
considerado pelos terapeutas o uso de tarefas positivas de interação para compreender o
funcionamento dos casais de uma forma mais completa”.
Embora este trabalho se foque nos relacionamentos amorosos, do nosso ponto de
vista o estudo de Graber et al. (2011) também pode, de alguma forma, chamar a atenção para
a importância do afeto em contexto terapêutico e na relação terapêutica, assim como, para a
importância do afeto em contexto educativo e na relação educativa, uma vez que em ambos
os tipos de relações, se o cliente e o aluno forem motivados por interações positivas (por
parte dos clínicos e dos professores) talvez seja mais provável que subam os seus níveis de
satisfação com a terapia e com o ensino. Qual será o problema em demonstrar um pouco de
afeto, desde que seja genuíno, moderado e ajustado a cada sujeito específico? Subiriam as
consultas de psicologia e o aproveitamento escolar se estes dois contextos fossem mais
emocionalmente positivos? E não seria esse positivismo uma mais-valia para todos os
sujeitos intervenientes, levando boas imagens para as suas relações amorosas (entre outras)?
Fatores que Dificultam a Expressão do Amor Romântico
Estando a terapia familiar a disseminar-se um pouco por todo o mundo, Miller et al.
(2014) estudaram os problemas maritais mais comuns (fora dos E.U.A. e da Europa) com 80
casais brasileiros para que as avaliações e as terapias neste contexto sejam melhor aplicadas,
uma vez que (segundo Hofstede & McCrae, 2004, citados em Miller et al., 2014) “os
indivíduos de diferentes origens culturais podem ter diferentes perceções de eventos similares
porque possuem diferentes crenças, valores e expectativas sociais”, por conseguinte
(conforme Miller et al., 2014) a natureza e o impacto dos conflitos conjugais poderão ser
distintamente percebidos (e.g., nos E.U.A. e no Brasil) na satisfação com o casamento.
Segundo Miller et al. (2014) já tinha sido aferido (por Della Coleta, 1991, em dois
estudos, com uma amostra total de 330 sujeitos) que os aspetos emocionais das relações
maritais são importantes para os casais brasileiros, sendo o amor o fator principal para a
manutenção do casamento. Outros estudos (Garcia & Tassara, 2003; Cerbasi, 2004; Féres-
Carneiro, 2003; Abdo, 2004; Almeida & Mayor, 2006) apontaram como problemas conjugais
o dinheiro, a falta de afeto, a qualidade do sexo, a infidelidade e o ciúme. Porém nenhum
estudo tinha ainda aferido as diferenças de género na perceção dos problemas maritais, bem
como o impacto dessa perceção na satisfação conjugal.
No estudo de Miller et al. (2014) os participantes responderam a um questionário
que incluía itens relacionados com problemas maritais (e.g., drogas, dinheiro e filhos) e itens
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 10
associados à satisfação com o casamento (através da Revised Dyadic Adjustment Scale). Os
resultados não mostraram diferenças significativas na variável género na perceção dos
problemas maritais, mas salientaram que o dinheiro é o principal problema das relações
conjugais seguido dos filhos e do ciúme. As diferenças de género só foram encontradas nas
variáveis sexo e álcool, as quais foram as mais salientes na satisfação com o casamento:
ambas têm um impacto significativo na satisfação marital das mulheres, ao passo que na
satisfação dos homens com o casamento o sexo é o fator com mais impacto. Assim sendo,
concluíram Miller et al. (2014) que, estes resultados podem auxiliar os clínicos em contexto
de terapia familiar pois os casais brasileiros podem não só ter problemas maritais devido à
escassez de recursos financeiros como devido à forma como os gerem, o que requer aumento
da cooperação nessa gestão e suporte mútuo. Por outro lado sugerem que os clínicos levem
em conta que mais de um terço das mulheres e mais de um quarto dos homens reporta
dificuldades na relação sexual, sendo importante trabalhar o ciúme, que é muito comum nas
relações românticas brasileiras e onde por vezes é visto positivamente, como uma prova de
amor (ao passo que e.g., nos E.U.A. é visto como inadequado e, com frequência, como
patológico), daí que seja essencial que os clínicos brasileiros trabalhem cognitivamente os
conceitos de fronteira de exclusividade inter-relacional.
Embora este estudo não se foque explicitamente sobre o amor, implicitamente ele
incide sobre o amor pois salienta fatores que obstruem ou dificultam a sua expressão.
Parecendo-nos ser muito importantes as sugestões que os investigadores deixam aos clínicos
parece-nos também ser necessário salientar que os indivíduos adultos que participaram na
investigação, já foram bebés, crianças e adolescentes, e por conseguinte (conforme Cacioppo
& Freberg. 2013) estiveram (e continuam a estar) sujeitos a diversos tipos de aprendizagem
(associativa, por condicionamento clássico e operante; não-associativa, por habituação e
sensitização; observacional ou vicariante), logo, para além da abordagem educativa (sugerida
por Miller et al., 2014) parece-nos que uma consciencialização das várias influências
sistémicas que os sujeitos foram recebendo ao longo da vida, bem como (conforme sugerem
Graber et al., 2011) tornando salientes os aspetos positivos do relacionamento, talvez também
auxiliasse os casais nos seus processos de experienciar um amor romântico mais saudável.
Em suma, embora o amor já não seja um fogo que arda sem se ver (dado que as
ressonâncias magnéticas nos permitem vê-lo em ação) e, em muitos casos, continue a ser um
contentamento descontente, o amor continua a servir a quem vence, o vencedor, neste caso, o
amor, pois escrevemos tanto e nada sobre ele, que muito sabiamente, se mantém iludente.
O AMOR AINDA É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER? 11
Referências
American Psychological Association (APA). (2010). Ethical Principles of Psychologists and
Code of Conduct. Retrieved from: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
Andrade, A. L., Garcia, A. & Cassepp-Borges, V. (2013). Evidências de Validade da Escala
Triangular do Amor de Sternberg – Reduzida (ETAS-R). Psico-USF, Bragança
Paulista, 18(3), 501-510.
Cacioppo, J. T. & Freberg, L. A. (2013). Discovering Psychology: The Science of Mind.
Belmont, CA: Cengage Learning.
Cassepp-Borges, V., & Teodoro, M. L. M. (2007). Propriedades Psicométricas da Versão
Brasileira da Escala Triangular do Amor de Sternberg. Psicologia: Reflexão e
Crítica, 20(3), 513-522.
Graber, E. C., Laurenceau, J-P., Miga, E., Chango, J. & Coan, J. (2011). Conflict and Love:
Predicting Newlywed Marital Outcomes From Two Interaction Contexts. Journal
of Family Psychology, 25(4), 541–550.
Martins-Silva, P. O., Trindade, Z. A., & Junior, A. S. (2013). Teorias Sobre o Amor no
Campo da Psicologia Social. Psicologia: Ciência e Profissão, 22(1), 16-31.
Miller, R. B., Nunes, N. A., Bean, R. A., Day, R. D., Falceto, O. G., Hollist, C. S., &
Fernandes, C. L. (2014). Marital Problems and Marital Satisfaction Among
Brazilian Couples. The American Journal of Family Therapy, 42, 153–166.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and
classification. Washington, DC: American Psychological Association and Oxford
University Press.
Reevy, G. M. (2010). Encyclopedia of Emotion. Califórnia: Greenwood.
Shiota, M. N., & Kalat, J. W. (2007). Emotion (2.ª ed.). Belmont: Wadsworth.
Sternberg, R. J. (1997). Construct validation of a triangular love scale. European Journal of
Psychology, 27, 313-335.
Strongman, K. T. (2003). The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory.
Califórnia: John Wiley & Sons Inc.