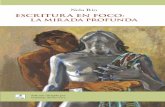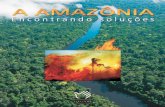Meio Ambiente em Foco Volume 10 - DOI
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Meio Ambiente em Foco Volume 10 - DOI
Fabiane dos Santos (Organizadora)
Meio Ambiente em Foco
Volume 10
1ª Edição
Belo Horizonte Poisson
2019
Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade
Conselho Editorial
Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais Msc. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas Msc. Fabiane dos Santos
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) M514
Meio Ambiente em Foco - Volume 10/
Organização: Fabiane dos Santos
Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019
Formato: PDF
ISBN: 978-85-7042-189-0
DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
1. Meio ambiente 2. Gestão. I. dos Santos, Fabiane
CDD-577
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.
Baixe outros títulos gratuitamente em www.poisson.com.br
Sumário Capítulo 1:As políticas ambientais no Brasil: Tendências e desafios ................................ 08
Maria José Andrade da Silva DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.01
Capítulo 2: A Importância dos centros de reciclagem para o meio ambiente ............... 15
Lucas Ventura Pereira, Ana Cláudia Pimentel de Oliveira, Sergio Vieira Anversa, Daniel de Oliveira Leal DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.02
Capítulo 3: Produção de tijolos de concreto intertravado por meio da reutilização de resíduos da construção civil .................................................................................................................. 19
Alice da Costa Silva, Brismark Góes da Rocha DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.03
Capítulo 4: Descarte irregular de resíduos sólidos e suas consequências nas proximidades do Campus V da Universidade do Estado do Pará, Belém-PA ................... 25
Felipe da Costa da Silva, Beatriz Braga da Silva Lima, Andréa Fagundes Ferreira Chaves, Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.04
Capítulo 5: Legislação de pilhas e baterias: Panorama Nacional ......................................... 32
Felipe da Costa da Silva, Valéria Monteiro Carrera Moraes, Rebeca Furtado Arnoud, Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez, Octavio Cascaes Dourado Junior DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.05
Capítulo 6: Diagnóstico dos resíduos eletroeletrônicos em uma universidade aberta do Brasil ................................................................................................................................................................ 38
Eduardo Antonio Maia Lins, Alessandra Lee Barbosa Firmo, Diogo Henrique Fernandes da Paz, Daniele de Castro Pessoa de Melo, Maria Regina de Macêdo Beltrão, Adamares Marques da Silva DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.06
Capítulo 7: Avaliação dos teores de metais pesados em áreas de disposição de resíduos no Município de Juazeiro do Norte – Ceará. ................................................................................... 43
Tatiany Gomes do Nascimento, Tiago Rodrigues Rocha, Mira Raya Paula de Lima, Mônica Maria Siqueira Damasceno, Ronizia Ramalho Almeida DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.07
Capítulo 8: Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: Uma questão de sustentabilidade. ........................................................................................................................................ 50
Caio César Parente de Alencar Leal, Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro, Maikon Chaves de Oliveira, Sarah Gisele de Vasconcelos Leite, Marcela de Oliveira Feitosa DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.08
Sumário Capítulo 9: Aproveitamento de resíduos de chapas de madeiras reconstituídas alinhadas ao Eco Design .......................................................................................................................... 54
Elizabet Zenni Rymsza, Marcelo Perussi, Fabiano André Trein DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.09
Capítulo 10: Cinética e equilíbrio de adsorção do azul de metileno utilizando carvão ativado produzido a partir de resíduos amazônicos .................................................................. 67
Matheus Macedo Teixeira, Cristiane Daliassi Ramos de Souza DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.10
Capítulo 11: Detecção de ácido cítrico em meio sólido com amostras de Aspergillus Niger isoladas da Caatinga de Pernambuco ................................................................................... 71
Alexandre D’Lamare Maia de Medeiros, Cláudio José Galdino da Silva Júnior, Nathália Sá Alencar do Amaral Marques, Daylin Rubio-Ribeaux, Carlos Alberto Alves da Silva DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.11
Capítulo 12: Indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo em agroecossistemas sombreados na Amazônia ...................................................................................................................... 77
Sergio Aparecido Seixas Silva, Suellen Fernanda Mangueira Rodrigues , Priscila Maria Santos Lima, Karolyne Souza Procópio, Emanuel Maia, DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.12
Capítulo 13: Uso e ocupação do solo e áreas de preservação permanente na Bacia Hidrográfica do Rio Caeté, Pará. .......................................................................................................... 83
Lucas Lima Raiol, Dayla Carolina Rodrigues Santos, Douglas Silva dos Santos, Alef David Castro da Silva, João Fernandes da Silva Júnior DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.13
Capítulo 14: Mapa síntese de poluição difusa na Bacia do Rio Anhanduí, Campo Grande/MS .................................................................................................................................................... 90
Diego Adania Zanoni, Fernando Jorge Correa Magalhães Filho, Fábio Martins Ayres, Denilson de Oliveira Guilherme DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.14
Capítulo 15: Impacto do uso de pesticidas na sobrevivência das abelhas produtoras de mel .................................................................................................................................................................... 96
Fabrynne Mendes de Oliveira, Francisca Klívia Nogueira Barbosa, Lázaro Henrique Pereira, Francisco Rodrigo de Lemos Caldas, Paulo Sérgio Silvino Nascimento DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.15
Sumário Capítulo 16: Quantificação da radiação solar global nas diferentes estações do ano na Mesorregião Sul do Amazonas. ............................................................................................................ 102
Paulo André da Silva Martins, Carlos Alexandre dos Santos Querino, Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino, Sara Angélica Santos de Souza, Paula Caroline dos Santos Silva DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.16
Capítulo 17: Conflitos socioambientais decorrentes das políticas energéticas na Amazônia legal ............................................................................................................................................ 109
Alessandra Renata Freitas Fontes, Dante Severo Giudice DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.17
Capítulo 18: Determinantes envolvidos no mercado de energia fotovoltaica: Percepção e perfil dos consumidores e suas potencialidades socioeconômicas .................................. 117
Marilda Aparecida da Silva Silveira, Pablo Gums Mariano, Yuri Maia Goulart Silva, Hygor Aristides Victor Rossoni DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.18
Capítulo 19: Arborização Urbana, Escola de Ensino Fundamental José Alves de Oliveira, Ipaumirim, Ceará, Nordeste do Brasil: Levantamento quantitativo. ................................... 122
Isaac Anderson Alves de Moura, Ingrid Lelis Ricarte Cavalcanti, Arturo Dias da Cruz, Nyara Aschoff Cavalcanti Figueirêdo, Daguimar Ferreira de Sousa, Rogério Moura Maia, Marta Célia Dantas Silva DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.19
Capítulo 20: O Ecoturismo como uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento sustentável .................................................................................................................................................... 130
Francielle Oliveira de Vargas da Silva, Danielle Carneiro Duarte Grassi, Cláudio Henrique Kray, Denirio Itamar Lopes Marques DOI: 10.36229/978-85-7042-189-0.CAP.20
Autores: ......................................................................................................................................................... 134
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
8
Capítulo 1
As políticas ambientais no Brasil: Tendências e desafios
Maria José Andrade da Silva
Resumo: O objetivo desde artigo é considerar os principais aspectos que perpassam à
política ambiental brasileira a partir da década de (1990-2014) e a construção
normatizadora de proteção a natureza e as suas tendências internas a partir da
emergência da questão ambiental no cenário internacional. Para nortear a análise dessa
problemática e ponderar a sua complexidade, optou-se discutir o contexto político
estabelecendo os contrapontos e debates pertinentes na política ambiental na década
referida. É importante enfatizar que este trabalho representa uma periodização das leis
que foram implantadas em favor do meio ambiente, em âmbito federal. Assim, a
compreensão de políticas públicas ambientais, como um órgão importante na regulação
ambiental contemporânea, será um dos caminhos para compreensão desta pesquisa.
Palavras chave: política ambiental, gestão ambiental, política neoliberal.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
9
1.INTRODUÇÃO
Este artigo propõe-se a considerar a periodização das políticas ambientais em âmbito federal no Brasil a partir da década de 1990 até os dias atuais. A relevância dessa temática se dá a partir da compreensão de políticas ambientais como instrumento na regulação ambiental contemporânea, conforme a definição do conceito de política ambiental de Mela (2001, p. 188) que a designa como um campo “constituído sobretudo pelo carácter de salvaguarda e de defesa da integridade dos elementos e das entidades (físicas ou culturais) que caracterizam um território.”
Assim, a posição apresentada pela autora concebe na política ambiental uma ação necessária para salvaguardar a sobrevivência humana na contemporaneidade.
Cabe salientar que a elaboração e aplicação de políticas públicas ocorrem em diversos setores: econômico, social, educacional, ambiental.
Esta pesquisa tomará como cerne considerar a periodização de política ambiental em consonância com os acontecimentos que influenciaram na sua elaboração e aplicação no mundo e, consequentemente, no Brasil. Com esse fim, recorre-se a Mello-Théry (2011). De igual importância são os estudos realizados por Cunha e Coelho (2012) a respeito de políticas ambientais. Também serão consultadas leis ambientais que foram implantadas no período de estudo proposto, bem como a bibliografia existente acerca do assunto e as abordagens do contexto político e econômico que o país presenciou.
2.A POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL SOBRE O NOVO PRISMA ECONÔMICO-POLÍTICO
No cenário internacional, a década de 1990 assinalou profundas mudanças políticas, com o fim do mundo bipolar, caracterizado pelo fim do socialismo na União Soviética. No contexto econômico, a ideologia da política neoliberal ganha força. Essa nova era é caracterizada pelo fenômeno da globalização, que passa a ditar as regras de uma nova realidade econômica para os países pobres. (ORLANDO, 2004; CERVO e BUENO, 2008).
Frente a isso, a posição política do Brasil foi declarada no discurso de abertura na 46ª assembleia geral da ONU em 23 de setembro de 1991. Naquela ocasião, o então presidente Collor defendeu o ideário neoliberal e declarou que o novo paradigma econômico dos países do Norte era uma oportunidade para promover a modernização da economia brasileira. (Castro, 2009; Collor, 2008). Com a adoção dessa política, as barreiras alfandegárias cederam espaço para a entrada de diversos produtos estrangeiros no Brasil.
Em âmbito interno, o Brasil estava presenciando significativas mudanças no cenário político. Após um período de duas ditaduras: a do Governo Getúlio Vargas (1930- 1945) e dos Militares (1964- 1985), o país depara-se com um processo de redemocratização no seu interior. Essa perspectiva política acarretou transformações no setor governamental, o que exprime menor intervenção do Estado nas decisões administrativas nas políticas ambientais.
Entretanto, as transformações voltadas no campo das políticas ambientais acentuaram as disputas entre organismos estatais e não estatais, que buscavam ter legitimidade para decidir regulações normativas sobre questões que circundam o meio ambiente. A esse respeito Frey (2000), afirma que a articulação de políticas ambientais pode ser vista como um campo de força e disputa.
Apesar desse quadro, para Mello-Théry (2011), o Estado do século XXI continua exercendo o papel de regulador na ordem política, social e territorial. Porém, o Estado com o seu poder de decisão adota determinadas medidas que fomenta a degradação ambiental.
A esse respeito, podemos mencionar os programas de governo lançados no mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como: “Brasil em Ação” (lançado em 1996), o “Avança Brasil” lançado no ano (2000), e por último o Plano Plurianual (2000-2003). Esses programas voltava-se para as questões econômicas internas do país, o que incluiu o planejamento territorial, envolveu obras de infraestrutura, tendo como principal foco a Amazônia, que visava baixar o valor do transporte de grãos na região. Com isso, os principais beneficiados seriam os grandes produtores agropecuários, a indústria de alumínio e as usinas hidrelétricas. Desse modo, tais medidas não promoveram avanços nas políticas ambientais no Brasil, ao contrário tiveram impactos negativos sobre a Amazônia. (BECKER, 2004; VIOLA, 2000; LITTLE, 2003).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
10
O exposto denota que o Estado exercer um papel importante no planejamento territorial, seguindo como em via dupla, por um lado adota medidas em defesa da natureza, ao mesmo tempo promove ações que favorecem danos na natureza.
Desse modo, a política ambiental brasileira, desde 1990 até o momento atual, apresentou diversas fases e faces e mesclaram-se diferentes posturas que perpassam por políticas regulatórias, estruturadoras e indutoras de comportamento. (CUNHA e COELHO, 2012).
3.POLÍTICAS REGULATÓRIAS AMBIENTAIS
As políticas ambientais regulatórias envolvem a elaboração de leis ambientais ou regulamentam normas e acesso dos recursos naturais, bem como a criação de aparatos institucionais para supervisionar e garantir o cumprimento da lei. (CUNHA e COELHO, 2012 p. 45).
No Brasil, assim como também em âmbito internacional, percebeu-se a necessidade de promover ações em defesa do meio ambiente. O desenvolvimento de uma consciência ecológica acentuou-se em especial após a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo em 1972. Essa reunião trouxe à atenção que a ação antrópica do homem tem causado danos nocivos ao meio ambiente, criando severos riscos para o bem estar e sobrevivência da humanidade. (RIBEIRO, 2010).
Pouco depois dessa conferência, foram instituídas no Brasil a Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA (1973), bem como a Companhia de Desenvolvimento do vale São Francisco-CODEVASF (1974). Apesar de tais ações, a política dos Militares contradizia a discussão internacional sobre o meio ambiente, levando o país a sofrer pressões externas para que tomasse medidas em favor da natureza. Isso culminou com a aprovação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81 e com a criação de importantes órgãos como o Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e o Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA.
As questões ambientais ganham um novo ímpeto, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, que contém um artigo específico em defesa da natureza.
Isso denota que no período que antecede a nossa proposta de estudo (1990-2015), implementaram-se importantes medidas em defesa da natureza, no entanto, a década de 1990 acentuou um novo estímulo na questão ambiental no Brasil. Isso se deu em especial após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que foi sediada no Rio de Janeiro em 1992. Sob esse prisma, Fernando Collor esforçou-se para mostrar à comunidade internacional que o Brasil tinha capacidade de gerenciar seus recursos naturais. (CANIZIO, 1991).
Assim, foram criadas leis e decretos em defesa do meio ambiente, como o decreto nº. 99.274 de 06 de junho de 1990, que regulamenta a aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). Outra medida foi a criação de diversos órgãos com a finalidade de atuar na gestão ambiental, por meio da Lei nº 8.028 de 1990. Entre esses, destacam-se: Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; Órgão executor do Governo Federal: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Órgãos seccionais: Órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.
Essa estrutura administrativa sofreu novas mudanças em 1992, quando foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Um ano depois, ele foi transformado em Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Em 1995, foi alterado para Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, adotando, posteriormente, o nome de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Por fim, em 1999, retornou à denominação de Ministério do Meio Ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para a proteção e a recuperação do meio ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente teve a sua estrutura regimental regulamentada pelo Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, que estabeleceu a seguinte estrutura organizacional: o Conselho Nacional do Meio Ambiente-Conama passou a ser um órgão colegiado consultivo e deliberativo de políticas do meio ambiente, subordinado ao MMA.
Por outro lado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro- JBRJ e a Agência Nacional de Águas (ANA). Esses institutos encontram-se
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
11
também está na condição de autarquia com poderes de execução das políticas ambientais, vinculada ao MMA, mas não subordinado.
No que diz respeito à ANA, a sua criação se deu a partir do desdobramento de lei federal, a Lei de Recursos Hídricos, também conhecida como Lei das Águas (nº 9.433 de 08/01/1997). Para sua atuação, a ANA subordina-se aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e articula-se com órgãos e entidades públicas e privadas, integrantes do SINGREH. (Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010). A Ana tem como uma de suas incumbências as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água. (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2012).
Tais mecanismos de gestão foram decorrentes da necessidade de amenizar os conflitos entre usuários da água que se multiplicavam com a construção de hidrelétricas desde a década de 1970. Para amenizar as discórdias, foram adotadas algumas experiências pioneiras na região sul e sudeste do Brasil, baseadas na gestão de recursos hidrográficos, o que está previsto na Lei das Águas. Essa lei prevê: a) criação do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de recursos hídricos e estabelece normas para gestão da água. b) adoção da bacia hidrográfica como de gestão e planejamento.
A esse respeito, o sistema de gestão de bacias adotado no Brasil apresenta um arranjo administrativo que visa a conciliar diversos interesses e controlar conflitos e dividir as responsabilidades. Nesse aspecto, Cunha e Coelho (20012, p. 69-72) corroboram com a definição do conceito de bacia hidrográfica compreendendo-a como “[...] área de drenagem de um rio principal e de seus tributários. As bacias são compostas de subsistemas (microbacias) e de diferentes ecossistemas (várzea, terra firme) etc.”.
Embora o tratamento às águas tenham leis e agências destinadas a esse fim, ela se depara com outras leis ambientais que interferem na preservação dos recursos hídricos. No que tange a essa questão, o novo Código Florestal, promulgado pela Lei nº 12.651, reduz as áreas de preservação permanente nas margens de rio. Embora mantenha as mesmas distâncias, enquanto na legislação anterior se iniciava a contagem do “leito maior” do curso; no Novo Código, o início se dá da borda da calha do leito regular, o que reduz as áreas de preservação permanente-APPs. Tal medida fragilizará a proteção, o que poderá causar erosão, instabilidade geológica, assoreamento de cursos d’água, redução da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. A destruição das florestas significa um risco grande para o equilíbrio de chuvas no nosso País. Além das chuvas, a preservação das florestas também tem consequências para a biodiversidade.
No tangente às nascentes, o raio protetivo manteve-se idêntico (50m.), sendo, contudo, permitido o uso consolidado, caso no qual a recomposição deverá ser de 15m, independente do tamanho da propriedade (alteração ocorrida com a Lei 12.727/12). No caso de lagos e lagoas naturais os parâmetros também se mantiveram os mesmos, apenas alterando-se em caso de uso consolidado, quando a necessidade de recomposição irá de acordo com o tamanho da propriedade.
Nesse aspecto, o novo Código promoverá a piora da qualidade do meio ambiente propício à vida, colidindo frontalmente com o objetivo geral da Política Nacional do Meio ambiente (art. 2.º, caput, da Lei 6.938/1981 - LPNMA) e com vários de seus objetivos específicos (art. 4.º, I, V, VI e VII). As mudanças apresentadas no novo código são um retrocesso às leis ambientais brasileiras, trazem uma ofensa a um direito fundamental de todos os brasileiros, o de se usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
4.POLÍTICAS ESTRUTURADORAS
As políticas estruturadoras envolvem a intervenção direta do Poder Público e de organismos não governamentais na proteção do meio ambiente, seja por meio de financiamento de projetos locais de conservação, ou pela criação de unidades de conservação, sejam elas públicas ou as demarcadas pelo Poder Público. (CUNHA e COELHO, 2012).
As pressões de movimentos ambientalistas e de organismos econômicos que o Brasil vinha sofrendo desde a década de 1980 condicionou o governo a criar um mecanismo voltado para preservar sua reserva ecológica. Naquele período, os sistemas de uso do solo foram regulamentados pela Lei da Política Agrícola nº 8.171 de 17/01/1991. Nesse segmento, a lei nº 8723/93 de 24.10 trata da redução de emissão de poluentes por veículos automotores - níveis de emissão e prazos. Outra importante medida foi por meio do Decreto nº 99.274 de 6 de junho de 1990, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
12
Tal medida impulsionou a criação de novas unidades de conservação. De 1998 a 2001, foram criados 119 unidades de conservação, das quais 57 na Região Norte, somando-se ainda com a criação de unidades com status de uso de direito, parques nacionais, áreas de florestas de proteção ambiental. (CUNHA e COELHO, 2012, p. 53).
Nesse campo, os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação foi reforçada por meio da lei nº 9.985 18/07/2000 e por meio do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).
Além da criação de unidades de conservação, foi efetivada a gestão de florestas nacionais e proteção ao meio ambiente, regulamentada pela lei de Gestão de Florestas Públicas – (Lei nº 11.284/2006); criou um órgão regulador de Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo de Desenvolvimento Florestal. Para aprovação dessa lei, o Congresso Nacional contou com o apoio de todos os partidos políticos, tendo sido sancionada em 2006. (KAGEYAMA e SANTOS, 2011).
Passando para a análise da Reserva Legal, as modalidades de APPs prescritas no Código Florestal, os parâmetros da Reserva mantiveram-se os mesmos, variando os percentuais entre 80%, 35% e 20%. Todavia, a averbação da mesma em Cartório de Registro de Imóveis não mais é obrigatória, sendo suficiente o registro no Cadastro Ambiental Rural (art. 18, §4º, Lei 12.651/12). Assim, do percentual a ser destinado para Reserva Legal poderá ser abatido o percentual da propriedade que se encontra em APPs, bastando para tal: que estas estejam conservadas ou em processo de recuperação; que a propriedade esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural; e que não haja conversão de vegetação nativa para tal. Neste momento, é possível perceber uma das principais críticas ao Novo Código Florestal está consubstanciada no fato de se converter em beneficio aos agricultores e prejuízos para as APPs.
5.POLÍTICAS AMBIENTAIS INDUTORAS
As políticas ambientais indutoras consistem em iniciativas que objetivam influenciar o comportamento de indivíduos ou de grupos sociais, na busca de práticas que inviabilizem a degradação do meio ambiente. (CUNHA e COELHO, 2012).
Nesse contexto, surge o conceito de sustentabilidade, que objetiva influenciar nas práticas econômicas não degradantes ao meio ecológico. Desse modo, as políticas ambientais no Brasil inseriram-se no circuito preservacionista internacional, em consonância com as premissas do desenvolvimento sustentável.
No entanto, a consolidadação desse conceito deu-se a partir dos trabalhos da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, que promoveu entre os anos de 1985 e 1987 mais de 75 estudos e relatórios. Entre os documentos produzidos destacou-se o relatório e o protocolo "O Nosso Futuro Comum", mais conhecido como a declaração Brundtland, que definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como uma necessidade para atender as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. (Brundtland, Comissionn Environment and Development 1991:49). Posteriormente esse conceito novamente ocupou lugar de destaque durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD, conhecido como Rio-92. Nessa conferência o conceito de desenvolvimento sustentável foi traduzido como “[...] uso racional e valorização da base de recursos naturais que sustenta a recuperação dos ecossistemas e o crescimento econômico." (Relatório da Delegação Brasileira 1992 - IPRI RIO 92).
Nesse segmento, em 1990, as políticas ambientais regulatórias no Brasil inseriram-se no circuito preservacionista internacional, em consonância com as premissas de desenvolvimento sustentável. (FERREIRA, 2003).
Isso pode ser constatado com a criação da Lei nº 9.795, 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental, que visa a levar participação de cidadãos na promoção do desenvolvimento sustentável e orientá-lo na busca da satisfação de suas necessidades econômicas, sociais, culturais, entre outras, em um ambiente ecologicamente equilibrado.
No Brasil, as políticas ambientais têm sido elaboradas em consonância com as premissas do desenvolvimento sustentável. Desse modo, pode ser observado que as políticas ambientais também são influenciadas pelas crenças e valores que são produzidos em cada tempo vivido, somando-se ainda as questões políticas e econômicas, internas e externas ao país.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
13
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme consideramos neste estudo, observou-se que a elaboração e estruturação das políticas ambientais estão interligadas por um conjunto de fatores que envolvem diversos elementos políticos e econômicos, como a consolidação da política neoliberal e da globalização.
Dentro desse contexto, a política econômica tem-se sobressaído à frente das políticas ambientais. Porém, o mercado econômico, por si só, não é capaz de resolver os problemas sociais e ambientais. (SOUZA, 2011 p. 115).
Isso significa que, apesar do avanço na consciência ecológica, ainda é necessário avançarmos nessa questão, pois foi possível identificar que as políticas ambientais no período estudado (1990 - 2015) foram similares a outros momentos históricos do Brasil, envoltos em interesses de agentes governamentais e não governamentais.
Contudo, o Estado tem um forte poder de decisão. Apesar da descentralização de poder, espera-se que assuma o papel de tutor da natureza, criando mecanismos que visem à preservação de sua reserva ecológica, de seus recursos hídricos e proporcione mecanismos para mitigação de danos ambientais. Conforme afirma Mello-Théry (2011, p. 147), o Estado é um elemento importante e é capaz de decidir sobre programas e linhas de financiamento e criar condições favoráveis para a inserção de projetos.
BIBLIOGRAFIA
[1] Becker, Bertha koiffmann. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. 1º Edição. Rio de Janeiro: Garamound Universitária, 2007.
[2] Castro, Flávio Mendes de Oliveira. 1808-2008: dois séculos de história da organização do Itamaraty. 1º Edição. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009.
[3] Canizio, Marcia Jabor. O Brasil e a Questão Ambiental: um estudo de política externa brasileira. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Instituto de Relações Internacionais, Rio de Janeiro, 1991.
[4] Collor, Fernando. Brasil: um projeto de reconstrução nacional Brasília. 1º Edição. Senado Federal, 2008. www2.senado.leg.br. pdf. Acesso em: 17 de abril 2015.
[5] Cunha, S.; Coelho, M. C. Política e gestão ambiental. In: Cunha, S. B.; Guerra, A. J. T. (Orgs). A questão ambiental: diferentes abordagens. 7º Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
[6] Ferreira, Leila Costa. A questão ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. 2º Edição. São Paulo: Boitempo, 2003.
[7] Frey, Klaus. Frey, Klaus. Análise de políticas públicas: algumas reflexões conceituais e suas implicações para a situação brasileira. Cadernos de Pesquisa. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, nº 18. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 1999.
[8] Kageyama, Paulo Y. Santos; João Dagoberto dos. Aspectos da política ambiental nos governos Lula. FAAC/Unesp (Bauru. Oline) v. 1, n. 2, p. 179-192, out. 2011.
[9] Little, Paul. (Org.) Políticas ambientais no Brasil. Análises, instrumentos e experiências. 1º Edição. São Paulo: Peirópolis; Brasília, IEB, 2003.
[10] Mela, Alfredo. As políticas ambientais. In: Alfredo Mela. A Sociologia do ambiente. 1º Edição. Lisboa: Estampa, p. 187- 214. 2001.
[11] Mello-Théry, Neli Aparecida. Meio ambiente, Globalização e Políticas Públicas. Gestão de políticas públicas. 1º Edição. (São Paulo. Online), v. 1, p. 133-161, 2011.
[12] Orlando, Ricardo Silveira. A escala e saberes locais: proposta efetiva para o desenvolvimento sustentável ou adequação das práticas desenvolvimentistas na globalização? Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP Rio Claro, 2004.
[13] Ribeiro, Wagner Costa. A Ordem ambiental internacional. 2º Edição. São Paulo: Contexto, 2010.
[14] Souza, Marcelo Lopes. ABC do Desenvolvimento Urbano. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
[15] Viola, E. O governo FHC e o meio ambiente. Jornal do Meio Ambiente. 1º Edição. Janeiro. Niterói, 2000.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
14
LEIS
[1] Agência Nacional de Água- ANA. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 2013. Disponível em: http://arquivos.ana.gov.br. Acesso em: 10 de dez. 2014.
[2] Brasil. Política Nacional do Meio Ambiente. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Acesso em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 15 de nov. 2014.
[3] _____________.Constituição Federal do Brasil. 1988, artigo 225. §2º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 de jan. 2015.
[4] O Novo Código Florestal brasileiro. Lei nº 12.727, de 17 de Outubro de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 10 de fev. 2015.
[5] Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Dispinível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 de ab. 2015.
[6] Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. A política nacional de recursos hídricos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 08 de mar. 2014.
[7] Lei nº 11.284 02 de março de 2006. Gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Disponível em: http:// www.planalto.gov.br. Acesso em: 25 de mar. 2015.
[8] Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental. Disponível em: http://www2.camara.leg.br. Acesso em: 20 de maio 2015.
[9] Lei nº 12.058 de 13 de outubro de 2009. Prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br. Acesso em: 10 de ab. 2015.
[10] Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 1977. Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.brtm. Acesso em: 04 de jun. 2015.
[11] Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 de maio 2015.
[12] Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 de jun. 2015.
[13] Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe de política agrícola. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 de jun. 2015.
[14] Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/. Acesso em: 04 de jun. 2015.
[15] Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: www.ministeriodomeioambiente.gov.br. Acesso em: 09 de jun. 2015.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
15
Capítulo 2
A Importância dos centros de reciclagem para o meio ambiente
Lucas Ventura Pereira
Ana Cláudia Pimentel de Oliveira
Sergio Vieira Anversa
Daniel de Oliveira Leal
Resumo: A produção de resíduos está muito acelerada e isso tem gerado grandes
problemas ambientais e de saúde pública. Os centros de reciclagem têm papel
importante para o meio ambiente e para a sociedade através do recebimento e
separação dos resíduos recicláveis. Embora tal atividade ainda seja depreciada pela
população. Este trabalho teve como finalidade avaliar a importância de um centro de
reciclagem, localizado na zona Oeste do Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado através
de um levantamento da quantidade e qualidade de resíduos sólidos urbanos recebidos
pela empresa no ano de 2018. A sucata de ferro foi o resíduo mais coletado, com
14.144,5 toneladas/ano, a reciclagem desse material economiza o uso de
aproximadamente 16.124.730 Kg de minério de ferro, 2.192.397,5 Kg de carvão e
254.601 Kg de cal. A sucata de papel foi o segundo resíduo mais coletado com 3.212,9
toneladas, a reciclagem deste economiza o corte de 96.387 árvores e 262.386.833 L de
água. A sucata de alumínio ficou em terceiro lugar com 528,9 toneladas/ano e a sua
reciclagem economiza a extração de 2.644.500 Kg de bauxita. A reciclagem do plástico,
com 484,9 toneladas/ano economiza 4.849 Kg de petróleo. A reciclagem é justificada
como prática que se dá na área do desenvolvimento sustentável, visto que diminui a
extração de recursos naturais do planeta. Além do impacto positivo na sociedade com a
geração de empregos e renda.
Palavras-chave: Resíduo, centro de reciclagem, meio ambiente, matéria-prima reciclável.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
16
1 INTRODUÇÃO
No mundo, atualmente, são produzidas mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 99% dos produtos adquiridos são descartados em um período médio de 6 meses. A ONU (2018) ainda afirma que para acomodar as 7.6 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta, com tal comportamento, para acomodar os resíduos gerados será necessário um espaço equivalente a 70% do planeta terra.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 2017, o Brasil produziu 78.4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Deste total foram coletados 91,2%, porém, 40,9% dos resíduos coletados foram destinados de forma incorreta em lixões e aterros controlados. Enquanto, 6.8 milhões de toneladas (8,8%) não foram coletados, tendo destino desconhecido (ABRELPE, 2017).
O desafio da disposição de resíduo no mundo pode ser amenizado com o princípio dos 7 R’s (Reduzir, Repensar, Responsabilizar-se, Respeitar, Recusar, Reaproveitar e Reciclar). Essa proposta é um método educativo que visa mudanças nos hábitos da população. Dentre estes, a reciclagem é uma atividade bastante praticada por indústrias, segundo Magera (2005), essa prática reduz gastos com matéria-prima primária, diminui a poluição do ar em 74%, polui 35% menos a água e tem um ganho de energia de 64%.
A reciclagem além de preservar os recursos naturais, ainda tem uma importância social, uma vez que, é base de fonte de renda de catadores. Barros e Pinto (2008) afirmam que a reciclagem é uma forma de subsistência muito comum na realidade de nossas cidades, embora muitos cidadãos encarem esses catadores como marginais.
Diante do exposto, o trabalho tem o objetivo mostrar a importância dos centros de reciclagem para o meio ambiente.
2 METODOLOGIA
A avaliação da importância dos centros de reciclagem foi feita através da coleta de dados referente ao recebimento de resíduos no ano de 2018. Estes foram fornecidos por uma empresa recicladora, localizado na zona oeste do estado do Rio de Janeiro.
A avaliação dos impactos ambientais causados por estes resíduos foi realizada através de pesquisa em artigos científicos, site de órgãos e agencia não governamentais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 mostra os tipos de resíduos sólidos recebidos pela empresa. A sucata de ferro foi o material mais recebido, totalizando 14.144,5 toneladas/ano, equivalente a 14.140.500 quilos.
Tabela 1: Material recebido pelo centro de reciclagem durante o ano de 2018.
MESES SUCATA FERRO SUCATA PAPEL SUCATA ALUMÍNIO SUCATA PLÁSTICO TOTAL
jan/fev/mar/abr 4700,1t 930,6T 177,1t 193,3t 6.001,1t
mai/jun/jul/ago 5.193t 1.120,5t 159,3t 155,7t 6.628,5t
set/out/nov/dez 4.251,4t 1.161,8t 192,5t 135,9t 5.741,6t
𝚺 14.144,5t 3.212,9t 528,9t 484,9t 18.371,2t
Comercialmente, existem diversas classificações para a sucata de ferro, baseadas em suas características, por exemplo: chaparia de ferro, ferro pesado e ferro fundido.
A chaparia de ferro é mais comum, composta por eletrodomésticos, latas, chapas finas, etc. O processamento desta chaparia inicia-se com uma escavadeira que manuseia o material, em seguida é compactada, empilhada, e enviada para siderúrgica. Enquanto, o ferro pesado é um material maciço,
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
17
constituído por vigas, tubos, máquinas hidráulicas, tarugos, rodas, etc. O ferro fundido é caracterizado pelo maior teor de carbono, o que o torna mais duro e quebradiço, normalmente está associado ao ferro pesado, então também deve ser separado, empilhado e vendido para siderúrgicas e fundições.
O processo de reciclagem do ferro é muito eficiente para siderúrgicas, uma tonelada de ferro reciclado economiza 1.140 Kg de minério de ferro, 155 Kg de carvão mineral e 18 Kg de cal (WWF Brasil; 2008).
Com grande diferença, a sucata de papel foi a segunda classificada, com 3.212,9 toneladas/ano. A sucata de papel é composta principalmente por papelão, papel branco, jornal, encartes e outros tipos de papéis. Estes são separados, compactados, empilhados e vendidos para fábrica de papel. A reciclagem de 3.212.900 Kg de papel economiza o corte de 96.387 árvores e 262.386.833 L de água. Logo, a reciclagem de papel apresenta uma grande economia de recursos hídricos (Rosa e Col.; 2005).
Para surpresa, a sucata de alumínio foi o terceiro material mais recebido no centro de reciclagem, com apenas 528,9 toneladas/ano. O alumínio foi separado, em seguida passa por um processo de limpeza, enfardado e vendido para empresas, fábricas e fundições. Segundo Costa (2007), a cada quilo de alumínio usado no processo de reciclagem, são poupados 5 quilos de bauxita. Assim, 528.900 Kg de alumínio economizam a extração de 2.644.500 Kg de bauxita. E a reciclagem do mesmo economiza 95% de energia elétrica.
A sucata de plástico foi o material menos recebido, com 484,9 toneladas/ano. Os plásticos foram basicamente garrafas PET e plástico filme. Os plásticos são separados, enfardados, empilhados e vendidos para outras empresas recicladoras.
O plástico é um material composto por petróleo, um recurso natural altamente poluente e não renovável. A reciclagem de 100 toneladas de plástico poupa a extração de uma tonelada de petróleo (WWF Brasil, 2008).
O somatório de resíduos recebidos, processados e vendidos como matéria-prima secundária foi de 18.371,2 toneladas/ano, equivalente a 18.371.200 de quilos.
A reciclagem é comumente apresentada como opção ambiental, econômica e social, diante do aumento da produção e aglomeração do lixo produzido pelos centros urbanos. A reciclagem é justificada como prática que se dá na área do desenvolvimento sustentável, visto que diminui a extração de recursos naturais do planeta, pois proporciona grande economia dos mesmos, reduz em 74% a poluição do ar; em 35% a poluição da água; e tem um ganho de energia de 64% (MAGERA; 2005).
4 CONCLUSÕES
Os centros de reciclagem têm um impacto muito positivo dentro da sociedade, beneficiando não apenas ao meio ambiente, como também a sociedade, com a geração de empregos e renda. O principal ponto do trabalho dos centros de reciclagem é a captação de resíduos sólidos que poluem os centros urbanos, e ajudam na economia da matéria-prima virgem, diminuindo a extração de recursos naturais do planeta. Dessa forma há uma diminuição de resíduos sólidos nas cidades, diminuindo a poluição dos solos, atmosfera e recursos hídricos, além de economia de energia e uso da água.
REFERÊNCIAS
[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PðBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. CRESCE NÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE LIXÕES. 2017. Disponível em: <http://abrelpe.org.br/brasil-produz-mais-lixo-mas-nao-avanca-em-coleta-seletiva/>. Acesso em: 13 mar. 2019.
[2] COSTA, Luciangela Galletti da; PIRES, Heloisa. A CONTRIBUIÇÃO DA RECICLAGEM DO ALUMINIO PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Iv Seget – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Resende, Rio de Janeiro, p.4-4, out. 2007. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1262_artigo%20aluminio_Seget_2007_Prof.pdf>. Acesso em: 27 maio 2019.
[3] MAGERA, Márcio. Os Empresários do Lixo: um paradoxo da modernidade. 2. ed. Campinas: Átomo, 2005.
[4] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (Org.). Humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, diz ONU em dia mundial.2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/humanidade-produz-mais-de-2-bilhoes-de-toneladas-de-lixo-por-ano-diz-onu-em-dia-mundial/>. Acesso em: 11 mar. 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
18
[5] ROSA, Bruna Nogueira et al. A importância da reciclagem do papel na melhoria da qualidade do meio ambiente. Xxv Encontro Nac. de Eng. de Produção, Porto Alegre, p.6-6, nov. 2005. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1004_1116.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2019.
[6] WWF BRASIL (Org.). Conheça os benefícios da coleta seletiva. 2008. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?uNewsID=14001>. Acesso em: 19 mai. 2019.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
19
Capítulo 3
Produção de tijolos de concreto intertravado por meio da reutilização de resíduos da construção civil Alice da Costa Silva
Brismark Góes da Rocha
Resumo: Esse estudo apresenta a análise da reutilização do resíduo de construção civil
(RCC), na produção de tijolos de concreto intertravados, tendo como prioridade verificar
a resistência à compressão e fazer a comparação entre tijolos convencionais e os tijolos
de resíduos. Para isso, foram produzidos dois grupos de tijolos, um grupo convencional
(controle), denominado de A, e outro produzido com RCC, denominado R, cada grupo
contendo seis amostras (NBR 9781/2013). Para alcançar os objetivos, foram realizados
testes de absorção de água, e teste de resistência à compressão axial. Por meio dos
resultados obtidos nesses testes, foi feita a comparação entre os grupos, e para isso foi
utilizado o teste estatístico não paramétrico qui-quadrado ao nível de significância de
5%, o que foi possível concluir que os grupos não apresentam diferenças significativas
no teste de absorção de água e no ensaio mecânico de resistência à compressão. Porém,
esses tijolos não poderão ser utilizados para o tráfego de veículos leves, pois, apresenta
a taxa de resistência à compressão inferior a 35 Mpa (NBR 9781/2013), isso se deu pelo
fato de não ter sido realizada a prensagem no processo de fabricação.
Palavras-chave: Resíduos da construção civil. Tijolos de concreto intertravados. Ensaios
mecânicos de resistência à compressão. Teste estatístico qui-quadrado.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
20
1.INTRODUÇÃO
O meio ambiente vem sofrendo cada vez mais com as agressões do homem, e atualmente é observado uma preocupação das pessoas com os problemas do impacto ambiental de tal forma que têm surgido pesquisas que busca analisar formas de reduzir a agressão do homem.
Com o crescimento da construção civil, o elevado número de descarte de materiais tem aumentado significativamente, de forma que acaba afetando diretamente o meio ambiente de diversas formas, como por exemplo: contaminação do solo, do ar, da água e uma enorme geração de resíduos.
Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, documento divulgado pela ABRELPE (2017), uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública - ABRELPE no ano de 2017 no Brasil, constatou que nesse mesmo ano a geração de resíduos foi de 78,4 milhões de toneladas o que representa crescimento de 1% em relação a 2016, passando de 212.753 toneladas por dia para 214.868 t/dia.
De pequenas reformas domiciliares a grandes obras, cada brasileiro produz por ano cerca de meia tonelada de resíduo de construção civil, aponta o presidente do Instituto Nova Ágora de Cidadania (Inac), Carlos de Matos Leal (ABRECON, 2011).
Sabendo o quanto de Resíduos da construção civil (RCC) são desperdiçados, foram buscadas formas para sua reutilização com a finalidade de reduzir as agressões ao meio ambiente. De modo que tivemos a ideia de produzir um tijolo com a utilização desses resíduos, para solucionar esse problema que é a grande geração de resíduos, que vem a prejudicar o meio ambiente e para agregar valor aos agregados, surgiu interesse na realização desta pesquisa.
Para realização desse estudo foram utilizados dois tipos de pesquisas: bibliográfica e experimental, a pesquisa bibliográfica serviu para obter um embasamento sobre o assunto e o experimental para que assim possamos analisar o uso dos resíduos na produção de tijolos.
Em seguida, foram feitos ensaios mecânicos de resistências à compressão individualmente, com base na NBR 9781/2013. De modo que, os tijolos também foram submetidos ao teste de absorção de água, que foi feito, submergindo os corpos de prova em água e posteriormente verificando a sua massa até obter peso constante, após a obtenção dos resultados, foram realizadas comparações entre os tijolos produzidos e os tijolos convencionais.
Os dados obtidos dos ensaios mecânicos bem como o teste de absorção de água, foram comparados entre os percentuais por meio de um teste Estatístico não paramétrico Qui-Quadrado com um nível de significância de 5%.
2.OBJETIVOS
Essa pesquisa tem como finalidade fazer uso de resíduos da construção civil na fabricação de tijolos, a fim de propor a substituição dos tijolos convencionais por tijolos a base de resíduos.
3.METODOLOGIA
Para iniciar o experimento foi confeccionado um molde de metal, ele possui as seguintes dimensões internas: largura de 100,96 milímetro (mm), o seu comprimento é de 201 mm, e tem como espessura 61 mm. Essas medidas foram adotadas segundo a norma da NBR 9781/2013 que diz que um tijolo de concreto deve ser uma peça de forma retangular e que a sua dimensão interna mínima seja 97 mm x 197 mm x 60 mm (largura x comprimento x espessura).
O passo seguinte foi buscar os materiais a serem utilizado, que foram: a areia, água, o cimento e o resíduos de construção civil. O resíduo foi cedido pela empresa conhecida como “Grupo Duarte”, e coletado na sua usina de reciclagem situada no município de São José de Mipibu/RN. O material coletado já veio tratado, sem as impurezas, e é constituído de areia, pó de cerâmicas, pó de cimento, pó de gesso, e pó de tijolo e possuindo a gramatura de 4mm.
Então foram produzidos tijolos de dois tipos, os quais foram nomeados de amostras A, para o Grupo A, de tijolos convencionais, isto é, com área, cimento e água e o Grupo R, com resíduo, cimento e água, para ambos grupos foram realizadas 6 repetições, os tijolos convencionais foram produzidos para serem utilizados como grupo controle para poder ser comparado com os tijolos do segundo grupo (tipo R), pois,
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
21
através dos tijolos comerciais não teríamos dados precisos sobre sua a produção e assim poderia ser introduzido vicio na pesquisa.
Para a produção do grupo A, fizemos a utilização do traço 3:2:1 (areia, cimento, água), foram utilizados 1930 g areia, 500 g de cimento e por fim 320 ml de água, fizemos as medições numa balança eletrônica digital de até 40 kg, cortamos três garrafas que serviram como vasilhas para a pesagem, lembrando que foram pesadas individualmente e sem o material dentro, para que assim fosse desconsiderado as suas devidas massas.
Já para o grupo R, o traço adotado foi o mesmo utilizado pelo convencional 3:2:1 (resíduos, cimento e água) foram usados 1910 g de resíduos, 500 g de cimento e 440 ml de água obtendo a massa final de 2850 g. Assim como para os tijolos convencionais (grupo A), os produzidos com o agregado (grupo R) também foram pesados na mesma balança eletrônica digital.
Devido ao fato da areia comum ser de gramatura 2 mm e os resíduos de construção civil terem a sua gramatura de 4 mm, justifica a diferença entre as concentrações para os grupos A e R.
Para ambos os tipos de tijolos, após realizada a mistura homogênea feita manualmente, as mesmas foram colocadas cuidadosamente no molde que foi vedado com silicone para não haver vazamento da mistura, e em seguida os conteúdos foram sendo assentadas por batidas feitas utilizando um martelo de borracha de face plana, as batidas também serviam para a tirar o excesso de água e de ar, evitando a formação de espaços.
Preparadas as amostras foram realizadas comparações entre os dois grupos, as quais foram consideradas duas hipóteses, a H0, conhecida como a hipótese de nulidade, ou seja, não há diferença significativa entre os grupos, e a hipótese alternativa H1 que é a hipótese alternativa, isto é, a existência de diferença significativa entres os grupos. Todos os testes comparativos entre os grupos de momento em diante foi utilizado o teste estatístico não paramétrico Qui-quadrado ao nível de significância de 5%.
As amostras foram submetidas ao tempo de cura onde o Grupa A, teve em média 46 dias de cura e o Grupo R, 45 dias. Comparando o tempo de cura entre os Grupos, foi encontrado p ≤0,9919 (p corresponde a probabilidade de rejeita H0) o que pode ser concluído que a diferença média de um dia no tempo de cura entre os Grupos, não é significativa.
O primeiro teste que os grupos foram submetidos foi o de absorção de água, para a realização dele foi preciso seguir a NBR 9781/2013 a qual as amostras foram submergidas (figura1) á uma temperatura de (26 ± 5) °C, durante 24 h.
Figura 1: Corpo de provas submersos a água.
Fonte: Autor.
Os tijolos saturados foram retirados da água e pesados individualmente duas vezes ao dia para a pesagem sempre secando a sua superfície, logo após os corpos de provas saturados foram colocados na estufa com temperatura de 110 °C durante 24 horas
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
22
Após a secagem foi realizada mais uma pesagem dos corpos de prova para obter a massa do corpo de prova seco. Para a obtenção do resultado da absorção de água foram realizados cálculos seguindo a NBR 9781/2013, e utilizando a seguinte equação:
𝐴 =𝑚2 − 𝑚1
𝑚1 × 100
Onde:
A – é a absorção de cada corpo de prova, a qual é expressa em porcentagem (%);
m1 – é a massa do corpo de prova no seu estado seco, expressa em gramas (g);
m2 – é a massa do corpo de prova saturado, expressa em gramas (g);
Tabela 1: Massa obtida pelos grupos A e R (g).
RESULTADOS MASSA SECA DEPOIS DE
SUBMERGIR Média Grupo A 2360,33 2610,67 Média Grupo R 2106,00 2430,67 Desvio Padrão Grupo A 30,19 36,73 Desvio Padrão Grupo R 12,17 19,99
Fonte: Autor.
Depois de feita a análise dos dados, ambas as amostras foram encaminhadas para o teste Resistência à compressão. O mesmo foi realizado no dia 15 de junho de 2018, no laboratório de materiais e construção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), no Campus Central que fica localizado em Natal/RN.
Após ser atingindo o tempo de cura, os corpos de prova passaram por um processo de capeamento a fim de nivelar toda a superfície, para que a carga seja distribuída por igual durante todo o corpo de prova. O capeamento foi feito com argamassa de cimento e saturação em água no período de 24 horas. Feito isso as amostras foram submetidas ao ensaio de compressão obedecendo às prescrições da NBR 9781/2013.
Após passar pelo processo de capeamento os corpos de prova foram comprimidos por meio da utilização de uma prensa hidráulica elétrica (figura 2) com capacidade de 100 t, também foi utilizado duas placas auxiliares circulares com um diâmetro de 85 ± 0,5 mm e a espessura mínima de 20 mm.
Figura 2: Corpo de prova no processo de compressão.
Fonte: Autor.
4.RESULTADOS E DISCUSSÕES
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
23
Os resultados dessa pesquisa estão relacionados a capacidade de absorção de água e a resistência a compressão dos corpos de prova que foram confeccionados. A tabela 2 mostra os resultados obtidos pelo teste de absorção de água, o qual é obtido pela diferença entre a massa seca e a massa saturada dos corpos de prova em água à temperatura de 26 ± 5 °C, por 24 horas. Na seção anterior foi mostrado como se deu a realização de todo o processo determinado para a absorção de água seguindo as exigências da NBR 9781/2013.
Os resultados mostrados na tabela a seguir possuem um intervalo de confiança (IC) de 95% (6,15 ± 0,62) para o Grupo A (Tijolo convencional), e o IC de 95% (10,23 ± 0,62) para Grupo R (Tijolo de Resíduos de construção civil).
Tabela 2: Resultado do teste de absorção (%).
AMOSTRAS GRUPO A GRUPO R
1 7,11 10,78
2 6,43 10,31
3 6,25 11,07
4 6,23 10,92
5 7,21 11,09
6 7,41 10,95
Média 6,77 10,85
Desvio padrão 0,48 0,26 Fonte: Autor.
Segundo a NBR 9781/2013, as amostras devem apresentar a absorção de água com o valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor maior ou igual a 7%. Isso implica na não adequação dos Grupos a mesma, pois, a média do Grupo A é de 6,77% e o Grupo R de 10,85%.
A Não adequação da absorção da água os Grupos pode ser atribuída ao processo de fabricação, pois, como não foi aplicada uma carga sobre os corpos de prova no momento da fabricação, ou seja, não foi feita a utilização de uma prensa, os espaços entre os agregados foram preenchidos com água e para mensurar a massa seca dos corpos de provas foram colocados na estufa ocorrendo a evaporação da água ficando os espaços entre os agregados vazios, e ao ser submetidos a saturação esses espaços foram ocupados com água, daí no teste de absorção o resultado não foi adequado a norma.
Segundo a NBR 9781/2013 é esperado que os tijolos produzidos tenham resistência característica a compressão (fpk), após 28 dias, maior ou igual a 35 megapascal (Mpa). Tendo em vista que as amostras foram ensaiadas com idade superior aos 28 dias, elas devem apresentar a sua fpk equivalente a 80% conforme especificado na NBR 9781/2013.
Na tabela a seguir, separamos os valores obtidos, por cada amostra, durante o Teste de Resistência à Compressão, fazendo uma comparação entre os Grupos por meio do teste estatístico qui-quadrado obtemos p≤ 0, 9919 logo , não há diferença significativa ao nível de 5% entre ambos, o que implica dizer que as amostras produzidas com os resíduos de construção civil e o convencional são equivalentes.
Tabela 3: Teste de Resistência à compressão (Mpa).
AMOSTRAS GRUPO A GRUPO R 1 12,40 6,90 2 9,60 10,30 3 11,00 8,90 4 12,90 8,60 5 7,20 6,90 6 10,40 7,50
Média 10,58 8,18 Desvio padrão 1,88 1,22
Fonte: Autor
No entanto, se for tomado como referência a NBR 9781/2013 os tijolos produzidos não se aplicam a suas devidas utilizações por terem apresentado no Teste de Resistência à compressão uma média de 10,58 Mpa no Grupo A e 8,18 para o Grupo R. Este resultado é atribuído, assim como no teste de absorção, à sua fabricação, uma vez que como não houve a utilização de uma prensa os corpos de prova não foram submetidos a uma determinada carga, a qual faria os espaços vazios serem preenchidos. Porém, foi
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
24
observado que segundo a NBR 7170, os tijolos cerâmicos de alvenaria devem ter no mínimo uma resistência entre 1,5 Mpa e 4,0 Mpa, o que implica dizer que os corpos de prova produzidos podem ser utilizados em substituição aos tijolos de alvenaria.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do trabalho foi produzir tijolos de concreto intertravados por meio da utilização de resíduos da construção civil, para fins de fazer uma comparação com os tijolos convencionais como grupo controle e assim poder comparar por meio de teste estatístico ao nível de significância 5% há existência de diferença significativa entre os grupos. Comparação essa feita por meio do auxílio do Excel/2017 e do software statística versão 10, um programa computacional muito utilizado para cálculos estatísticos.
Uma vez que, todos os corpos de provas, tanto os do Grupo A, tijolos convencionais, quanto os do Grupo R, produzidas com resíduos, não atingiram os valores esperados nos testes de absorção de água e de resistência à compressão, pois, a sua taxa de absorção foi superior a 6% e a sua taxa de resistência foi inferior a 35 Mpa, segundo a NBR 9781/2013, os corpos de prova não poderão ser utilizados na construção de vias para tráfegos de veículos leves. Isso se deu devido a sua fabricação, em razão de não ter sido feito o processo de prensagem, onde os espaços vazios foram preenchidos com água em vez de agregados.
No entanto, com a obtenção de todos os resultados nas comparações feitas entre ambos os grupos A e R, por meio de testes estatísticos não paramétricos ao nível de significância de 5%, conclui-se que ambos os grupos são equivalentes, o que implica dizer que os resíduos da construção civil podem ser utilizados para produção de tijolos intertravados, porém, pelo método adotado na fabricação dos corpos eles não podem ser utilizados para substituir os tijolos de concreto intertravados comerciais, na construção de vias para tráfegos de veículos leves.
De forma que, através dessa pesquisa foi possível observar que pelo método o qual os tijolos foram produzidos, eles não poderiam ser utilizados para fins estruturais. No entanto, os tijolos desenvolvidos podem proporcionar relevante efeito benéfico ao meio ambiente, uma vez que, o uso dos resíduos faz com que ocorra a diminuição da retirada de área em rios, a qual é usada nos tijolos de concreto intertravados convencionais.
REFERÊNCIAS
[1] Abnt – Associações de Normas Brasileiras Técnicas. NBR 9781 - Peças de Concreto Para Pavimentação: especificação e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
[2] Abrecon. Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Brasileiro produz por ano meia tonelada de resíduos de construção civil. Disponível em:< http://www.abrecon.org.br/brasileiro-produz-por-ano-meia-tonelada-de-residuos-de-construcao-civil > acesso em: 01 de junho de 2017.
[3] Abrelpe. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Lançado o Panorama dos Resíduos Sólidos 2017 da Abrelpe. 25 de setembro de 2018. Disponível em:< https://www.saneamentobasico.com.br/lancamento-panorama-residuos-solidos/ > Acesso 25 de Junho, 2018.
[4] Modler, Maria Eduarda; Ribeiro, Roberto Carlos. A Viabilidade Construtiva das construções em terra. Disponível em: < https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/view/4094>. Acesso em: 20 de maio de 2017.
[5] PRS. Portal resíduos sólidos. reciclagem de Resíduos sólidos da construção civil. 03 de janeiro de 2014. Disponível em: < http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-residuos-solidos-da-construcao- civil> Acesso em: 19 de setembro de 2017.
[6] Siegel. S; Castellan. N. J. Estatística não-Paramétrica para ciências do comportamento. V.02. Brasil, 2006. 448 p.
[7] T & A. Blocos e Pisos. Manual técnico de piso intertravado de concreto. Fortaleza. 2004. 46 p.Resolução conama nº 307, de 5 de julho de 2002. estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da Construção civil. Brasil, 2002.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
25
Capítulo 4
Descarte irregular de resíduos sólidos e suas consequências nas proximidades do Campus V da Universidade do Estado do Pará, Belém-PA Felipe da Costa da Silva
Beatriz Braga da Silva Lima
Andréa Fagundes Ferreira Chaves
Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez
Resumo: O aumento populacional acelerado em conjunto ao avanço tecnológico agrega
grandes problemáticas socioambientais no contexto atual, dentre elas a geração
exacerbada de resíduos sólidos e sua destinação final incorreta. A prática do descarte
irregular, na maioria dos casos, é decorrente do desconhecimento da população acerca
do quesito ambiental e suas consequências à saúde pública. Cabe ressaltar que esse
despejo inadequado não se enquadra em uma única realidade social, engloba todos os
níveis econômicos e educacionais. Com isso, este estudo constata o papel da sociedade
em geral, reconhecendo a relevância de tal problemática e empenhando-se no
desenvolvimento de alternativas que viabilizem um processo capaz de atender as
questões sanitárias, de conforto ambiental, estética e, principalmente, o aspecto
socioeconômico. Consoante a isto, busca-se contribuir na identificação de algumas
razões para formação de pontos de descarte irregular de resíduos sólidos,
demonstrando a necessidade de maior atuação pública e acadêmica para melhor
compreensão, elaboração e efetuação de ações instrutivas voltadas à comunidade.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Descarte Irregular; Educação Ambiental.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
26
1.INTRODUÇÃO
O crescimento populacional tem influência direta na geração de resíduos sólidos, evidenciado com o acelerado avanço de tecnologias e mudanças do padrão de consumo, resultando em um problema global. O seu descarte irregular é um desafio enfrentado diariamente pela gestão pública no Brasil. No município de Belém-PA, segundo a prefeitura são gastos mais de 24 milhões de reais por ano somente com a coleta de resíduos descartados de maneira inadequada em vias públicas e canais.
De acordo com dados do Panorama Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, ABRELPE (2016, p. 21), a geração de resíduos sólidos urbanos na região norte registrou queda de 1,9% de 2015 para 2016. Estima-se que esta tenha sido ocasionada pela crise econômica no país, no entanto o volume de resíduos sólidos despejados de maneira incorreta ainda é grande, segundo a Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), no ano de 2017, em Belém, eram coletados diariamente mais de 500 toneladas destes.
O descarte de resíduos em locais impróprios gera diversos problemas, como: mau cheiro, proliferação de vetores, intensificação de enchentes entre outros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010) determina que a destinação correta e adequada dos resíduos é de responsabilidade do gerador, devendo contratar uma empresa especializada ou dispor nos dias e horários corretos para que a limpeza pública colete. Na cidade de Belém, por meio de fiscalização e denúncias, a Delegacia do Meio Ambiente (DEMA) é responsável por realizar as atuações em flagrante com base na lei n° 9.605/98 (lei de crimes ambientais), que em seu artigo 54 prevê como crime ambiental o descarte de resíduos sólidos em vias públicas, assim sendo considerada contravenção penal, que aplica pena de reclusão de um a cinco anos.
O despejo de resíduos no ambiente urbano trás diversos problemas no que diz respeito aos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Apesar de serem evidentes à população, atualmente são poucos os estudos que abordam a problemática do descarte irregular de lixo em Belém-Pa. O poder público e órgãos responsáveis possuem algumas ações para coibir esse descarte irregular, muitas vezes com base em denuncias que precisão ser intensificadas, entretanto é necessária uma dinâmica coletiva entre a comunidade, empresas e o poder público. Diante do mostrado é indispensável e de suma importância à execução desta pesquisa.
2.OBJETIVOS
Identificar pontos de despejo irregular de resíduos sólidos e os possíveis prejuízos à população local, causados por este despejo.
E como objetivos específicos, o estudo visa: (a) estudar os fatores intervenientes na prática de deposição indevida de resíduos no local de estudo; (b) conhecer os possíveis prejuízos do lançamento indevido dos resíduos para o meio ambiente, sociedade e economia local.
3.MATERIAL E MÉTODOS
O bairro do Marco tem como principais avenidas a Av. João Paulo II e parte da Av. Almirante Barroso e possui população de 65.844 habitantes, conforme Censo do IBGE de 2010. Situado neste, está o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), o qual está relacionado à definição da área de estudo deste trabalho.
O referido trabalho foi desenvolvido por intermédio de uma pesquisa exploratória de caráter descritivo, para Leal (2017),
A pesquisa exploratória tem por objetivo aproximar-se do tema, criando maior familiaridade em relação ao fato ou fenômeno, prospectando materiais que possam informar a real importância do problema, o que já existe a respeito ou até novas fontes de informação, o que normalmente é feito através de levantamento bibliográfico e documental, entrevistas, observações in loco.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
27
Assim, buscando melhor conhecimento e aprofundamento do tema, a princípio, foi realizado um levantamento bibliográfico à fundamentação teórica do tema abordado e alicerce para dar-se prosseguimento ao trabalho.
Para efetuar-se a escolha da área de estudo (figura 1), foi exercido o critério de atuação da Universidade sobre essa região, denominada Área de Influência Direta (AID), o qual segundo a Resolução CONAMA 305/02, corresponde à
Área necessária à implantação de obras/atividades, bem como aquelas que envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, plantios, armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de administração, residência dos envolvidos no projeto e entorno.
Figura 3 - Área de Estudo.
Fonte 1 - Adaptado do MyMaps, Google.
Dessa forma, dar-se-á seguimento as visitas in loco, com o propósito de identificar, localizar e registrar, os pontos de descarte irregular de resíduos sólidos. Consoante a isto, a metodologia aplicada foi caminhar pelas vias, tendo em vista as de maior fluxo de pessoas e carros, e acessibilidade às mesmas, são elas: Av. Almirante Barroso, Av. João Paulo II, Av. Perimetral, Tv. Perebebuí, Tv. Pirajá, Tv. Dr. Enéas Pinheiro e Tv. Lomas Valentinas.
Mediante a escolha da área de estudo, realizou-se na Etapa 1 visitas previas ao local para conhecimento da área, tal como ao Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Secretária Municipal de Saneamento (SESAN), a fim de conhecer datas e horários do serviço de coleta efetuado nesta região.
Assim, na Etapa 2 sucedeu-se às visitas ao local de estudo, com o propósito de locar em mapa com auxílio do software MyMaps, Google, os pontos identificados de descarte irregular de resíduos sólidos. As visitas ocorreram sempre pela manhã das 9h as 11h, entre segunda e sexta durante os meses de abril, maio e junho; os pontos também foram identificados e cadastrados por registro fotográfico.
Na Etapa 3 aplicou-se 20 questionários voltados aos moradores da área de estudo, selecionados de modo aleatório, e correspondendo a uma média de 10% dos moradores da micro área de estudo. O questionário foi composto por perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico dos moradores, frequência em que a coleta de resíduos é realizada pela prefeitura, possíveis responsáveis pela deposição clandestina dos resíduos, assim como possíveis prejuízos econômicos, entre outros. Os dados foram obtidos por meio do método de amostragem não probabilístico por conveniência, seleção de membros mais acessíveis da população, que serão discutidos e exibidos por tabelas.
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a visita prévia identificou-se dez possíveis pontos de descarte irregular de resíduos sólidos e ao avaliar as visitas in loco, selecionando três delas em meses diferentes, visita 1 (18/04), visita 2 (25/05) e visita 3 (15/06), apresenta-se o decréscimo do número de pontos, mostrados no gráfico 1.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
28
Gráfico 1- Número de pontos
Fonte 2– Autores, 2018
Por meio das visitas, observou-se que o serviço de limpeza da prefeitura na área de estudo, é efetuado constantemente, entretanto o despejo de resíduos domiciliares e entulho ocorrem com grande intensidade e fora do horário de coleta. Percebeu-se, ainda, que o número de pontos de descarte irregular reduziu-se de onze para quatro, da primeira à última visita, respectivamente. E utilizando o critério de 80% de permanência, identificaram-se quatro pontos, na esquina da Tv. Dr. Énéas Pinheiro com a Av. João Paulo II (ponto 1), Tv. Dr. Enéas Pinheiro com Av. Almirante Barroso (ponto 2), Tv. Perebebuí com Av. Dr. Freitas (ponto 3) e Av. João Paulo II (ponto 4), mostrados na figura 2.
Figura 4- Pontos de descarte irregular.
Fonte 3- Adaptado do MyMaps, Google .
No P1, a coleta é realizada regularmente, no entanto, após ser coletado esse montante, a população continua descartando seu “lixo”, ou seja, ocorre a renovação constante no deposito de resíduos. Carroceiros dispondo deste cenário aproveitam para despejar entulho no local, registrado na figura 3.
Figura 5 – Flagrante de despejo.
Fonte 4– Autores, 2018
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
29
Em um estudo realizado na cidade de Joinville-SC por Araújo, Gouveia e Oliveira (2017) foi observado que os pontos de deposição irregular de resíduos ocorrem geralmente em locais pouco habitados, ao longo de estradas e ruas com pouco trânsito, em terrenos baldios e em torno de áreas de preservação permanente. No presente estudo foi constatada uma situação um pouco diferente, na qual alguns pontos encontram-se próximos a universidade, escolas, estabelecimentos comerciais e muitas residências, esses locais possuem grande fluxo de pessoas, as quais tem sua passagem dificultada devido a aglomeração de resíduos que ocupa parte da calçada, como pode ser visto na figura 4.
Figura 6 – P1
Fonte 5– Autores, 2018
O P2 é fixo e os resíduos estão acumulados por um longo tempo acrescentando-se mais durante os anos. Não está diretamente visível, pois se encontra escondido por um pequeno muro de alvenaria, com aproximadamente um metro de altura, figura 5.
Figura 7 – P2
Fonte 6– Autores, 2018
O P3 é o ponto mais crítico, pois se encontra em frente a um terreno vazio e foram observados os mais diferenciados resíduos, durante as visitas houve a limpeza do espaço, por solicitação da população do entorno, mas em poucos dias o depósito de resíduos estava formado novamente.
Figura 8 - P3
Fonte 7– Autores, 2018
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
30
O P4, assim como o P2, é um ponto fixo onde os resíduos são adicionados com o tempo, formado principalmente por resíduos de construção e demolição (RCD).
Figura 9 - P4
Fonte 8– Autores, 2018
Na avaliação dos questionários aplicados, é perceptível que a problemática do acúmulo irregular de resíduos sólidos atrai ratos, baratas e mosquitos; além de ser incômodo visual e causar odor. De acordo com todos os entrevistados, os pontos encontrados perduram há muito tempo e devido à topografia da área de estudo quase não há ocorrência de alagamentos no local, as informações seguem na tabela 1.
Tabela 1- Respostas dos questionários
SIM NÃO
Presença de vetores 90% 10%
Odor 75% 25%
Incômodo visual 90% 10%
Alagamentos 25% 75%
Prejudicial 90% 10%
Ponto de descarte constante 100% 0%
Fonte 1– Autores, 2018 Quanto ao conhecimento acerca da coleta pública, em um estudo feito na Bacia do Ribeirão Quati por Melo, Machado e Camargo (2018) constatou-se, através de questionários, que 100% da população conhece os dias de coleta, o que colabora para menores índices de despejos irregulares de resíduos domiciliares. No local estudado, quando questionados quanto aos dias e horários da coleta domiciliar, 90% da população mostraram-se desinformada ou duvidosa, o que pode ser explicado por alguns estarem apenas de passagem pelo local. Todos mostraram ter conhecimento e preocupação com o problema, mesmo que básico, ressaltando a necessidade de educação ambiental, políticas públicas, denúncias, além de precisar maior cuidado de descartar nos dias e horários corretos de acordo com a coleta da prefeitura.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível perceber que se têm a formação de quatro principais pontos clandestinos de resíduos pós-coleta, pôde se constata que esse agravante se dá por falta de educação ambiental e/ou falta de conhecimento acerca do horário da coleta domiciliar. Este desconhecimento expõe a saúde da população a vetores que transmitem doenças tais como leptospirose, dengue, entre outras. Além de causar transtornos visuais, olfativo e de mobilidade. A quantidade de pontos observados, dada a dimensão da área estudada, desperta a atenção nos quesitos ambiental, social e econômico. O impacto provocado pelo despejo irregular de resíduos acaba por gerar desconforto para a população quanto à circulação e utilização de serviços, como: restaurantes, escolas e universidades. Além do incomodo nas residências ocasionado pelo mau cheiro desses resíduos. Como levantado na pesquisa, é notório o papel da população para minimização dos pontos irregulares, visto que uma parcela da mesma é responsável por tal prática. Portanto, há a necessidade de maior atuação pública e acadêmica em ações instrutivas mediante a conjuntura apresentada, bem como vigência no emprego das leis existentes.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
31
REFERÊNCIAS
[1] Abrelpe. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2016. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfmAcesso em: 09/04/2018.
[2] Araújo, A.; Gouveia, V.; Oliveira, T. M. N. de. Problemática do descarte irregular de resíduos sólidos no município de Joinville – SC. 8º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Paraná, 2017.
[3] Araújo, K. K.; Pimentel, A. K. A problemática do descarte irregular dos resíduos sólidos urbanos nos bairros Vergel do lago e Jatiúca em Maceió, Alagoas. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental. Florianópolis, v. 4, n. 2, p. 626 - 668, out. 2015/mar. 2016.
[4] Brasil. Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010.Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Casa Civil, 2 de Ago. de 2010.
[5] Brasil. Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.Lei de Crimes Ambientais. Casa Civil, 12 de fev. de 1998.
[6] Descarte irregular de lixo e entulho custa mais de R$ 24 milhões à Prefeitura de Belém. G1-PA. Disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/descarte-irregular-de-lixo-e-entulho-custa-mais-de-24-milhoes-a-prefeitura-de-belem-informa-orgao.ghtml Acesso em: 09/04/2018.
[7] Dias, C. V. et. al. Coleta seletiva de lixo e turismo: uma questão de educação ambiental. Multitemas. n. 22, p. 121 – 127, dez. 2002.
[8] Geresol. Programa de Administração e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Disponível em: https://www.ufmg.br/proex/geresol/lixohistoria.htm Acesso em: 09/04/2018.
[9] Gouveia, Nelson; Prado, Rogério Ruscitto do. Riscos à saúde em áreas próximas a aterros de resíduos sólidos urbanos. Rv. Saúde Pública, São Paulo, V.44, n. 5, out.2010, p.859-866. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000500011 Acesso em: 09/04/2018.
[10] Leal, A. Análise da disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Distrito de Pilar-Ba. Revista de Comunicação e Cultura no Semiárido (ComSertões). 2017.
[11] Melo, Ângela Cristina Alves de; Machado, Gilnei; Camargo, Karen Carla. Gestão urbana e disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos na bacia do Ribeirão Quati – Londrina-PR. I Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial e Xxxiv Semana de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, Londrina, v. 1, n. 1, p.155-166, 28 nov. 2018.
[12] Oliveira, T. Conscientização sobre o Lixo jogado por aí!!! Blog FL, 2015. Disponível em: http://www.fl.com.br/index.php/1600/conscientizao-sobre-o-lixo-jogado-por/ Acesso em: 09/04/2018.
[13] Schleder, Eloty Dias; Albuquerque, Lidiamar Barbosa. Lixo: suas características e alternativa metodológica para aproveitamento da parte orgânica. Multitemas, n. 10, Campo Grande: UCDB, p. 75-96, 1998. Disponível em: www.multitemas.ucdb.br/article/download/1218/1139 Acesso em: 09/04/2018.
[14] Silva, L. U. da. Disposição final de resíduos sólidos urbanos e a responsabilidade dos geradores e do poder público. Especialização em gestão ambiental em municípios. Medianeira, 2015.
[15] Vieira, P. L.; Beltrame, L. T. C. Educação ambiental: a resposta para o problema de resíduos sólidos urbanos. 8º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Paraná, 2017.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
32
Capítulo 5
Legislação de pilhas e baterias: Panorama Nacional Felipe da Costa da Silva
Valéria Monteiro Carrera Moraes
Rebeca Furtado Arnoud
Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez
Octavio Cascaes Dourado Junior
Resumo: As pilhas e baterias são elementos ativos e fundamentais para a sociedade atual
sendo utilizados em muitos equipamentos portáteis como celulares, relógios, etc. Por
apresentarem em sua composição metais pesados, se forem descartados incorretamente
apresentam riscos ao meio ambiente e a saúde. O objetivo deste trabalho é investigar e
agrupar a legislação de pilhas e baterias em âmbito nacional; buscar projetos de lei nas
esferas estaduais, além de averiguar programas de manejo destes dispositivos
eletroquímicos. Notou-se que no primeiro Decreto Federal sobre resíduos, não existia
uma legislação específica para a composição, tratamento e disposição final de pilhas e
baterias. A partir de 1993, o poder legislativo e o executivo instituíram leis, resoluções e
normas instrutivas para o manejo correto desses dispositivos eletroquímicos como a
Lei 12.305/10 e o CONAMA 401/08 (em vigor). Além disso, foi constatado que apesar da
existência de leis que fundamentem o gerenciamento adequado deste material, grande é
o numero de pessoas que ainda não o fazem de forma correta, havendo assim a
necessidade do fortalecimento das medidas de fiscalização para o cumprimento dessas
leis, principalmente no que se refere à destinação final desse resíduo, etapa de maior
ineficiência no Brasil.
Palavras-chave: Legislação ambiental; pilhas; baterias; resíduos eletrônicos.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
33
1.INTRODUÇÃO
Uma das incríveis descobertas do ser humano foi a eletricidade. Foi descoberta 600 anos a.c. por Tales de Mileto (filósofo grego) que após esfregar âmbar e pele de carneiro, percebeu que o primeiro atraía pequenas partículas como palha, penas e fragmentos de madeira. Porém, apenas em 1600 foi concretizada a existência de uma força de atração entre as partículas atômicas com os estudos do médico e cientista inglês William Gilbert que nomeou essa força de “eletricidade” (derivada da palavra elektron que significa âmbar). Por volta de 1743, o inglês Benjamin Franklin iniciou seus estudos sobre eletricidade e, entre seus experimentos, criou um conjunto de capacitores interligados que chamou de “bateria”. Em 1746, Luís Galvani dessecou uma rã e percebeu a existência de um fluxo elétrico devido ao contato desta com uma máquina metálica e um bisturi. Galvani acreditou que esse fluxo era proveniente dos músculos da rã denominando-o de “eletricidade animal”. Mas, aproximadamente 14 anos após esse acontecimento, o físico Alexandre Volta propõe uma teoria contrária e afirma que não existe “eletricidade animal”, mas sim que o fluxo elétrico é gerado pelo contato entre dois metais diferentes. Após isso, Volta criou um dispositivo que possuía dois metais diferentes, mergulhados em solução iônica, com objetivo de transmitir energia elétrica. Esse dispositivo foi nomeado de Pilha.
Segundo Galiza et al (2014), as pilhas e baterias são elementos ativos e fundamentais para a sociedade atual pois, utiliza-se esses dispositivos nas atividades diárias. Quando as pilhas e baterias não possuem mais utilidade, são descartadas - pela maioria da população - no lixo doméstico junto a resíduos comuns (KEMERICH et al,2013).
O descarte desse material feito de maneira incorreta apresenta riscos ao meio ambiente, por serem compostos de metais pesados (cádmio, níquel, mercúrio e chumbo) podendo “[...] contaminar os lençóis freáticos do solo e [serem] incorporados à cadeia alimentar nos seres vivos, causando o efeito de bioacumulação” (MANTUANO et al, 2011). A acumulação desses metais no organismo vivo causa enfraquecimento de ossos; perda de visão, olfato e audição; alterações nos sistemas respiratório e central além de serem agentes cancerígenos.
Isto posto, são necessárias leis, decretos, resoluções e outros instrumentos normativos que regulamentem a gestão desse tipo de resíduo (potencialmente perigoso) de forma específica e sustentável. “A legislação ambiental é vasta, complexa e dispersa, no entanto, seu conhecimento e cumprimento [...] [são] de fundamental importância para a proteção do meio ambiente [...]” (BARRETO, 2009, p.1).
2.OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar e agrupar a legislação de pilhas e baterias em âmbito nacional; buscar projetos de lei nas esferas estaduais além de averiguar programas de manejo destes dispositivos eletroquímicos.
3.MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa é classificada como exploratória realizada através da revisão bibliográfica (leitura e análise) de leis, resoluções, decretos e outras normas sobre o adequado manejo de pilhas e baterias no período de três meses (Abril, Maio e Junho) de 2018.
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 BREVE HISTÓRICO
O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, instituiu o Ministério de Estado e do Interior (MINTER) que possuía entre seus objetivos a defesa e preservação do meio ambiente. Considerando a importância do lixo ou resíduos sólidos, provenientes de toda a gama de atividades humanas, como veículos de poluição do solo, do ar e das águas.
O MINTER publicou em 01 de março de 1979 a Portaria nº53, onde no Art.1º inciso III estabeleceu que os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contém substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer tratamento ou acondicionamento adequado, no próprio local de produção, e nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação ambiental.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
34
Embora na Portaria n° 53/79, existissem alternativas de forma indireta para a composição, tratamento e disposição final de pilhas e baterias, nesse período no Brasil, não havia uma legislação específica para este material. A referida Portaria foi revogada pela Resolução nº 5 de 5 de agosto de 1993, editada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Nessa resolução, os tratamentos adequados continuam sendo estabelecidos conforme a natureza dos resíduos, porém, estes foram organizados por Grupos (A, B, C, D). As pilhas e baterias inseriram-se no Grupo B, por apresentarem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas, e deveriam ser submetidas a tratamento e disposição final específico (não detalhado na resolução). Em 1999 percebeu-se a preocupação do Governo Federal referente à fabricação e descarte de pilhas e baterias, quando o CONAMA editou nova Resolução (nº257) que substituiu a Resolução nº 5/93, sendo essa a primeira norma específica para o manejo destes dispositivos. Porém, nessa resolução era permitido o descarte das pilhas comuns no lixo doméstico desde que os teores de metais em sua constituição estivessem de acordo com a norma regulamentadora. Posteriormente, visando maior proteção ao meio ambiente, a Resolução nº 257/99 foi substituída pela Resolução do CONAMA nº 401/08 extinguindo a legalidade da disposição de pilhas e baterias no lixo comum (KEMERICH et al,2013).
4.2 LEGISLAÇÃO ATUAL
No Brasil, os direitos e deveres dos brasileiros são determinados pela Constituição Federal, de modo que o respeito ao seu texto é obrigatório, não podendo ser contrariado. Para regulamentar a Carta Magna, ou seja, detalhá-la para melhor execução, existem as normas infraconstitucionais (Leis Complementares, Leis Ordinárias, dentre outras regras), e os Atos Administrativos Normativos, onde se destacam os decretos, as resoluções e as portarias.
A Lei 6.939/81 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente) e o Decreto 99.274/90 instituíram e regulamentaram o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que é um conjunto de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, com o objetivo de proteger e melhorar a qualidade ambiental de maneira articulada. O órgão superior do SISNAMA é o Conselho do Governo (todos os Ministérios e a Casa Civil da Presidência da República). Abaixo dele existem os seguintes órgãos: Consultivo e Deliberativo - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); Central - Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; Executores – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Seccionais (Estados) e Locais (Municípios). Dentre esses se destaca o CONAMA, por estabelecer “normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras [...]” (GRANZIERA, 2011, p.107).
O SISNAMA e sua constituição descritos anteriormente, materializam o disposto no Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por ser um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo de responsabilidade do poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Além disso, o inciso 1º afirma ser incumbência do poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente e, por fim, promover educação ambiental e a conscientização pública para preservação dos meios naturais.
Ainda se tratando de meio ambiente em âmbito nacional, a Lei nº 6.938/81 estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente tendo como um de seus objetivos o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Para integrar essa política, criou-se a Política Nacional de Resíduos sólidos (Lei nº 12.305/10), que segundo Milaré (2015) dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos, incluindo os perigosos.
Visando detalhar a execução dessas leis sobre os resíduos potencialmente perigosos, o CONAMA publicou em 2008 a Resolução nº 401, que determinou os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio e os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, comercializadas no território nacional.
Nessa resolução, conceitua-se pilha como gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante conversão de energia química, podendo ser do tipo primária -não recarregável- ou secundária -recarregável- (Art. 2º).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
35
As baterias são ditas como acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em série ou em paralelo. Os fabricantes e/ou importadores nacionais desses dispositivos devem registrar-se no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e apresentar, anualmente, ao IBAMA laudo físico-químico de composição das pilhas e baterias, emitido por laboratório acreditado junto ao Instituto Nacional de Metrologia e de Normatização-INMETRO (Art. 3º).
Caso seja comprovado que os teores de metais na composição estejam acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, o fabricante e/ou importador estará sujeito a penalidades (Art. 23) como a obrigação de recolhimento de todos os lotes em desacordo a resolução.
Além disso, o Art. 3º da referida Lei afirma que o fabricante deve apresentar ao órgão ambiental competente o plano de gerenciamento de pilhas e baterias, que contemple o recebimento, armazenamento e destinação final adequado. Consoante a isso, o Art. 4° declara que o fabricante deve receber de volta obrigatoriamente as pilhas e baterias comercializadas, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores.
A Instrução Normativa nº 8/12 do IBAMA estabelece em seu Art. 10 que as pilhas e baterias usadas ou inservíveis, a serem recolhidas nos estabelecimentos de venda e na rede de assistência técnica autorizada, devem ser acondicionadas de forma a evitar vazamentos e a contaminação do meio ambiente ou risco à saúde humana não podendo, assim ser destinada junto com resíduos comuns.
Em relação à educação ambiental, a resolução nº401/08 do CONAMA, em seu Art. 14, estabelece que nos materiais publicitários e nas embalagens de pilhas e baterias, fabricadas no Brasil ou importadas, deverão constar de forma clara, visível e em língua portuguesa, a simbologia indicativa da destinação adequada (Figura 1) juntamente com o texto “Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada”. Ainda deve conter as advertências sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
Figura 1 – Simbologia utilizada em embalagens de pilhas e baterias.
Fonte: IBAMA, 2012
4.3 PROJETOS DE LEI
Projeto de lei (PL) é uma proposta de um conjunto de normas que devem ser submetidas à tramitação no Poder Legislativo com o objetivo de se efetivar através de uma lei. O conhecimento dessas proposições em trâmite que contem disposições sobre a gestão de pilhas e baterias é necessário, pois por meio deste tem-se o conhecimento sobre os planos futuros para a resolução de tal problemática.
Referente a pilhas e baterias foram apresentados diversos Projetos de Lei, em que se destaca o PL nº 4178/98 que dispõe sobre a coleta, o tratamento e a destinação final do lixo eletrônico, porém esse objetivo foi alcançado apenas onze anos depois, com a lei 12.305/10. Após isso, surgiram outros projetos no decorrer dos anos almejando diferentes propósitos, como por exemplo, a reciclagem de pilhas e baterias instituídas pelos seguintes PL nº 383/99, 732/99 e 2216/99. Outro objetivo, alcançado com as Resoluções do CONAMA, prescrevia a advertência nas embalagens de baterias e pilhas eletroquímicas, além desses, o projeto nº 432/09 dispunha a criação de pontos de descartes de pilhas e baterias em postos de saúde da rede pública. O mais recente é o PL de nº 5007/16 que tem como finalidade a obrigatoriedade dos órgãos públicos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a instalação de coletores de pilhas e baterias que contenha elementos tóxicos, corrosivos e reativos.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
36
4.4 PROGRAMAS E TÉCNICAS PARA A MELHORIA DO MANEJO DE PILHAS E BATERIAS
No Brasil, são produzidas ao ano cerca de três bilhões de unidades entre pilhas e baterias para uso doméstico, das quais 800 milhões são pilhas comuns. Por ano circulam 10 milhões de baterias de celulares, 12 milhões de baterias automotivas e 200 mil baterias industriais (KEMERICH et al, 2012). Devido a essa grande quantidade e a periculosidade dos dispositivos eletroquímicos, houve a necessidade da criação de programas e técnicas para incentivar a sociedade e empresas a gerenciarem corretamente esse resíduo.
Pensando nisso, um projeto que prevê a recuperação de metais de pilhas usadas foi desenvolvido na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) utilizando a “rota da hidrometalurgia”.
A reciclagem de pilhas e baterias por via hidrometalúrgica consiste basicamente na lixiviação ácida ou básica da sucata (proveniente da etapa de preparação da sucata) para que os metais sejam transferidos do sólido para uma solução aquosa. Esta solução, então, passa por uma ou mais etapas de purificação e, posteriormente, os metais podem ser recuperados tanto na forma metálica pura como na de compostos [...]. (Mantuano, et al, 2011, p.5)
Para o uso das técnicas de reciclagem, existem vários programas para o incentivo da coleta de pilhas e baterias, como por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), deu origem ao programa “ABINEE recebe pilhas”, que teve inicio em 2010 atendendo a PNRS e desde então já coletou 900 toneladas de pilhas e baterias em mais de 1100 postos de recolhimento espalhados em todo o Brasil (Romero e Farias, 2017). Ademais, há outros programas com o mesmo objetivo, como o senado verde realizado no Distrito Federal e Descarte Green.
Todos os programas anteriormente citados utilizam a reciclagem como técnica de gestão por ser mais adequada para o não prejuízo do meio ambiente. Esse processo funciona em quatro etapas: a triagem, trituração, processos químicos, processo térmico. Na triagem as pilhas são separadas por tipo e marca, após isso são destinadas à trituração, nessa etapa a capa das pilhas e baterias é retirada facilitando o tratamento químico das substâncias no interior destas, realizado na etapa posterior com a recuperação de sais e óxidos metálicos através de reações químicas, no qual serão utilizados como matéria-prima em processos industriais na forma de corantes e pigmentos. Na última etapa, as pilhas e baterias são inseridas em um forno industrial em alta temperatura para ocorrer a separação do zinco, assim ele pode ser recuperado em sua forma metálica e ser utilizado como matéria-prima na confecção de novas pilhas e baterias.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a crescente demanda populacional por dispositivos eletroeletrônicos, é imprescindível a existência de normas que regulamentem a composição, o armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos potencialmente perigosos, como pilhas e baterias. O Brasil apresenta legislação vigente específica para esse tipo de resíduo, sendo o primeiro país da América do Sul a decretar resoluções para tal fim.
Além disso, o país demonstrou melhoramento de normas ao longo do tempo e a implementou técnicas para reciclagem de pilhas comuns, visando preservar o meio ambiente e a proteger a saúde da população. No entanto, ainda há muito a ser feito quanto a gestão adequada de tal resíduo, pois apesar da existência de leis que fundamentem o gerenciamento deste, grande é o numero de pessoas que ainda não o fazem de forma correta, sendo assim são necessárias medidas de fiscalização para o cumprimento das leis, principalmente quando estas se referem a destinação final deste material, etapa de maior displicência no país.
REFERÊNCIAS
[1] Barreto, Maria Esther. Considerações sobre a legislação ambiental em geral e o sistema nacional de unidades de conservação aplicável a unidades de conservação localizadas no município de Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, a saber: o Parque Estadual do Ibitipoca e a Reserva Biológica do Patrimônio Natural Serra do Ibitipoca. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5916>. Acesso em: 28 jun. 2018.
[2] Brasil. Projeto de Lei nº 432, de 2009. Brasília, DF.
[3] Brasil. Projeto de Lei nº 2216, de 1999. Brasília, DF.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
37
[4] Brasil. Congresso. Senado. Constituição (1967). Decreto nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe Sobre A Organização da Administração Federal, Estabelece Diretrizes Para A Reforma Administrativa e Dá Outras Providências. Brasília, DF.
[5] Brasil. Constituição (1981). Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe Sobre A Política Nacional do Meio Ambiente, Seus Fins e Mecanismos de Formulação e Aplicação, e Dá Outras Providências. Brasília, DF.
[6] Brasil. Congresso. Senado. Constituição (2010). Lei nº 12305, de 2 de agosto de 2010.: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF.
[7] Brasil. Projeto de Lei nº 4178, de 1998. Brasília, DF.
[8] Brasil. Projeto de Lei nº 383, de 1999. Brasília, DF.
[9] Brasil. Projeto de Lei nº 5007, de 2016. Brasília, DF.
[10] Conama. Resolução nº 257, de 30 de junho de 1999.
[11] Conama. Resolução nº 401, de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.
[12] Furtado, João S.. Baterias esgotadas: legislações & gestão. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0330EB12/BateriasEsgotadasLegislacaoGestao.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018
[13] Galiza, André et al. Pilhas e Baterias: estudo da capacidade disponível de pilhas e baterias recarregáveis. 2014. 23 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Universidade do Porto, Porto, 2014.
[14] Granziera, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2011.
[15] Rio Grande do Sul. Lei nº 11187, de 23 de setembro de 1997. Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais.
[16] Ibama. Instrução Normativa nº 8, de 03 de setembro de 2012. Brasília, DF.
[17] Kemerich, Pedro Daniel da Cunha et al. Impactos Ambientais Decorrentes Da Disposição Inadequada de lixo Eletrônico no Solo. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 10, p.208-2019, 18 abr. 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/281410594_IMPACTOS_Ambientais_Decorrentes_da_Disposicao_Inadequada_De_Lixo_Eletronico_no_Solo_Environmental_Impacts_Due_to_Improper_Disposal_Of_Electronic_Waste_On_Land>. Acesso em: 21 jun. 2018.
[18] Kemerich, Pedro Daniel da Cunha et al. Descarte indevido de pilhas e baterias: a percepção do problema no município de frederico westphalen – RS. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 2012, vol. 8, n. 8.
[19] Mantuano, Danuza Pereira. Pilhas e baterias portáteis: legislação, processos de reciclagem e perspectivas. Disponível em: <http://abes-dn.org.br/publicacoes/rbciamb/PDFs/21-03_Materia_1_final_artigos295.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.
[20] Milanez, Bruno; Bührs, Ton. Capacidade Ambiental e Emulação de Políticas Públicas: O Caso Da Responsabilidade Pós-Consumo para Resíduos de Pilhas e Baterias no Brasil. Disponível em: <http://ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/161>. Acesso em: 28 jun. 2018.
[21] Milaré, Édis. Direito do Ambiente. Brasil: Revista dos Tribunais, 2015.
[22] Romero, Fernanda Cristina; Farias, Luciana Aparecida. Ecopontos Para Pilhas e Baterias na cidade de São Bernardo do Campo/SP. Revista Ea, São Paulo, v. , n. 59, p.1-17, mar. 2017. Disponível em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2705>. Acesso em: 28 jun. 2018.
[23] Sinir. Pilhas e Baterias. Disponível em: <http://www.sinir.gov.br/web/guest/pilhas-e-baterias>. Acesso em: 28 jun. 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
38
Capítulo 6
Diagnóstico dos resíduos eletroeletrônicos em uma universidade aberta do Brasil
Eduardo Antonio Maia Lins
Alessandra Lee Barbosa Firmo
Diogo Henrique Fernandes da Paz
Daniele de Castro Pessoa de Melo
Maria Regina de Macêdo Beltrão
Adamares Marques da Silva
Resumo: As Instituições de Ensino Superior- IES geram, em suas atividades, resíduos
sólidos em grande quantidade e tipologia que podem conter substâncias de alta
periculosidade. Dentre estes resíduos destaca-se o alto quantitativo de resíduos
eletroeletrônicos oriundos da utilização de aparelhos elétricos e eletrônicos em diversos
setores e atividades. Estes resíduos merecem um cuidado especial no seu manejo, pois
representam riscos ao meio ambiente e à saúde pública por apresentarem, em sua
maioria, metais pesados com toxicidade para o ser humano e outros seres vivos. Dessa
forma, o presente trabalho objetivou analisar a gestão dos Resíduos Eletroeletrônicos –
REE’s na universidade aberta do Brasil, no Campus Recife. O diagnóstico dos resíduos
eletroeletrônicos foi elaborado por meio de uma vistoria local e análise de cada
equipamento, separando-o como servível ou inservível. Considerou-se servível, todo
equipamento eletrônico passível de reaproveitamento de peças ou conserto. Já os
inservíveis são aqueles não passíveis de reaproveitamento ou manutenção. Técnicos
especializados na área foram os responsáveis de realizar tal avaliação. A pesquisa foi
realizada entre maio a outubro de 2017. Os dados obtidos com o levantamento de
campo revelaram que o IFPE - UAB – Recife-PE produz anualmente uma quantidade
média de 300 kg de Resíduos Eletroeletrônicos - REE, onde são distribuindo entre:
gabinetes, monitores, impressoras, tv´s, scanner, fax, projetores, notebooks, no-break´s,
estabilizadores, dentre outros. O estudo também indicou que cerca de 60% dos
equipamentos analisados não são passíveis de reaproveitamento, enquanto que apenas
40% é passível de algum tipo reaproveitamento.
Palavras-Chave: Instituição, Meio Ambiente, Gestão, Lixo, Eletrônico.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
39
1.INTRODUÇÃO
De acordo com Baldé et al. (2017), o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina, com mais de 2 milhões de toneladas em 2016. Em relação ao relatório de 2014, o crescimento foi de quase 10%. Segundo a ONU, o país não tem estatísticas padronizadas nem políticas de abrangência nacional para o manejo desse tipo de descarte. Além disso, os resíduos eletroeletrônicos (REE) são compostos por materiais, como plásticos, vidros e metais, que podem ser recuperados e retornados como insumo para a indústria de transformação. Já as substâncias tóxicas como chumbo, cádmio, mercúrio e berílio devem ter tratamento especial porque podem causar danos ambientais e de saúde (MARENGONI et al., 2013). De acordo com a Lei do Lixo Tecnológico nº 13.576, de 6 de julho de 2009 de São Paulo: Consideram-se lixo tecnológico os aparelhos eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, industrial, comercial ou no setor de serviços que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, tais como:
I - componentes e periféricos de computadores;
II - monitores e televisores;
III - acumuladores de energia (baterias e pilhas);
IV - produtos magnetizados .
No Brasil, em 2010, através da Lei n° 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi inserida em sua legislação um trecho a respeito dos cuidados a serem tomados com resíduos eletrônicos (MAZZOLI et al., 2013). A Lei nº 12.305 de 2 de Agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fornece definições claras a respeito dos tipos de resíduos e sobre termos do assunto, como logística reversa, gestão integrada de resíduos sólidos, acordo setorial, dentre outros, bem como institui princípios e instrumentos norteadores para planos de gestão de resíduos eletroeletrônicos. O cenário brasileiro não é muito animador, já que o país é o maior gerador destes resíduos entre os países emergentes (DEMAJOROVIC et al, 2016) e o seu sistema de gestão do resíduo eletrônico é ineficiente e ainda não há regulamentação específica na PNRS sobre o seu correto tratamento, bem como seu conceito. Ademais, estudos apontam que ainda são escassas as pesquisas sobre os resíduos eletroeletrônicos no Brasil, principalmente no que diz respeito à gestão adequada da logística reversa desses resíduos (FRANCO e LANGE, 2011; DEMAJOROVIC et al, 2016).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 disciplinou a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos no país, sendo o sistema de logística reversa, a responsabilidade compartilhada e a hierarquia de gestão - não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A logística reversa pode ser entendida como a área da logística empresarial que visa equacionar os aspectos logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios através da multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós–venda e de pós–consumo, agregando-lhes valor econômico, ecológico, legal e de localização (LEITE, 2009).
2.OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da atual gestão dos resíduos eletroeletrônicos existente no Instituto Federal de Pernambuco Campus DEaD, a fim de constatar o enquadradadamento à PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos a fim de promover a sustentabilidade local.
3.METODOLOGIA
- Localização
A área de estudo definida foi o Campus EAD do IFPE, localizado na Sudene, próximo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Recife, na BR 101, localizado no município de Recife.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
40
- Diagnóstico
O diagnóstico dos resíduos eletroeletrônicos foi elaborado por meio de uma vistoria local e análise de cada equipamento, separando-o como servível ou inservível. Considerou-se servível, todo equipamento eletrônico passível de reaproveitamento de peças ou conserto. Já os inservíveis são aqueles não passíveis de reaproveitamento ou manutenção. Técnicos especializados na área foram os responsáveis de realizar tal avaliação. A pesquisa foi realizada entre maio a outubro de 2017.
Quanto à abrangência e ao detalhamento das informações levantadas, o diagnóstico pretendeu sistematizar dados e informações para o âmbito local. Conforme a disponibilidade das informações, também se buscou organizá-las por tipo de resíduos, abordando os dados levantados.
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos com o levantamento de campo revelaram que o IFPE - UAB – Recife-PE produz anualmente uma quantidade média de 300 kg de Resíduos Eletroeletrônicos - REE, onde são distribuindo entre: gabinetes, monitores, impressoras, tv´s, scanner, fax, projetores, notebooks, no-break´s, estabilizadores, dentre outros (Figura 1). A Figura 2 indicou que cerca de 60% dos equipamentos analisados não são passíveis de reaproveitamento, enquanto que apenas 40% é passível de algum tipo reaproveitamento. Os equipamentos não passíveis de reaproveitamento não vêm sendo reaproveitados ou encaminhados para a reciclagem nas indústrias. Além disso, os passíveis de reaproveitamento que poderiam ser reutilizados em associações que trabalham no ramo e que sejam capazes de torna-los úteis novamente, estão sendo entulhados na instituição. Na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) como relata Will (2016), a instituição visa que o equipamento tem um laudo de obsoleto, mas ainda funciona, a universidade tem o intuito e objetivo de leiloá-lo por duas vezes; caso não consiga interessados, o equipamento é guardado. Foi assinalado que a dificuldade predominante para a maioria dos equipamentos computacionais não serem descartados é por estarem patrimoniados e, os agentes patrimoniais terão que dar conta dos mesmos.
Figura 1: Tipos de resíduos eletroeletrônicos encontrados
Fonte: Os Autores.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
41
Figura 2: Percentual de resíduos eletroeletrônicos passíveis de reaproveitamento.
Fonte: Os Autores.
Observou-se que não existe nenhuma medida de gestão adequada para os resíduos eletroeletrônicos implantada para reuso destes equipamentos, e qualificação quanto ao seu estado físico. Portanto com a preocupação crescente com o meio ambiente, viu-se que a quantidade de REE gerada pela instituição é uma fonte de possível poluição para e meio ambiente.
Com o trabalho de levantamento de campo, além de identificar e qualificar os REE gerados notou-se que os trâmites legais para o desfazimento dos equipamentos para o descarte final ainda geram grandes dificuldades. Segundo Macedo et al., (2012), Universidade de Campinas (Unicamp), todos os componentes de um aparelho eletrônico registrados em um mesmo número de patrimônio devem ser tratados em conjunto, de maneira que não há permissão para canibalização de equipamentos a fim de serem reaproveitadas as partes funcionais. Existe um processo de coleta e triagem dos Resíduos Eletroeletrônicos, em que uma unidade administrativa da universidade coleta os itens obsoletos junto aos institutos, destinando-os ou para projetos sociais ou para descarte. Não se aproveita ao todo o potencial do material, na medida em que poderia ser realizada uma classificação melhor e uma destinação mais adequada para cada tipo desse.
A Implantação do plano de sistema logística reversa para REE no IFPE - UAB – Recife-PE teria por finalidade realizar um conjunto de ações na busca de soluções para uma gestão de gerenciamento adequada a real situação da instituição, observando os princípios da Lei Federal 12305/2010, em seu artigo 9º que determina as diretrizes a serem consideradas. De acordo com as observações realizadas, conota-se que as diretrizes a serem seguidas devem obedecer a uma ordem de prioridade, que vão da não geração, passando pelo o processo de reaproveitamento, reciclagem, de tratamento até a disposição final de forma adequada no meio ambiente.
Neste contexto, observando a necessidade de implantação do plano de sistemas logística reversa deve-se levar em consideração a integração de todos os setores da instituição observando-se a política administrativa, a relação com a comunidade, e os setores públicos e privados, sob a premissa de melhoramento ambiental e com uma visão voltada para a sustentabilidade, algo não realizado na instituição. Para Reidler (2010) frente a uma grande problemática e a crescente geração dos REEE em IES (Instituto de ensino superior), associado a sua composição complexa e a falta de conhecimento sobre sua destinação no pós-consumo, é indispensável para o desenvolvimento de um plano de gestão e monitoramento, a integração de iniciativas bem sucedidas já existentes e experiências acumuladas dentro das instituições para uma gestão eficaz dos REEE desde a sua produção até sua destinação final, conforme estabelecido pela PNRS.
Os REE são considerados resíduos especiais, aos quais necessitam de um manejo especifico, pois quando são descartados de forma inadequada, ou seja, lançados no lixo comum, podem ocasionar sérios danos à saúde humana quanto enormes danos ao meio ambiente. Portanto como forma de prevenção deve-se adotar um sistema que observe as diretrizes da PNRS, quanto à coleta, armazenamento, e destino final.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
42
5.CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que:
- A maior parte dos resíduos eletroeletrônicos gerados (60%) não são passíveis de reaproveitamento, mas de reciclagem a serem realizadas por indústrias do ramo;
- Observou-se que não existe nenhuma medida implantada pela instituição para o reuso ou encaminhamento adequado destes equipamentos gerando uma preocupação crescente com o meio ambiente, visto que a quantidade de REE gerada pela instituição é uma fonte de possível poluição para e meio ambiente;
- Os REE passíveis de reaproveitamento (40%) são em sua grande maioria Nobreaks e Gabinetes que poderiam ser reutilizados na própria instituição ou serem encaminhados para Associações interessadas.
REFERÊNCIAS
[1] Associação Brasileria Normas Técnicas. NBR 16.156/2013: Resíduos de Equipamentos Eletrônicos – Requisitos para Manufatura Reversa. Rio de Janeiro, 2004.
[2] Baldé, C.P.; Forti, V.; Gray, V.; Kuehr, R.; Stegmann, P; The Global E-waste Monitor - 2017, United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.
[3] Conama. Resolução n 263, de 12 de novembro de 1999.
[4] Brasil, Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010)
[5] Conama. Resolução n 401, de 04 de novembro de 2008.
[6] Demajorovic, J.; Augusto, E. E. F.; Souza, M. T. S.; Logística reversa de REE em países em desenvolvimento: desafios e perspectivas para o modelo brasileiro. Revista Ambiente & Sociedade, São Paulo v. XIX, n. 2 p. 119-138, abr.-jun. 2016
[7] Dos Santos, I. T. Q. P.; Diniz, B. L. Diagnóstico e Quantificação de Resíduos Eletroeletrônicos em Instituição de Ensino Superior. VI Epersol: VI Encontro Pernambucano de Resíduos Sólidos / IV Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, 2017.
[8] Franco, R. G. F.; Lange, L. C. Estimativa do fluxo dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 73-82, jan/mar. 2011.
[9] Leite, P.R. Logística reversa: Meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
[10] Macedo, D. H.; Pagliarini, P.C.; Falsetta, A. O lixo eletrônico da Unicamp: estudo de caso sobre as oportunidades ainda não exploradas. Revista Ciências do Ambiente Online, v.8, n.1, p. 28 - 33, mar. 2012.
[11] Marengoni, N. G.; Klosowski, E. S.; Oliveira, K. P.; Chambo, A. P. S.; Gonçalves Junior, A. C.; Bioacumulação de metais pesados e nutrientes no mexilhão dourado do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional. Revista Quím. Nova vol.36 n.3, São Paulo, 2013
[12] Mazzoli, M. D.; Domiciano, G. C.; Vieira, R.; Lixo tecnológico/eletrônico: um breve histórico do problema a possíveis soluções no caso brasileiro. IV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, Salvador/BA, 2013.
[13] Oliveira, C. R; Bernardes, A. M.; Gerbase, A. e (2012). Collection and recycling of electronic scrap: A worldwide overview and comparison with the Brazilian situation. Waste Management. Elsevier, v. 32, ed. 8, 1592– 1610.
[14] Reidler, N. M. V. L.; Tendências de destinación de los aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso em La Provincia de Cádiz y em El Municipio de São Paulo – Brasil. In: Anais do X Congreso del Medio Ambiente – Conama, 10 – Madrid, 22 a 26 de Nov. 2010.
[15] Will, S. Gerenciamento dos Resíduos Eletroeletrônicos no Instituto Federal Fluminense campus Campos dos Goytacazes – Centro: Gerenciamento dos Resíduos Eletroeletrônicos. 53 f. Mestrado em Engenharia Ambiental - UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio De Janeiro, 2016
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
43
Capítulo 7
Avaliação dos teores de metais pesados em áreas de disposição de resíduos no Município de Juazeiro do Norte – Ceará
Tatiany Gomes do Nascimento
Tiago Rodrigues Rocha
Mira Raya Paula de Lima
Mônica Maria Siqueira Damasceno
Ronízia Ramalho Almeida
Resumo: A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil é um desafio crescente,
pois a indústria da construção produz em ritmo acelerado e as cidades dispõem de um
número de resíduos de aterros adequados. Frente a essa questão observa-se um risco
crescente de contaminação do solo pela deposição desses resíduos. Nesse contexto teve
como objetivo investigar as concentrações de carbonatos, silicatos e metais pesados
presentes no solo em pontos de deposição final de resíduos da construção civil na cidade
de Juazeiro do Norte-CE. As amostras foram coletadas em quatro pontos do município e
analisado para silicatos e carbonatos seguindo os métodos da EMBRAPA e para metais
pesados por espectrofotometria de absorção atômica (AAS). Os resultados indicaram
que não apresentaram concentrações alarmantes, onde dos sete metais que foram
analisados (As, Cd, Co, Cr, Fe, Pb, Zn) apenas o Cádmio foi apresentado em concentração
maior do que permite a resolução CONAMA 420/2009.
Palavras-chave: Áreas Contaminadas; Resíduos da Construção Civil; Metais pesados.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
44
1.INTRODUÇÃO
Juazeiro do Norte é um município localizado na região metropolitana do cariri que ocupa uma área de 249 km², e é um dos municípios de maior população do interior do Nordeste, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE possui mais de 270 mil habitantes. Por possuir ares de capital, um imenso potencial para investimentos e cerca de 30% do seu território ser de área urbana, nos últimos anos vem sofrendo uma ebulição na área econômica e uma verticalização notória a sociedade, por este motivo tem o setor da construção civil como um dos mais empregatícios que é o responsável por grande parte dos resíduos gerados atualmente.
A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, mas, por outro lado, apresenta-se como grande geradora de impactos ambientais, quer pelo consumo de recursos naturais, quer pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. O setor tem o desafio de conciliar uma atividade produtiva dessa magnitude com condições que conduzam a um desenvolvimento sustentável consciente e menos agressivo ao meio ambiente (PINTO, 2005 apud Karpinsk et al, 2009). Karpinsk et al (2009), diz ainda que o problema ambiental gerado pelos resíduos depositados de forma desregrada em aterros clandestinos, acostamentos e rodovias deve ser resolvido visando preservar o meio ambiente.
Segundo a RESOLUÇÂO N° 307/10 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE- CONAMA, esses resíduos recebem classificações diferentes como mostra o quadro 1.
Quadro 1- classificação dos RCC’s de acordo com a CONAMA. CLASSE DESCRIÇÃO DO RESÍDUO EXEMPLO
A
Materiais que podem ser reciclados ou reutilizados como agregado em obras de infraestrutura, edificações e canteiro de obras.
Tijolos, telhas e revestimentos cerâmicos: blocos e tubos de concreto e argamassa.
B Materiais que podem ser reciclados e ganhar outras destinações.
Vidro, gesso, madeira, plástico, papelão e argamassa.
C Itens para o qual não existe ou não é viável aplicação econômica para recuperação ou reciclagem
Estopas, lixas, panos e pinceis desde que não tenham contato com substancias que o classifique como D.
D Aqueles compostos ou em contato de materiais nocivos à saúde.
Solvente e tintas: telhas e materiais de amianto; entulho de reformas em clinicas e instalações industriais que possam estar contaminados.
Fonte: Sienge, 2017 adaptado pelos autores, 2018.
Para tentar reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelo descarte incorreto dos RCC’s, foi criada a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, cuja prevê a prevenção e redução dos resíduos, estabelece responsabilidade compartilhada da geração dos mesmos e a implantação de metas que irão auxiliar na eliminação dos lixões. Nos Resíduos da construção civil há materiais no qual podem ser reciclados ou reutilizados, conforme Leite et al. (2016), esses substratos ocupam 86,35% da massa (kg) total dos resíduos sólidos não município de Juazeiro do Norte-CE, uma quantidade consideravelmente monstruosa quando comparado aos demais.
Os resíduos da construção civil não são apenas blocos, massas ou outras sobras acumuladas cujas são acondicionadas em contêineres e recolhidos por empresas terceirizadas, que são responsáveis por dar o descarte correto, pois os mesmos também podem conter restos de revestimentos e cobertura que tem na sua composição compostos perigosos á saúde humana e ao meio ambiente.
2.OBJETIVOS
Após pesquisas bibliográficas, atribulados com a quantidade de resíduos gerados pelas indústrias da construção no município de Juazeiro do Norte-CE, o referido estudo visa analisar o solo de espaços onde são destinados de forma clandestina e imprópria os resíduos da construção civil detectando através de analises químicas se estes insumos estão alterando o nível de metais pesados do solo e classifica-lo de acordo com a Resolução CONAMA 420/09.
3.MATERIAL E MÉTODOS
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
45
3.1 ÁREA DE ESTUDO
Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas coletas de solo em quatro localidades, onde se tem permanentemente resíduos da construção civil, situadas no município de Juazeiro do Norte no Ceará e nomeadas de acordo com o local onde foi coletado: Instituto Federal do Ceará - IFCE; Rua Domingos Calazans - RDC; Rua João Ferreira Lustosa I - RJFL I e Rua João Ferreira Lustosa II - RJFL II. Em cada localidade (imagem 1) foram coletadas três amostras de solo na profundidade de 0 a 20 cm da superfície.
O solo do município segundo Teixeira (2017) é considerado como Argissolo, que são solos medianamente profundos a profundos, moderadamente drenados, com horizonte B textural, apresentam argila de atividade baixa e saturação por bases alta (proporção na qual o complexo de adsorção de um solo está ocupado por cátions alcalinos e alcalino-terrosos, expressa em percentagem, em relação a capacidade de troca de cátions), e como Neossolo Flúvico que são solos minerais não hidromórficos, oriundos de sedimentos recentes referidos ao período Quaternário. (EMBRAPA, 2018)
Figura 1 - Localização dos pontos de coleta.
Fonte: Google Earth, 2018. Adaptado pelos Autores, 2018.
Figura 2 - Mapa da Localização de Juazeiro do Norte na Microrregião do Cariri e classificação do solo.
Fonte: Teixeira, 2017.
De acordo com TAVARES, OLIVEIRA & SALGADO (2013), essa classificação é importante, pois nos indica alguns aspectos quanto à mobilidade dos metais pesados no solo. Via de regra, quanto mais alto o conteúdo de argila, maior é a troca catiônica (em qualquer valor de pH) e menor a mobilidade do metal no solo. Logo, pode-se inferir que a contaminação de metais pesados neste perfil pode ter comportamento de mobilidade alta nos primeiros centímetros de profundidade.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
46
3.2 COLETA DAS AMOSTRAS
Para a coleta do solo seguiu-se o método de amostragem composta desenvolvido pela EMBRAPA em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento descrito no Manual de Procedimentos Coleta de Amostras em Áreas Agrícolas para Análise da Qualidade Ambiental: Solo, Água e Sedimentos (2006) (p. 37). Logo após, as amostras armazenadas em recipientes esterilizados foram encaminhadas para o Laboratório de Geologia e solos do Instituto Federal do Ceará-campus Juazeiro do Norte (IFCE/JN), para ser feito o peneiramento em malha de #2 mm, para que os componentes da amostra fossem apenas solo fino e pequenas impurezas oriundas dos resíduos, o retido foi eliminado e o passante foi levado para o Laboratório de Química (LAQAM) do IFCE/JN.
Houve uma investigação através de imagens de anos anteriores com o auxílio do Google Earth Pro, para descobrir se as amostras que foram retiradas de locais sem a interferência dos RCC´s no passado continham os insumos. Então consideramos as três amostras da Rua Domingos Calazans e da Rua João Ferreira Lustosa I como solo contaminando, pois através das imagens coletadas, elas apresentavam materiais contaminantes despostos. E a Rua João Ferreira Lustosa II e o IFCE tiveram dois pontos de coleta contaminados e um ponto ilibado.
3.3 ANÁLISES QUÍMICA
Para análise química dos teores de metais pesados houve a digestão da amostra com água-régia. Essa digestão é fundamental para posteriormente diluir e filtrar a amostra, e em seguida determinar os teores de metais extraídos do solo utilizando Espectrometria por Absorção Atômica (AAS).
Embora a água régia não seja considerada como um método capaz de fornecer o teor total de metais pesados admite-se que esse método forneça uma estimativa razoável da quantidade máxima que poderá estar disponível para as plantas ou ser lixiviada para a água subterrânea. O refluxo utilizando água-régia extraiu 70% do níquel, 80% do chumbo e 90% do cromo, do cobre e do manganês de solos do Canadá. (DIAZ-BARRIENTOS et al., 1991, BERROW E STEIN,1983, apud SALDANHA et al., 1997).
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
A investigação das concentrações de metais pesados é de grande importância para o monitoramento pelos órgãos competentes, pois seguindo a Resolução CONAMA 420/09, após a etapa de diagnóstico, a área deverá ser classificada de acordo com as concentrações das substâncias químicas e deverão ser observados os procedimentos de prevenção e controle da qualidade do solo. Já que, como descrito, os metais pesados desativam as enzimas, e essas são responsáveis pelas reações químicas em nosso corpo.
Olhando para tabela 3, verifica-se que os valores de Cádmio, Cromo, Ferro e Chumbo permitido pela NBR 10004/04, apresentaram teores superior ao limite máximo. Considerando como referência a Resolução CONAMA 420/09, apenas os pontos 3 da RJFL I e o 1 da RJFL II apresentaram teores de Cádmio superior ao permitido, sendo +0,6 ppm e +0,2 ppm respectivamente. Tal problema poderia vir a causar diversos impactos socioambientais, como a contaminação águas subterrâneas que comprometeria a saúde da população.
Vale salientar que, conforme dito na metodologia, a água-régia extrai 90% do teor de metais pesados presente nas amostras, assim, a concentração real, pode ser até 10% maior que a apresentada na tabela 3. Portanto, neste cenário, 3 pontos indicariam teores de Cádmio superiores ao limite máximo permitido pela Resolução CONAMA 420/09, e pela NBR 10004/04, todos os pontos excederam o limite de todos os elementos.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
47
Tabela 3 – Teores de metais pesados em ppm.
Fonte: Autores, 2018.
Lima, John e Zanta (2008) discutem diversas pesquisas sobre análises de solos com possíveis contaminações com metais pesados:
Davis et al (2001), nos EUA, concluíram que revestimentos e coberturas podem lixiviar quantidades consideráveis de Pb, Cu, Cd e Zn. Estudo semelhante na Polônia também concluiu que os materiais
de cobertura contribuem para a poluição da água de chuva drenada (POLKOWSKA et al, 2002). Ao se tornar resíduos, os materiais deixam de estar segregados e bem distribuídos geograficamente e passam a estar fragmentados, misturados, mais expostos à ação do ambiente e concentrados em menos locais na malha urbana (aterros), o que pode aumentar a liberação de contaminantes neles presentes. Os resíduos de construção podem, ainda, ser misturados a outros resíduos durante sua gestão (JOHN, 2000; LIMA, 1999; PINTO, 1999; TOWNSEND, 2004). Em tese, a fração mineral do resíduo de construção é menos perigosa que demais, e sua fração miúda apresenta potencial contaminante maior que a fração graúda (SCHULZ;HENDRICKS, 1992). Em estudo em 21 aterros de resíduos de construção nos EUA, foram analisados 305 parâmetros, dos quais 93 ocorreram pelo menos uma vez (USEPA, 1995;1998). Destes, 24 ocorreram pelo menos uma vez acima dos valores admissíveis, como: Cd, Fe, Pb, As, Cr, Ni e Cianeto. Alguns dos parâmetros orgânicos encontrados em vários casos foram: acetona, ácido benzóico, cis-1,1-dicloroetano, Etilbenzeno, 4-Metilfenol, 2-4-5-T e Xileno, 1,2-dicloroetano, dieldrin, cloreto de metileno, α- hexacloro de benzeno e tricloroeteno. Ao final, sete parâmetros foram considerados importantes, mas se concluiu que não causam contaminação significativa, por serem secundários (Mn, Fe, SDT) ou por ocorrer em baixas concentrações. O estudo, porém, abrangeu apenas 1,2 % dos aterros existentes no país, não podendo ser considerado conclusivo. (LIMA, JOHN E ZANTA, 2008).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
48
Entre o discutido por eles é interessante ressaltar que as partes miúdas dos resíduos são mais perigosos e que nas pesquisas mencionadas os RCC´s depositam no solo metais pesados, porém não em muita quantidade. Eles ainda completam:
Em outro estudo nos EUA, foram analisados 11 metais (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Ag e Zn) em resíduos de construção de 13 recicladoras, destinados a substituição de solo em serviços de construção, concluindo-se que suas concentrações totais nas amostras são pequenas, embora sejam maiores que no solo natural. Em ensaios de lixiviação das amostras, o As apresentou maior liberação em comparação com a concentração total (6,5%). Concluiu-se ser possível a contaminação por Al, As, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg e Ni, embora os autores levantem dúvidas sobre a possibilidade de contaminação em situações práticas (TOWNSEND et al., 2004). Outro estudo do mesmo autor mostrou que o gesso acartonado pode contaminar o solo com sulfato (JANG; TOWNSEND, 2001apud LIMA, JOHN E ZANTA, 2008).
Lima e Cabral (2013) caracterizando e classificando os RCC´s de Fortaleza – CE, descobriram que nas análises do extrato lixiviado nenhum parâmetro ultrapassou os limites máximos permitidos pela NBR 10004/04. Entretanto, isso não ocorreu para o extrato solubilizado, que apresentou compostos como alumínio, cádmio, chumbo, cromo e sulfato acima do indicado pela norma. Já Lima, John e Zanta (2008), analisando os RCC´s em Salvador – BA, descreveram como resultado que embora não se possa afirmar que estes contaminantes serão liberados no ambiente de forma perigosa, as grandes concentrações encontradas em algumas amostras levam a crer que esta liberação é possível. Os metais Arsênio, Cromo e Chumbo foram considerados os mais problemáticos dentre os estudados, pelo número de ocorrências e pelas concentrações detectadas em algumas amostras, principalmente considerando os baixos teores admissíveis destes metais na água potável.
Todavia comparando as concentrações encontradas com os valores obtidos por Teixeira (2017), investigando teores de metais pesados na microrregião metropolitana do Cariri nos municípios de Nova Olinda e Santana do cariri que são municípios com menos antropização, todos os solos, inclusive os livres dos contaminantes, apresentam concentrações maiores que o encontrado por ele.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises demonstraram que as concentrações de metais pesados não se encontram alarmantes. Contudo, dois pontos apresentaram teor de Cádmio acima do permitido pela Resolução CONAMA 420/09, o que o classifica como um solo classe 3, mediante a norma, requer uma melhor identificação da fonte potencial de contaminação, avaliação da ocorrência natural da substância, controle das fontes de contaminação e monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea.
REFERÊNCIAS
[1] Abnt. NBR 10.004: (2004). Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 71 p.
[2] Brasília. Embrapa.. Argissolos. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g5twggzi02w x5ok01edq5sp172540.html. Acesso em: 25 abr. 2018.
[3] Brasília. Embrapa.. Neossolos Flúvicos. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_mata_sul_pernambucana/arvore/CON T000gt7eon7k02wx7ha087apz246ynf0t.html. Acesso em: 25 abr. 2018.
[4] Brasil. Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2 ago. 2010.
[5] Brasil, Resolução Conama nº 420 de 28 de Dezembro de 2009. Critérios e valores orientadores de qualidade do solo. Publicado no DOU nº 249, de 30/12/2009, págs. 81-84.
[6] Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. (2002). Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília: Diário Oficial da União.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
49
[7] Donagema, G. K. Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro : Embrapa Solos, 2011. 230 p. - (Documentos / Embrapa Solos, ISSN 1517-2627 ; 132).
[8] Filizola, Heloisa Ferreira. Manual de procedimentos de coleta de amostras em áreas agrícolas para análise da qualidade ambiental: solo, água e sedimentos / editado por Heloisa Ferreira Filizola, Marcos Antonio Ferreira Gomes e Manoel Dornelas de Souza. - Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2006. 169p.
[9] Google. Google Earth. Pro. 2018. Nota (Juazeiro do Norte – CE, Brasil). Disponível em https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html. Acesso em: 19 de Abril de 2018.
[10] Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil em síntese. Juazeiro do Norte: IBGE, 2010. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeirodo-norte/panorama. Acesso em: 20 de Abril de 2018.
[11] Ibge. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. 2000. Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032002pnsb.shtm. Acesso em: 15 abr. 2018.
[12] Karpinsk, Luisete A. et al. Gestão Diferenciada de Resíduos da Construção Civil: Uma Abordagem Ambiental. 2009. Disponível em: <http://www.sinduscondf.org.br/portal/arquivos/GestaodeResiduosPUCRS.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018.
[13] Lago, Alexandre Lisboa; ELIS, Vagner Roberto; & GIACHETI, Heraldo Luiz. Aplicação Integrada de Métodos Geofísicos em uma área de disposição de Resíduos Sólidos Urbanos em Bauru-SP. Revista Brasileira de GeofÍsica, Pags. 357 – 374. Vol. 24(3), 2006.
[14] Leite, Renata. Negócios com resíduos em Juazeiro do Norte. 2016. Disponível em: <http://www.portalresiduossolidos.com/negocios-com-residuos-em-juazeiro-do-norte-partei/>. Acesso em: 18 jan. 2018.
[15] Lima, A.S. Cabral, A.E.B. Caracterização e classificação dos resíduos de construção civil da cidade de Fortaleza (CE). Eng Sanit Ambient. v.18 n.2. 169-176. abr/jun 2013.
[16] Lima, José Antonio Ribeiro de; JOHN, Vanderley Moacyr & ZANTA, Viviana Maria. Teores de metais pesados em resíduos de construção em salvador/ba, BRASIL. XII ENTAC 2008.
[17] Moritz, J. M. Current Legistation Governing Clinical. Waste Disposal. J. Hosp. Infect, v.30, p. 521-530, 1995. Disponível em: http://www.marcaambiental.com.br/backend/uploads/imagem/88e96171531dc19c0ecf2c628a e12535.pdf. Acesso em: 04 de janeiro de 2018.
[18] Nascimento, M. C. N. Análise da Água Superficial e Subterrânea no Entorno do Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos de Porto Velho-RO. / Maria Cristina Nery do Nascimento. Porto Velho/RO. 2009. 69p.
[19] Saldanha, Marcelo Francisco Costa et al. avaliação de cinco tipos de Abertura para determinação dos teores de ferro, manganês e zinco em alguns solos brasileiros. 1997. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/88367/1/pesquisaand-011997.pdf. Acesso em: 25 abr. 2018
[20] Sienge (Florianópolis). Tudo Sobre Os Resíduos Sólidos da Construção Civil. 2017. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/residuos-solidos-daconstrucao-civil/>. Acesso em: 22 abr. 2018.
[21] Tamura, Juliana Yuri. Análise de misturas solo-agregado reciclados de resíduos sólidos da construção civil, para fins de pavimentação de vias urbanas de baixo volume de tráfego / Juliana Yuri Tamura – Guaratinguetá, 2015.
[22] Tavares, S. R. L. Oliveira, S. A. Salgado, C. M. Avaliação de espécies vegetais na Fitorremediação de solos contaminados por metais pesados. holos, 2013. Vol. 5. p. 80-97. 2013.
[23] Teixeira Filho, C. D. Teores de Metais Pesados em Alguns Solos do Estado do Ceará / Crisanto Dias Teixeira Filho. – 2016. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas), Fortaleza, 2016. 75 f.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
50
Capítulo 8
Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: Uma questão de sustentabilidade
Caio César Parente de Alencar Leal
Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro
Maikon Chaves de Oliveira
Sarah Gisele de Vasconcelos Leite
Marcela de Oliveira Feitosa
Abstract: Front of the current scenario, it becomes extremely relevant to discuss the
importance of proper management of municipal solid waste (MSW) in order to cover all
the steps of this and ensure a proper final destination, as a strategy that enables smaller
impact on the environment and public health, this being a subject of discussions
between the three spheres of Government. Thus, the study aimed to investigate the
relevant literature the importance of management and management of MSW to
minimize the impacts to the environment and public health. The present study it is a
bibliographical research.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
51
1 INTRODUÇÃO
O destino inapropriado dos resíduos pode acarretar prejuízos ao meio ambiente e o comprometimento das gerações presente e futura. Assim, torna-se extremamente relevante refletir sobre a implantação de estratégias que visem proporcionar maior qualidade de vida a população, bem como reduzir os impactos causados ao meio ambiente e a comunidade.
Destaca-se como uma dessas estratégias, a construção de aterros sanitários em municípios brasileiros desprovidos de destino final adequado para os resíduos que produzem, pois estes são descartados a céu aberto, além de não receberem tratamento com técnicas sanitárias, sendo considerado inadequado, uma vez que favorece a proliferação de animais, odor, contaminação do solo, podendo comprometer não só o meio ambiente, mas também a saúde pública.
Assim, surge à problemática: qual a importância de gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos para o meio ambiente e a saúde pública?
Tendo em vista o conhecimento de legislações acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos, sentiu-se a necessidade de realizar este estudo, com o intuito de despertar nos gestores o compromisso destes com a saúde pública e meio ambiente, de modo a garantir maior qualidade de vida para a sociedade atual e gerações futuras, e um ambiente ecologicamente equilibrado.
O estudo teve como objetivo investigar na literatura pertinente a importância da gestão e gerenciamento dos RSU para minimizar os impactos ao meio ambiente e a saúde pública.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
No que diz respeito à destinação apropriada dos RSU a ABRELPE afirma que não teve muito avanço do ano de 2011 para o ano de 2012, na região Norte. Uma vez que, os resíduos coletados nessa região, aproximadamente 65%, o equivalente a 7.522 toneladas diárias, ainda recebem como destino final os lixões e aterros controlados que, do ponto de vista ambiental estes são semelhantes, por nenhum dos dois atender as exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem a finalidade de proteger e preservar o meio ambiente e a saúde pública (ABRELPE, 2012).
Em 02 de agosto do ano de 2010, foi aprovada pela presidente da república a Lei nº 12.305, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, representando assim um fato histórico frente ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, que estabelece para o poder público, empresas e consumidores, proporcionarem aos seus resíduos uma destinação final ambientalmente apropriada, com a disposição ordenada dos rejeitos em aterros, atendendo as normas operacionais específicas, a fim de acarretar prejuízos ou danos à saúde pública e à segurança e a redução dos impactos ao meio ambiente (BRASIL, 2010)
Neste sentido, Gomes et al (2014) frisam que no Brasil a preocupação com o meio ambiente e com a disposição apropriada dos resíduos, despertou no poder público a elaboração e o sanciona mento da lei federal 12.305/10, que diz respeito a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. De acordo com o art. 10 da presente Lei, competem ao Distrito Federal e aos Municípios, a gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos pelos referidos territórios. Assim, torna-se necessário a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Além disso, segundo o art. 19 da lei, devem ser feita a identificação das áreas apropriadas para destinação final, ou seja, que estejam ambientalmente preparadas para receberem os resíduos, devendo ser especificada no plano diretor do município.
Segundo a Abrelpe (2012) o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos compreende um conjunto de ações de caráter normativo, operacional, financeiro e de planejamento que uma organização adota (obedecendo às exigências sanitárias, ambientais e econômicas) para fazer a coleta, segregação, tratamento e disposição dos resíduos sólidos produzidos. Assim, caracteriza-se como um conjunto de práticas e procedimentos que tem diversas funções, dentre elas: a operacionalização, o desenvolvimento organizacional, as relações de trabalho, entre outras.
Adicionalmente, a gestão de resíduos deve ocorrer de modo integrado, ou seja, envolvendo todas as etapas e todas as categorias de resíduos, considerando as dimensões políticas, econômicas, ambiental, cultural e social, sendo efetuada por meio do controle social e almejando o desenvolvimento sustentável (SILVA FILHO; SOLER, 2012).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
52
3 MATERIAL E MÉTODO
O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica. Conforme Gil (2010) a pesquisa bibliográfica que discute e reflete acerca da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Compõe-se de quatro etapas: 1- aproximação, sensibilização e afinidade dos autores com o tema; 2- Formulação do problema, elaboração de plano de trabalho, realização de pesquisa bibliográfica com um levantamento de fontes literárias composto de manifestações textuais impressas e eletrônicas, incluindo livros, periódicos, jornais e outros; 3- Leitura do material, fichamento, análise de idéias e ocorrências principais e organização lógica do assunto com divisão do texto em segmentos, conforme a natureza e a importância de cada parte; e 4- Redação final que buscou sintetizar o problema.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos resultados procurou-se enfocar a importância da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, onde foi identificado a partir da revisão bibliográfica que mesmo com a evolução dos tempos e avanço da tecnologia, ainda existem diversos municípios brasileiros que não apresentam um destino final para os resíduos gerados pela sua população, sendo estes lançados a céu aberto, o que acarreta prejuízos ao meio ambiente e consequentemente danos à saúde pública, devido à falta de estrutura desde a geração até a destinação final.
Isso exposto acrescenta-se que é responsabilidade do poder público não só oferecer um destino adequado aos resíduos gerados, mas também estimular a criação e funcionamento eficaz de programas de coleta seletiva e reciclagem, incentivando educação ambiental na sociedade, contribuindo significativamente para tornar o mundo mais sustentável.
Visto isso, constatou-se também a necessidade dos gestores das três esferas do governo (federal, estadual e municipal) buscarem implantar estratégias que mudem o cenário atual, tendo em vista contribuir para tornar o mundo mais sustentável, com menor impacto ao meio ambiente e a saúde pública. Dentre estas estratégias, pode-se citar a busca incansável por recursos, que viabilizem o manejo correto dos resíduos gerados pela população, a fim de gerir e gerenciar corretamente os RSU, bem como garantir para cada município brasileiro a construção de um aterro sanitário adequado ao tamanho da população e a quantidade de resíduos produzidos, a fim destes não serem mais jogados em lixões e incinerados de forma inapropriada.
Nesta conjuntura, é importante destacar que Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina que todo ser humano tem direito a um meio ambiente sadio, conforme seu Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização do estudo, foi possível concluir que para mudar o cenário atual é necessário que os cidadãos sejam conscientes e sejam verdadeiros atores sociais, que passem a cobrar dos gestores das diferentes esferas do governo o cumprimento da legislação vigente relacionada à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e as suas responsabilidades como representante do povo, tendo como foco principal reduzir os impactos causados ao meio ambiente e a saúde pública provenientes do manejo inadequado dos RSU, a fim de possibilitar maior qualidade de vida às gerações presentes e futuras.
REFERÊNCIAS
[1] ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo – SP: ABRELPE, 2012. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ . Acesso em 15 de fev. de 2018.
[2] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 10 de fev. de 2018.
[3] . Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 2001. Disponível em: <
[4] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso em: 7 fev. 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
53
[5] .Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. 2010 . Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>Acesso em: 6 fev. 2017.
[6] GIL, A C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p. GOMES,A C C. Estudo Preliminar para Implantação de Projeto Modelo de Aterro Sanitário no
[7] Município de Volta Redonda. XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Rio de Janeiro, 2014.
[8] IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 2008. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatística/populacao/condicaodevida/pnsb/lixo. Acesso em 15 de fev. 2017.
[9] SILVA FILHO, C. R. V.; SOLER, F. D. Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
54
Capítulo 9
Aproveitamento de resíduos de chapas de madeiras reconstituídas alinhadas ao Eco Design
Elizabet Zenni Rymsza
Marcelo Perussi
Fabiano André Trein
Resumo: O artigo apresenta estudos direcionados ao descarte dos resíduos sólidos
gerados pelas indústrias moveleiras de pequeno porte de Curitiba e Região
Metropolitana do Estado do Paraná. Essas indústrias são grandes consumidoras de
chapas de madeira reconstituída em MDF que, em seu processo produtivo, gera volumes
cumulativos de sobras desse tipo de materiais. Para encontrar uma adequada alternativa
no aproveitamento destes resíduos sólidos são apresentados dados coletados através de
pesquisa de casos já desenvolvidos e de análise de novas possibilidades de utilização sob
a ótica dos conceitos de Logística Reversa e Economia Circular. Este estudo também
propõe uma alternativa econômica viável para a indústria, chegando até a economia
social, gerando novas oportunidades de emprego e fonte de renda, no qual poderá
colaborar com a diminuição do volume de resíduos descartados direto ao meio
ambiente, projetando um ciclo de vida prolongado aos resíduos e transformando-o em
economia circular.
Palavras-chave: Ciclo de vida; Economia Circular; Eco design.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
55
1.INTRODUÇÃO
As indústrias de móveis produzem uma significativa porcentagem de resíduos sólidos na confecção de seus produtos. Seu gerenciamento e destinação são de extrema importância, principalmente, quanto à destinação final de resíduos que já não têm mais a possibilidade de aplicação em outras usabilidades além daquelas para as quais foram concebidos. Um exemplo disso é o MDF, muito utilizado nas pequenas indústrias de móveis.
Os painéis reconstituídos de madeira representam um mercado em ascensão, recebendo investimentos na casa dos bilhões de dólares no Brasil no ano de 2014 (ABIPA, 2014a).
Atualmente sabe-se da necessidade da responsabilidade das indústrias e da sociedade em darem o destino correto aos seus resíduos, visto que é preciso cada vez mais diminuir os impactos gerados por esse grande volume de resíduos ao meio. Isso pode às vezes gerar grandes estoques por não haver boas propostas de reutilização dos descartes indevidos, ocorrendo falta de interesse na reutilização.
A demanda crescente das empresas moveleiras quanto à necessidade de adequar seus produtos às exigências legais e comerciais de implantação de requisitos ambientais, as tem motivado a reavaliarem os seus sistemas produtivos do ponto de vista da sustentabilidade (RAPÔSO et al, 2011, p. 9).
Já existem processos e meios de se fazer este aproveitamento de resíduos através da reciclagem, a qual pode recuperar a funcionalidade. O produto ou algumas de suas partes podem ser reutilizados para a mesma função ou mesmo para outra função, podendo ser pré-fabricado ou reprocessado, selecionando materiais que permitem serem reconstruídos em um novo produto.
Outro fator que atinge diretamente estes resíduos é a perda financeira, pois a no ato de compra de matéria-prima pelas indústrias não se faz o pagamento apenas daquilo que se aproveita na produção.
A forma como se faz aplicação do formato de um componente de um produto sobre uma chapa de madeira, papelão etc., por exemplo, contribui para diminuir a quantidade de resíduos, aparas e rebarbas. Assim, ao analisar a produção de resíduos de madeira gerada, identificar suas características, quantidade e dimensionamento após a transformação primária, bem como identificando como está sendo seu descarte e reaproveitamento é possível desenvolver um novo produto. Ou seja, verifica-se que há a possibilidade de reaproveitamento pela própria indústria criadora dentro de suas características produção.
Os resíduos podem ser reutilizados em diversos tipos de produtos ou pequenos objetos, até mesmo móveis decorativos – de acordo com as dimensões destes resíduos sólidos –, além de possibilitar o aproveitamento total da matéria-prima, que se transforma em insumo novamente. Isso contribui com a diminuição do descarte aos aterros e queima, eliminando a possibilidade de contaminação ambiental e acúmulo de resíduos sólidos dentro das empresas.
Visando conformidade com a Lei nº. 12305/2010, artigo 3º inciso IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e disposição final; e na preocupação de como é feita a transformação e o descarte da matéria-prima na produção de móveis das pequenas indústrias de Curitiba e região metropolitana, esta pesquisa teve como objetivo desenvolver uma proposta onde fosse possível trabalhar de forma simplificada o aproveitamento do resíduos de MDF visando que estes não sejam descartados de forma incorreta.
Mesmo com pouco volume acumulado de resíduos em cada empresa, se somarmos estes ao um número significativo destas pequenas indústrias tem-se uma grande quantidade de resíduos. Assim, o desenvolvimento de uma alternativa de reutilização dos mesmos pode incentivar a ocupação de mão obra local, dando oportunidade de trabalho e novas opções de renda, seja através de mão de obra artesanal ou industrial, sem necessidade de muita tecnologia; apontando, ainda, caminhos que não prejudiquem o meio ambiente, contribuindo e aumentado o ciclo de vida desses materiais, que muitas vezes são descartados ou mal utilizados.
2 LOGÍSTICA REVERSA, ECONOMIA CIRCULAR
Na atualidade é visível o aumento na preocupação com o ciclo de vida dos materiais utilizados na produção de bens, bem como a destinação dos resíduos gerados na transformação de matéria-prima e
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
56
seus produtos finais. Sendo que a correta destinação de resíduos é algo cada vez mais cobrado tanto pelos órgãos fiscalizadores como pela sociedade.
As pequenas empresas de móveis muitas vezes empregam em sua produção familiares e equipamentos com pouca tecnologia. Sendo o modelo de produção em escala e sob medida tem-se uma quantidade de resíduos significativa, uma vez que seus projetos seguem medidas e formatos específicos, de acordo com as dimensões dos espaços de seus clientes.
[…] no segmento de móveis sob encomenda, cabe mencionar a presença de uma multiplicidade de micro e pequenas empresas, em geral marcenarias […] seus equipamentos e instalações são quase sempre deficientes e ultrapassados – o que gera muitas imprecisões nas medidas – e o trabalho ainda é predominantemente artesanal (HILLING; SCHENEIDER; PAVONI, 2009, p. 299).
A reutilização dos resíduos provenientes do corte e usinagem de chapas de MDF pode se tornar uma oportunidade rentável tanto para empresas de móveis como também indústria de artesanatos e objetos de decoração.
Os resíduos de madeira podem ser utilizados tanto na produção de material combustível, na agricultura, na geração de energia elétrica em termoelétricas, na indústria de painéis reconstituídos e para a produção de pequenos objetos (ABREU et al., 2009, p. 174).
Contudo, além de se tornar uma opção a mais de reduzir custos e gerar uma fonte de renda, o reaproveitamento contribui para ciclo de vida prolongado do material, diminuindo o volume de resíduos descartados. Os resíduos de painéis de madeira podem ser aproveitados para a fabricação artesanal de pequenos objetos (POM). Os POM podem ter caráter utilitário ou decorativo, podem ser de uso pessoal, como brinquedos entre outros (ABREU et al., 2009).
A falta de espaço nas empresas, aterros sanitários cheios, pouca política de reciclagem e o desinteresse no reaproveitamento de resíduos devido ao alto custo financeiro e tecnologia disponível está se tornando uma grande preocupação da sociedade.
A extração de matéria-prima da natureza, os processos de transformação, o consumo e descarte exacerbado de materiais e produtos que poderiam ser aproveitados e utilizados por um período de vida mais longo contribuem para o volume de resíduos descartados ao meio ambiente, causando impactos irreversíveis nos ecossistemas existentes.
Segundo Oliveira (2009), todas as organizações governamentais e não governamentais (nacionais e internacionais), associações comerciais e cientificas em conjunto com as indústrias têm que divulgar a produção limpa, através da informação consciente, seja através da educação ou treinamento. Desta forma, para se falar sobre o conceito de economia circular, é preciso lembrar às empresas do setor para a conscientização ambiental:
Porém, o ser humano adotou uma abordagem linear, onde tudo é extraído, produzido e jogado fora. Isto, cada vez mais, desequilibra essa balança e torna difícil a recuperação do ecossistema. […] Se eu chego ao final do processo e, pós-uso pelo consumidor, não consigo desviar este resíduo de aterro ou incineração, então eu devo voltar ao início do processo e refazer meu produto [.…] da maneira como nosso sistema e processos estão concebidos hoje, tem sido caro separar e reciclar os materiais colocados no mercado. (PORTAL REVISTA DE MÓVEIS DE VALOR, 2016, s/p.).
Um exemplo de empresa do setor que tem dado atenção a esse novo conceito de economia circular, dando um fim sustentável aos resíduos gerados no processo produtivo, é a Artely, de São José dos Pinhais (PR). A fabricante implantou um projeto de reciclagem e reutilização de resíduos que servem de matéria-prima para outras indústrias da região.
É preciso pensar que toda essa cadeia não acontece sozinha, em apenas um grupo, mas sim um sistema integrado entre todos os setores da cadeia, como com as empresa que extraem matéria-prima da natureza – madeiras naturas ou de manejo – e transformam em chapas lineares, passando aos fabricantes de móveis, que recebem as chapas e no processos de fabricação de móveis e outros objetos geram resíduos, sobras, até o consumidor final, que adquire o móvel e precisa dar um destino final adequado a este depois de passado o tempo de vida útil do mesmo.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
57
A colaboração entre diferentes setores pode gerar soluções inovadoras, isso porque há casos em que os segmentos são distintos, mas os problemas são comuns. […] A inovação não se faz mais sozinho e isolado em um setor. Centros de pesquisas, indústria plástica e química, laboratórios, universidade, tecnologia da informação, fashion design, materiais, tecidos, comunicação e formação são segmentos que valem a pena ficar de olho. (PORTAL REVISTA DE MÓVEIS DE VALOR, 2016, s/p.).
De acordo com uma pesquisa realizada via internet pelo grupo TNS (The Natural Step) que recebeu o título Our Green World (2008), com em média 13mil pessoas em diversos países, incluindo o Brasil, as questões ambientais influenciam diretamente na decisão de compra de 52% dos consumidores brasileiros, sendo que 83% estariam dispostos a pagar mais por produtos e serviços ecologicamente corretos.
Ainda nesta mesma pesquisa, a maioria dos latino-americanos acredita no comprometimento das empresas com a “causa verde” e com o meio ambiente (OLIVEIRA, 2009).
3.CARACTERÍSTICAS DO SETOR MOVELEIRO
O Estado do Paraná possui um mercado interessante para a instalação de fábricas do setor moveleiro, com mão de obra qualificada, além de cadeia produtiva densa e consolidada, também contém uma extensa gama de fornecedores para os diversos níveis do processo produtivo, disponibilidade de insumos e forte mercado consumidor.
O Paraná possui o segundo maior polo moveleiro do Brasil, com aproximadamente 14 mil micros, pequenas e médias empresas de capital nacional, localizadas, em sua maioria, na região centro-sul do país.
De acordo com o Sindicato das Indústrias de Móveis de Araponga (SIMA), o setor produziu 476,2 milhões de peças acabadas em 2013, o que representa um aumento de 3,4% em comparação com 2012. No período de 2009 a 2013 o crescimento foi de 28,7%, representando alta média de 6,5% ao ano.
Dentro deste panorama, é importante pontuar que Curitiba e região metropolitana possuem um percentual de 46% da população economicamente ativa de todo Estado, além de apresentar grande número de cursos e formação educacional técnica para produção moveleira, como também na formação de graduação e pós-graduação para área de design técnico em móveis.
O Paraná possui inúmeras incubadoras e instituições de desenvolvimentos tecnológicos que atuam na transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo para desenvolvimentos das empresas no intuito de que estas estejam continuamente atualizadas e inseridas no mercado nacional e internacional (BRASIL4BUSINESS, 2016).
Os produtos do setor são bastante diversificados, tendo maior incidência cozinhas, quartos e salas, todavia existe uma subdivisão. Conforme Herbst (2016), móveis de vime e assemelhados e móveis sob medida com utilização de madeira maciça e grande utilização de painéis de madeira (MDF, MDP, etc.), onde também são utilizados outros tipos de materiais, em especial os metais, principalmente na linha de móveis para escritórios.
Mesmo existindo alternativas para prolongar a vida útil dos resíduos provenientes do corte e transformação de chapas de madeira linear MDF e MDP através de redesign que poderiam contribuir para diminuição do descarte direto ao meio ambiente e uso através da queima para geração de energia – já que produtos como o MDF e o MDP possuem grande quantidade de produtos químicos na sua composição, que podem se tornar altamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente –, cada empresa tem que encontrar o seu caminho.
O crescimento no cenário atual no setor moveleiro pode estar associado a oportunidades no mercado externo ou a oportunidades criadas por reposicionamentos internos, discernir sobre os novos caminhos exige estar bem informado.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (Abipa), o setor de painéis de madeira vem apresentando taxas de crescimento de em média 10% ao ano. O consumo de MDF no mercado brasileiro passou de 1,4 milhões de metros cúbicos por ano em 2005 para 3,2 milhões em 2010.
Por outro lado, segundo o Instituto Nacional de Combate ao Câncer (INCA), o formaldeído presente nos materiais de construção, como tintas, vernizes e colas – utilizados para a fabricação de edificações do tipo
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
58
wood frame, móveis e painéis decorativos, principalmente aqueles que utilizam madeira composta – na forma gasosa é perigoso, podendo provocar lacrimação, severa sensação de queimação, tosse, permitindo ser tolerada por apenas alguns minutos. Este mesmo composto químico que causa reações adversas em quem manuseia os materiais pode ser liberado na atmosfera por longos períodos de tempo, sendo então um problema ambiental.
Para resolver isso o eco design se apresenta, ao mesmo tempo, como ferramenta e processo que tem a importância de envolver toda esta cadeia que engloba a necessidade, o espaço e seus resultados, sendo defino como:
Eco design ou design ecológico é a abordagem ecológica de concepção e desenho, cuja finalidade é minimizar os impactos ambientais de um produto durante todo o seu ciclo de vida (KAZAZIAN, 2005, p. 46).
Desta forma, visando minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte dos resíduos, o design contribui desenvolvendo novos produtos visando atender ao cliente de forma satisfatória. Bem como na preocupação com a escolha da matéria-prima a ser utilizada, observando qual recurso natural utilizado na produção, seu tempo de esgotamento natural, se é um recurso renovável, qual o tempo de duração que esse móvel deverá ter de acordo com o a expectativa de uso, se sua reciclagem é viável e possível, dentre outras preocupações.
4 LEVANTAMENTO DE DADOS
4.1 COLETAS DE DADOS
Em seguida será analisado como é feito o descarte dos resíduos proveniente do corte das madeiras. Sendo feita uma breve entrevista através do uso de um questionário, conforme exposto no Quadro 1, aplicado aos responsáveis das empresas visitadas, de forma verbal para a coleta de informações. Juntamente o provável interesse dos funcionários em reutilizar esses resíduos sólidos para construção de objetos decorativos, até mesmo de utilidades domesticas ou artesanais.
Quadro 1 – Questionário utilizado para a coleta de dados in loco
FONTE: Elaborado pelos pesquisadores.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
59
Uma vez descobrindo o que é feito com esses resíduos sólidos será possível avaliar as condições atuais de descarte e o destino dos resíduos sólidos, bem como a maneira correta a se fazer.
A partir desta pesquisa, analisando o processo de descarte, será possível desenvolver e apresentar um novo método aproveitamento destes resíduos sólidos, retornando à cadeia de insumos.
4.1.1 PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Neste capítulo são apresentados os depoimentos e figuras, referentes ao levantamento de dados, gerados a partir da pesquisa de campo in loco.
Levantando de quais são os tipos de sobras de chapas, MDF ou MDP, seus formatos, dimensões e a quantidades de resíduos sólidos gerados e disponíveis para transformação em pequenos produtos: móveis, artesanatos ou objetos de decoração.
Como é feito o armazenamento e reaproveitamento, dependendo do formato e dimensões para fins estruturais de novos móveis e objetos. Analisando qual o procedimento de descarte dos resíduos sólidos provenientes dos cortes das chapas: Descartado em aterro sanitário? Queima? Venda e para quem? Foram coletadas cinco entrevistas de empresas que atuam na área de marcenaria, mais especificamente na confecção de mobiliários.
A coleta de dados foi numerada de A, B, C, D, E, sendo em Curitiba e região metropolitana, utilizando questionário juntamente a uma entrevista ao responsável da empresa analisando os tipos de resíduos gerados nos processos de construção de móveis, como são armazenados, quantidades e qual processo de descarte ou reutilização é dado aos resíduos.
Os resíduos encontrados nas empresas estavam em boas condições de reaproveitamento, já que o armazenamento é feito em área coberta, livre de ações do tempo e contaminantes.
A empresa “A”, identificada como Gavelik Marcenaria, possui três funcionários todos ligados direto à produção, sua linha é móveis residências sendo todos produzidos em MDF. O responsável informou que todos os resíduos são depositados em espaço único com um volume médio de um metro cúbico semanal. Sendo feito uma triagem das sobras de recortes para aproveitamento para partes estruturais em novos móveis. Na referida empresa o descarte é feito por coleta de terceiros que o destinam à queima para geração de energia.
Figura 1 – Resíduos da empresa “A”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Na empresa “B”, Daniel e Élcio Straiotto, possui dois funcionários, a empresa trabalha com madeiras apenas com MDF na produção de móveis residências. A quantidade de resíduos é relativamente pequena, sendo depositado em caixas plásticas e pequenos recipientes. Seu descarte é feito no lixo comum ou a queima dentro das dependências da própria empresa, já que seu volume em média é de meio metro cúbico mensal.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
60
Figura 2 – Resíduos da empresa “B”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
A empresa “C”, Straiotto Marcenaria, produz móveis em MDF e madeira natural, tanto na produção de móveis residenciais, como de decoração. Tendo uma produção em torno de 3 metros cúbicos mensal de resíduos que é armazenada dentro de tambores ou caixotes, sendo coletados por terceiros e destinada à queima para geração de energia. O aproveitamento se faz através de separação de peças e sobras que possam ser utilizadas na confecção de novos móveis e partes estruturais.
A empresa “D”, Móveis Prado, uma marcenaria de pequeno porte que produz móveis somente em madeira reconstituída MDF por encomenda, sendo a maioria dos móveis produzidos são residenciais, não possui funcionários, pois o proprietário alega que seu fluxo mensal é pequeno, então não tem condições de arcar com um funcionário. Ele não faz anotações de quantos móveis são produzidos por mês, nem de quantos mᵌ de matéria-prima é utilizada. Os compradores dos móveis são moradores do bairro, geralmente aparecem por indicação de outros que já produziram com ele, as chapas de MDF que servem como matéria-prima são compradas em uma loja de Curitiba, chamada O Bicho Carpinteiro, e já vem cortadas.
A loja fornecedora utiliza de um sistema de plano de corte, aproveitando ao máximo a matéria-prima e evitando sobras, somente pequenos cortes são feitos na marcenaria pelo próprio proprietário, através do uso de uma serra circular. Por este motivo não gera muitos resíduos em pó, relatou o marceneiro que o saco da máquina onde armazena o pó leva quase um ano para encher, o modelo da máquina pode ser visto na Figura 3.
Figura 3 – Máquina serra circula e coletor dos resíduos de pó da empresa “D”
Fonte: pesquisa de campo (2016).
O descarte deste pó é feito de maneira inapropriada, descartado no outro lado da rua da marcenaria. As sobras de chapas que são cortadas no fornecedor, conforme Figura 4.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
61
Figura 4 - Sobras de chapas cortadas no fornecedor da empresa “D”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
As sobras de chapas são devolvidas para a marcenaria junto com as peças cortadas para a montagem dos móveis, as que sobram das chapas que medem a cima de 40x20cm são consideradas pelo marceneiro como resíduos aproveitáveis. Estes resíduos são separados e armazenados junto à parede conforme Figura 5.
Figura 5 – Local aonde são armazenadas as sobras consideradas reaproveitáveis pela empresa “D”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Tais sobras são reaproveitadas na confecção de pequenas partes de móveis, como gavetas e partes estruturais, e no engrossamento destes. Porém, há sobras de chapas que são armazenadas por quase 4 anos por falta de oportunidade de reaproveitamento, o proprietário alega que gostaria de vender a maioria dessas sobras. Alguns pedaços ou retalhos medidos são 40x13cm, 28x4cm, 50x8cm, 60x2,5cm, 10x5cm dentre outros tamanhos, essas variações de tamanhos são consideradas pelo o marceneiro pedaços não aproveitáveis, conforme pode-se ser visualizado na Figura 6.
Figura 6 – Sobras de variados tamanhos considerados não reaproveitáveis pela empresa “D”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
62
Esses resíduos são armazenados em um móvel de madeira sob medida de 190x95x75cm, que também é o local de execução de algumas atividades, conforme Figura 7.
Figura 7 – Sobras que são consideradas não reaproveitadas pela da empresa “D”
Fonte: pesquisa de campo (2016).
Dentre as sobras rejeitadas, algumas são armazenadas por em média 1 ano por não terem nenhum destino, sendo então coletadas por terceiros, amigos ou vizinhos, os quais utilizam-nas na queima para acender churrasqueiras e lareiras. O proprietário reclama de não ter uma opção adequada para doar esses pedaços que ele considera inaproveitáveis para o seu ramo de atividade, mas que muitos desses estão em ótimo estado de conservação e poderiam ser reaproveitados, porém, ele não conhece nenhum interessado, por este motivo acaba dando um destino inadequado aos seus resíduos, somente por falta de opção.
A empresa “E” é uma marcenaria informal e familiar de pequeno porte, fundo de quintal, localizada em um bairro de Curitiba/PR, atua no mercado há 14 anos, o entrevistado não permitiu apontar a localização, os mobiliários produzidos são todos em chapas de madeira reconstituída MDF, esses mobiliários são produzidos sob medida e apenas por encomenda, sendo em sua maioria móveis produzidos residenciais. Nesta marcenaria trabalham 5 pessoas, pai e filhos. Eles não possuem anotações sobre sua produção mensal, somente calculam aproximadamente mensalmente, R$ 5,000,00 de gastos com as chapas em madeira reconstituída MDF.
O processo de corte dessas chapas de MDF é feito na própria marcenaria, com o uso de uma serra circular sem auxílio de software de plano de corte, sendo este feito de forma manual, não possuindo um aproveitamento total das chapas, gerando então grande desperdício de chapas, com sobras muitas vezes de tamanho grande.
Os resíduos que medem acima de 1 metro de comprimento por no mínimo 5 cm de largura são considerados reutilizáveis, esses mais estreitos são para confecção de engrossamento dos mobiliários e partes estruturais. Muitas das sobras possuem tamanhos grandes, mais que 1 metro de comprimento por mais de 60 cm de largura, sendo então utilizadas para confecção de várias partes de mobiliários. Todas as sobras consideradas reutilizáveis são separadas e armazenadas em duas das paredes da marcenaria, conforme Figuras 8 e 9.
Figura 8 – Parede 1, local de armazenamento das sobras consideradas reaproveitáveis pela empresa “E”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Figura 9 – Parede 2, local de armazenamentos das sobras consideradas reaproveitáveis pela empresa “E”
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
63
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Os resíduos que são considerados inutilizáveis ficam expostos no chão entre os maquinários, conforme Figura 10 e 11.
Figura 10 – local onde são armazenadas as sobras consideradas não reaproveitáveis pela empresa “E”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
Figura 11 – Local onde são armazenadas as sobras consideradas não reaproveitadas pela empresa “E”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
A quantidade de resíduos é bem considerável, conforme o “amontoamento” de resíduos vai se tornando inapropriado ao uso do espaço e atrapalhando a circulação são ensacados em sacos de lixo reforçados e colocados na calçada para que serem levados por quem por eles se interessar.
O marceneiro reclama de não ter um destino adequado para o descarte desses resíduos, sabe que é proibida a queima, mas não tem opção de fazer um descarte adequado, onde esses resíduos poderiam ser reaproveitados em outros tipos de produtos, por estarem em ótimo estado de conservação e, geralmente, terem tamanhos bons para o reuso, poderiam ser para confecção de pequenos produtos, entre as sobras foram encontrados tamanhos de: 1m por 5 cm, 15x5 cm, 20x20 cm, entre outros, conforme Figura 12.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
64
Figura 12 – Tamanhos variados de sobras não reaproveitadas pela empresa “E”
Fonte: Pesquisa de campo (2016).
4.2 REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DO ECO DESIGN E ECONOMIA CIRCULAR
A sociedade tem estado cada vez mais preocupada em adquirir produtos de empresas que se preocupam com a questão ambiental em sua produção. Um dos mecanismos que as empresas têm usado para adaptar seus produtos e processos é o desenvolvimento de novas propostas em harmonia com o meio ambiente, desde a extração da matéria-prima na natureza até o descarte final. Este processo se dá através da aplicação do eco design, que vem justamente com intuito de reduzir os impactos causados pelo processo de transformação de produtos.
O termo Eco design refere-se à inclusão da variável ambiental nas diferentes etapas de projeto, desenvolvimento e execução de produtos, processos ou serviços, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental das atividades envolvidas. A redução do impacto ambiental é obtida pela adoção de princípios tais como: utilização de materiais de baixo impacto ambiental, busca pela eficiência energética, qualidade e durabilidade, adoção de técnicas de modularidade, assim como reutilização e o reaproveitamento (BRONES, 2014).
Isso faz com que se possa prolongar o tempo de uso destes produtos, ao mesmo tempo em que possibilitam incluir um retorno ao seu próprio ciclo. Este processo vem a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) criada com a Lei nº. 12305/2010, cujo propósito é atender ao objetivo do ciclo de caminho inverso, onde há o reaproveitado em novos processos de produção e produtos. Essa alternativa faz com que surjam efeitos positivos em favor das empresas, diminuindo a quantidade de matéria-prima, seus processos, logística de distribuição, coleta e gerenciamento de resíduos sólidos.
Dentro da concepção do eco design está envolvida a economia circular, que é a ciência que se preocupa com o desenvolvimento sustentável aumentando a eficiência na criação de produtos e reaproveitamento de resíduos sólidos. Área que mais cresce devido à necessidade de aproveitar melhor os recursos naturais e não causar tantos impactos ao meio ambiente.
Entre seus objetivos, a economia circular se preocupa basicamente em conceber produtos utilizando materiais que possam ser facilmente recicláveis e que seus resíduos sólidos possam ser reintroduzidos na cadeia produtiva. Objetivo este que conversa com um dos problemas de grande parte das pequenas e médias fábricas de móveis, que é a dificuldade de dar um aproveitamento e descarte correto de resíduos gerados.
O Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Estado do Paraná (SIMOV) está trabalhando para o desenvolvimento de uma central de resíduos na região de Curitiba para o setor moveleiro que propõe uma linha de trabalho a ser desenvolvida, sobre isso, segundo o sindicato, “[…] as indústrias precisam de um planejamento no processo produtivo do antes e depois”. Ainda segundo dados do SIMOV a indústria da madeira descarta 122 das 144 toneladas de materiais das indústrias moveleiras do Paraná, desta forma a central, além garantir correta destinação dos resíduos da indústria moveleira, abrirá possibilidade para o estudo de novas soluções e utilizações para estes materiais descartados.
Através da pesquisa e análise realizada na reutilização das sobras de matéria-prima (chapas de madeira reconstituída MDF) e resíduos sólidos gerados nas pequenas fábricas de móveis de Curitiba e região metropolitana foi possível verificar que não existe interesse nem conhecimento informativo suficiente para que se desenvolva uma proposta de reaproveitamento das sobras de corte, seja em plano de gestão de resíduos ou projetos para produção de objetos de decoração, de utilidade doméstica, ou seja, envolvendo área de criação e design através de estudos ou projetos para direcionar os responsáveis das
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
65
marcenarias desta pesquisa. Uma vez que na equipe que integra o pessoal da produção das empresas visitadas, geralmente, são o proprietário e membros de sua família, tendo apenas os conhecimentos técnicos de equipamentos de marcenaria, sem qualquer formação especifica técnica ou acadêmica na área de Design ou projetos. Nota-se ainda que muitos dos projetos e serviços assumidos por essas fábricas são apenas de orçamento e confecção de mobiliários que, na maioria das vezes, são confeccionados a partir de croquis, não muito técnicos, ou mesmo recebem projetos prontos de arquitetos e designers que atuam na área da concepção junto ao cliente.
5 CONCLUSÕES
Em observação in loco nas empresas de pequeno porte visitadas, juntamente à análise da coleta de dados, foi possível identificar a quantidade de resíduos produzidos, seu aproveitamento e como é feito o descarte. Verificando que na maioria dessas empresas não faz uso de software de corte apropriado e nem de maquinário de controle numérico computadorizado (CNC) por serem pequenas e com pouco fluxo de fabricação, mas a quantidade de resíduos gerados é relativamente considerável, uma vez que todas essas empresas visitadas utilizam as chapas de madeira reconstituída MDF como matéria-prima.
Ademais, nota-se que a forma de reuso dos resíduos considerados reaproveitáveis dentro dessas empresas é para sua própria produção, mas ocorre um acúmulo grande de estocagem, levando um tempo grande de armazenamento, passando até de 4 anos no mesmo local, ocupando espaço, podendo causar acidentes de trabalho. Todavia, o mais preocupante é o descarte inapropriado quando poderia ser dado um destino mais adequado, visto que essas sobras de matéria-prima podem ser consideradas reutilizáveis por estarem em ótimo estado de conservação e possuírem tamanhos bons para o aproveitamento em novos produtos.
Porém, por não existir projeto ou processo de reaproveitamento destes resíduos, nem interesse ou mesmo incentivo em dar um destino mais adequado a estes resíduos, foi verificado que nessas empresas visitadas, segundo informado pelos seus responsáveis, inexistem interessados em utilizar os resíduos para confecção de produtos, sejam outro nicho de mercado na fabricação industrial ou artesanal. Isso talvez se dê pelo fato de haver baixo valor de revenda, ao tempo necessário para se produzir, bem como pessoal adequado para estudos e desenvolvimentos de projetos. Então se pode concluir que existe uma expressiva demanda quanto à possibilidade e necessidade de reaproveitamento destes resíduos, já que suas proporções dimensionais possibilitam a construção de variados produtos, como objetos de decoração, de utilidade doméstica, para escritório, brinquedos entre outros fins, o que contribuiria para prolongar o tempo de ciclo de vida deste material, diminuindo a quantidade e o prejuízo ambiental do descarte inapropriado.
REFERÊNCIAS
[1] Abreu, l. B.; mendes, l. M.; silva, j. R. M. Aproveitamento de resíduos de painéis de madeira gerados pela indústria moveleira na produção de pequenos objetos. Revista árvore, viçosa, v. 33, n. 1, p. 171-177, 2009.
[2] Brito, L. S.; Cunha, M. E. T. Reaproveitamento de Resíduos da Indústria Moveleira. UNOPAR Cient. Exatas Tecnol., Londrina, v. 8, n. 1, p. 23-26, Nov. 2009. Disponível em: <http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/exatas/article/viewFile/619/588>. Acesso em: 16 nov. 2016.
[3] Brones F.; Carvalho M. M.; Zancul E. S. Ecodesign in project management: a missing link for the integration of sustainability in product development. Journal of Cleaner Production, p. 1-13, June, 2014.
[4] Cassilha, A. C.; Podlasek, C. L.; Casagrande, E. F. J.; da Silva, M. C.; Mengatto, S. N. F. Indústria moveleira e resíduos sólidos: considerações para o equilíbrio ambiental. Revista Educação & Tecnologia. Curitiba, Editora do Cefetpr, v. 8, p. 209-228, 2004. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/grupos/tema/25indus_moveleira_ambiental.pdf/view>. Acesso em: 16 nov. 2016.
[5] Herbst, Elcio, Diagnose da gestão de resíduos sólidos no setor moveleiro da RMC e contribuições para o projeto da central de resíduos. Dissertação. Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e Industrial. 133f. Curitiba. Universidade Federal Do Paraná – Senai Departamento Regional do PR – Universidade De Stuttgart, 2001.
[6] Hilling, É.; Schneider, V. E.; Pavoni, E. T. Geração de resíduos de madeira e derivados da indústria moveleira em função das variáveis de produção. Production Journal, v.19, n.2, p. 292-303, 2009. Disponível em: <http://www.prod.org.br/doi/10.1590/S0103-65132009000200006>. Acesso em: 09 dez. 2016.
[7] Kazazian, T. Haverá a Idade das Coisas Leves: Design e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Ed. Senac, 2005.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
66
[8] Koch, G.S., Klareich, F., Exstrum, B. Adhesives for the composite wood panel industry. Ed. Noyes Data Corporation. New Jersey. U.S.A., 1987.
[9] lima, E. G. de ; Silva, D. A. da. Resíduos gerados em indústrias de móveis de madeira situadas no pólo moveleiro de Arapongas-PR. Revista Floresta, Curitiba, PR, v.35,n. 1, jan./abr. 2005. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2434/2036>. Acesso em: 16 nov. 2016.
[10] Oliveira, Rosimery de Fátima. Visão integrada em meio ambiente, CNI e Senai-PR, 2009.
[11] Portal Móveis de Valor. Economia circular no setor: especialista fala sobre o conceito e faz alerta às empresas do setor para a conscientização ambiental. Publicado em 04/10/2016. Disponível em: <http://moveisdevalor.com.br/portal/economia-circular-no-setor-moveleiro>. Acesso em: 16 nov. 2016.
[12] Rapôso, A.; Kiperstok, A.; César, S. F. Produção mais limpa e design do ciclo de vida de móveis estofados no Estado de Alagoas, Brasil. In: 3rd International Workshop Advances in Cleaner Production, 2011, São Paulo: UNIP, 2011.
[13] Schuster, Moreira; Estefanie. Uma perspectiva sobre o design e a produção de móveis sob encomenda: uso e o descarte de painéis de fibra de madeira de média densidade. Dissertação. Mestrado em Design. 212f. Curitiba. Universidade Federal do Paraná, 2013.
[14] Weber, Cristiane. Estudo sobre viabilidade de uso de resíduos de compensados, mdf e mdp para produção de painéis aglomerados. Dissertação. 90f. Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal, Setor de Ciências Agrárias. Curitiba. Universidade Federal do Paraná, 2011.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
67
Capítulo 10
Cinética e equilíbrio de adsorção do azul de metileno utilizando carvão ativado produzido a partir de resíduos amazônicos
Matheus Macedo Teixeira
Cristiane Daliassi Ramos de Souza
Resumo: Nesse trabalho, foram apresentados resultados do processo de produção do
carvão ativado a partir de resíduos agrícolas, rico em carbono, como a casca do tucumã.
Foi utilizado o processo de ativação química, com pirólise e tratamento químico. Sua
eficiência como adsorvente foi testada utilizando o corante azul de metileno. Iniciou-se
com os processos de caracterização dos resíduos, como pré-secagem, trituração e a
caracterização físico-química, na qual foi realizada a análise imediata, que compreende a
determinação da umidade na base seca, obtendo um valor de 2,32%, teor de cinza
(%CZ), obtendo um valor de 3,88%, material volátil (%MV), obtendo um valor de
84,68% e carbono fixo (%CF), obtendo um valor de 11,44%, segundo a norma ASTM D-
1762/64, e o poder calorífico, segundo a norma ABNT-NBR 8633/84. Para os testes de
adsorção do corante de azul de metileno todos os carvões ativados tanto com o ácido
H3PO4 85% e a base KOH 85% obtiveram resultados expressáveis no que diz respeito à
remoção do corante. Obtendo valores máximos de remoção de 99,12% para carvões a
partir da casca de cupuaçu, 99,07% para carvões a partir da casca de tucumã o que pode
ser considerado como um resultado expressível para carvões ativados. Foi obtido um
valor de 17,21 MJ/Kg e 17,24 MJ/Kg para as cascas de tucumã e cupuaçu,
respectivamente, no que diz respeito ao Poder Calorífico Superior.
Palavras-Chave: Casca do Tucumã. Carvão Ativado. Adsorção. Azul de metileno.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
68
1.INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio ambiente para obter os recursos necessários para produzir os bens e serviços que estes necessitam e dos despejos de materiais e energia não aproveitados no meio ambiente (BARBIERI, 2007). E por consequência, esses despejos incorretos de materiais causam diversos impactos como: contaminação do lençol freático, bem como do solo; poluição de igarapés e rios; surgimento de doenças quando deixados à exposição ficando à mercê de roedores, por exemplo, dentre outros.
Muitas atividades econômicas geram uma grande quantidade de resíduos, como os da agricultura e para superar este problema uma opção seria desenvolver uma indústria química ou atividades que se utilizem como matéria-prima esses resíduos. E a biomassa, nesse caso, é amplamente utilizada como fonte de energia alternativa. (GOLDEMBERG, 2017).
Devido à preocupação com a preservação do meio ambiente, vem crescendo o interesse pela busca de materiais de baixo custo que possam ser utilizados como adsorventes para eliminação de contaminantes em efluentes aquosos. Dentre os materiais mais empregados destaca-se o carvão ativado que apresenta excelentes características adsorventes, sendo usado em uma grande variedade de processos, tais como filtração, purificação, desodorização e separação. (ODUBIYI; AWOYALE; ELOKA-EBOKA, 2012).
O presente trabalho teve como objetivo investigar o uso das cascas do tucumã e do cupuaçu na preparação de carvão ativado para servir como material adsorvente, testando sua eficiência no corante azul de metileno. A fim de visar a minimização dos poluentes despejados de forma incorreta e contribuir para a diminuição dos custos econômicos e preservação do meio ambiente.
2.METODOLOGIA
Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Controle da Qualidade do Departamento de Engenharia Química e no Laboratório de Ensaios Físico-Químicos do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Amazonas e foram divididos nas seguintes etapas, listadas na Figura 1.
Figura 1 - Fluxograma da Metodologia deste trabalho.
Fonte: Autor, 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
69
Figura 2 - Cascas de Tucumã. Figura 3 - Cascas de Cupuaçu
Fonte: Autor, 2017.
Fonte: Autor, 2017.
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa consistiu na coleta dos resíduos da biomassa do fruto de tucumã nas feiras da região metropolitana de Manaus. O material foi pré-seco em estufa à 105 °C por 3h para perda de umidade e triturado em moinho de facas, da marca Marconi, modelo MA 680.
Tabela 1 – Granulometria dos Resíduos de Cupuaçu e de Tucumã. Granulometria (mm)
Resíduos do Tucumã 0,425 < G1 < 0,85 G2 > 0,85 Massa (g) 52 90
Resíduos do Cupuaçu 0,425 < G1 < 0,85 G2 > 0,85 Massa (g) 129,71 104,31
Fonte: Autor, 2018.
Foi utilizada duas granulometrias, a fim de analisar qual seria a melhor em termos de eficiência de
adsorção no corante de azul de metileno, sendo uma G1 entre 0,425 e 0,85 mm e outra G2 maior que 0,85 mm.
A segunda etapa do processo se caracterizou por fazer as análises físico-químicas, as análises imediatas, cujos resultados são apresentados na Tabela 2 abaixo.
Tabela 2 – Análise Imediata das Cascas de Tucumã e de Cupuaçu.
Análise imediata Casca de Cupuaçu
Casca de Tucumã
Teor de umidade (%) 4,67 2,32 Teor de cinzas (%) 1,3 3,88 Teor de voláteis (%) 89,26 84,68 Teor de carbono fixo (%) 9,44 11,44 PCS (MJ/Kg) 17,24 17,21
Fonte: Autor, 2018.
A terceira etapa foi a produção do carvão ativado será realizada pelo processo de ativação química, onde
foi utilizado o ácido fosfórico (H3PO4) e a base, Hidróxido de Potássio (KOH) como agentes ativantes.
Já a quarta etapa consistiu em promover o teste de adsorção do azul de metileno nos carvões ativados
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
70
produzidos. Foi construída uma curva de calibração no espectrofotômetro ultravioleta- visível Oleman 35
D. A curva de calibração pode ser considerada satisfatória pois apresentou um valor de R2 (0,9955) igual ao mínimo exigido para validação de um método analítico.
Esses dados experimentais permitiram calcular as concentrações residuais C pela curva de calibração e o percentual de remoção do corante.
Tabela 3 – Resultados comparativos dos carvões ativados para cinética de adsorção.
Fonte: Autor, 2018
Tais resultados são comparados e levados em consideração os carvões que melhor adsorveram o corante azul de metileno.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste trabalho de iniciação científica, foi possível observar e obter resultados significativos no que diz respeito à produção, ativação e adsorção dos carvões ativados obtidos a partir de resíduos de dois frutos oriundos da Região Amazônica, o Tucumã e o Cupuaçu.
Foi constatado que, as melhores granulometrias a serem trabalhadas são as menores, pois quanto menor
for, maior será a área e/ou superfície de contato e por consequência uma maior adsorção. Já para os
agentes ativantes utilizados, o ácido H3PO4 e a base KOH, identificou-se que a capacidade de ativação e adsorção do carvão ativado com o ácido foi mais eficiente quando comparou-se com a base KOH. Já para a variável temperatura (500 e 600ºC), fica a critério qual deverá ser utilizada, uma vez que não houve diferenças significativas que interferiram na adsorção do corante azul de metileno.
REFERÊNCIAS
[1] Barbieri, J. C. Gestão Ambiental Empresarial. 2ed, São Paulo, Saraiva, 2007.
[2] Goldemberg, J. Atualidade e perspectivas no uso de biomassa para geração de energia. Ver. Virtual Quim., 9 (1), 15-28, 2017.
[3] Junior, O. F. C. Produção de Carvão Ativado a partir de Produtos Residuais de Espécies Nativas da Região Amazônica. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná. Paraná- PR. 73 p. 2010.
[4] Melo, S. S. Produção de carvão ativado a partir da biomassa residual da castanha do Brasil Bertholletia excelsa) para adsorção de cobre (II). 2012. 146 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Pará, Belém.
[5] Odubiyi, A.; Awoyale, A. A.; Eloka-Eboka, A. C. Wastewater treatment with activated charcoal produced from cocoa pod husk. J. Environ. Bioener., 4 (3), 162-175, 2012.
[6] Oliveira, P. S. A. Remoção de azul de metileno numa coluna de adsorção com enchimento de casca de noz carbonizada. 2009. 70 f. Tese (Mestrado Integrado em Engenharia Química) - Universidade do Porto.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
71
Capítulo 11
Detecção de ácido cítrico em meio sólido com amostras de Aspergillus Niger isoladas da Caatinga de Pernambuco Alexandre D’Lamare Maia de Medeiros
Cláudio José Galdino da Silva Júnior
Nathália Sá Alencar do Amaral Marques
Daylin Rubio-Ribeaux
Carlos Alberto Alves da Silva
Resumo: A utilização dos micro-organismos em processos biotecnológicos industriais e
ambientais têm sido uma das alternativas mais viáveis empregadas nos últimos anos,
devido as inúmeras vantagens apresentadas, sua elevada capacidade fisiológica de
reprodução e produção de diversas substâncias de elevado potencial biotecnológico em
diferentes temperaturas, pH e meios de cultivo. A imensa diversidade de micro-
organismos existentes em regiões pouco estudadas como a Caatinga do Estado de
Pernambuco, justifica a intensificação de estudos biotecnológicos por novos produtores
insumos biotecnológicos. O ácido cítrico é um dos produtos de fermentação mais
produzidos no mundo, principalmente através da fermentação submersa, utilizando
meios de produção a base de sacarose ou amido e também utilizando resíduos
agroindustriais. Neste sentido, no presente trabalho foi realizado o screening da
produção de ácido cítrico por amostras de Aspergillus niger. isolados da Caatinga do
Estado de Pernambuco. Foram utilizadas 4 amostras denominadas de UCP 1099, 1356,
1357 e 1463 utilizando como variáveis valores diferentes de temperatura (28, 37 e
42oC) e pH (5,5; 7,0 e 8,5). Os ensaios ocorreram durante 96 horas nas condições, com
amostras em triplicata. Os resultados revelaram que todas as amostras testadas
produziram o ácido cítrico nas condições testadas, porém o melhor resultado obtido foi
o da amostra UCP 1357, no pH de 8,5 à 37oC, cujo halo obtido foi de 8,0 cm. Esses
resultados evidenciam que a biodiversidade microbiana da Caatinga apresenta uma
grande quantidade de micro-organismos ainda pouco estudados para produção de
compostos bioativos.
Palavras chave: detecção ácidos orgânicos; potencial biotecnológico, fungos
filamentosos
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
72
1.INTRODUÇÃO
A Caatinga nordestina, ocupa uma área de aproximadamente 850 mil km² (por volta de 12% do território nacional). (FILIZOLA, SAMPAIO, 2015; MESQUITA; PINTO; MOREIRA., 2017).
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2016), a vegetação da Caatinga está entre os biomas brasileiros mais degradados pelo homem, o desmatamento já chega a 46% da área do bioma.
Esta biota, por ser a única que é exclusivamente brasileira, deve ser preservada e protegida. (EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2007; MESQUITA; PINTO; MOREIRA., 2017). Este bioma apresenta uma imensa variedade de espécies da flora, da fauna e principalmente, diversos micro-organismos (MO’s) pouco estudados e que podem conter um elevado potencial biotecnológico, porém ainda pouco estudados ou até mesmo desconhecidos (LEAL et al., 2005; NANNIPIERI et al., 2017).
A utilização desses MO’s em processos biotecnológicos industriais e/ou ambientais, têm sido uma das alternativas mais viáveis empregadas nos últimos anos, devido as inúmeras vantagens apresentadas, sua elevada capacidade fisiológica de reprodução e produção de diversas substâncias de elevado potencial biotecnológico em diferentes temperaturas, pH e meios de cultivo (BINOD et al., 2013; ADRIO, DEMAIN, 2014).
O ácido cítrico (AC) (Figura 1), é um produto orgânico produzido por vias fermentativas ou sintéticas, também conhecido como Citrato de Hidrogênio, é um ácido orgânico tricarboxílico fraco que possui a fórmula química e é um dos produtos de fermentação mais produzidos no mundo, uma vez que apresenta propriedades antioxidantes, acidulantes, flavori-zantes, sequestrantes e reguladoras de acidez. (MAX et al., 2010; DHILLON et al., 2011; ALI, HAQ, 2014; CIRIMINNA et al., 2017).
Figura1: Estrutura química do ácido cítrico
Fonte: Me Salva (2018)
Em 1916, constatou-se que algumas linhagens de Aspergillus niger (Figura 2) excretavam grandes quantidades de ácido cítrico quando eram isoladas em meios com alta concentração de açúcar, sais minerais e pH de 2,5 a 3,5. Esse estudo foi a base para o sucesso da produção industrial desse ácido (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2014).
Figura 2. Microscopia Aspergillus niger
Fonte: MicrobeWiki (2010)
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
73
Fungos filamentosos do gênero Aspergillus são de grande importância para a bioprodução de ácidos orgânicos, devido a sua grande habilidade de secretar grandes quantidades dos ácidos orgânicos desejados (YANG; LÜBECK; LÜBECK, 2017).
A habilidade deste gênero de naturalmente acumular grandes quantidades de ácidos orgânicos e utilizar uma grande variedade de fontes de carbono tem sido amplamente utilizada nos dias atuais (PELEG et al., 1988a; MAGNUSON AND LASURE, 2004; PAPAGIANNI, 2007; BROWN et al., 2013; YANG et al., 2016a,b; YANG; LÜBECK; LÜBECK, 2017).
2.OBJETIVOS
Com o apoio das informações supracitadas, o presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma seleção do melhor produtor de AC dentre quatro cepas isoladas da Caatinga Pernambucana, cedidas pelo Banco de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco
3.MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizados estudos de seleção de amostras de A. niger isoladas da Caatinga nordestina denominadas de UCP 1099, UCP 1356; UCP 1357 e UCP 1463 (figura 3), todas retiradas do Banco de Culturas da UNICAP para a detecção de ácido cítrico em meio sólido, utilizando diferentes valores de temperatura (28, 37 e 42ºC) e pH (5,5; 7,0 e 8,5) durante 96 h.
Figura 3. Amostras de Aspergillus niger UCP 1099, 1356, 1357 e 1463
Fonte: Autor (2018)
Para a determinação em meio sólido, foi utilizado o meio de Foster-David (FOSTER, 1949) cuja composição é: 5g/L de glicose; 1g/L de peptona; 1g/L de KH2PO4; 0,5g/L de MgSO4; 15g/L de Ágar e 65mL/L de solução de Verde de Bromocresol (indicador de acidez e basicidade) (0,5g Verde de Bromocresol em 7mL de NaOH 0,1 N). O pH final foi ajustado para 5,5; 7,0 e 8,5. O aparecimento de um halo amarelo brilhante evidencia a produção de ácido cítrico no meio testado. Todos os ensaios foram realizados em triplicata.
Os meios com diferentes valores de pH foram colocados em placas de Petri de 9 cm de diâmetro, onde após a solidificação do meio, foram feitos pequenos poços com diâmetros de 6 mm no centro de cada placa.
As suspensões espóricas foram preparadas com 107 esporos por mL e inoculadas nos poços de cada placa previamente preparada (Figura 3). As placas foram transferidas para diferentes temperaturas em estufas e observadas a cada 24 horas.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
74
Figura 3: Placa com meio Foster-David
Fonte: Autor (2018)
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nos ensaios de detecção do ácido cítrico nas amostras testadas estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1- Seleção de amostras para produção de ácido cítrico em diferentes valores de temperaturas e pH,
Ensaios com 96 horas, halos expressos em centímetros (cm)
Amostras pH 28ºC 37ºC 42ºC
UCP 1099 5,5 7,0 8,5
3,9 5,9 4,7
6,5 6,5 6,5
1,2 1,1 1,0
UCP 1356 5,5 7,0 8,5
4,0 2,0 4,5
6,0 5,5 4,0
2,0 1,5 1,5
UCP 1357 5,5 7,0 8,5
4,5 5,8 4,5
6,0 7,5 8,0
1,5 1,2 1,3
UCP 1463 5,5 7,0 8,5
4,5 5,0 3,0
5,0 5,0 3,0
1,5 1,5 2,0
Fonte: Autor (2018)
Todas as amostras testadas em diferentes valores de pH demonstraram atividade, contudo, a melhor produção de ácido cítrico detectada foi na temperatura de 37oC, que revelou uma elevada produção de ácido cítrico nas diferentes condições testadas de pH e temperatura.
A amostra que apresentou o maior halo característico de todo o ensaio realizado foi a UCP 1357, com um halo de 8,0 cm no pH de 8,5 (Figura 4).
Figura 4: Placa UCP 1357, pH 8,5 e mantida à temperatura de 37ºC
Fonte: Autor (2018)
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
75
Os valores obtidos estão de acordo com os valores descritos na literatura para produção de ácido cítrico em amostras testadas em meio sólido.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, verifica-se que a imensa biodiversidade do bioma Caatinga ainda pouco conhecida, revela possuir uma microbiota vasta e com elevado potencial biotecnológico para produção de substâncias bioativas de interesse industrial e/ou ambiental, levando a crer que a utilização destes micro-organismos pode ser tão eficaz quanto a de micro-organismos industrializados.
AGRADECIMENTOS
FACEPE, CAPES e CNPq
REFERÊNCIAS
[1] Ali, S.; Haq, I.U Process Optimization of citric acid production from Aspergillus niger using fuzzy logic design. Pak. J. Bot, v. 46, n. 3, p.1055-1059, 2014.
[2] Adrio, J. L., Demain, A.L. Microbial enzymes: tools for biotechnological processes. Biomolecules, n.4, v.1, p. 117-139, 2014.
[3] Binod, P, et al., Industrial enzymes - present status and future perspectives for India, Journal of Scientific & Industrial Research, v.72, p.271-286, 2013. 4
[4] Brown, S. H. et al. Metabolic engineering of Aspergillus oryzae NRRL 3488 for increased production of l-malic acid. Applied Microbiology And Biotechnology, [s.l.], v. 97, n. 20, p.8903-8912, 8 ago. 2013. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-013-5132-2.
[5] Ciriminna, R; Meneguzzo, F; Delisi, R., Pagliaro, M. Citric acid: emerging applications of key biotechnology industrial product. Chemistry Central Journal, v.11, n. 22, p. 2-9, 2017.
[6] Dhillon, G.S. et al., Screening of agro-industrial wastes for citric acid bioproduction by Aspergillus niger NRRL 2001 through solid state fermentation. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 93, n. 7, p. 1560-1567, 2013.
[7] Embrapa. Interesse por pesquisa com biomassa atrai grupo alemão a São Carlos. Embrapa, São Paulo. Disponível em: < https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1724562/interesse-por-pesquisa-com-biomassa-atrai-grupo-alemao-a-sao-carlos>. Acesso em: 27 abr. 2018.
[8] Filizola, B. C.; Sampaio, M. B. Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável de Cascas. Brasília: Instituto; Sociedade, População e Natureza; 2015. ISBN 978-85-63288-17-2
[9] Foster, J. W. Chemical Activities of Fungi. Academic Press, New York, 1949;
[10] Food Ingredients Brasil. Aplicações do Ácido Cítrico na Indústria de Alimentos. Food Ingredients Brasil, São Paulo, v. , n. 30, p.96-103, jun. 2014. Disponível em: <http://revista-fi.com.br/revista/64/#p=1>. Acesso em: 27 abr. 2018.
[11] Leal, I.R. et al. Mudando o curso da conservação da biodiversidade na Caatinga do Nordeste do Brasil. Megadiversidade, v.1, n.1, p. 139-146, 2005.
[12] Magnuson, J. K.; Lasure, L. L.. Organic Acid Production by Filamentous Fungi. Advances In Fungal Biotechnology For Industry, Agriculture, And Medicine, [s.l.], p.307-340, 2004. Springer US. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8859-1_12.
[13] Max, B, et al., Biotechnological production of citric acid, Brazilian Journal of Microbiology, v.41, p.862-875, 2010.
[14] Me Salva. Ácido Cítrico. São Paulo: Me Salva, 2018. Disponível em: < https://www.mesalva.com/forum/t/acido-citrico-xd/3886> Acesso em: 14 maio 2018.
[15] Mesquita, M.; Pinto, T.; Moreira, R.. Potencial antimicrobiano de extratos e moléculas isolados de plantas da Caatinga: uma revisão. Revista Fitos, [s.l.], v. 11, n. 2, p.216-230, maio 2017. GN1 Genesis Network.
[16] Micro Wiki. Aspergillus niger. Rio de Janeiro: Micro Wiki, 2016. Disponível em: <https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Aspergillus_niger> Acesso em: 14 maio 2018.
[17] Ministério do Meio Ambiente. Caatinga. São Paulo: Ministério Do Meio Ambiente, 2016. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=20 96>. Acesso em: 14 maio 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
76
[18] Nannipieri, P et al.,Microbial diversity and soil functions. European Journal of Soil Science, n.6 8, v.1, p.12-26, 2017.
[19] Papagianni, M. Advances in citric acid fermentation by Aspergillus niger: Biochemical aspects, membrane transport and modeling. Biotechnology Advances, [s.l.], v. 25, n. 3, p.244-263, maio 2007. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.01.002.
[20] Peleg, Y. et al. Malic acid accumulation by Aspergillus flavus. Applied Microbiology And Biotechnology, [s.l.], v. 28, n. 1, p.76-79, mar. 1988. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/bf00250502.
[21] Yang, L. et al. Enhanced succinic acid production in Aspergillus saccharolyticus by heterologous expression of fumarate reductase from Trypanosoma brucei. Applied Microbiology And Biotechnology, [s.l.], v. 100, n. 4, p.1799-1809, 31 out. 2015. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-015-7086-z.
[22] Yang, L.; Lübeck, M.; Lübeck, P. S. Aspergillus as a versatile cell factory for organic acid production. Fungal Biology Reviews, [s.l.], v. 31, n. 1, p.33-49, jan. 2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.fbr.2016.11.001
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
77
Capítulo 12
Indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo em agroecossistemas sombreados na Amazônia Sergio Aparecido Seixas Silva
Suellen Fernanda Mangueira Rodrigues
Priscila Maria Santos Lima
Karolyne Souza Procópio
Emanuel Maia
Resumo: Analisar sistemas de produção e modelos de agroecossistemas mais
integrados, diversificados e resilientes, implica em maior complexidade e reforça a
necessidade do monitoramento. Contudo, usar métodos de monitoramento que sejam
simples e possibilitem o aprendizado dos princípios da agroecologia são essenciais para
estabelecer métodos de aprendizado contínuo. Deste modo, o objetivo foi avaliar os
indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo em agroecossistemas sombreados,
através do uso de indicadores físicos, químicos e biológicos de fácil detecção. Para medir
a sustentabilidade dos agroecossistemas sombreados, utilizou-se os indicadores de
sustentabilidade para avaliar a qualidade do solo. Este trabalho permitiu verificar que
segundo os indicadores avaliados nos dois agroecossistemas os modelos foram mais
conservacionistas em relação a qualidade do solo.
Palavras-chave: Agroflorestas; Agrobiodiversidade; Conservação dos solos; Café
sombreado; cacaueiro, bananeira.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
78
1.CONTEXTO
O agricultor familiar é protagonista no planejamento e na gestão dos agroecossistemas complexos, diversificados, integrados e interdependentes. Deve-se ressaltar que estes sistemas diversificados são essenciais para manter os mosaicos que compõe a paisagem rural, que por sua vez tem papel fundamental na conservação e na proteção da natureza é fator primordial para conciliar produção econômica com responsabilidade social e conservação ambiental.
Deste modo, é necessário considerar os diferentes componentes dimensionais da sustentabilidade pois estes têm relação direta com os processos sociais no campo, bem como na continuidade dos serviços ecossistêmicos (PERFECTO e VANDERMEER, 2015).
O manejo e uso incorreto dos solos tem provocado degradação e alterações nos ecossistemas naturais (ALVARENGA e DAVIDE, 1999), e por outro lado, a demanda por alimentos, tem aumentado as áreas cultivadas em substituição à vegetação nativa. Assim, o uso da natureza para atender as necessidades humanas, em especial os usos do solo e da água, tem sido um tema de relevância em razão do aumento da pressão das atividades antrópicas.
A verificação e o monitoramento dos sistemas de produção e modelos de agroecossistemas pode ser realizado por meio de métricas e parâmetros que compõem um conjunto de indicadores de sustentabilidade (MASERA, ASTIER E LÓPEZ-RIDAURA, 1999; ALTIERI e NICHOLLS, 2002; NICHOLLS et al., 2004; FERREIRA et al., 2012), que implicam além da quantificação e qualificação dos agroecossistemas, processos de aprendizagem para os agricultores.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo em agroecossistemas sombreados, através do uso de indicadores físicos, químicos e biológicos de fácil detecção.
2.DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
O clima predominante na região é do tipo “Am” - Clima Tropical de monção, com média climatológica da temperatura anual entre 24 e 26 ºC, e precipitação média entre 1.564,5 e 2.243,8 mm/ano (ALVARES et al., 2014). Com duas estações marcadamente distintas: seca (junho a agosto) e chuvosa (outubro a abril), maio e setembro são meses de transição. O período chuvoso concentra cerca de 70% da precipitação anual, sendo o primeiro trimestre do ano o de maior precipitação. A média da precipitação para os meses mais secos do ano é inferior a 50 mm/mês (RONDÔNIA, 2012).
A vegetação natural no estado de Rondônia é reconhecida pela grande biodiversidade existente, isto se deve ao fato de estar próxima a transição de três importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Pantanal. A vegetação predominante, caracteriza-se por Floresta Ombrófila Aberta (IBGE, 2012). Os solos que prevalecem na região são latossolos, com relevo plano e suave ondulado, com altitude variando entre 100 e 200 metros (SANTOS et al., 2011; IBGE, 2015). São solos bem intemperizados, profundos, bem drenados, com pouca diferença entre cor e textura em horizontes superficiais e subsuperficiais, normalmente são ácidos e apresentam maior resistência a processos erosivos (EMBRAPA, 2006).
Os agroecossistemas sombreados em que o estudo foi realizado foram: agroecossistema 1 (Agro 1) bananeira e cacaueiro, localizado na BR 364 km 18 Ouro Preto d’Oeste e agroecossistema 2 (Agro 2) bananeira e cafeeiro (Figura 1), localizado na RO 010 km 32 Pimenta Bueno, ambos no estado de Rondônia. O estudo foi realizado no mês de abril do ano de 2017, época chuvosa na região.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
79
Figura 1. Agro 1 consórcio entre Cacau (Theobroma cacao L.) e Bananeira (Musa spp.), localizado na margem da BR 364 Km 18 Ouro Preto d’Oeste – RO (A). Agro 2 consórcio entre Café Conilon (Coffea
canephora) e Bananeira (Musa spp.), localizado na margem da RO 010 km 32 Pimenta Bueno – RO (B).
(Fonte: RODRIGUES, S. F. M., 2017).
Para medir a sustentabilidade dos agroecossistemas sombreados, utilizou-se os indicadores de sustentabilidade propostos por Altieri e Nicholls (2002) e Nicholls et al. (2004) para avaliar a qualidade do solo (Tabela 1). Os indicadores foram escolhidos por possuírem princípios fáceis de serem aplicados, analisados e entendidos pelos agricultores; rápidos e de baixo custo na aplicação e no monitoramento; e claramente definidos, além de servirem como método de aprofundamento na compreensão dos princípios agroecológicos.
Foram propostos dez indicadores e verificadores para avaliar a proteção, conservação e qualidade do solo, distribuídos em estrutura; compactação; profundidade do solo; estado dos resíduos orgânicos; cor, odor e matéria orgânica; retenção de água (grau de umidade após irrigação ou chuva); cobertura do solo; erosão; presença de invertebrados e atividade microbiológica. Valores entre um e dez foram atribuídos para cada indicador, em cada sistema, foram analisados três pontos no sentido diagonal do cultivo, respeitando-se 10 m de borda em cada extremo, sendo realizado pelos mesmos avaliadores e os resultados foram apresentados na forma de tabelas e figuras, como preconiza o método.
Os valores próximos de 1 estão atrelados a manejo não adequado ou não desejável, sendo os valores próximos de 5 como medianos ou moderados e acima de 5 e próximos de 10 como ideais ou desejáveis. Notas abaixo de 5 são consideradas abaixo do limite mínimo de sustentabilidade. Foram realizadas uma avaliação por agroecossistema e os resultados foram apresentados na forma de tabelas e figuras, como preconiza o método.
Tabela 1. Indicadores de Sustentabilidade para Agroecossistemas Sombreados – qualidade do solo – com características e valores correspondentes (valores entre 1 e 10 podem ser atribuídos a cada indicador).
Indicadores Características VE* VV**
Estrutura
Soltos, empoeirados, sem agregados visíveis 1
Poucos agregados que quebram com pouca pressão 5
Agregados bem formados, difíceis de serem quebrados 10
Compactação
Solo compactado, o arame encurva-se facilmente 1
Fina camada compactada algumas restrições à penetração do arame 5
Nenhuma compactação, o arame pode penetrar todo no solo 10
Profundidade do solo
Subsolo exposto 1
Superfície do solo fina < 10 cm 5
Solo superficial > 10 cm 10
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
80
(continuação ...)
Indicadores Características VE* VV**
Estado dos resíduos
Decomposição lenta dos resíduos orgânicos 1
Presença de resíduos em decomposição há pelo menos um ano 5
Resíduos em vários estágios de decomposição, a maioria dos resíduos bem decompostos
10
Cor, odor e matéria orgânica
Pálido, odor químico e ausência de húmus 1
Castanho-claro, sem odor e alguma presença de húmus 5
Castanho-escuro, odor de matéria fresca e presença abundante de húmus 10
Retenção de água (grau de umidade após irrigação ou
chuva)
Solo seco, não retém água 1
Grau de umidade limitado por um curto período de tempo 5
Grau de umidade considerável durante um razoável período de tempo 10
Cobertura do solo
Solo exposto 1
Menos de 50% do solo por resíduos ou cobertura viva 5
Mais de 50% do solo coberto por resíduos ou cobertura viva 10
Erosão
Erosão severa, presença de pequenas valas 1
Evidente, mas poucos sinais de erosão 5
Sem sinais visíveis de erosão 10
Presença de invertebrados
Nenhum sinal de presença ou atividade de invertebrados 1
Poucas minhocas e artrópodes presentes 5
Presença abundante de organismos invertebrados 10
Atividade microbiológica
Muito pouca efervescência após aplicação de água oxigenada 1
Efervescência leve a médio 5
Efervescência abundante 10
VE*=Valor Estimado; VV**=Valor Verificado. Fonte: adaptado de Altieri e Nicholls (2002); Nicholls et al. (2004)
3.RESULTADOS
Pode-se verificar que em média o agroecossistema 2 apresentou maiores valores para os indicares de qualidade do solo (Tabela 2), e consequentemente, pode-se indicar que o manejo geral do cultivo tem sido mais conservacionista.
Tabela 2. Média dos valores verificados para os dois agroecossistemas sombreados para a qualidade do solo.
Indicadores Agro 1 Agro 2 Estrutura 5 7,5 Compactação 5 7,5 Profundidade do solo 8 7,5 Estado dos resíduos 6,2 10 Cor, odor e matéria orgânica 9 10 Retenção de água (grau de umidade após irrigação ou chuva) 9 10 Cobertura do solo 9 10 Erosão 8 10 Presença de invertebrados 7 10 Atividade microbiológica 8 10
A representação esquemática dos indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo presentes no Agro 1 e Agro 2 (Figura 3), evidenciou a estrutura do solo, o grau de compactação e a profundidade do solo em níveis mais baixos que os demais indicadores. Isso mostra que os sistemas produtivos estão se
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
81
recuperando e que possivelmente estavam com níveis ainda mais baixos, levando em consideração os agroecossistemas ao redor, mantidos em sistemas produtivos convencionais e monocultivos.
Figura 2. Agro 1 variedades de Cacau (Theobroma cacao) sombreados com Bananeiras (Musa spp.), localizado na margem da BR 364 Km 18 Ouro Preto d’Oeste – RO (A). Agro 2 variedades de Café Conilon
(Coffea canephora) sombreados com Bananeiras (Musa spp.), localizado na margem da RO 010 km 32 Pimenta Bueno – RO (B).
(Fonte: DA SILVA, S. A. S., 2017).
Figura 3. Representação esquemática dos indicadores de sustentabilidade da qualidade do solo presentes no Agro 1 (A) e Agro 2 (B).
O agroecossistema 2 (Agro 2) consorciado com bananeira e cafeeiro apresentou níveis satisfatórios em relação ao estado dos resíduos orgânicos, cor, odor e presença de matéria orgânica. Boa retenção de água após chuvas, apresentando mais de 50% de cobertura do solo por resíduos orgânicos ou cobertura viva e não apresentando sinais visíveis de erosão. Presença de diversos invertebrados, entre eles: abelhas, borboletas, formigas, joaninhas, piolhos-de-cobra, entre outros, trazendo inúmeros benefícios ambientais para o agroecossistema. O uso da água oxigenada apresentou efervescência abundante demostrando ter a presença de atividade microbiológica no solo.
Em ambos notamos indicadores para qualidade e conservação do solo com níveis bem acima da média, o que demonstra sistemas produtivos sustentáveis para a região amazônica. Quanto mais próximo da extremidade, mais qualidade e conservação se apresenta o sistema em relação ao solo (NICHOLLS et al., 2004).
O monitoramento da qualidade do solo pelos indicadores de fácil detecção é importante para a manutenção e avaliação dos níveis de sustentabilidade nos sistemas de manejos adotados. Sendo a
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
82
matéria orgânica (MO), um indicador importante na determinação da qualidade do solo, influenciando nas propriedades físicas, químicas, biológicas e determina a qualidade do solo modificada por manejos.
Desta forma, a partir dos indicadores avaliados permitiram concluir que o modo de produção atual nos dois agroecossistemas condicionaram a uma maior conservação do solo, em especial as características relacionadas a matéria orgânica e a proteção do solo contra a erosão.
4.AGRADECIMENTOS
A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, UNIR e CNPq pela concessão da bolsa de Extensão no País a segunda autora. Aos estudantes do Curso Técnico em Agroecologia do ano de 2017, e aos professores e a todos os profissionais do CENTEC Abaitará que possibilitaram e contribuíram com a realização das atividades descritas.
REFERÊNCIAS
[1] Altieri, M. A.; Nicholls, C. I. Un método agroecológico rápido para la evaluación de la sostenibilidad de cafetales. Manejo Integrado de Plagas y Agroecologia, Costa Rica, v. 64, p. 17-24, 2002.
[2] Alvarenga, M.I.N. & Davide, A.C. Características físicas e químicas de um latossolo vermelho-escuro e a sustentabilidade de agrossistemas Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 23, p. 933-942, 1999.
[3] Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. de M.; Sparovek, G. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2014. (published online January 2014).
[4] Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2.ed. Rio de Janeiro, 2006. 306p.
[5] Ferreira, J. M. L., Viana, J. H. M., Da Costa, A. M., de Sousa, D. V., & Fontes, A. A. Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas. Informe Agropecuário: adequação socioeconômica e ambiental de propriedades rurais. Belo Horizonte, v. 33, n. 271, p. 12-25, 2012.
[6] IBGE. Manual técnico da vegetação brasileira. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2012.
[7] IBGE. Manual técnico de pedologia. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Manuais Técnicos em Geociências - 3. ed. - Rio de Janeiro: IBGE, 2015.
[8] Masera, O.; Astier, M.; López-Ridaura, S. Sustentabilidad y manejo de recursos naturales el marco de evaluación MESMIS. México: Mundi Prensa, 1999.
[9] Nicholls, C. I,; Altieri, M. A.; Dezanet, A.; Lana, M.; Feistauer, D.; Ouriques, M. A rapid, farmer-friendly agroecological method to estimate soil quality and crop health in vineyard systems. Biodynamics, Pottstow, PA, v.20, n.5, p.33-44. 2004.
[10] Perfecto, I.; Vandermeer, J. H. Coffee agroecology: a new approach to understanding agricultural biodiversity, ecosystem services, and sustainable development. Routledge: New York e London, 366p. 2015
[11] Rondônia. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010. Cogeo - Sedam / Coordenadoria de Geociências – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – v. 12, 2010 - Porto Velho: Cogeo - Sedam, 2012.
[12] Santos, H. G.; Carvalho Júnior, W.; Dart, R. O.; Áglio, M. L. D.; Sousa, J. S.; Pares, J. G.; Fontana, A.; Martins, A. L. S.; Oliveira, A. P. O novo mapa de solos do Brasil: legenda atualizada. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 67p.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
83
Capítulo 13
Uso e ocupação do solo e áreas de preservação permanente na Bacia Hidrográfica do Rio Caeté, Pará
Lucas Lima Raiol
Dayla Carolina Rodrigues Santos
Douglas Silva dos Santos
Alef David Castro da Silva
João Fernandes da Silva Júnior
Resumo: A caracterização do uso do solo e das áreas de preservação permanente é de
grande importância para a gestão das bacias hidrográficas, sobretudo com o uso de
geotecnologias que auxiliam para uma melhor análise espacial e ambiental. O presente
trabalho teve como objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo e os conflitos nas
Áreas de Preservação Permanente (APPs) que estão de acordo com o Código Florestal
(CFB) na bacia hidrográfica do rio Caeté (BHRC), localizada no estado do Pará. Foi
utilizado os dados do projeto TerraClass, nas órbitas-pontos do satélite Landsat-8/OLI
223/61 e 222/61 do ano de 2014. Os procedimentos para o mapeamento do uso do solo
e a delimitação das APPs envolveram o auxílio do software ArcGIS 10.5, o que culminou
no mapa de conflito do uso do solo, entende-se por conflito toda e qualquer área
mapeada que não condiz com a legislação vigente. Os resultados da pesquisa
demostraram a predominância da pastagem correspondendo a 41,90% ao longo da
bacia, seguido da vegetação secundária e agricultura com 31,01% e 7,32%
respectivamente. As APPs encontram-se na sua maioria antropizada, principalmente
pela pastagem com 33,39%. Portanto o uso da geotecnologia mostrou-se como
ferramenta essencial para o monitoramento e gestão dos recursos hídricos.
Palavras-chave: Código Florestal; Conflitos; Recurso Hídrico; Geotecnologias.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
84
1.INTRODUÇÃO
Os processos históricos de colonização e ocupação da Amazônia evidenciam que a colonização trouxe consigo a implementação de atividades econômicas sem considerar as especificidades socioambientais da região, sendo que atualmente, a conversão de terras à produção agrícola e pecuária ainda se apresenta como uma das práticas mais atrativas para o investimento do capital, causando grandes pressões sobre os maciços florestais (SOUZA et al., 2012). As ocupações e alterações não planejadas no uso da terra, sem levar em conta a capacidade de suporte, aliado ao manejo inadequado do solo em áreas agrícolas sem cuidados para controle da degradação ambiental, tem contribuído para processos erosivos acelerados, na qual desse modo, o estudo sobre bacias hidrográficas é um recurso estratégico no planejamento integrado dos recursos naturais, sendo objeto de estudo de pesquisas relacionadas ao manejo e conservação da água e solo (JUNIOR et al., 2013). As matas ciliares correspondem a vegetação que ocupa as margens dos cursos d’água, apresentando grande importância para a estabilidade e conservação desse recurso natural, por contribuir com o controle de processos erosivos contendo os fenômenos de assoreamento dos corpos d´água, importante para infiltração de água no solo, proporciona sombreamento e auxilia na estabilidade térmica da água, além de ser fonte de abrigo e alimento para grande parte da fauna aquática. A manutenção dessa cobertura vegetal é essencial à conservação dos recursos hídricos (SOUZA et al., 2012; LOURENÇO, 2015). Neste sentido, a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro (CFB), dispõe sobre a proteção da vegetação nativa no Brasil e normas sobre a proteção da vegetação; áreas de Preservação Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal; suprimento de matéria-prima florestal; controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais (BRASIL, 2012). A mesma lei define no seu Art. 2º as Áreas de Preservação Permanente:
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; (BRASIL, 2012).
Os conflitos podem ser abordados como a disputa dos recursos naturais e sua relação no âmbito socioambiental. Dentro esse ponto de vista, Oliveira e Reis (2017) abordam que devido à ocorrência de conflitos em áreas de preservação permanente de bacias hidrográficas, ocasionam desequilíbrios nas dimensões social, econômica, ambiental e institucional, contribuindo para o uso irracional dos recursos naturais e um desenvolvimento insustentável. Sendo assim, com a expansão das áreas urbanizadas, aliado ao processo de fragmentação florestal e o uso alternativo impróprio do solo tem promovido o aumento da pressão sobre os recursos naturais, podendo acarretar impactos ambientais (FERRARI et al., 2015). Dessa forma, a utilização de técnicas de geoprocessamento com o uso de imagens de satélites têm se mostrado como excelente aliado no trabalho de monitoramento ambiental de bacias hidrográficas.
2.OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo e os conflitos nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) que estão de acordo com o Código Florestal (CFB) na bacia hidrográfica do rio Caeté (BHRC).
3. MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
A área de Estudo consistiu na BHRC (Figura 1) situada na região do Nordeste Paraense, abrangendo os municípios: Bonito, Santa Luzia, Ourém, Capanema, Tracuateua, Augusto Corrêa e Bragança. A bacia tem uma área de aproximadamente 2.149,63 km², a extensão longitudinal do seu rio principal é de 149 km, com sua nascente principal no munícipio de Bonito, até a foz nos municípios Bragança e Augusto Corrêa, na qual é denominada de complexo hidrológico da baía Caeté-Urumajó (DIAS; CIRILO, 2018).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
85
Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Caeté
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)
A geomorfologia da BHRC é formada pelo planalto costeiro, planície fluvial, estuarina e litorânea (GORAYEB, 2008). De acordo com Costa (2017) a cobertura vegetal da bacia é caracterizada pela Floresta ombrófila densa de terras baixas com dossel emergente, vegetação pioneira, fluviomarinha arbórea, vegetação pioneira de influência fluvial herbácea aluvial, vegetação secundária sem palmeiras. Os tipos climáticos presentes na bacia segundo a classificação de Köppen-Geiger são respectivamente (Af e Am) com características megatérmicas e alta pluviosidade. Na geologia predomina a formação barreiras, de origem sedimentar, coberta, em sua maior parte, por latossolo amarelo e neossolos quartzarênicos, sendo este último utilizado na extração mineral, sobretudo de calcário, enquanto que o primeiro tipo é um solo de baixa suscetibilidade à erosão, quando preservada sua cobertura vegetal original (COSTA, 2017). Aquisição dos Dados e Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo Foi realizada a sistematização dos dados de informações geográficas no software ArcGIS 10.5, utilizando o datum SIRGAS 2000 (Sistema Geocêntrica de Referência para as Américas) e o Sistema de projeção UTM (Universal Transverse Mercator). Os arquivos vetoriais da rede de drenagem, das massas d´água que correspondem a tipologia natural e artificial e da área delimitada da BHRC foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA). Para o mapeamento do uso e ocupação do solo foram adquiridas do projeto TerraClass, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo objetivo é qualificar o desflorestamento da Amazônia Legal. Dessa forma, foram selecionadas as órbitas-pontos do satélite Landsat-8/OLI 223/61 e 222/61 do ano de 2014. Foram geradas 10 classes de uso e ocupação do solo, sendo as classes agricultura anual e mosaico de ocupações agrupadas para a criação da classe agricultura, além de que as classes pasto limpo, pasto sujo e regeneração com pasto foi feito o mesmo procedimento para a criação da classe pastagem, ambas com a utilização da ferramenta Dissolve. Delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Conflitos de Uso e Ocupação do Solo A delimitação das APPs da rede de drenagem da BHRC tomou por referência o novo CFB. A rede de drenagem apresentam linhas simples, sendo assim a largura do rio Caeté foi estimado através de imagens do Google Earth, o mesmo possui largura de até 250 m, e deste modo foi utilizado um Buffer de 200 m de faixa marginal em torno do canal fluvial. Ao redor das nascentes foram criadas um arquivo vetorial de pontos utilizando a ferramenta Edit, com auxílio do Snapping, selecionando as extremidades dos cursos d’água.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
86
Após a identificação das nascentes foi gerado um Buffer de 50 m de raio para as nascentes. Posteriormente a criação das APPs, utilizou o Dissolve para a junção dos polígonos da mesma. A identificação das áreas de conflitos em APPs foi elaborada através da sobreposição do mapa de uso e ocupação do solo utilizando o recurso Intersect, desse modo foi possível verificar o percentual das APPs que estão de acordo com a legislação do CFB.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
É apresentada a distribuição espacial do uso e ocupação do solo na BHRC (Figura 2). É possível observar uma predominância da pastagem (41,90%) devido principalmente à intensificação da agropecuária no nordeste paraense (Tabela 1). A agricultura representa (7,32%) incluindo culturas permanentes e temporárias, com a presença da agricultura familiar.
Figura 2: Uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Caeté
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
Tabela 1: Áreas e percentagens do uso e ocupação do solo na bacia do rio Caeté
Classes Área (Km²) Área (%)
Área urbana 23,20 1,08
Mineração 13,87 0,65
Agricultura 157,39 7,32
Pastagem 900,65 41,90
Desflorestamento 0,29 0,01
Floresta 149,43 6,95
Vegetação secundária 666,69 31,01
Hidrografia 8,44 0,39
Outros 4,27 0,20
Área não observada 225,38 10,48
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
Gorayeb (2008), afirma que nas áreas a montante da BHRC, as pastagens, a agricultura itinerante e a monocultura são principais causas dos desflorestamentos, ocorrendo a redução ou mesmo a eliminação da fauna e flora nativa, a deterioração da fertilidade e das características físicas do solo, bem como a
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
87
contaminação das áreas devido ao uso inadequado de agroquímicos. Ainda de acordo com o autor, as vegetações secundárias que representaram (31,01%), estão em geral fortemente degradadas, sobretudo pela extração de madeira para a fabricação de carvão e lenha. A vegetação secundária se caracteriza como a regeneração florestal após o corte raso da vegetação primária por causas naturais ou antrópicas, sendo principalmente na região do nordeste Paraense a agricultura familiar responsável pelas áreas de regeneração da vegetação (OLIVEIRA NETO; FERREIRA, 2018). As áreas urbanas representam apenas 1,08% da área total, identificada pelas manchas urbanas decorrentes da concentração populacional. A presença da mineração abrange 0,65% na BHRC é caracterizada, sobretudo pela extração de calcário no alto, médio e baixo Caeté. Para Kalife (2013) as maiores áreas de extração deste mineral encontram-se no município de Capanema fora do limite da bacia. No entanto, trata-se de um mineroduto que interliga áreas de extração de calcário à área de beneficiamento do mesmo, visto que considerado o limite da bacia, as áreas de extração de minerais não metálicos se localizam nos municípios de Ourém e Santa Luzia do Pará e são conectadas às indústrias em Capanema através do mineroduto citado. A BHRC apresenta poucos remanescentes florestais ao longo do rio Caeté, principalmente as matas ciliares a margem direita do rio, representando 6,95% no total. Outra classe que apresentou menores áreas foi o desflorestamento com 0,01%, caracterizada pela retirada e queima da floresta primária por ações antrópicas para extração de madeira ou para implantação da agricultura ou pastagem. As classes hidrografia e outros representaram 0,39% seguida de 0,20% respectivamente. A classe outros apresenta características como afloramentos rochosos, praias fluviais e bancos de areia. A área não observada foi de 10,48%, configurando a presença de nuvens na região, na qual Dias e Cirilo (2018) destacam que um dos maiores obstáculos da utilização de técnicas de sensoriamento remoto no nordeste paraense é a elevada presença de nuvens na região, dificultando ou até impossibilitando a identificação das classes de uso e cobertura da terra. Conflitos de Uso e Ocupação do Solo nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) É observado que a BHRC apresenta conflitos de uso e ocupação do solo nas APPs (Figura 3). As APPs são áreas fundamentais para o equilíbrio ecológico, dada a sua função de preservação dos recursos hídricos. No entanto na BHRC, encontra-se majoritariamente com usos inadequados (Tabela 2), ou seja, cuja maioria não é composta pelas matas ciliares.
Figura 3: Uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) Fonte: Dados da pesquisa (2019)
Tabela 2: Áreas e percentagens do uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente (APPs)
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
88
Classes Área (Km²) Área (%)
Área urbana 3,53 2,31
Mineração 0,87 0,57
Agricultura 12,67 8,31
Pastagem 50,90 33,39
Floresta 22,43 14,71
Vegetação secundária 46,56 30,54
Outros 0,66 0,43
Área não observada 14,83 9,73
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
Os usos descritos quando confrontados com o CFB, é possível analisar que 75,56%, ou seja, do total das APPs não estão de acordo com a legislação vigente, cuja maioria é representada por pastagem correspondendo a 33,39%, vegetação secundária a 30,54% e agricultura 8,31%. Tal fato está associado aos sistemas agrícolas extensivos ao longo de toda a bacia. Conforme apresentado por Brunini, Silva e Pissara (2017), os sistemas de produção agrícola extensivo se configuram como expressiva fonte de degradação dos recursos hídricos por conta do risco de contaminação por agroquímicos que podem contribuir com processos erosivos ligados ao carreamento das partículas de solo, que alcançam os corpos d’água impulsionados pelo regime de precipitação pluviométrica. Dentre os usos, somente 14,71% ou seja, 22,43 km² das APPs estão de acordo com o CFB. Portanto haja a necessidade da preservação da mesma, visto seu papel fundamental no desenvolvimento sustentável, a fim de preservar o recurso hídrico para as presentes e futuras gerações.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto se mostraram essenciais para o diagnóstico de problemas ambientais na BHRC. Os usos do solo ao longo da bacia apresentaram-se bastante antropizados, sendo na sua maioria pela pastagem. As APPs da bacia encontram-se em sua maior parte com usos inadequados, podendo acarretar processos erosivos e assoreamento ao longo das margens e nascentes. Nesse sentido é de grande relevância uma melhor gestão dos recursos hídricos, sobretudo a BHRC que apresenta conflitos de uso e ocupação do solo.
REFERÊNCIAS
[1] Brasil. Código Florestal. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm. Acesso em: 19 mar. 2019. [2] Brunini, R. G.; Silva, M. C.; Pissarra, T. C. T. Efeito do sistema de produção de cana-de-açúcar na qualidade da água em bacias hidrográficas. Revista Agrarian, Dourados, v.10, n.36, p. 170-180, 2017. [3] Costa, F. E. V. Gestão dos Recursos Hídricos do Rio Caeté/Pará – Brasil. 2017. 313 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2017. [4] Dias, F.; Cirilo, B. Diagnóstico da fragilidade ambiental da bacia do rio Caeté/Pa como subsídio ao planejamento ambiental. Geoambiente On-line, n. 32, 29 dez. 2018. [5] Ferrari, J. L.; Santos, L. R.; Garcia, R. F.; Amaral, A. A.; Pereira, L. R. Análise de Conflito de Uso e Cobertura da Terra em Áreas de Preservação Permanente do Ifes – Campus de Alegre, Município de Alegre, Espírito Santo. Floresta e Ambiente, v. 22, n. 3, p.307- 321, 2015. [6] Gorayeb, A. Análise Integrada da paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Caeté– Amazônia Oriental. 2008. 204 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2008.
[7] Junior, R. F. V.; Galbiatti, J. A.; Pissarra,T. C. T.; Filho, M. V. M. Diagnóstico do conflito de uso e ocupação do solo na bacia do rio uberaba. Global Science And Technology, Rio verde, n. 01, v. 06, p.40-52, jan/abr 2013.
[8] Kalife, K. R.. Mineração de calcário no município de Capanema, Estado do Pará: uma análise a partir da percepção dos moradores do entorno da Jazida B-17. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. [9] Lourenço, D. F. A mata ciliar do rio Cariús no perímetro urbano de Farias Brito – Ceará – Brasil: Realidade e ações para a revitalização e preservação. InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade, Grajaú/MA, Ed. Especial, v.1, n.3 p.255-271, 2015. [10] Oliveira, V. M. M.; Reis, L. M. M. Conflitos em áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do rio Pitimbu-RN: proposta de um indicador institucional sustentável. Guaju, v. 3, n. 1, p. 91-110, 2017. [11] Oliveira Neto, M. M.; Ferreira, M. S. G. Usos potenciais de florestas secundárias do nordeste Paraense. Cadernos de Agroecologia, v. 13, n. 1, 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
89
[12] Souza, S. R.; Maciel, M. N. M.; Oliveira, F. A.; Jesuíno, S. A. Caracterização do conflito de uso e ocupação do solo nas áreas de preservação permanente do rio Apeú, nordeste do Pará. Revista Floresta, Curitiba, PR, v.42, n.4, p.701-710, out/dez 2012.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
90
Capítulo 14
Mapa síntese de poluição difusa na Bacia do Rio Anhanduí, Campo Grande/MS
Diego Adania Zanoni
Fernando Jorge Correa Magalhães Filho
Fábio Martins Ayres
Denilson de Oliveira Guilherme
Resumo: O uso e ocupação do solo tem um papel fundamental na expansão
urbana, pois garante uma ocupação organizada e planejada da área urbana visando
às partes ambiental, social e econômica. Essa expansão urbana vem impactando o
entorno das bacias urbanas, aumento as concentrações nutrientes alterando alguns
parâmetros como demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio (N) e fósforo
(P). Para identificar esse impacto no entorno da bacia do Rio Anhanduí utilizou-
se georreferenciamento para levantamento de dados relacionados aos imóveis
pertencentes à bacia, e elaborou-se mapas temáticos da bacia do Rio Anhanduí que
pertence ao perímetro urbano da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os
mapas temáticos abordaram a concentração de cada uma das nove classes que
cada imóvel foi classificado segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Gestão Urbana (SEMADUR). Utilizando um ambiente de Sistema de Informação
Geográfica (SIG), através da ferramenta de álgebra de mapas combinaram-se as
concentrações dos imóveis levando em consideração seu potencial poluidor e obteve-
se um mapa síntese da poluição difusa da bacia. Esse mapa síntese apresentou uma
correlação de Pearson de 0,68, correlação moderada, quando comparado com o
índice de qualidade da água (IQA) ao longo da bacia.
Palavras-chave: bacia urbana, planejamento urbano, uso e ocupação do solo.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
91
1.INTRODUÇÃO
A sustentabilidade do meio de vida nas grandes cidades é o grande desafio para as futuras gerações, o crescimento acelerado da população vem se tornando um grande problema na ocupação urbana devido ao crescimento desordenado.
A cidade de Campo Grande vem passando por um processo de expansão urbana, podendo ser observado pelo comportamento do setor da construção civil, expansão do centro urbano e a descentralização de atividades de comércio e serviços. Essas atividades antrópicas vêm alterando a cobertura e uso do solo ao longo dos anos, e isso influência diretamente na qualidade das águas superficiais da bacia urbana conforme observado em Wohlfart et al. (2017).
Diante dessa situação Campo Grande por meio de seus gestores lançaram o Projeto Córrego Limpo que consiste no monitoramento da qualidade das águas superficiais da cidade de Campo Grande. Este projeto é uma parceria entre a prefeitura de Campo Grande através da SEMADUR e a empresa concessionária de água. Esse projeto determinou pontos de coleta para amostragem de água para um monitoramento do Índice de Qualidade da Água (IQA) periódico a cada três meses. Buscando a transparência e a acessibilidade à informação aos cidadãos foram instaladas placas contendo informações sobre a qualidade da água naquele ponto.
A cidade de Campo Grande tem onze bacias, das quais nove sofrem influência urbana e são monitoradas pelo projeto Córrego Limpo, dentre elas destaca-se a bacia do Rio Anhanduí por ser afluente de vários desses rios (SEMADUR, 2016). Neste rio encontra- se a Estação de Tratamento de Esgoto Los Angeles (ETE Los Angeles). Esta estação é responsável pelo tratamento do esgoto gerado por aproximadamente 580 mil habitantes o que corresponde a 65% da população da cidade de Campo Grande.
Para a identificação dos poluidores em potencial realizou-se uma revisão da literatura, e identificou-se os principais potenciais poluidores de bacia urbano, sendo eles atividades de funilaria e pintura automotiva (IARK et al., 2017), lançamento clandestino de esgoto domiciliar (SANTOS et al., 2017), poluição por escoamento superficial de efluentes industriais (VICENTE; CORDEIRO, 2018) e postos de combustíveis (OLIVEIRA et al.,
2008). O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do uso e ocupação do solo sobre a qualidade da água do rio ao longo da bacia do rio Anhanduí.
2.METODOLOGIA
Entendendo que o uso e ocupação do solo pode causar mudanças diretas na qualidade da água dos rios urbanos (ZAMPELLA et al., 2007), com isso buscou-se junto ao órgão responsável pelo cadastro dos imóveis da cidade de Campo Grande a PLANURB, as informações referentes ao cadastro imobiliário. Utilizaram-se as informações para a elaboração de mapas temáticos, para uma melhor análise da região em estudo e classificação das ocupações com maior potencial poluidor da bacia.
2.1 ÁREA DE ESTUDO
A área em estudo foi a região da bacia do rio Anhanduí, que possui uma área de 38,3 km² e recebe a maior parte do escoamento superficial de água fluvial de toda a cidade de Campo Grande e é onde está localizada a Estação de Tratamento de Esgoto Los Angeles (ETE Los Angeles) a maior estação de tratamento de esgoto da cidade (ÁGUAS GUARIROBA, 2017).
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS POLUIDORES NA BACIA
Realizou-se uma revisão da literatura para identificar as principais ações poluidoras associadas ao escoamento superficial de bacias urbanas. Os parâmetros que mais impactados com as atividades antrópicas são demanda química biológica (DBO), nitrogênio (N) e fósforo (P) (REVITT; ELLIS, 2016). Os tipos de uso dos imóveis que se destacaram foram as atividades de funilaria e pintura automotiva (IARK et. al., 2017), lançamento clandestino de esgoto domiciliar (SANTOS et al., 2017), poluição por escoamento superficial de efluentes industrial (VICENTE; CORDEIRO, 2018) e postos de combustíveis (OLIVEIRA et. al.,2008).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
92
2.3 LEVANTAMENTO DE DADOS DOS IMÓVEIS DA BACIA DO ANHANDUÍ
Realizou-se um levantamento de dados junto a PLANURB, no primeiro semestre de 2018, com o intuito de identificar o uso e o número de imóveis que pertencem à bacia em estudo, os dados coletados foram referentes ao ano de 2013. Nesta etapa objetivou-se quantificar individualmente os imóveis, e identificar as classes com maior impacto na poluição dabaciaatravésdeescoamentosuperficialdeáguapluvial.
2.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)
O projeto Córrego Limpo possui treze pontos de monitoramento, sendo eles de montante para jusante: ANH 01, ANH 11, ANH 10, ANH 04, ANH 05, ANH 07, ANH 14, ANH 15, ANH 08, ANH 16, ANH 09, ANH 13 e ANH 12.
2.5 ANÁLISE MULTICRITERIAL DOS DADOS LEVANTADOS
O ano escolhido para o estudo foi de 2013 em funçãodedoisaspectos, selecionou-seo ano mais recente e com omaior número deparâmetros IQAdisponível, adotou-se essa medida, pois ao longo dos anos o Projeto Córrego Limpo teve várias empresas licenciadas que realizaram a avaliação da qualidade da água na bacia, com isso os resultados disponibilizados pelas empresas variaram no número de parâmetros contidos nos relatórios.
Com os dados obtidos e selecionados reuniram-se todas as informações disponíveis em um ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), utilizou-se o software ArcMap 10.5 (ESRI, 2017). Com as variáveis que compõem a análise de correlação entre o uso do solo com a qualidade da água na bacia definidos, atribuiu-se valores relativo ao impacto de cada uma das nove classes (Rural Territorial foi excluída por sua baixa relevância).
Para a interação entre os mapas de calor, foram atribuídos valores a cada uma das classes variando esse valor atribuído de acordo com o impacto que cada classe tem na qualidade da água, considerando que cada classe influencia no escoamento superficial de águas pluviais, segundo revisão feita destacaram-se como classes potenciais poluidoras: comercial, misto, industrial e serviços.
Resolução CERH/MS Nº 18/2012
A bacia do rio Anhaduí recebe a transposição de volume de esgoto de outras partes da cidade, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles que pertence a bacia, trata o esgoto gerado por 480 mil moradores, sendo que apenas 207 mil habitantes residem na bacia, segundo a resolução CONAMA 357/2005, ela determina que todo corpo hídrico sem classificação de água só pode ser usado como receptor de água se o efluente se enquadrar na classe 2, porém o rio Anhanduí já recebe água de seus contribuintes com classe 3, para que se tornasse possível o uso da bacia para a emissão do esgoto tratado foi necessário se realizar um estudo com o enquadramento do rio.
Com isso elaborou-se a Resolução CERH/MS Nº 18/2012, que enquadrou o rio Anhanduí como sendo de classe 3 e também estabeleceu metas para a classificação da qualidade da água da bacia para 10 anos (2022) e 15 anos (2027).
Lei Complementar Nº 74/2005
A nível municipal existe a Lei Complementar Nº 74/2005 (LC 74) consolidada em 2013 que é a lei de uso e ocupação do solo, que foi desenvolvida com a intenção de proporcionar um adensamento populacional adequado e desenvolvimento sustentável, essa lei foi uma grande conquista, mas com o passar dos anos nota-se que ela precisar ser revista e alguns novos conceitos como poluição difusa deve ser incorporados, para atender as metas da CERH/MS Nº 18/2012.
Nessa lei municipal destacam-se alguns pontos, um item importante é a criação de Corredores Viários, esses corredores são ruas e avenidas que possuem uma grande importância, seja pelo trânsito, seja pela ocupação dos imóveis (comércios, industriais, serviços públicos, etc.).
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
93
2.6 POLUIÇÃO DIFUSA
Em áreas urbanas a impermeabilização do solo e a consequentemente mudança da composição da água escoada afeta diretamente a qualidade da água da bacia, elevando principalmente os níveis de DBO, N e P. Com isso foram coletados dados dos estabelecimentos poluidores legalmente licenciados no órgão responsável (SEMADUR), os estabelecimento selecionados foram os com alto impacto de fósforo, dos quais utilizam detergente e estabelecimentos com grande impacto no movimento de veículos, com os dados elaborou-se um mapa de calor com as concentrações desses estabelecimento e comparou-se com as concentrações acima do limite no parâmetro Fósforo Total obtidos dos testes IQA.
2.7 CORRELAÇÃO ENTRE MAPA SÍNTESE E IQA
Com os valores dos pixels obtidos no mapa síntese calculou-se a correlação entre os valores dos pixels obtidos e IQA de cada microbacia do rio Anhanduí. Do total de 8 microbacias 2 não apresentam pontos de coletas de água (microbacias 2 e 8), na microbacia 1 (onde localiza-se a ETE Los Angeles) há 4 pontos de coleta, escolheu-se o ponto de coleta a montante da ETE Los Angeles para que o impacto pontual da ETE não influencie na correlação, que teve como objetivo espacializar as fontes de poluição difusa que existem ao longo da bacia do rio Anhanduí. Para esse cálculo de correlação utilizou-se o método de Pearson, para estabelecer a relação entre as concentrações das classes potencialmente poluidoras com o IQA ao longo da bacia do rio Anhanduí.
3.RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas classes de serviço e comercial nota-se uma concentração na parte norte da bacia que é a região próxima ao centro da cidade, e também uma grande concentração em dois corredores viários (CV). Esses CV são a Avenida Bandeirantes e a Rua Brilhante classificados como C3 pela Lei Complementar Nº74/2005. Essa classificação permite usos especiais para os imóveis lindeiros (com acesso direto a via urbana) a essas ruas.
Devido a essa classificação os imóveis possuem uma taxa de ocupação maior, ou seja, maior área construída estimulando um maior fluxo de pessoas e veículos. Aumentando o potencial poluidor das atividades a serem desenvolvidas nesses locais.
Na classe residencial possui uma ocupação uniforme ao longo da bacia, sendo a parte extremo sul uma exceção com uma menor concentração de imóveis desta classe. E as outras classes possuem um comportamento similar tendo uma concentração menor do que as demais classes.
Levou-se em consideração a área gerada pelo diagrama de Voronoi para aplicação da ferramenta de geoestatística, obteve-se então os mapas de calor, como pode ser visto na figura 1.
Figura 1 Mapas de calor das classes.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
94
Ao analisar os mapas de calor obteve-se valores que auxiliam no monitoramento da qualidade da água no ano de 2013, as cores em questão mostram a concentração de potenciais poluidores ao longo da bacia, a mancha acompanha a qualidade da água. Como pode ser visto na Figura 2
Figura 2: Mapa de distribuição das concentrações de potenciais classes poluidoras.
4.CONCLUSÕES
O valor de correlação obtido mostra que o CTM apesar de ser um cadastro de fácil acesso, não possui informações suficientes para apresentar um alto índice de correlação, alguns fatores analisados que podem influenciar isso é que o CTM aborda a parcela como menor unidade e não dispõe de valor relacionados à complexidade do imóvel assim como os números de pavimentos de cada empreendimento. Podendo aumentar o impacto de edifícios comerciais ou residenciais.
As altas concentrações de fósforo ao longo da bacia evidenciam um indicio de alto impacto de atividades envolvendo detergente e similar, expondo a necessidade de uma melhor análise nas licenças ambientais e uso dos imóveis na bacia.
As concentrações acima do limite nos parâmetros de DBO podem ser indícios de lançamento clandestino de esgoto ligados a rede coletora de água pluvial, ou também o carreamento de matéria orgânica devido a chuva.
O conceito de poluição difusa deve ser incorporado nas leis de uso e ocupação do solo pelos tomadores de decisões, para levar em consideração a concentração das atividades com potenciais poluidoras. Ou então o desenvolvimento de técnicas e tecnologias para a redução do impacto poluidor das galerias de águas superficial.
Outra necessidade é a elaboração de um plano para o cumprimento das metas estabelecidas pela Resolução CERH/MS Nº18/2012.
REFERÊNCIAS
[1] Esri – Environmental Systems Research Institute, Inc. ArcGIS Professional GIS for desktop, version 10.5. Software. 2017.
[2] Iark, D.; Godoy, M. A. F.; Furtado, A. O.; Vicentini, V. E. P.; Conte, H. Contaminação de águas pluviais por efluente de funilaria e pintura automotiva. Revista Uningá, vol. 51(3), pp. 110-116, 2017.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
95
[3] Oliveira, P. T. S.; Ayres, F. M.; Peixoto Filho, G. E. C.; Martins, I. P.; Machado, N. M. Geoprocessamento como ferramenta no licenciamento ambiental de postos de combustíveis. Sociedade & Natureza, Uberlândia, n. 20(1), p. 87-99, junho
[4] 2008.
[5] Santos, I. J. A.; Silva, J. A. G.; Silva, J.; Mendes, T. R. M.; souza, D. O.; Silva, G. S. Levantamento dos impactos ambientais e medidas mitigadoras para a recuperação de áreas degradadas do rio Estiva. Ciências Exatas e Tecnológicas, Alagoas, v. 4, n. 2, p. 111-124, novembro 2017.
[6] Vicente, I. T.; Cordeiro, J. Diagnóstico de degradação do Ribeirão Candidópolis, Itabira (MG): uma contribuição para propostas de restauração. Research, Society and Development, v. 7, n. 2, p. 01-28, e472137, 2018.
[7] Wohlfart, C.; Mack, B.; Liu, G.; Kuenzer, C. Multi-faceted land cover and land use change analyses in the Yellow River Basin based on dense Landsat time series: Exemplary analysis in mining, agriculture, forest, and urban areas. Applied Geography, vol. 87, p. 73-88, ano 2017.
[8] Zampella, R. A.; Procopio, N. A.; Lathrop, R. G.; Dow, C. L. Relationship of land-use /land-cover patterns and surface-water quality in the Mullica river basin. Journal of the American Water Resources Association, vol. 43, n. 3, ano 2007.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
96
Capítulo 15
Impacto do uso de pesticidas na sobrevivência das abelhas produtoras de mel
Fabrynne Mendes de Oliveira
Francisca Klívia Nogueira Barbosa
Lázaro Henrique Pereira
Francisco Rodrigo de Lemos Caldas
Paulo Sérgio Silvino Nascimento
Resumo: O uso de pesticidas nas culturas de plantio tem aumentado excessivamente nos
últimos anos, causando graves prejuízos aos organismos vivos diretamente atingidos,
bem como, seres não-alvos. A utilização desses produtos nas áreas onde as abelhas
exercem suas atividades como agentes polinizadores causa interferências significantes
na sua produtividade. A revisão sistemática estabelece um estilo de pesquisa a qual as
atividades estão relacionadas ao tratamento de dados com embasamento científico,
oriundo de publicações com referências importantes, sucessivamente, a construção de
uma tabela que reúne uma generalização quantitativa das principais ideias obtidas na
leitura e análise. O principal objetivo do levantamento bibliográfico realizado foi
identificar nas pesquisas mais recentes os estudos a respeito dos efeitos da utilização
dos pesticidas nas abelhas produtoras de mel. Realizou-se em duas bases de dados
científicos: Scielo e Scopus, utilizando dois descritores para limitação dos artigos:
pesticides e honeybees, aplicados dois filtros para escolha dos periódicos: tempo e área,
de 2018 a 2019, na área de estudo ciências ambientais. Com a construção da tabela foi
possível verificar que o pesticida clotianidina tem maior reincidência nos estudos
analisados, sendo o mais prejudicial aos seres não-alvos, totalizando 11 estudos
relatando os seus efeitos negativos, em sequência o tiametoxam em 8 estudos,
clorpirifós e imidaclopride apresentados em 5 estudos. Os dados mostram o crescente
interesse em analisar os efeitos dos pesticidas nos seres indiretamente atingidos.
Palavras-chave: Polinizadores; neonicotinóides; pesticidas; abelhas.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
97
1 INTRODUÇÃO
Para controlar o uso de pragas que atacam as plantações, tem-se utilizado de diversos produtos químicos os quais tem permeado a biosfera, esses resíduos além de causar malefícios aos organismos alvos, também causam a exposição de indivíduos não alvos. Por conta da falta de estudos sobre as consequências dos efeitos tóxicos das misturas químicas e da sua exposição geral a diversos organismos, torna-se difícil avaliar os reais riscos causados pela exposição a esses contaminantes. Por conta da diversidade de pesticidas e subprodutos gerados, se faz necessário uma análise de diversos cenários de forma individual, como por exemplo, a relação entre o uso de pesticidas e a saúde de insetos polinizadores (PRADO et al, 2019).
As abelhas apresentam uma função importante, pois são polinizadores em potenciais de culturas e diversas plantas em todo o mundo. Outra importante função das abelhas se dá pela nutrição humana, pois além da produção do mel, ela ainda é responsável pelo fornecimento de fontes vegetais. Porém, o fenômeno conhecido como o colapso das colônias está se tornando fator preocupante, devido a ocorrência de um descontrole causado pelo declínio da população de abelhas pode haver um grande impacto nos ecossistemas e principalmente aos seres humanos (TONG et al, 2018).
Alguns fatores podem ocasionar o colapso das colônias de abelhas, como a nutrição, doenças, mudanças climáticas, destruição de habitat e o uso de pesticidas. Um dos fatores que tem uma contribuição significativa para o declínio desses polinizadores é a contaminação química, ocasionada pelo uso de pesticidas, podendo ser considerada uma das mais danosas para a vida das abelhas. Essa contaminação ocorre em fontes alimentares, por conta disso é necessário monitorar as fontes de alimento das abelhas para resíduos químicos, já que os pesticidas são aplicados constantemente e de forma difusa em plantações agrícolas, assim como seus feitos na vida das abelhas, como a sua produção e longevidade (TONG et al, 2018).
As atividades que a revisão sistemática propôs iniciou com a caracterização das bases de dados, o levantamento bibliográfico de acordo com as bases e filtros determinados para, então, realizar análise detalhadamente das informações que estão contidas na tabela que foi construída como resultado da pesquisa.
2 OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi estabelecer uma visão geral sobre a problemática proposta, quantificando estudos relacionados aos descritores escolhidos para determinar os pesticidas que mais influenciam na produtividade das abelhas produtoras de mel. Todos esses aspectos foram escolhidos visando obter somente as informações mais atuais e relevantes para sobrepor e comparar os dados semelhantes numa mesma esfera da problemática.
3 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado por meio de uma revisão sistemática da produção científica sobre a problemática delineada. Foram escolhidas duas bases de dados cientificas, Scielo e Scopus, incluindo as publicações de domínio público e restrito, utilizando dois descritores para a limitação dos artigos selecionados: pesticides e honeybees, os quais se aplicaram dois filtros para escolha dos periódicos: tempo e área. O período das publicações foi de 2018 e 2019 e a área de estudo escolhida foi ciências ambientais. As publicações que foram encontradas só foram contabilizadas uma vez, excluindo os artigos que não contivessem elementos do padrão estabelecido.
A revisão sistemática foi uma pesquisa onde as atividades foram relacionadas ao tratamento de dados com embasamento científico provenientes de publicações dentro dos critérios já citados e com referências relevantes para a construção da tabela. Os artigos que passaram para segunda triagem de leitura e análise tiveram suas principais informações contidas numa generalização quantitativa dos principais pesticidas que afetam o organismo das abelhas.
Os dados foram provenientes da caracterização das bases de dados Scielo e Scopus, do levantamento bibliográfico das publicações em cada uma e exclusão dos trabalhos que não estivessem contidos nos filtros dos descritores, tempo e área. A segunda triagem foi feita por meio de uma leitura mais detalhada das informações, em que se destacavam artigos que continham informações essenciais para a construção da tabela: nome do pesticida, efeito no organismo produtor de mel e quantidade de trabalhos que o
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
98
mencionava. O resultado da revisão sistemática foi disposto em uma tabela que permite uma melhor visualização e assimilação das informações.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os artigos foram selecionados através da análise da produção científica recente, partindo da leitura dos abstracts das 56 publicações distribuídas nas duas bases de dados, em que foram selecionados 25 artigos que apresentavam os efeitos nas abelhas do uso de determinados pesticidas. A partir da leitura de todo o material obtido, foram excluídos 31 artigos, sob os quais não apresentavam os dados desejados para a avaliação, ou seja, os artigos que não apresentavam a relação de causa e efeito entre o uso de pesticidas e suas consequências para os organismos não-alvos. Os 25 artigos selecionados foram lidos na íntegra, a fim de observar os resultados e conclusões sobre os estudos relacionados aos efeitos já constatados. Todos os artigos de interesse foram selecionados e concentradas suas informações em uma tabela, que representa aproximadamente 45% do total de artigos identificados dentro dos critérios determinados.
Tabela 1: Pesticidas e seus efeitos nas abelhas produtoras de mel
PESTICIDAS EFEITOS N°
Clotianidina
Redução da longevidade
11 Redução da taxa de sobrevivência Problemas nas atividades locomotoras Redução nas atividades de forrageamento Redução da frequência de acasalamento das abelhas rainhas
Tiametoxam
Redução nas atividades de forrageamento
8 Alta taxa de mortalidade Redução da frequência de acasalamento das abelhas rainhas Distúrbios neurofisiológicos em abelhas
Clorpirifós Redução da taxa de sobrevivência
5 Redução nas atividades de forrageamento
Imidaclopride Redução nas atividades de forrageamento
5 Alterações na regulação das sinapses, regulação da apoptose e estresse oxidativo
Tiaclopride Incapacitação do sistema imunológico
2 Alta taxa de mortalidade
Lambda-cialotrina Redução nas atividades de forrageamento
1 Alta taxa de mortalidade
Abamectina Redução nas atividades de forrageamento
1 Alta taxa de mortalidade
Espinosad Redução nas atividades de forrageamento
1 Alta taxa de mortalidade
Benzoato Redução nas atividades de forrageamento
1 Alta taxa de mortalidade
Emamectina Redução nas atividades de forrageamento
1 Alta taxa de mortalidade
Coumaphos Redução da taxa de sobrevivência
1 Alta taxa de mortalidade
Tau-fluvalinato Redução da taxa de sobrevivência
1 Alta taxa de mortalidade
Chlorfenvinphos Redução da taxa de sobrevivência
1 Alta taxa de mortalidade
Pyrethrins Paralisia
1 Efeito instantâneo ("knock down")
Piperonil butoxide Redução da taxa de sobrevivência
1 Alta taxa de mortalidade
Clorotalonil Redução da taxa de sobrevivência 1
Geraniol Problemas nas atividades locomotoras
1 Perda das atividades de forrageamento
Fuberidazol Redução da taxa de sobrevivência
1 Alta taxa de mortalidade
Metalaxil Problemas nas atividades locomotoras
1 Danos no sistema imunológico
Spiroxamine Problemas nas atividades locomotoras
1 Danos no sistema imunológico
Fonte: Dados da Pesquisa
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
99
A partir da construção da tabela, averiguou-se que o pesticida clotianidina foi um dos que apresentou maior quantidade de estudos publicados e que apresentou também uma maior quantidade de efeitos em organismos não-alvo, totalizando um número de 11 estudos sobre as consequências do seu uso. Além de provocar a redução da longevidade e da taxa de sobrevivência, ainda causa problemas nas atividades locomotoras e diminuição nas ações de forrageamento (ALKASSAB E KIRCHNER, 2018; MACDONALD ET AL., 2018; ODEMER ET AL., 2018).
Logo após a clotianidina, o tiametoxam vem em segundo lugar com 8 artigos de estudo relacionado aos seus efeitos. Os pesticidas clorpirifós e imidaclopride apresentaram 5 estudos cada um sobre seus efeitos, além de causar danos nas atividades de forrageamento e diminuir a taxa de sobrevivência, ainda foi constatado que o imidaclopride causava também alteração na regulação da sinapse das abelhas (COULON ET AL., 2018; JIANG ET AL., 2018; TONG ET AL., 2018; MACDONALD ET AL., 2018; OVERMYER ET AL., 2018; PIECHOWICZ ET AL., 2018; TOSI ET AL., 2018).
O tiaclopride, a partir das pesquisas alavancadas, totalizou um número de dois artigos sobre seus efeitos, que inclui a alta taxa de mortalidade das abelhas expostas a esse produto e uma imunodeficiência, ou seja, incapacidade do seu sistema imunológico. Os pesticidas lambda-cialotrina, abamectina, espinosad, benzoato, emamectina, coumaphos, tau-fluvalinato, chlorfenvinphos, pyrethrins, piperonil butoxide, clorotalonil, geraniol, fuberidazol, metalaxil e spiroxamine, apresentaram apenas um artigo sobre os efeitos causados nas abelhas, que tratam também dos malefícios causados, como a diminuição das atividades de forrageamento, o aumento da taxa de mortalidade, problemas nas atividades locomotoras e redução da taxa de sobrevivência (ABDEL RAZIK, 2019; PERUGINI ET AL., 2018; DAI ET AL., 2018; SANTOS ET AL., 2018; BEYER ET AL., 2018; MACDONALD ET AL., 2018; TOSI ET AL., 2018).
Por conta do grande número de estudos e dos efeitos causados pelos pesticidas clotianidina, tiametoxam, imidaclopride e clorpirifós, os três primeiros do grupo dos neonicotinóides e o último dos organofosfatos, são os mais prejudiciais as abelhas polinizadoras, já que através da investigação dos dados as consequências do uso desses químicos provocaram um maior desequilíbrio ambiental nas colônias desses organismos, alterando suas atividades locomotoras, sobrevivência e até a perpetuação da espécie.
Apesar de grande parte dos artigos publicados apresentarem efeitos devastadores para a espécie em estudo, ainda existe uma parte que alega que o uso de determinados pesticidas apresentou impactos pouco significativos ou que não tiveram malefícios para os organismos não alvo, mas por conta da pequena quantidade de pesquisas sobre as consequências que podem ser causadas aos organismos não-alvos que estão inclusos nos ecossistemas, vale exemplificar a importância desses estudos para que sejam ponderados os principais riscos e os efeitos sobre a utilização de diversos produtos químicos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da problemática escolhida, verifica-se que é crescente o interesse em analisar os aspectos bioquímicos que os pesticidas podem interferir nos organismos não-alvo como as abelhas. Nas bases de dados científicas escolhidas há uma diversa gama de estudos nas mais diferentes áreas, no entanto, cada vez que se aprofunda em diferentes descritores fica notável a necessidade de analisar a produção cientifica recente a fim de obter somente informações confiáveis para mitigar seus impactos no meio ambiente.
O grupo de pesticidas neonicotinóides, representado por imidaclopride, tiametoxam, clotianidina e tiaclopride, foi mencionado em diversas publicações, confirmando seu alto risco de contaminação. Além disso, a lista de impactos associados a cada um deles é em número maior quando comparado a pesticidas de outras classes e menos mencionados nas publicações.
A partir do levantamento bibliográfico realizado foi possível notar que o Brasil ainda não contém números significativos de estudos relacionados aos efeitos dos pesticidas nas abelhas, dificultando o acesso aos dados e a mitigação dos impactos da utilização desses componentes no território brasileiro.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
100
REFERÊNCIAS
[1] ABDEL RAZIK, M. A. A. (2019). Toxicity and side effects of some insecticides applied in cotton fields on apis mellifera. Environmental Science and Pollution Research, 26(5), 4987-4996. doi:10.1007/s11356-018-04061-6. Disponivel em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-018-04061-6>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[2] ALKASSAB, A. T., & KIRCHNER, W. H. (2018). Assessment of acute sublethal effects of clothianidin on motor function of honeybee workers using video-tracking analysis. Ecotoxicology and Environmental Safety, 147, 200-205. doi:10.1016/j.ecoenv.2017.08.047. Disponivel em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651317305432?via%3Dihub>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[3] BEYER, M., LENOUVEL, A., GUIGNARD, C., EICKERMANN, M., CLERMONT, A., KRAUS, F., & HOFFMANN, L. (2018). Pesticide residue profiles in bee bread and pollen samples and the survival of honeybee colonies—a case study from luxembourg. Environmental Science and Pollution Research, 25(32), 32163-32177. doi:10.1007/s11356-018-3187-4. Disponivel em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-018-3187-4>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[4] BRIDI, R., LARENA, A., PIZARRO, P. N., GIORDANO, A., & MONTENEGRO, G. (2018). LC-MS/MS analysis of neonicotinoid insecticides: Residue findings in chilean honeys. [LC-MS/MS análises de inseticidas neonicotinoides: Resíduos encontrados em méis chilenos] Ciencia e Agrotecnologia, 42(1), 51-57. doi:10.1590/1413-70542018421021117. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542018000100051&lang=pt>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.
[5] CALATAYUD-VERNICH, P.; CALATAYUD, F.; SIMÓ, E.; PICÓ, Y. (2018). Pesticide residues in honey bees, pollen and beeswax: Assessing beehive exposure. Environmental Pollution, 241, 106-114. doi:10.1016/j.envpol.2018.05.062. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310893#!>. Acesso em: 06 de dezembro de 2018.
[6] COULON, M., SCHURR, F., MARTEL, A. -., COUGOULE, N., BÉGAUD, A., MANGONI, P., . . . DUBOIS, E. (2018). Metabolisation of thiamethoxam (a neonicotinoid pesticide) and interaction with the chronic bee paralysis virus in honeybees. Pesticide Biochemistry and Physiology, 144, 10-18. doi:10.1016/j.pestbp.2017.10.009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048357517301633?via%3Dihub>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[7] DAI, P., JACK, C. J., MORTENSEN, A. N., BLOOMQUIST, J. R., & ELLIS, J. D. (2018). The impacts of chlorothalonil and diflubenzuron on apis mellifera L. larvae reared in vitro. Ecotoxicology and Environmental Safety, 164, 283-288. doi:10.1016/j.ecoenv.2018.08.039. Diponivel em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765131830770X?via%3Dihub>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[8] GILIOLI, G., SPERANDIO, G., HATJINA, F., & SIMONETTO, A. (2019). Towards the development of an index for the holistic assessment of the health status of a honey bee colony. Ecological Indicators, 101, 341-347. doi:10.1016/j.ecolind.2019.01.024. Disponivel em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19300391?via%3Dihub>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[9] JIANG, J., MA, D., ZOU, N., YU, X., ZHANG, Z., LIU, F., & MU, W. (2018). Concentrations of imidacloprid and thiamethoxam in pollen, nectar and leaves from seed-dressed cotton crops and their potential risk to honeybees (apis mellifera L.).Chemosphere, 201, 159-167. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.02.168. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518303801?via%3Dihub>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[10] MACDONALD, A. M., JARDINE, C. M., THOMAS, P. J., & NEMETH, N. M. (2018). Neonicotinoid detection in wild turkeys (meleagris gallopavo silvestris) in ontario, canada. Environmental Science and Pollution Research, 25(16), 16254-16260. doi:10.1007/s11356-018-2093-0. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-018-2093-0>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[11] ODEMER, R., NILLES, L., LINDER, N., & ROSENKRANZ, P. (2018). Sublethal effects of clothianidin and nosema spp. on the longevity and foraging activity of free flying honey bees. Ecotoxicology, 27(5), 527-538. doi:10.1007/s10646-018-1925-5. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10646-018-1925-5>. Acesso em: 12 de março de 2019.
[12] OVERMYER, J., FEKEN, M., RUDDLE, N., BOCKSCH, S., HILL, M., & THOMPSON, H. (2018). Thiamethoxam honey bee colony feeding study: Linking effects at the level of the individual to those at the colony level. Environmental Toxicology and Chemistry, 37(3), 816-828. doi:10.1002/etc.4018. Disponivel em: <https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4018>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[13] PRADO, A.; PIOZ, M.; VIDAU, C.; REQUIER, F.; JURY, M.; CRAUSER, D.; BRUNET, J.; CONTE, Y. L.; ALAUX, C. (2019). Exposure to pollen-bound pesticide mixtures induces longer-lived but less efficient honey bees. Science of the
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
101
Total Environment, 650, 1250-1260. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.09.102. Disponvel em:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718335447>. Acesso em: 06 de dezembro de 2018.
[14] PERUGINI, M., TULINI, S. M. R., ZEZZA, D., FENUCCI, S., CONTE, A., & AMORENA, M. (2018). Occurrence of agrochemical residues in beeswax samples collected in italy during 2013–2015. Science of the Total Environment, 625, 470-476. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.12.321. Disponivel em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717337543?via%3Dihub>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[15] PIECHOWICZ, B., SZPYRKA, E., ZARĘBA, L., PODBIELSKA, M., & GRODZICKI, P. (2018). Transfer of the active ingredients of some plant protection products from raspberry plants to beehives. Archives of Environmental Contamination and Toxicology,75(1), 45-58. doi:10.1007/s00244-017-0488-4. Disponivel em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-017-0488-4>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[16] SANTOS, A. C. C., CRISTALDO, P. F., ARAÚJO, A. P. A., MELO, C. R., LIMA, A. P. S., SANTANA, E. D. R., . . . BACCI, L. (2018). Apis mellifera (insecta: Hymenoptera) in the target of neonicotinoids: A one-way ticket? bioinsecticides can be an alternative.Ecotoxicology and Environmental Safety, 163, 28-36. doi:10.1016/j.ecoenv.2018.07.048. Disponivel em:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651318306432?via%3Dihub>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[17] TONG, Z.; DUAN, J.; WU, Y.; LIU, Q.; HE, Q.; SHI, Y.; YU, l.; CAO, H. (2018). A survey of multiple pesticide residues in pollen and beebread collected in china. Science of the Total Environment, 640-641, 1578-1586. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.04.424. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718316231?via%3Dihub>. Acesso em: 06 de dezembro de 2018.
[18] TOSI, S., COSTA, C., VESCO, U., QUAGLIA, G., & GUIDO, G. (2018). A 3-year survey of italian honey bee-collected pollen reveals widespread contamination by agricultural pesticides. Science of the Total Environment, 615, 208-218. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.09.226. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717325779?via%3Dihub>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.
[19] TSVETKOV, N., SAMSON-ROBERT, O., SOOD, K., PATEL, H. S., MALENA, D. A., GAJIWALA, P. H., . . . ZAYED, A. (2017). Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops. Science, 356(6345), 1395-1397. doi:10.1126/science.aam7470. Disponivel em: <http://science.sciencemag.org/content/356/6345/1395>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
102
Capítulo 16
Quantificação da radiação solar global nas diferentes estações do ano na Mesorregião Sul do Amazonas Paulo André da Silva Martins
Carlos Alexandre dos Santos Querino
Juliane Kayse Albuquerque da Silva Querino
Sara Angélica Santos de Souza
Paula Caroline dos Santos Silva
Resumo: A Radiação Solar Global (Rg) é imprescindível para os processos físicos,
químicos e biológicos. Sua importância como variável meteorológica é justificada em
estudos de necessidade hídrica de culturas irrigadas, modelagem do crescimento
vegetativo e produção vegetal, além do seu uso em energia renovável. O objetivo deste
estudo é mensurar a diferença de radiação solar global (Rg) que chega a superfície
terrestre nas estações do ano, para as cidades de Manicoré e Lábrea na mesorregião Sul
do Amazonas. Os dados foram coletados durante um ano hidrológico (março de 2018 a
março de 2019) nas estaço es meteorologicas automaticas (EMAS) do Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET) localizadas nos municípios de Manicore e Labrea, Amazonas,
Brasil. A estatística descritiva dos dados baseou-se nas Medias das estaço es do ano (Xm),
Erro Padrão (EP), Desvio Padrão (DP), Mediana (MD), Variância (V), Curtose (K) e
Assimetria (As). Os resultados mostraram que Lábrea teve maiores valores de Radiação
Global (Rg) no verão, inverno e primavera ao passo que Manicoré obteve maiores
valores no outono. Nas duas cidades o verão teve os menores valores de Rg e o Inverno
maiores, isto está diretamente ligado a sazonalidade da precipitação, pois no verão é
período chuvoso e no inverno seco o que propicia menor nebulosidade que no verão, ou
seja, menor interferência na entrada de Rg.
Palavras-chave: Climatologia; Transmissividade Atmosférica; Nebulosidade; Amazônia.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
103
1.INTRODUÇÃO
A energia oriunda do Sol que chega até a superfície da terra é o fator mais importante no desenvolvimento dos processos físicos que afetam as condições de tempo e clima, é um elemento meteorológico que influencia os processos desde a escala micrometereologica quando se tratados de fluxos turbulento até grande escala ao promover o aquecimento diferencial do planeta e gerando a circulação geral da atmosfera (BELÚCIO et al., 2014).
A radiação solar global (Rg) ao chegar a superfície da terra condiciona os demais fatores que determinam o ambiente, desta forma, é assertivo inferir de maneira geral que todos os fenômenos sejam de ordem física, química ou biológica que tenha origem no solo estão diretamente relacionados com a quantidade de radiação que chega a superfície (BORGES et al., 2010).
A Rg é utilizada não apenas nos fenômenos de ordem naturais como temperatura do ar e fotossíntese, pode ser empregada nos sistemas de aquecimento de água, geração fotovoltaica, iluminação, co-geração com outras fontes geradoras de energia podendo suprir uma grande parcela do consumo de energia a nível global principalmente onde a incidência de energia solar é mais pronunciada como a região equatorial (BERUSKI et al., 2015; COELHO, 2016).
A Rg é formada pelas componentes direta e difusa e conhecer a dinâmica dessas componentes é essencial para o entendimento da disponibilidade de energia para os mais diversos processos terrestres (QUERINO et al., 2011).
2.OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é mensurar a diferença de radiação solar global (Rg) que chega a superfície terrestre nas diferentes estações do ano com o intuito de subsidiar informações que possam ser usadas em pesquisas voltadas para energias renováveis na mesorregião sul do Amazonas.
3.MATERIAL E MÉTODOS
3.1.ÁREA DE ESTUDO
O estudo foi realizado nas cidades de Manicoré e Lábrea, ambas localizadas na mesorregião sul do Amazonas, e microrregião do Madeira e Purus. Situam-se nos quadrantes delimitados pelas coordenadas 5º 50’ 0’’ S, 61° 18’ 30’’W em Manicoré e 07°15’31” S, 64°47’53”W em Lábrea. Segundo estimativas do IBGE (2018), suas populações variam de 54.907 a 45.245 mil habitantes respectivamente (FIGURA 1).
Figura 1: Localização dos municípios de Lábrea e Manicoré, na mesorregião sul do Amazonas e
microrregião do Madeira e Purus
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
104
O clima da região, segundo a classificação de Köppen é do tipo Am (monção) (ALVARES et al., 2014), com precipitação média anual de 2699,2 mm e 2405,4 mm em Manicoré e Lábrea respectivamente. O período chuvoso acontece entre outubro e março e o período seco ocorre entre junho a agosto, sendo maio e setembro considerados períodos de transição (FIGURA 2) (PEDREIRA JUNIOR et al., 2018).
Figura 2: Montante dos totais pluviométricos, das cidades de Manicoré e Lábrea, representado pela
normal climatológica de 1981 a 2010.
3.2.COLETA DE DADOS
Foram utilizados os dados horários de Radiação Global (Rg) coletados entre março de 2018 a março de 2019 por Estações Meteorológicas Automáticas (EMAS), pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), instaladas em cada um dos municípios (Tabela 1).
Tabela 2: Informações das estações Meteorológicas automáticas do Instituto nacional de Meteorologia
(INMET). OMM (organização meteorológica mundial).
Estações Latitude Longitude Altitude (m) Código (OMM) Período dos dados
Manicoré -5° 78’ 85” -61° 28’ 82” 41 81810 2018-2019
Lábrea -7° 26’ 06” -64° 78’ 85” 62 81888 2018-2019
3.3.ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS
Os dados de Radiação global (Rg) foram analisadas estatisticamente através das Medias dos Totais Mensais (Xm), Erro Padra o (EP) (Equaça o 1), Desvio Padrão (DP) (Equação 2), Mediana (MD) (Equação 3), Curtose (K) (Equação 4) e Assimetria (As) (Equação5).
𝐄𝐏 =𝐃𝐏
√𝐧
(1)
𝐃𝐏 = √∑ = 𝟏(𝐗𝐢 − 𝐗)𝟐𝐧
𝐢
𝐧 − 𝟏
(2)
MD=(𝐧+𝟏)
𝟐 se n for ímpar.
(3) MD=
(𝐧
𝟐)+(
𝐧
𝟐+𝟏)
𝟐 se n for par.
K=𝟏
𝐧∑⌈
𝐗𝐢−𝐗
𝐃𝐏⌉𝟒 − 𝟑 (4)
As =n
(n − 1)(n − 2) ∑ [
𝑋𝐼 − 𝑋
𝐷𝑃]
(5)
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
105
Onde n é o número de observações, Xi o valor de Radiação global (Rg) observados e X é a média dos valores que foram observados das respectivas variáveis meteorológicas.
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cidade de Manicoré apresentou desvio padrão (DP), variando de 406,0 no verão a 292,6 no inverno e mediana próximas da média (Figura 3). Em ambas cidades a curtose foi positiva no verão, demonstrando uma curva leptocúrtica com valores maiores que zero, no entanto, sua distribuição tem um pico mais pronunciado diferindo de uma distribuição normal, tendo caudas pesadas. No inverno e primavera os valores foram negativos, desta forma infere-se que a curvatura destes valores foram platicúrtica, ou seja, distribuição de valores mais achatadas.
As assimetrias, tanto em Manicoré quanto em Lábrea indicam que no verão e primavera os valores tenderam a uma curvatura positiva e tendem a aglomerar maior densidade de dados no lado direito de uma curva normal, já outono e inverno apresentam leve curvatura negativa (Figura 3), sendo que ambas as estações não têm distribuição normal
Em Lábrea os valores oscilaram entre máximos 2420 Wm-2 a 23,8 wm-2 no verão. Já em Manicoré o pico máximo foi registrado na primavera 2157,4 Wm-2 e mínimo 62,5 Wm-2 no verão.
Figura 10. Estatística descritiva dos dados médios de Radiação Global (Rg) das estações do ano de um ano hidrológico de março de 2018 a março de 2019.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
106
Observa-se na figura 4, que os valores de radiação solar global (Rg) em Lábrea foram maiores que Manicoré no verão, inverno e primavera e menor no outono.
Os valores médios encontrados em Lábrea no verão são de 589,1 Wm-2, outono 662,2 Wm-2, inverno 722,5 Wm-2 e primavera 609,4 Wm-2. Já em Manicoré o verão registrou médias de 463,0 Wm-2 outono 677,5 Wm-
2, inverno 710,7 Wm-2 e primavera com 579,2 Wm-2.
Entre todas as estações do ano, percebe-se que o inverno caracteriza-se como a estação com maiores valores médios de Rg; isto pode estar relacionado com a sazonalidade da região, pois neste período embora esteja no solstício de inverno, tem-se para a região a época seca quando as precipitações não chegam a 80 mm mensais. Segundo Belúcio et al. ( 2014) neste período, essa região não tem a atuação de sistemas causadores de precipitação como a Zona de convergência intertropical (ZCIT), o que facilita a passagem de mais radiação até a superfície devido a diminuição da nebulosidade.
O verão teve as menores médias de Rg, o período chuvoso ocorre de outubro até abril (Figura 4), desta forma acredita-se que neste período a incidência de nuvens de tempestades cumulus nimbus características da região, pode ter sido a principal causa para os baixos valores de Rg pois a mesma funciona como barreira física não permitindo a entrada de Rg a superfície (JANÚARIO et al., 2017). Custodio et al. (2009) também afirma que a nebulosidade pode ser considerada como a cobertura de nuvens em um determinado local e mostra-se como um dos fatores preponderante no que diz respeito à atenuação da radiação solar, está afirmativa é ratificada por Querino et al. (2011) Belúcio et al. (2014) onde os mesmos afirmam que a ocorrência da nebulosidade durante o período chuvoso justifica a menor quantidade de Rg e insolação, visto que a refletividade de energia solar das nuvens é bem maior que do que a refletividade da atmosfera sem nuvens, o que facilita a maior ou menor transmitância.
Horel et al. (1989) Nobre et al. (2009), afirmam que nos meses de dezembro a fevereiro (verão), nesta região da Amazônia é comum a Rg apresentar os menores picos, pois sua distribuição em sua grande parte é controlada pela nebulosidade que está totalmente relacionada a convecção amazônica.
Resultados parecidos foram encontrados por Aguiar et al. (2011) para valores de Rg em dois sítios experimentais no Pará-Brasil, onde os mesmos apresentaram valores menores no verão (período chuvoso) e maiores no inverno (período seco). Já em Macapá estas diferenças não apresentaram grande variabilidade devido à região não apresentar estações de seca e chuva características, mas sim uma estação com chuvas excedentes e outra com chuvas moderadas.
A Mensuração da Rg auxilia cálculos de geração de energia fotovoltaica, Gois et al. (2017) em estudo realizado na mesorregião Sul do Amazonas identificou grande potencial para instalação de energia fotovoltaica, o autor identificou no inverno a maior geração de energia, período com menor interferência na transmitância atmosférica, ao passo que o verão tem a menor geração de energia em razão da maior interferência na entrada da Rg, ou seja, a radiação direta é menor causada pela interferência de nuvens de tempestades, características atmosféricas especificas do período chuvoso que ocorre na estação do verão.
Figura 11: Valores médios da Radiação Global (Rg), nas estações do ano das cidades de Manicoré e Lábrea
dos anos de 2018 a 2019.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
107
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo como os resultados até aqui apresentados, conclui-se que:
A estação de verão é responsável pelos menores valores médios de Radiação Solar Global (Rg), seguida pela primavera e posteriormente pelo outono.
Já o inverno obteve as maiores médias de Rg em relação as outras estações do ano.
Infere-se também que a sazonalidade da precipitação está diretamente relacionada as diferenças de Rg em todas as estações do ano.
Observa-se que para estudos de energia Solar, a estação de inverno tem maior eficiência por ter maiores valores de Rg e Verão a menor.
AGRADECIMENTOS
À CAPES pelo apoio concedido ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM pela concessão da bolsa de mestrado do primeiro autor através do Edital: RESOLUÇÃO N. 002/2016 - POSGRAD 2017 – UFAM. Ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) pela disponibilidade dos dados.
REFERÊNCIAS
[1] Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G.. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, 711 – 728, 2013. DOI: http://doi.org/101127/0941-2948/2013/0507 [2] Aguiar, L. J. G.; Costa, J.M. N.; Fischer, G. R.; Aguiar, R. G.; da Costa, A. C. L.; Ferreira, W. P. M. Estimativa da radiação de onda longa atmosférica em áreas de floresta e pastagem no sudoeste da Amazônia. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 26, p. 215-224, 2011 [3] Beruski, G. C.; Pereira, A. B.; Sentelhas, P. C. Desempenho de diferentes modelos de estimativa da radiação solar global em Ponta Grossa, PR. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 30, n. 2, p. 205-213, 2015. [4] Belúcio, L. P.; Silva, A.P.N.; Souza, L.R.; Moura, G.B.A. Radiação solar global estimada a partir da insolação para Macapá (AP). Revista Brasileira de Meteorologia. vol.29 no.4, 2014. http://dx.doi.org/10.1590/0102-778620130079 [5] Borges, V. P.; Oliveira, A. S.; Coelho Filho, M. A.; Silva, T. S. M.; Pamponet, B. M. Avaliação de modelos de estimativa da radiação solar incidente em Cruz das Almas, Bahia. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, p. 74-80, 2010. [6] Coelho, L. D. N.. Modelos de estimativa das componentes de Radiação Solar a partir de dados Meteorológicos. Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília – UNB. Departamento de Engenharia Mecânica. Brasília –DF, 2016. [7] Custódio, M.S.; Berlato, M. A.; Fontana, D. C. Nebulosidade diurna no Rio Grande do Sul, Brasil: climatologia e tendência temporal. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v.15, n.1, p.45-52, 2009.
[8] Gois, D. A.; Querino, C. A. S. ; Querino, J. K. A. S. ; Moura, A. R. M. ; Santos, L. O. F. Analise da viabilidade econômica - financeira da energia solar fotovoltaica no prédio administrativo IEAA/UFAM, no município de Humaitá-amazonas. In: XVI Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental & IV Fórum Latino- americano de Engenharia e Sustentabilidade, 2018, Palmas/Tocantins. XVI Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental & IV Fórum Latino- americano de Engenharia e Sustentabilidade, 2018.
[9] Horel, L. D., A. N. Hahmann, and J. E. Geisler. An investigation of convective activity over the Tropical Americas, J. Clim., 2, 1388-1403. 1989.
[10] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Amazonas. 2018. [11] INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Brasília, DF. 465p. 2009.
[12] Januario, I. R.;Moura, M.A.L.; Santos, M. F.; Vasconcelos, F.L.; Barros, R.F. Análise da Radiação Solar Global (Rg) e Albedo Superficial em um ecossistema de Mata Atlântica durante o período Chuvoso. X Workshop Brasileiro de Micrometeorologia, Anais Santa Maria-RS, 2017.
[13] Nobre, C.; Obregon, G.; Marengo J. A.; FU, R.; Poveda, G. Characteristics of Amazonian Climate: Main Features. In: Eds M. Keller, M. Bustamente, J. Gash, P. L Silva Dias. (Org.). Amazonia and Global Change. 1ed. Washington DC, USA: American Geophysical Union, v. 186, p. 149-162, 2009.
[14] Pedreira Junior, A. L.; Querino, C. A. S.; Querino, J. K. A. S.; Santos, L. O. F.; Moura, A. R. M.; Machado, N. G.; Biudes, M. S. Variabilidade horária e intensidade sazonal da precipitação no município de Humaitá-AM. Revista Brasileira de Climatologia, v. 22, p. 463-475, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v22i0.58089
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
108
[15] Querino, C.A.S.; Moura, M.A.L.; Querino, J.K.A. da S.; Von Radow, C.; Marques Filho, A. de O. Estudo da radiação solar global e do índice de transmissividade (KT), externo e interno, em uma floresta de mangue em Alagoas-Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v.26, n.2, p.204-294, 2011.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
109
Capítulo 17
Conflitos socioambientais decorrentes das políticas energéticas na Amazônia1 legal
Alessandra Renata Freitas Fontes
Dante Severo Giudice
Resumo: O vigente artigo tem como propósito analisar questões relativas a conflitos
socioambientais, no que diz respeito as incompatibilidades entre políticas públicas
energéticas do Brasil e a preservação ambiental. Além do mais, é possível determinar a
semelhança entre as consequências da implantação do complexo hidrelétrico do Tapajós
e a hidroelétrica de Xingu (onde se situa a usina Belo Monte), já que as mesmas são
muito parecidas: especulação imobiliária no meio rural, que ocasionou um surto de
desmatamento; degradação florestal; e, por fim, desmatamento intenso nos municípios
afetados pela construção das usinas. Vale ressaltar que a atual abordagem possui como
finalidade geral analisar qual o impacto das pressões de cunho político, exercidas por
determinados setores econômicos brasileiros, tem sido consumado na criação de
políticas energéticas no território nacional. Outrossim, planeja-se analisar de que forma
as pressões efetuadas por certos grupos econômicos têm criado uma tendência do
licenciamento ambiental no Brasil, no que tange a criação de políticas energéticas.
Palavras Chave: Políticas energéticas. Conflitos socioambientais Licenciamento
Ambiental.
1O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela residem 56% da população indígena brasileira. O que é Amazônia Legal? A revista de informações e debates do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada. Ano 5. Edição 44 - 08/06/2008. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28> Acesso em 10 de junho de 2019.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
110
1.INTRODUÇÃO
O atual trabalho arqueia-se sobre questões relativas a conflitos socioambientais, principalmente em relação as incompatibilidades entre políticas públicas energéticas do Brasil e a preservação ambiental. Realizando-se uma análise contemporânea, é possível afirmar que a ingerência exercida pela bancada ruralista do Congresso Nacional, afeta os poderes executivo e legislativo a considerar o meio ambiente como algo inoportuno e de pouca relevância futura.
Logo, hoje em dia, é possível vislumbrar a construção de um mecanismo que tem o objetivo de anular as restrições regulatórias impostas pela legislação ambiental, seja na esfera política ou jurídica.
Averiguando-se a perspectiva histórica, pode-se alegar que a construção e implementação de usinas hidroelétricas no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, deu-se em razão de um discurso desenvolvimentista, de progresso e expansão econômica. Nesta perspectiva desenvolvimentista, são as águas represadas pelas usinas que ensejam o fornecimento de energia, e representam o esforço de fazer do reservatório e da usina territórios cujos signos sejam os da tecnologia e da modernidade.2
Considerando-se as práticas atuais, é possível determinar uma correlação entre a politica governamental atual, e a politica governamental adotada no período do regime civil-militar, quando esse, com o seu discurso de povoamento e desenvolvimento da região da Amazônia, destinou terras para agropecuaristas e especuladores, criou áreas de mineração, abriu rodovias e construiu diversas usinas hidrelétricas.
Em função disso, certifica-se que a destruição do meio ambiente na Amazônia está ligada historicamente à exploração econômica desenfreada da região para suprir o mercado mundial, com a exploração depreciativo da mão-de-obra, retenção mínima de riqueza na região, desarticulação social e miséria das populações locais, inflacioanda pelo desenvolvimento dos meios de transporte e introdução de tecnologia avançada na produção, em especial na agricultura e na pecuária extensivas.3
Seguindo esta linha de entendimento, pode-se confirmar que tais intervenções práticas são geradas em detrimento das pressões exercidas por determinados setores econômicos, especialmente do agronegócio, dedicado a constituir um novo eixo logístico para fluxo de commodities, contribuindo significativamente para a “intensificação de atividades econômicas frequentemente predatórias e ilegais, ameaçando os modos de vida e a integridade dos territórios de indígenas, ribeirinhos e camponeses, entre outros grupos”.4
Da mesma maneira, mediante análise de dados, depreende-se que as tomadas de decisões governamentais sobre os custos e benefícios desses projetos têm sido enviesadas, a atender, sobretudo a interesses privados, o que tem levado a investimentos ineficientes (ou mesmo ineficazes) e a elevados custos sociais. 5
Quanto aos impactos causados pela implantação de usinas hidrelétricas, estes atingem desde os fatores abióticos (solo, água, clima) e bióticos (flora, fauna aquática e terrestre) até os fatores socioeconômicos e culturais da população do local da implantação do projeto.6
2.LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO TAPAJÓS
2 KARPINSKI Cezar. Revista Percursos. Florianópolis, v. 09, n. 02, ano 2008, pág. 71 – 84. Hidrelétricas e Legislação Ambiental Brasileira Nas Décadas De 1980-90. Disponível em < http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/viewFile/1557/1463> Acesso em 18 de maio de 2018. 3 GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Os desafios do desenvolvimento na Amazônia. Disponível em <http://www.voltairenet.org/article125777.html>. Acesso em 10 de maio de 2018. 4 SOUSA JÚNIOR, Wilson Cabral de. Tapajós: do rio à luz. Ocekadi : hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na Bacia do Tapajós / Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan e Mauricio Torres, organizadores. -- Brasília, DF : International Rivers Brasil ; Santarém, PA : Programa de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, 2016 5 Id.,Ibid. 6 MÜLLER, Antonio Carlos. Hidrelétricas, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Makron Brooks, 1995, apud KARPINSKI Cezar. Hidrelétricas e Legislação Ambiental Brasileira Nas Décadas De 1980-90.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
111
A bacia do rio Tapajós abarca 492.000 km², compreendendo os estados de Mato Grosso (onde tem início sua nascente), Pará, Amazonas e uma pequena porção de Rondônia, ligando o cerrado à Amazônia (Figura 1).
Figura 1 – Bacia do Rio Tapajós
O Tapajós nasce na confluência dos rios Juruena e São Manuel (Teles Pires), tendo como afluentes principais os rios Jamanxim, Crepori, Teles Pires e Juruena. As cabeceiras dos rios Juruena e Teles Pires encontram-se em uma área de Cerrado, remodelada, significativamente, por interações humanas.7
Urge reforçar que a Bacia do rio Tapajós abrange 6% das águas da Bacia Amazônica, sendo a quinta maior bacia do sistema. Além disto, o rio Tapajós é o único dos grandes afluentes da margem direita do rio Amazonas ainda não represado para produção de eletricidade em larga escala. No entanto, atualmente, a bacia do rio Tapajós é considerada a grande fronteira hidrelétrica e de desenvolvimento econômico na Amazônia. 8
Portanto, pode-se afirmar que a bacia supramencionada é uma das mais ameaçadas da região da Amazônia, por projetos de empreendimentos hidrelétricos construídos ou em processo de implantação, haja vista que não estão sendo levados em consideração o efeito cumulativo de degradação em larga escala oriundo da implantação destas barragens na região.
No mais, é imprescindível destacar que o planejamento da matriz elétrica na região, geralmente, despreza as dimensões da escala da bacia, sejam elas de cunho geomorfológico, ecológico ou político. Outrossim, não são avaliados os impactos ambientais nas escalas regionais a continentais, fator que cria os chamados efeitos cumulativos, que levam à degradação em larga escala da planície de inundação e dos ambientes costeiros.9
7 Op. cit. 8Programa de Ciências WWF-Brasil. Portal dos Rios Amazônicos. Tapajós. Disponível em <http://amazonriversplatform.org/pb/temas/projeto-tapajos/>. Acesso em 22 de maio de 2018. 9 Latrubesse EM1,2, Arima EY1, Dunne T3, Park E1, Baker VR4, d'Horta FM5, Wight C1, Wittmann F6, Zuanon J5, Baker PA7,8, Ribas CC5, Norgaard RB9, Filizola N10, Ansar A11, Flyvbjerg B11, Stevaux JC12. Damming the rivers of the Amazon basin. Revista Nature. Disponível em < https://www.nature.com/articles/nature22333> Acesso em 20 de abril de 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
112
Os projetos de implantação de barragens na bacia do Tapajós são de grande superfície, tendo em vista que totalizam 43 “grandes” aproveitamentos hidrelétricos, fixados como aqueles com “mais de 30 megawatts de capacidade instalada, sendo que quase todas elas possuem capacidade muito superior a 30 megawatts. ”10
Três delas ficariam no rio Tapajós e quatro, no rio Jamanxim (afluente do rio Tapajós no estado do Pará). Para os afluentes no estado de Mato Grosso, há seis barragens planejadas na bacia do rio Teles Pires e 30 na bacia do rio Juruena. Ademais, existem projetos de implantação de diversas centrais hidrelétricas de menor porte, ou seja, barragens com capacidade instalada de até 30 megawatts, que são isentas do estudo de impacto ambiental e de relatório de impacto ambiental (EIA/Rima).11
3.ASPECTOS LEGAIS
É decomposto que o arcabouço jurídico brasileiro, formado pela Constituição Federal, leis ordinárias, tratados de cooperação jurídica internacional, e Corte Interamericana de Direitos Humanos, impõe restrições legais em relação aos direitos dos povos indígenas, sobretudo em relação à instauração de projetos que venham a afetar os seus interesses.
A Constituição Federal, em seu art. 231, institui a obrigatoriedade de Consulta Livre, Prévia e Informada junto a esses povos e comunidades tradicionais indígenas, bem como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outros acordos internacionais, como a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos Indígenas e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Vejamos, in verbis, o artigo 19 da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DRIPS) da ONU:
Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa fé, com os povos indígenas interessados, por meio de suas instituições representativas para obter seu consentimento prévio, livre e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem.12
Seguindo esta linha de intelecção, defende a doutrina:
O Estado brasileiro é obrigado a consultar os povos indígenas acerca das questões que os afetam e a garantir o seu direito à consulta livre, prévia e informada em situações onde sua integridade territorial, meios de subsistência e direitos estão em jogo. A consulta prévia tem previsão constitucional para os casos de aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas (artigo 231 da Constituição), bem como para os casos de acesso a conhecimento tradicional (Lei 13.123, de 20 de maio de 2015).13
Apesar das restrições legais impostas, é possível examinar o expresso desrespeito aos diretos fundamentais dos povos indígenas na implantação de empreendimentos hidrelétricos, tais como barragem de São Luiz do Tapajós, e Usina Belo Monte.
Em declaração realizada pela Relatora Especial da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas ao Brasil, em março de 2016, esta lamenta o fato de que desde a visita de seu antecessor, há oito anos “houve
10 FEARNSIDE, Philip M. Os planos para USINAS hidrelétricas e hidro vias na bacia do Tapajós. Uma combinação que implica a concretização dos piores impactos. Ocekadi : hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na Bacia do Tapajós / Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan e Mauricio Torres, organizadores. -- Brasília, DF : International Rivers Brasil ; Santarém, PA : Programa de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, 2016. 11 Id. Ibid. 12 Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DeclUniDirPovInd.html> Acesso em 25 de maio de 2018 13 PERUZZO, Pedro Pulzatto . Direito à consulta prévia aos povos indígenas no Brasil. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
113
retrocessos extremamente preocupantes na proteção dos direitos dos povos indígenas, uma tendência que continuará a se agravar caso não sejam tomadas medidas decisivas por parte do governo para revertê-la”. Ela se refere explicitamente aos casos das hidrelétricas de Belo Monte e do rio Tapajós, criticando “a falta de consulta e a ausência de demarcação de terras indígenas impactadas pelo complexo da represa no rio Tapajós”.14
Bem assim, através da análise de dados, o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para a construção do complexo hidrelétrico do Tapajós não foi realizado com a complexidade e profundidade necessárias, visto que não trazem em seu bojo documentos imprescindíveis ao processo de licenciamento, tais como estudos sobre qualidade da água, espeleologia, levantamentos sobre populações indígenas afetada pela usina, e análise dos impactos socioambientais resultantes do projeto de implantação. Insta salientar que a descrição de tais impactos é condição obrigatória para o processo de licenciamento ambiental. Ademais, os resultados de tais estudos não foram traduzidos em línguas indígenas, tornando-os inacessíveis para grande parte da população originária, ferindo, por conseguinte, o direito fundamental à consulta da população indígena.15
Vale ressaltar que o comportamento do governo brasileiro, frente às violações aos diretos fundamentais da população indígena, que originariamente habita a região do Tapajós, é tristemente familiar. Em um passado recente, em uma verdadeira afronta à Constituição Federal, o mesmo aconteceu em Belo Monte, onde um “rolo compressor” saiu atropelando índios, ribeirinhos e destruindo aspectos ambientais da região.16
Do mesmo modo, verifica-se que o Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo e um instrumento de suma importância para a Política Nacional do Meio Ambiente, visto que possui como objetivo precípuo obter o controle sobre as atividades humanas que fazem uso de recursos naturais, regulando, sobretudo, empreendimentos que causam impactos de cunho ambiental.
O licenciamento é um processo que estabelece condições, restrições e medidas para proteger o meio ambiente em três etapas distintas: a) Licença Prévia – LP que é concedida após a análise e verificação de viabilidade ou não da obra no que tange aos impactos ambientais determinados pelo Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, b) Licença de Instalação – LI que é responsável por autorizar o inicio das construções, c) Licença de Operação (LO) que é expedida após o término das construções, depois da realização de minuciosa fiscalização da obra.17
14 CUNHA, Valdemir. Greenpeace. Hidrelétricas na Amazônia. Um mau negócio para o Brasil e para o mundo. Disponível em <http://midiaeamazonia.andi.org.br/sites/default/files/greenpeace_hidreletricas.pdf> Acesso em 25 de maio de 2018
15 Id. Ibid. 16 “No caso de Belo Monte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) interveio em abril de 2011, em resposta a uma petição apresentada a favor das comunidades indígenas ameaçadas pelo projeto, chamando a atenção para o fato de que não ocorreu a CLPI. A CIDH emitiu «medidas cautelares» pedindo ao governo brasileiro para suspender o licenciamento e a construção de Belo Monte até que um processo de CLPI pudesse ser realizado. No entanto, o governo negou a ocorrência de quaisquer violações de direitos indígenas e recusou-se a levar a cabo as medidas de precaução. Além disso, retirou o embaixador e as contribuições financeiras da Organização dos Estados Americanos (a CIDH é um órgão da OEA) e afastou temporariamente o seu candidato para a vice-presidência da CIDH, em uma tentativa flagrante de forçar a organização a agir do seu modo. No decorrer dessas ações, a CIDH enfraqueceu as medidas de precaução relacionadas a Belo Monte e adotou “reformas” sistêmicas que tornaram mais difícil a emissão de medidas cautelares no futuro. As medidas cautelares são um mecanismo pelo qual a CIDH, a fim de proteger os direitos humanos, pode exigir certas ações por parte de um estado sujeito à sua jurisdição. Como signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Brasil é legalmente obrigado a cumprir as medidas cautelares emitidas pela CIDH. Op. Cit 17 “Se a empresa receber a LP, deverá apresentar um Projeto Básico Ambiental (PBA). Só depois de analisado e aprovado, o órgão ambiental competente5 expedirá a Licença de Instalação (LI), que libera o início das construções. Quando a construção estiver finalizada, o empreendedor deve pedir a Licença de Operação (LO). Para a sua expedição, o órgão ambiental fiscalizará a obra e, principalmente, se o PBA está sendo devidamente cumprido6. Este processo, por envolver as três licenças, é geralmente conflituoso, pois inúmeros são os problemas que podem acarretar conflitos e cancelamento das licenças.” KARPINSKI Cezar. Revista Percursos. Florianópolis, v. 09, n. 02, ano 2008, pág. 71 – 84. Hidrelétricas e Legislação Ambiental Brasileira Nas Décadas De 1980-90. Disponível em < http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/viewFile/1557/1463> Acesso em 18 de maio de 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
114
A Resolução 001/1986 do CONAMA instituiu a obrigatoriedade da realização do EIA e RIMA para empreendimentos/projetos de grande impacto, representando um significativo avanço no que tange as questões ambientais. Os artigos 5º e 6º da supracitada legislação preceituam que os estudos sobre determinado empreendimento devem, obrigatoriamente, realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, confeccionando ao final da análise uma descrição completa dos recursos ambientais e suas interações, considerando o meio físico, biológico e socioeconômico. 18
À vista disso, ratifica-se que de acordo com o disposto na legislação, o EIA e o RIMA deve fornecer elementos suficientes para que seja possível analisar a viabilidade ou não da implantação de grandes empreendimentos (potencialmente causadores de grandes impactos). Dessa forma, a implementação de tais projetos deve ser monitorada, avaliada, sendo autorizada ou não pela cúpula dos órgãos ambientais do País.
Porém, conclui-se que a competência da elaboração destes estudos é deixada a cargo dos órgãos interessados nos empreendimentos, fator que tem suscitado em uma tendência no licenciamento ambiental no Brasil, qual seja, a viabilidade ambiental dos projetos tem se alicerçado cada vez mais nas condicionantes ambientais e menos na avaliação de viabilidade ambiental.
Observando-se a implantação de empreendimentos hidrelétricos, classificado pela legislação como projetos causadores de grandes impactos ambientais, é tolerável questionar a aplicabilidade e a legitimidade da legislação atual. Isto porque, por ser de responsabilidade do órgão empreendedor, este instrumento é, inúmeras vezes, tendencioso, tendo em vista que leva em conta apenas os interesses (de cunho político e econômico) daqueles que o elaboram, sempre afirmando ao final a viabilidade da obra. Isto demonstra que a elaboração de tal instrumento não passa de mero cumprimento de exigência legal, e não representa a possibilidade de um diálogo sobre a real situação do espaço físico, biológico e humano da região a ser atingida.19
Seguindo esta linha de intelecção, vejamos o posicionamento da doutrina sobre o tema:
“Os EIAs são apenas instrumentos de homologação do status quo em geral e nunca atenderam às necessidades básicas que viabilizariam análises criteriosas sobre a possibilidade ou não dos empreendimentos. Afirmam, também, que documentos como o EIA/RIMA apresentam simples compilações de estudos de diferentes campos do saber, com vocabulário técnico específico, mas sem integrar os dados destes diversos tipos de saberes. Com essa linguagem tecnicista, o EIA dificulta o entendimento e oculta graves problemas ambientais.”20
Posto isso, é de fácil constatação que embora a obrigatoriedade de realização do EIA e RIMA tenham sido implementadas com o escopo precípuo de preservação do meio ambiente, tais estudos vem obedecendo a lógicas alheias às estabelecidas pela legislação, visto que, corriqueiramente, tais relatórios afirmam a viabilidade da obra, desconsiderando/minimizando os impactos que o empreendimento causará à região atingida.
4.SIMILARIDADES ENTRE OS EMPREENDIMENTOS DO TAPAJÓS E BELO MONTE
Por ora, cumpre informar que as manobras de cunho político, atualmente utilizadas pela bancada ruralista do Congresso Nacional, buscando a implantação do Complexo Hidroelétrico do Tapajós, são muito semelhantes às empregadas em um passado recente, quando o “lobby da energia hidrelétrica”, com o objetivo de livrar-se de "embaraços socioambientais", utilizou-se do Decreto Legislativo (DL) 788/2005, usado para autorizar a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu.
18 Id. Ibid. 19 Id. Ibid. 20 BOEIRA, Sérgio et al. EIA-RIMA: instrumento de proteção ambiental ou de homologação do desenvolvimento predatório. GEOSUL, Florianópolis, v.9, n.18, p.40-59, jun./jul.1994. Florianópolis: UFSC, 1994. In: KARPINSKI Cezar. Revista Percursos. Florianópolis, v. 09, n. 02, ano 2008, pág. 71 – 84. Hidrelétricas e Legislação Ambiental Brasileira Nas Décadas De 1980-90. Disponível em < http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/viewFile/1557/1463> Acesso em 18 de maio de 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
115
Hoje, a usina é conhecida internacionalmente conhecida por seus dramáticos impactos sociais e ambientais, que vão desde falha no processo de licenciamento, desrespeito aos direitos humanos, condicionantes ignoradas, famílias desalojadas, denúncias de corrupção, dentre outros fatores negativos.
O Decreto Legislativo 788/2005, que aprovou a construção e implantação da UHE Belo Monte, concedeu autorizações sem consulta prévia aos povos indígenas e comunidades tradicionais que habitavam, originariamente, a região diretamente impactada pela implantação do empreendimento.
Na atualidade, o PDL 119/2015, que busca autorizar a construção de hidrovias na bacia do rio Tapajós repete o mesmo roteiro de ilegalidade, visto que não foi realizado processo necessário de Consulta Livre, Prévia e Informada junto a esses povos e comunidades tradicionais que vivem às margens dos rios, conforme lhes garante o artigo 231 da Constituição Federal, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outros acordos internacionais, tais como a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos Indígenas e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 21
Dentre os diversos impactos negativos causados pela implantação da UHE Belo Monte, podemos citar como principais: os impactos sobre a biodiversidade local, mudanças drásticas no meio ambiente, bem como o alagamento de determinadas regiões, e a submissão ao regime de secagem à outras localidades.22
Assim, chega-se à conclusão que é inimaginável estabelecer um parâmetro pior do que UHE Belo Monte para justificar a viabilidade e a sustentabilidade da implantação projetos hidrelétricos na Amazônia. Dessa maneira, se na construção da UHE em Belo Monte o governo subestimou os impactos socioambientais da sua decisão e prosseguiu com o projeto de implantação, é de suma importância que as tomadas de decisões atuais sejam no sentido de evitar a repetição do resultado desastroso ocorrido em Belo Monte, reestruturando/ interrompendo o projeto de implantação do complexo hidrelétrico na bacia do Tapajós.
À vista disso, verificam-se similaridades no que tange a construção de grandes hidrelétricas na região da Amazônia, visto que é evidente a propagação de um padrão de políticas públicas, influenciadas por aspectos políticos e econômicos, que se utilizam de diversos artifícios para burlar a legislação ambiental brasileira, desrespeitando, por conseguinte, tanto os aspectos ambientais da região, como os direitos fundamentais das populações originárias.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo que foi analisado acima, buscou-se apreciar questões que dizem respeito a conflitos socioambientais, no que tange as incompatibilidades entre políticas públicas energéticas do Brasil e a preservação ambiental, resultantes de um modelo centralizado e autoritário de planejamento e implantação de grandes empreendimentos hidroelétricos.
Assim sendo, é viável concluir que as análises governamentais sobre os custos e benefícios desses projetos têm sido traçadas, atendendo usualmente a poderosos interesses privados. A baixa qualidade dos estudos de viabilidade tem acarretado elevados custos sociais e investimentos ineficientes (ou mesmo ineficazes).
É possível notar que isto decorre em razão da lógica desenvolvimentista de progresso e expansão econômica do país, que teve início nos anos 50 e permanece até hoje.
Mais, reitera-se que em razão da democracia brasileira ser "recente e imatura" a participação das populações afetadas nos processos decisórios de grandes empreendimentos no Brasil, especialmente na Amazônia brasileira, é um aspecto polêmico, repleto de controvérsias, sendo de fácil verificação o expresso desrespeito aos diretos fundamentais dos povos indígenas na implantação de empreendimentos hidrelétricos.
Por conseguinte, restou evidenciado que há uma tendência do licenciamento ambiental no Brasil: a viabilidade ambiental dos projetos tem se apoiado cada vez mais nas condicionantes ambientais e menos na avaliação de viabilidade ambiental, fase crucial do processo de tomada de decisão, em que deveriam ser
21 Op. Cit. 22 SANTOS, Thauan et al. Belo Monte: Impactos Sociais, Ambientais, Econômicos e Políticos. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XIII. No. 2 - 2do. Semestre 2012, Julio -Diciembre - Páginas 214-227. Disponível em < file:///C:/Users/Alessandra/Downloads/DialnetBeloMonteImpactosSociaisAmbientaisEconomicosEPolit-4241061.pdf> Acesso em 29 de maio de 2018.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
116
consideradas alternativas tecnológicas e de localização, impedindo-se a implantação de projetos pouco viáveis ou mesmo inviáveis.
Consequentemente, conclui-se que a pressão praticada pelos diversos setores do governo, no que corresponde a implantação de políticas energéticas, tem deliberado em um conflito entre planejamento da expansão energético do país e o projeto constitucional socioambiental. Os grandes prejuízos são ônus que terminam sendo suportados por toda a sociedade, mostrando a importância da adoção de instrumentos de planejamento ambiental estratégico. As reconhecidas falhas no licenciamento ambiental e a sistemática violação de direitos humanos na instalação dos projetos deveriam trazer o aperfeiçoamento dos procedimentos, com vistas à garantia de direitos, e não à sua flexibilização.
REFERÊNCIAS
[1] Boeira, Sérgio et al. EIA-Rima: Instrumento de proteção ambiental ou de homologação do desenvolvimento predatório. Geosul, Florianópolis, v.9, n.18, p.40-59, jun./jul.1994. Florianópolis: UFSC, 1994.
[2] Cunha, Valdemir. Greenpeace. Hidreletricas na Amazo nia. Um mau negocio para o Brasil e para o mundo. Disponível em <http://midiaeamazonia.andi.org.br/sites/default/files/greenpeace_hidreletricas.pdf> Acesso em 25 de maio de 2018
[3] ________.Declaraça o Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Comissa o de Direitos Humanos e Minorias – CDHM. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica externa/DeclUniDirPovInd.html> Acesso em 25 de maio de 2018
[4] Fearnside, Philip M. Os planos para Usinas hidreletricas e hidro vias na bacia do Tapajos. Uma combinaça o que implica a concretizaça o dos piores impactos. Ocekadi : hidreletricas, conflitos socioambientais e resiste ncia na Bacia do Tapajos / Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan e Mauricio Torres, organizadores. -- Brasília, DF : International Rivers Brasil ; Santarem, PA : Programa de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Para, 2016.
[5] Guimara es, Samuel Pinheiro. Os desafios do desenvolvimento na Amazo nia. Disponível em <http://www.voltairenet.org/article125777.html>. Acesso em 10 de maio de 2018.
[6] Karpinski Cezar. Revista Percursos. Florianopolis, v. 09, n. 02, ano 2008, pag. 71 – 84. Hidreletricas e Legislaça o Ambiental Brasileira Nas Decadas De 1980-90. Disponível em < http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/viewFile/1557/1463> Acesso em 18 de maio de 2018.
[7] Latrubesse EM1,2, Arima EY1, Dunne T3, Park E1, Baker VR4, d'Horta FM5, Wight C1, Wittmann F6, Zuanon J5, Baker PA7,8, Ribas CC5, Norgaard RB9, Filizola N10, Ansar A11, Flyvbjerg B11, Stevaux JC12. Damming the rivers of the Amazon basin. Revista Nature. Disponível em < https://www.nature.com/articles/nature22333> Acesso em 20 de abril de 2018.
[8] Mu ller, Antonio Carlos. Hidreletricas, meio ambiente e desenvolvimento. Sa o Paulo: Makron Brooks, 1995.
[9] O que e Amazo nia Legal? A revista de informaço es e debates do Instituto de Pesquisa Econo mica aplicada. Ano 5. Ediça o 44 - 08/06/2008. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28> Acesso em 10 de junho de 2019.
[10] Peruzzo, Pedro Pulzatto . Direito a consulta previa aos povos indígenas no Brasil. Pontifícia Universidade Catolica de Campinas, Campinas, Sa o Paulo, Brasil.
[11] ________.Programa de Cie ncias WWF-Brasil. Portal dos Rios Amazo nicos. Tapajos. Disponível em <http://amazonriversplatform.org/pb/temas/projeto-tapajos/>. Acesso em 22 de maio de 2018.
[12] Santos, Thauan et al. Belo Monte: Impactos Sociais, Ambientais, Econo micos e Políticos. Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas. Universidad de Narin o Vol. XIII. No. 2 - 2do. Semestre 2012, Julio -Diciembre - Paginas 214-227. Disponível em < file:///C:/Users/Alessandra/Downloads/DialnetBeloMonteImpactosSociaisAmbientaisEconomicosEPolit-4241061.pdf> Acesso em 29 de maio de 2018.
[13] Sousa Junior, Wilson Cabral de. Tapajos: do rio a luz. Ocekadi : hidreletricas, conflitos socioambientais e resiste ncia na Bacia do Tapajos / Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan e Mauricio Torres, organizadores. -- Brasília, DF : International Rivers Brasil ; Santarem, PA : Programa de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Para, 2016
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
117
Capítulo 18 Determinantes envolvidos no mercado de energia fotovoltaica: Percepção e perfil dos consumidores e suas potencialidades socioeconômicas
Marilda Aparecida da Silva Silveira
Pablo Gums Mariano
Yuri Maia Goulart Silva
Hygor Aristides Victor Rossoni
Resumo: O presente estudo baseou -se na estratégia de pesquisa quali-quantitativa,
aplicando - se questionários. Para tanto foi desenvolvido questionário on-line em
ferramenta "Formulários Google”, visando atingir grupos de perfis diversificados de
potenciais usuários e consumidores de energia fotovoltaica. No estudo realizado a
amostragem foi de 315 indivíduos no período de 26 de abril a 24 de junho de 2019. Cabe
destacar que, a primeira questão abrangeu o preenchimento do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido, por meio do qual o participante pode expressar e
autorizar a sua participação e a divulgação dos resultados. Além disso, as demais
questões consistiram em perguntas relacionadas as energias renováveis e questões
investigativas perante perfil sócio/econômico, faixa etária, gênero, escolaridade e
profissão. Nessa conjuntura, os resultados foram disponibilizados por gráficos expressos
em termos de porcentagem. O público estudado apresentou engajamento na
participação do estudo, compreendido por indivíduos em maioria do sexo masculino, um
público jovem e em sua maioria instruído, seja por curso técnico, ensino médio,
graduação ou pós-graduação. Em geral os usuários não possuem altos gastos com
energia elétrica, mesmo assim são adeptos a instalação dessa tecnologia, sentindo-se
livres para implementar a tecnologia na residência ou no estabelecimento comercial. Um
grupo menor mostrou-se que não se sente adepto, devidos as condições governamentais
precárias de investimento e o monopólio da energia hidrelétrica no nosso país,
sobretudo, a abundância de recurso renovável água.
Palavras-chave: energia renovável; gestão ambiental; quali-quantitativo; exploratório.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
118
1. INTRODUÇÃO
A conservação de eletricidade reduz o consumo e posterga a necessidade de investimentos em expansão da capacidade instalada, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos usuários finais. A eficiência energética é, sem dúvida, a maneira mais efetiva de ao mesmo tempo reduzir os custos e os impactos ambientais locais e globais. Além disso, a conservação diminui a necessidade de subsídios governamentais para a produção de energia (GOLDEMBERG, 2007).
O Brasil caracteriza-se por suas dimensões continentais, localização geográfica privilegiada, com intenso recurso solar, bacias hidrográficas com uma grande variedade, uma vasta faixa litorânea e, ainda, abundância vegetal. Essas condições naturais propiciam o aproveitamento das fontes renováveis de energia em quase todas as suas regiões. (CÂMARA, 2011).
De acordo com Jardim (2004), entre essas fontes alternativas destaca-se a energia solar, pois o Brasil possui um enorme potencial de geração solar. Com previsão é que até 2024 a participação de fontes renováveis, excluindo a hidráulica, representará (27%) da matriz energética brasileira. A geração fotovoltaica se dá pela conversão direta da luz solar em eletricidade, produzida nos painéis por meio da diferença de potencial elétrico nas faces opostas de uma conexão semicondutora. Posteriormente, um inversor faz a conversão da corrente contínua em corrente alternada para disponibilizar o consumo.
Com base nesse contexto, o presente artigo busca a partir da pesquisa quali-quantitativa aplicar questionários em busca da avaliação das percepções prévias que os consumidores possuem em relação a energia fotovoltaica.
2. METODOLOGIA
O presente estudo baseou -se na estratégia de pesquisa quali-quantitativa, aplicando - se questionários. Para tanto foi desenvolvido questionário on-line em ferramenta "Formulários Google” https://forms.gle/w4qV9MTEfTJBfc78, visando atingir um grupo de perfis de potencial usuários e consumidores para delinear um público alvo diversificado (Quadro 1).
Quadro 1 – Mídias Sociais de divulgação.
1 – LinkedIn: Rede de Negócios 3 - Facebook: Rede Social Interpessoal
2 – Instagram: Fotografia e sistema Story 4 – WhatsApp: Mensagem Instantânea
5 - HTTPS - (Hyper Text Transfer Protocol Secure)
Fonte: Dados da pesquisa
Os meios de divulgação dos questionários foram por redes sociais de contato dos autores do presente artigo, utilizando - se o mecanismo "convite - link" para preenchimento das questões. Foram escolhidos esses canais, devido a aproximação e a instantaneidade do compartilhamento de informações, propondo praticidade de acesso e a coleta efetiva dos resultados.
No estudo realizado o alcance de participantes foram 315 indivíduos, compreendendo o período de 26 de abril a 24 de junho de 2019. Cabe destacar que, a primeira questão abrangeu o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, por meio do qual o participante pode expressar e autorizar a sua participação e divulgação dos resultados.
Além disso, as demais questões consistiram em perguntas relacionadas as energias renováveis e questões investigativas perante perfil sócio/econômico, faixa etária, gênero, escolaridade e profissão. Nessa conjuntura, os resultados foram disponibilizados por gráficos expressões em termos de ordem de grandeza relativa à porcentagem.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o estudo (99,4 %) dos indivíduos decidiram participar da pesquisa, tendendo para uma boa participação por parte dos pesquisados. Sendo a maioria de indivíduos do sexo masculino (60%) e (40%) de indivíduos do sexo feminino.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
119
No estudo apresentado, (40,6%) dos usuários são jovens de 18 a 24 anos de idade, indivíduos de 25 a 34 anos compreendem por (23,5%) e (11,7%) referentes a 35 – 44 anos de idade; sendo os demais (12,7%) representantes das idades de intervalo de 45 a 54 anos. Indivíduos com maior idade compreendem por cerca de (8,9% mais de 55 anos).
Durante a pesquisa exploratória foi constatado que (35,6%) dos indivíduos possuem ensino superior incompleto, 20% ensino superior completo e (20,6%) pós-graduação. Também se destacam indivíduos com ensino técnico completo (6%) e ensino médio comtemplam (11,1%).
Nos resultados constatou-se uma grande proporção de indivíduos desempregados (34,6%), grande parte referentes a indivíduos estudantes; destacando ainda, os autônomos (26%), servidores públicos (14%); indivíduos classificados como empregados (20,3%) e aposentados (5,1%).
A renda do público estudado é bem variada, porém destacam- se indivíduos de até 1,5 salários mínimo (R$1.431,00) por pessoa, referente a (18,4%) dos indivíduos pesquisados. No entanto, os indivíduos que possuem renda acima de 30 salários mínimos (R$ 28.620,00), correspondem a (2,5%)
Com uma boa participação dos indivíduos (99,4%) aceitaram participar da pesquisa, refletindo em 82,5% são adeptos a instalação de placas voltaicas conforme mostra a Figura 1:
Figura 1 - Você é adepto a instalação das placas de energia fotovoltaica?
Fonte: Dados da pesquisa
O público estudado mostrou entender bem sobre nossa matriz energética do nosso país, em que (93,3%) dos indivíduos acertaram a principal fonte de energia no país que é a energia hidrelétrica conforme mostrado na Figura 2.
Figura 2 - Qual a principal fonte de energia, “matriz energética” do Brasil?
Fonte: Dados da pesquisa
O estudo proposto também investigou a tarifa mensal dos indivíduos, maioria tem um gasto de intervalo de 50,00 R$ a 300,00 R$ conforme mostrado na Figura 3
Figura 3 - Sua tarifa mensal de energia está em torno de:
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
120
Fonte: Dados da pesquisa
Mais de (80%) dos indivíduos declaram que a melhor fonte de energia, visando a conservação do meio ambiente é a fotovoltaica como apresentado na Figura 4. Por outro lado, (9,5%) dos indivíduos responderam que a energia eólica é a mais indicada, também citaram a energia nuclear.
Figura 4 –Visando a conservação do meio ambiente, qual seria a melhor fonte de energia (matriz energética), para o Brasil?
Fonte: Dados da pesquisa
Evidenciando o perfil do público pesquisado, (64,4%) declaram-se livres para implementar uma fonte de energia renovável. Por outro lado, (20%) talvez investiriam na energia renovável e (14%) não possuem interesse de investimento nesse tipo de tecnologia.
Figura 5 – Você se sente livre para implementar uma fonte de energia renovável em sua residência ou estabelecimento?
Fonte: Dados da pesquisa
CONCLUSÕES
O público estudado apresentou um engajamento para participação do estudo, compreendido por indivíduos em maioria do sexo masculino; um público jovem; e em sua maioria instruído, seja por curso técnico, ensino médio, graduação ou pós-graduação. Em geral os usuários não possuem altos gastos com
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
121
energia elétrica, mesmo a sim são adeptos a instalação dessa tecnologia, sentindo-se livres para implementarem a tecnologia na residência ou no estabelecimento comercial. Um grupo menor mostrou-se que não se sente adepto, devidos as condições governamentais precárias de investimento e o monopólio da energia hidrelétrica no nosso país, sobretudo, a abundância de recurso renovável água.
REFERÊNCIAS
CÂMARA, Carlos Fernando. Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Universidade Federal de Lavras, UFLA, MG, 2011.
GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia e meio ambiente no Brasil. Estudos avançados, v. 21, n. 59, p. 7-20, 2007.
JARDIM, Carolina Da Silva et al. O potencial dos sistemas fotovoltaicos interligados à rede elétrica em áreas urbanas: dois estudos de caso. Procedings of the 5th Encontro de Energia no Meio Rural, 2004.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
122
Capítulo 19 Arborização Urbana, Escola de Ensino Fundamental José Alves de Oliveira, Ipaumirim, Ceará, Nordeste do Brasil: Levantamento quantitativo Isaac Anderson Alves de Moura
Ingrid Lelis Ricarte Cavalcanti
Arturo Dias da Cruz
Nyara Aschoff Cavalcanti Figueirêdo
Daguimar Ferreira de Sousa
Rogério Moura Maia
Marta Célia Dantas Silva
Resumo: A modificação das paisagens naturais devido ao crescimento populacional e a
urbanização acarretam alterações na qualidade ambiental e na quantidade de
ecossistemas naturais existentes, comprometendo a vida da fauna, flora e até mesmo da
sociedade, devido a mudanças climáticas e exaustão de recursos prioritários. Logo, faz-
se fundamental criar alternativas que propiciem que este crescimento ocorra de forma
mais sustentável, representando um menor prejuízo ao meio ambiente. Este estudo
objetivou-se em fazer um levantamento quantitativo das espécies vegetais utilizadas na
arborização da escola José Alves de Oliveira, município de Ipaumirim/Ceará. Por meio
de inventário, observando todos os indivíduos de porte arbóreo existentes na extensão
da escola. Foram contabilizados 26 indivíduos, distribuídos em 03 espécies, sendo
Azadiractha indica (20 indivíduos - 76,90%) e Ficus benjamina (05 indivíduos - 19,20%)
de origem exóticas, correspondendo a 96,10% do total de árvores e Carica papaya
(3,90%) de origem nativa. Esses resultados mostram um baixo número de árvores na
escola, a prevalência de espécies exóticas em especial Azadiractha indica, caracterizando
um mono arborização urbano. Foi percebido que as árvores foram introduzidas
(plantadas) sem conhecimento cientifico, as pessoas levam em consideração os
espécimes que tem um rápido crescimento e uma boa sombra, justificando a grande
quantidade de Nim compondo a arborização da escola, o que pode vir a prejudicar a
flora e a fauna local. Com o planejamento, questões como a biodiversidade local seriam
levadas em consideração, o que garantiria a manutenção, equilíbrio e preservação da
vegetação local.
Palavras-chave: Arborização Urbana; Biodiversidade; planejamento, qualidade
ambiental.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
123
1 INTRODUÇÃO
O crescente processo de urbanização no planeta apresenta diversas consequências negativas do ponto de vista ambiental. As consequências negativas da urbanização estão relacionadas ao aumento da impermeabilização do solo, supressão de vegetação nativa, aumento da poluição do ar pela queima de combustíveis fósseis, aumento no consumo de energia, aumento dos riscos de enchentes e inundações e consequentemente, perdas na qualidade ambiental urbana (DUARTE et al., 2017).
Tendo em vista o aumento da urbanização no Brasil nas últimas décadas, é prioritário criar alternativas que propiciem que este crescimento ocorra de forma mais sustentável, representando um menor prejuízo à qualidade ambiental e consequentemente à qualidade de vida urbana. Portanto, os serviços ecossistêmicos da arborização urbana podem ser utilizados como forma de compensação da perda de qualidade ambiental ocorrida no processo de produção do espaço (DUARTE et al., 2017).
De acordo com Araújo (2012) arborização urbana é o conjunto de árvores localizadas no perímetro urbano de uma cidade. Embora muitos achem que arborização urbana é apenas aquela plantada pelos órgãos públicos, o conceito inclui também florestas nativas remanescentes no perímetro urbano. E as árvores de componentes da paisagem antrópica tais como árvores de seus jardins e pomares domésticos.
A arborização urbana necessita de cuidados cada vez maiores, uma vez que árvores contribuem para um aspecto paisagístico mais agradável, trazendo também outros benefícios ambientais como sombreamento, amenização da temperatura, melhorias na qualidade do ar e redução da poluição sonora (BLUM, 2008).
No contexto urbano-ambiental de uma cidade, as áreas verdes são importantes por uma série de fatores, tais como a regulação do clima urbano que influencia diretamente no conforto térmico dos indivíduos que dessas áreas se utilizam para fins lúdicos, recreativos, esportivos entre outros (BARROS et al., 2017).
A vegetação promove melhoria na qualidade do ar através do processo fotossintético, pelo qual as planta absorvem CO2 e liberam O2 para atmosfera; além disso, a deposição de partículas sólidas nas folhagens das copas reduz a poluição lançada pelas fábricas, pelos veículos e pela queima de combustíveis fósseis (SILVA, 2007).Assim como a distribuição da energia elétrica, abastecimento de água, telefone, limpeza urbana, iluminação pública, a vegetação de uma cidade é um serviço Urbano essencial (CASTRO, 2000).
Além disso, as árvores melhoram a infiltração de água no solo, pois a vegetação funciona como cobertura, reduzindo também perdas de solo por erosão hídrica. Nos centros urbanos com poucas áreas verdes, a água das chuvas que incide sobre o solo pavimentado não tem chance de infiltrar, escorrem pela superfície e ocasionam enchentes e, consequentemente, graves transtornos (SILVA, 2007).
A qualidade de vida da biodiversidade em Geral depende de vários fatores e um deles e de fundamental importância é a arborização Urbana. Ela é um importante meio para tornar o ambiente mais agradável ecológica e esteticamente, proporcionando diversidade biológica assim como qualidade de vida para os seres vivos.
Contudo, é percebida a falta de iniciativas voltadas a orientar o incremento da arborização urbana, planejada de acordo com os serviços ecossistêmicos desejados, adaptada às especificidades locais e necessidades atuais, faz com que a arborização urbana ainda seja vista como um elemento meramente estético na paisagem urbana. Entretanto, para se chegar a estes objetivos é necessária uma maior compreensão sobre as realidades locais para a elaboração de propostas adaptadas a estas realidades (DUARTE et al., 2017).
Observasse com preocupação que ainda com os avanços técnicos logrados principalmente na última década, continuam-se cometendo erros no planejamento e manejo das zonas verdes das cidades (ZEA et al., 2014).
Uma análise das espécies existente na localidade além de dados quantitativos é fundamental para um melhor entendimento das necessidades e urgências locais sobre a vegetação. Para se realizar o levantamento da arborização quantitativamente, deve-se fazer a contagem das espécies arbóreas, assim como das palmáceas, individualmente. As espécies arbustivas devem ser medidas, dados como altura e diâmetro devem ser levados em consideração. Os diversos grupos vegetais devem ser classificados de acordo com o sistema binomial de nomenclatura vigente (DE ANGELIS et al., 2004).
2 OBJETIVOS
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
124
Fazer um levantamento quantitativo das espécies vegetais utilizadas na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, município de Ipaumirim, Ceará.
Diagnosticar a composição florística, fornecendo dados como: nome científico, altura, diâmetro e diversidade das espécies, dando subsídios para um melhor entendimento sobre esse aspecto tão importante que pode trazer grandes prejuízos ao meio ambiente e para sociedade se não haver planejamento.
Envolver os alunos em atividades voltadas ao meio ambiente contribuindo para uma conscientização dos alunos da escola Jose Alves.
3 MATERIAL E MÉTODOS
A coleta de dados foi realizada na EEIF José Alves de Oliveira, Ipaumirim-CE durante o período de agosto a outubro de 2016. Ipaumirim é uma cidade do Estado do Ceará. O município se estende por 273,8 km² e conta com aproximadamente 12.439 habitantes. A densidade demográfica é de 43,9 habitantes por km² no território do município. Situado a 262 metros de altitude, tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 6° 46' 49'' Sul, Longitude: 38° 42' 54'' Oeste (CIDADE-BRASIL, 2018). Localizado na mesorregião do Centro-Sul Cearense, possui dois tipos principais de solo: latossolo e sedimentar, tendo como principais fontes de água os riachos Pendência e Unha de Gato, afluentes do Rio Salgado.
Figura 1: Localização geográfica do município de Ipaumirim, CE, Nordeste do Brasil.
Fonte: COMMONS, 2019.
Foram contabilizados todos os indivíduos adultos existentes na escola componentes da arborização. A coleta de dados foi realizada em formulário contendo informações sobre, data da coleta, número de árvores existentes, nome vulgar da mesma, sinonímia, altura total da árvore e Diâmetro à Altura do Peito (DAP). Os materiais utilizados na coleta foram: fita métrica e vara graduada para a medição da altura das árvores e do DAP.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
125
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram percebidas 26 árvores distribuídas em 03 espécies, evidenciando-se pouca diversidade florística na arborização dentro da escola.
O levantamento realizado constatou uma quantidade superior de exótica em relação às nativas. Do total de indivíduos 25 são de origem exótica e apenas 01 nativa como pode ser observado na tabela 1.
Tabela 1: Relação quantitativa das espécies da arborização urbana da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Nome vulgar Nome Científico N % Origem Ficus Ficusbenjamina L. 5 19,20 Exótica Nim Indiano AzadirachtaindicaA. Juss 20 76,90 Exótica Mamão Carica papaya 1 3,90 Nativa Total 3 espécies 26 100,00 -
Esses valores equivalem a 96,10% e 3,90% respectivamente e são observados pela figura 2.
Figura 2: Percentual referente à origem dos indivíduos existentes na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
O resultado percebido na escola apesar de ser uma pequena amostragem, em relação à origem das espécies pode ser conferido com o levantamento feito nos dois bairros analisados por Crispim 2012, as árvores exóticas compõem 95% da arborização, deixando as nativas com menos de 5% dos indivíduos. São dados preocupantes, pois as exóticas são plantas de outras regiões, não faziam parte do ambiente estudado, foram introduzidas, prevalecendo na maioria da vegetação componente da arborização urbana das cidades nordestinas. Contudo, podem ser observados resultados opostos em que existe um equilíbrio em relação à origem dos indivíduos como o observado por Assunção 2014 que contabilizou 58% referente às nativas e 42% exóticas.
Dos indivíduos existentes na escola componentes da arborização tabela 1, 20 (76,90%) são Azadiractha indica figura 3, valor que caracteriza uma arborização composta em 76,90% de sua totalidade por uma única espécie, resultado que mostra a homogeneidade da arborização existente na escola. Fazendo uma comparação em nível de arborização urbana, a escola está longe do ideal, onde nenhuma espécie deve compor mais de 10% do percentual de uma arborização de uma cidade (MEUNIER 2005).
É importante destacar que o uso dessas espécies exóticas ocorre pelo fato de as mesmas apresentarem rápido crescimento, caules regulares quando bem conduzidas, copas grandes e densas, fornecendo sombreamento, servindo como alternativa viável em termos urbanísticos, apesar das consequências negativas principalmente sobre a avifauna e sobre as demais espécies, já que o Nim, por exemplo, vem sendo uma espécie muito utilizada na arborização já que a mesma é de fácil cultivo, de crescimento rápido, atendendo assim a exigência das pessoas em conseguir sombreamento em um curto período mais que
96,10%
3,90%
ORIGEM DAS ESPÉCIES
EXÓTICA
NATIVA
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
126
passa despercebido alguns problemas que essa espécie pode trazer ao meio, pois a Azadirachta indica se caracteriza por ser extremamente agressiva em termos de invasão territorial (MOURA et al., 2017).
Outras espécies vegetais que compõem a arborização da escola Jose Alves são: Ficus benjamina (19,20%) figura 4 e Carica papaya (3,90) figura 5.
Figura 3: Azadirachta indica A. Juss. (Nim Indiano). Espécie exótica mais encontrada na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
Figura 4: Ficusbenjamina L. (Ficus). Espécie exótica encontrada na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
127
Figura 5: Carica papaya (Mamão). Única espécie nativa encontrada na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
Outro dado observado foi em relação à altura total das árvores, apenas 02 indivíduos (7,70%) apresentaram crescimento maior que 6m, enquanto 24 (92,30%) encontram-se com altura menor ou igual a 6m (Figura 6), mostrando o recente plantio das arvores na localidade. No levantamento realizado por Calixto Junior et al. (2009) 95,5% dos indivíduos apresentaram altura igual ou menor que 10m, fato atribuído ao recente plantio de árvores realizado na cidade.
Figura 6: Classes de altura dos indivíduos existentes na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
Em relação ao DAP, Cerca de 84,62% das árvores (22 indivíduos) apresentaram DAP menor ou igual a 10cm, nenhum indivíduo apresentou DAP entre 10.1 e 15 cm, 15,38% (4 indivíduos) obtiveram tamanho DAP maior 15.1 (Figura 7). Resultados diferente foram observados por Calixto Junior et al. (2009) na cidade de Lavras da Mangabeira onde a mesma apresenta Cerca de 46% das árvores apresentaram DAP menor que 10cm e Moura et al. (2017) que mostrou em sua pesquisa cerca de 30,2% das árvores apresentaram DAP menor ou igual a 10 cm. Contrário aos dados levantados foi identificado em estudo realizado no bairro Santo Antônio, Pombal (PB) onde mais de 92% dos indivíduos com o diâmetro superior a 25 cm, o que representa uma arborização composta maciçamente por árvores adultas (RODOLFO JÚNIOR et al., 2008).
0
2
4
6
8
10
9 10 5 2
Nú
mer
o d
e in
div
ídu
os
≤ 3
3,1 - 4,5
4,6 - 6
≥ 6,1
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
128
Figura 7: Classes de diâmetro dos indivíduos existentes na arborização da escola Jose Alves de Oliveira, Ipaumirim, CE.
Fonte: Elaboração do autor.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arborização da escola Jose Alves de Oliveira apresenta pouca diversidade de espécies, com uma grande quantidade de exóticas prevalecendo o Nim, com a maioria dos indivíduos de porte pequeno caracterizando a pouca idade das arvores.
Com o estudo realizado foi Percebido que as árvores são introduzidas (plantadas) sem conhecimento cientifico, as pessoas levam em consideração as espécimes que tem um rápido crescimento e uma boa sombra, justificando a grande quantidade de Nim compondo a arborização da escola, o que pode vir a prejudicar a flora e a fauna local.
Deve-se, portanto, haver uma maior preocupação em aumentar o número de árvores nativas, além de acentuar a heterogeneidade florística da arborização urbana, evidenciando a arborização a partir de plantas nativas. Espécies como Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam.), Canafístula (Peltophorum dubium Spreng.) e Brasileirinho (Erythrina indica-picta L. B. & M.) podem ser introduzidas, contribuindo com a diversidade e origem das espécies do local.
Uma população educada ambientalmente, assim como, planejamento e um monitoramento por parte dos órgãos responsáveis são alternativas para reverter à modificação que vem acontecendo na arborização das cidades brasileiras, principalmente as nordestinas, onde se tem pouquíssimas espécies e perdendo a característica de plantas nativas, frutíferas que caracterizam o ambiente natural daquela localidade. Com o planejamento, questões como a biodiversidade local seriam levadas em consideração, o que garantiria a manutenção, equilíbrio e preservação da vegetação local.
REFERÊNCIAS
[1] ARAÚJO, S. V. Conceitos de arborização urbana. 2012. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/conceitos-de-arborizacao-urbana/99622/>. Acesso em: 31 ago. 2016.
[2] ASSUNÇÃO, Katiúscia Christini de; LUZ, Petterson Baptista da; NEVES, Leonarda Grillo; SOBRINHO, Severino de Paiva. Levantamento Quantitativo da Arborização de Praças da Cidade de Cáceres/MT. REVSBAU, Piracicaba – SP, v.9, n.1, p 123-132, 2014.
[3] BARROS, A. P. S.; AZEVEDO, A. C. J. de; DIAS, E. R. S.; OLIVEIRA, H. M. P. de. Planejamento urbano, áreas verdes e qualidade de vida: uma análise comparativa entre os bairros terra firme e cidade Velha – Belém/Pa. Revista Eletrônica Geoaraguaia. Barra do Garças-MT. V 7, n.2, p. 68 - 85. Julho/Dezembro. 2017.
[4] BLUM, T. Thomas et al. Espécies exóticas invasoras na arborização de vias públicas de Maringá-PR. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, v.3, n.2, jun. 2008.
[5] CALIXTO, S. L. Análise quantitativa da arborização urbana de Lavas da Mangabeira, CE Nordeste do Brasil. 2009.
0
5
10
15
20
25
21 1 0 4
Nú
mer
o d
e in
div
ídu
os
≤ 5
5.1 a 10
10.1 a 15
≥ 15.1
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
129
[6] CASTRO, N. S. Importância da arborização no desempenho técnico da gerência de Coordenação Regional de Porto Alegre. Porto Alegre, 2000. 96p.
[7] CIDADE-BRASIL. Município de Ipaumirim. 2018. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ipaumirim.html>. Acesso em: 31 de março de 2019.
[8] CRISPIM, Maristela. Exóticas predominam na flora urbana de Fortaleza. Gestão Ambiental Blog da seção Gestão Ambiental, da editoria Negócios, do Diário do Nordeste, 2012. Disponível em: < http://blogs.diariodonordeste.com.br/gestaoambiental/arborizacao-urbana/exoticas-predominam-na-flora-urbana-de-fortaleza/>. Acesso em 23 de abril de 2018.
[9] DE ANGELIS, B. L. D.; CASTRO DE, R. M.; DE ANGELIS NETO, G. Metodologia para levantamento, cadastramento, diagnóstico e avaliação de praças no Brasil. Engenharia Civil, n.4, p.57-70, 2004.
[10] DUARTE, Taise Ernestina Prestes Nogueira et al. Arborização Urbana no Brasil: Um Reflexo de Injustiça Ambiental. Terr@Plural, Ponta Grossa, v.11, n.2, p. 291-303, jul./dez. 2017.
[11] MEUNIER, Isabelle. Planejamento para uma boa arborização municipal. Fevereiro de 2005. Nordeste Rural. Disponível em: <http://www.nordesterural.com.br/nordesterural/matler.asp?newsId=2071>. Acesso em: 15 fev. 2016.
[12] MOURA, I. A. A. de; LOPES, R. M. B. P.; NACIMENTO, J. F. do; SILVA, I. B. da; THOMAS, H. Y.; SILVA, M. C. D. Arborização de Quitaiús, Lavras da Mangabeira, Ceará, Nordeste do Brasil: Levantamento quantitativo. Anais do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - Vol. 5: Congestas 2017.
[13] RODOLFO JÚNIOR, F.; MELO, R. R.; CUNHA, T. A.; STANGERLIN, D. M. Análise da arborização urbana em bairros da cidade de Pombal no Estado da Paraíba. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v. 3, n. 4, p. 3-19, 2008.
[14] SILVA, Leonardo Rodrigues da ET AL. Riqueza e densidade de árvores, arvoretas e palmeiras em parques urbanos de Recife, Pernambuco, brasil. Rev. SBAU, Piracicaba, v.2, n.4, dez. 2007, p. 34-49.
[15] WIKIMEDIA COMMONS. File:Ceara Municip Ipaumirim.svg. Disponível em: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceara_Municip_Ipaumirim.svg >. Acesso em: 31 de março de 2019.
[16] ZEA, C.J.D.; BARROSO, R.F.; SOUTO, P.C.; SOUTO, J.S. & NOVAIS, D.B. Levantamento da Arborização Urbana de Santa Helena, no Seminário do Paraíba. Anais do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, Rio de Janeiro, 2014.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
130
Capítulo 20
O Ecoturismo como uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento sustentável
Francielle Oliveira de Vargas da Silva
Danielle Carneiro Duarte Grassi
Cláudio Henrique Kray
Denirio Itamar Lopes Marques
Resumo: O turismo desponta-se como atividade de desenvolvimento, sendo o segmento
ecoturístico um dos que se destaca no cenário nacional, principalmente quando aliado
ao espaço rural. A partir da implantação de um projeto ecoturístico como uma
ferramenta de Educação Ambiental (EA), este irá ajudar a proteger e preservar a fauna e
flora local, promovendo a qualidade de vida à comunidade do entorno, pois o ambiente
rural tem potencial para desenvolver atividades ecoturísticas que sirvam para estimular
o debate com vistas ao desenvolvimento sustentável e econômico da região e do
município de Viamão. O empreendimento pesquisado para este estudo, integra um
espaço rural em Viamão – RS, no qual buscou-se, propor melhorias para a trilha,
revitalizar o Relógio do Corpo Humano, e apresentar um plano de negócios a fim de
aprimorar o seu planejamento. Desta forma, opta-se por uma metodologia de pesquisa
exploratória e bibliográfica. Aonde se fez necessário propor propostas para a melhoria
das atividades ecoturísticas existentes no empreendimento, através de um Plano de
Negócios. O empreendimento enfrenta desafios com relação ao desenvolvimento do
Ecoturismo, devido a questões relacionadas diretamente às atividades ecoturísticas,
assim como, a deficiência de qualidade nas estradas para chegar até o destino final. No
entanto, o local possui grande potencial, de crescimento, sendo necessário uma análise
de mercado, montagem de estratégias de negócio e mapeamento dos recursos
necessários para atingir metas anteriormente definidas.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Inovação; Trilhas Interpretativas; Turismo Rural.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
131
1. INTRODUÇÃO
O turismo desponta-se como atividade de desenvolvimento, sendo o segmento ecoturístico um dos que se destaca no cenário nacional, principalmente quando aliado ao espaço rural. O turismo é apontado como importante setor da economia, de alto potencial de geração de empregos e renda (SANCHES, SAUER, BINOTTO, 2018) e vem, segundo Dias & Vital (2014), conquistando maior amplitude enquanto atividade econômica. Para Candiotto (2019), nas últimas décadas, com o crescimento da oferta turística, as modalidades turísticas vêm aumentando e diversificando cada vez mais.
O município de Viamão/RS, tem 239.384 habitantes (IBGE, 2010) e extensa área territorial, com potencial turístico. O ambiente rural possui grande potencial para desenvolver atividades ecoturísticas que sirvam para estimular o debate com vistas ao desenvolvimento sustentável e econômico do município (VIAMÃO, 2019).
O Relógio do Corpo Humano é um horto medicinal em formato de relógio, que utiliza conhecimentos sobre as plantas medicinais e os órgãos do corpo humano, esse é composto por 01 canteiro central em formato circular e 12 no entorno dele. Cada canteiro representa duas horas do relógio e um órgão do corpo humano, com exceção do canteiro central que não possui horário (EMATER/ASCAR, 2005). No empreendimento em estudo, este trabalho iniciou-se em 2016.
O local possui uma Trilha Interpretativa, que necessita revitalização e planejamento com a teoria necessária. Dessa maneira, a trilha interpretativa será um meio das pessoas desfrutar do meio ambiente, sendo uma ferramenta pedagógica e recreativa (CAMPOS, FERREIRA, 2006). Assim, objetiva-se que este trabalho contribua para implementar melhorias para a trilha, revitalizar o Relógio do Corpo Humano, bem como apresentar um plano de negócios a fim de aprimorar o seu planejamento.
2. METODOLOGIA
Escolheu-se a análise sobre uma experiência em ecoturismo em empreendimento no meio rural dada a necessidade de construir atividades, voltadas para o Relógio do Corpo Humano e o desenvolvimento de uma trilha interpretativa, usando os mesmos
como base para a discussão de um modelo ecoturístico.
Assim, optou-se por uma pesquisa exploratória e bibliográfica, tendo como objeto as atividades ecoturísticas de um empreendimento no meio rural. Ainda, de forma não-intencional, ocorreu uma entrevista com os proprietários, que proporcionou determinar o objetivo percebido destes para com o empreendimento, assim como, os interesses e percepções dos proprietários.
O empreendimento de estudo é localizado na zona rural do município de Viamão, a administração do empreendimento é familiar. Esse local tem sofrido problemas para o desenvolvimento do Ecoturismo.
Na visita diagnóstico, observou-se que há uma trilha que necessita de melhorias, assim como, há um Relógio do Corpo Humano desativado, necessitando ser revitalizado, o horto fica em frente à residência do empreendimento. O diagnóstico foi realizado a partir de saídas de campo, visando identificar as atividades existentes. Percebeu-se nesse primeiro diagnóstico, iniciativas ecoturísticas, que necessitam modificações para maior aproveitamento. Em uma segunda saída de campo, deu-se sequência ao diagnóstico e foi realizado um mapeamento da trilha do empreendimento.
Para o mapeamento da trilha foi realizado, ao longo do percurso, a demarcação de pontos, com a utilização de um equipamento de GPS Garbin Extrex 10. Esses pontos foram selecionados considerando-se a paisagem e a possibilidade para o visitante realizar uma pausa e a observação do local. Em relação ao Relógio do Corpo Humano foi realizado uma análise do espaço para o planejamento das espécies a serem introduzidas e a disposição de placas de identificação.
Para a elaboração de um plano de negócios do empreendimento, a análise de mercado foi desenvolvida com a ferramenta de planejamento Canvas, a fim de, identificar os parceiros, atividades, recursos, preposição de valores, relacionamento com clientes, canais de comunicação, seguimento de clientes, custos e receitas.
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
132
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho determina a existência de uma trilha, com características para trilha interpretativa, observou-se que o local possui uma trilha que necessita de melhorias e um Relógio do Corpo Humano desativado, necessitando ser revitalizado.
Em relação às atividades ecoturísticas da propriedade, a trilha apresenta formato circular, sendo composta por vegetação nativa e exótica, uma nascente e um córrego d'água que segue durante o trajeto, além de resquícios de uma antiga pedreira. O percurso oportuniza a caminhada em meio a vegetação densa, bem como em clareiras e trechos com vegetação aberta, necessitando melhorias como implantação de placas de sinalização.
Foi elaborado um mapa do percurso da trilha interpretativa, em que foram demarcados 16 pontos com um equipamento de GPS, esses pontos foram denominados de “Estações”, a saber: 1) Início da trilha ; 2) Córrego; 3) Cachoeira; 4) Nascente; 5) Clareira da Figueira; 6) Pedra da Figueira; 7) Clareira da árvore deitada; 8) Início de Pinus; 9) Clareira da bananinha do mato; 10) Eucalipto da Clareira maior; 11) Atalho; 12) Butiá; 13) Paradouro clareira da curva; 14) Paradouro da pedreira; 15) Paradouro da pedreira debaixo; 16) Final da trilha. Diante do exposto, determinou-se uma trilha de 1km, com grau leve, em formato circular (SILVA et al., 2012), necessitando revitalização.
O Relógio do Corpo Humano pode permitir o resgate de utilização destas plantas e do conhecimento popular. A construção deste espaço utilizou materiais provenientes da propriedade, suscitando o desenvolvimento sustentável. Atualmente este horto está desativado, sendo a revitalização importante, pois pode contribuir para os negócios, à beleza da paisagem e irá atuar como um espaço educativo que favorece a reflexão e a troca de conhecimentos e experiências para o público (CANDIOTTO, 2019). Para a melhoria das atividades ecoturísticas existentes construiu-se um Plano de Negócio.
4. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O empreendimento enfrenta desafios com relação ao desenvolvimento do Ecoturismo, devido a questões relacionadas diretamente às atividades ecoturísticas, possuindo grande potencial de crescimento, em especial para as trilhas interpretativas com foco na educação ambiental, sendo necessário uma análise de mercado, com a utilização de uma ferramenta de gestão.
REFERÊNCIAS
[1] Campos, Angelo Mariano Nunes; Ferreira, Eduardo Antonio. Trilha Interpretativa: busca por conservação ambiental. Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, v. 6, n. 27, p.27-39, abr. 2006. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/109>. Acesso em: 05 ago. 2019.
[2] Candiotto, Luciano Zanetti Pessôa. Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural. Turismo em Análise, São Paulo, v. 21, n. 3, p.3-24, 01 abr. 2019. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rta/article/view/14203>. Acesso em: 07 ago. 2019.
[3] Dias, Pollyana Pugas; Vital, Tales Wanderley. O Ecoturismo no Estado de Pernambuco: uma visão do segmento a partir da oferta de serviços. Turismo em Análise, São Paulo, v. 25, n. 316, p.316-336, 31 ago. 2014. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rta/article/view/83792>. Acesso em: 09 ago. 2019.
[4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico do Brasil. Rio Grande do Sul: IBGE, 2010.
[5] More: Mecanismo online para referências, versão 2.0. Florianópolis: UFSC Rexlab, 2013. Disponível em: ‹ http://www.more.ufsc.br/ › . Acesso em: 04 de ago. 2019.
[6] Prefeitura Municipal de Viamão. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo. 2019. Disponível em: <https://www.viamao.rs.gov.br/portal/secretarias/3/Secretaria-de-Desenvolvimento-Econ%C3%B4mico,-Industria-Com%C3%A9rcio-e-Turismo>. Acesso em: 09 ago. 2019.
[7] Sanches, Arthur Caldeira; Sauer, Leandro; Binotto, Erlaine. Análise dos Estudos sobre Indicadores de Sustentabilidade no Turismo: uma revisão integrativa. Turismo em Análise, São Paulo, v. 29, n. 292, p.292-311, 31 ago. 2014. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rta/article/view/139521>. Acesso em: 09 ago. 2019.
[8] Silva, Mirele Milani da et al. Trilha Ecológica Como Prática de Educação Ambiental. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 5, n. 5, p.705-719, 24 jan. 2012. Quadrimestral. Universidad
Meio Ambiente em Foco – Volume 10
133
Federal de Santa Maria. http://dx.doi.org/10.5902/223611704156. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/4156/2800>. Acesso em: 09 ago. 2019.
[9] Velloso, C. C.; Wermann, A. M.; Fusiger, T. B. Horto Medicinal Relógio do Corpo Humano. Emater / RS - Ascar, Putinga / RS, 2005. Disponível em: http://www.biodiversidade.rs.gov.br/arquivos/1159290630estudo_caso_horto_Medicinal_Relogio_do_Corpo_Humano.pdf. Acesso em: 04 ago. 2019.
AU
TOR
ES
ADAMARES MARQUES DA SILVA
Química Industrial pela Escola Técnica Estadual Professor Agamenom Magalhães (1999), Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco (2007), Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais pela Universidade Católica de Pernambuco (2010), Doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco (2015). Tem experiência em: educação a distância; projetos e processos nas áreas de tratamento de águas e efluentes industriais, atuando na minimização do consumo de águas e geração de efluentes, qualidade industrial, microbiologia, com ênfase em microbiologia aplicada e ambiental, biotecnologia: quitosana, quitina, descoloração, biossurfactantes, Absidia corymbifera, Rhizopus arrhizus, águas e efluentes industriais. É consultora Ad hoc da Universidade da Região Tocantina do Estado do Maranhão, Coordenadora e Docente na Pós-Graduação da na Faculdade de Ciências Humanas (ESUDA) - Especialização em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, MBA em negócios sustentáveis e MBA em sistemas de gestão integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45.001]).
ALEF DAVID CASTRO DA SILVA
Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA. Atualmente é integrante dos Grupos de Pesquisas e Estudos Socioambientais na Amazônia (GPGESA), Mapeamento socioambiental das comunidades rurais do Nordeste Paraense e do Grupo de Estudos Socioambientais na Amazônia (GESA).
ALESSANDRA LEE BARBOSA FIRMO
Professora e pesquisadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco desde julho de 2009, atuando no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Líder do Grupo de Resíduos Sólidos do IFPE e membro do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE (GRS/ UFPE). Bolsista de Produtividade em Pesquisa em 2015/2016. Diretora de Extensão do IFPE-Campus Ipojuca em 2014-2015. Possui graduação em Engenharia Química pela UFPE (2006), em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFPE (2008), Mestrado em Engenharia Civil pela UFPE (2008) e Doutorado em Engenharia Civil pela UFPE (2013) na área de geotecnia ambiental. Participou como pesquisadora de projetos financiados pelo CNPq, FINEP, FACEPE, CHESF, BNDES e Foundation CMG nas áreas de geotecnia ambiental, resíduos sólidos, biodegradação e geração de biogás, geração de energia em aterros, plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, interação rocha-fluido, estudo de modelos numéricos de geração e fluxo de fluidos em meios porosos.
ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES
Advogada. Graduada em Direito pela Universidade Salvador- UNIFACS (2016.2). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental. Atualmente é Mestranda em Planejamento Ambiental pela Universidade Católica do Salvador.
ALEXANDRE D'LAMARE MAIA DE MEDEIROS
Graduado em Engenharia Química, Mestrando em Desenvolvimento de Processos Ambientais com ênfase em Biotecnologia.
ALICE DA COSTA SILVA
Bacharel em Ciência e Tecnologia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN (2018). Atualmente está cursando Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.
ANA CLAUDIA PIMENTEL DE OLIVEIRA
Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade Celso Lisboa (1990), - Mestrado em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998), - Doutorado em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003), - Pós-doutorado em
AU
TOR
ES
Tratamento alternativo utilizando sementes de Moringa oleifera para a remoção de células de cianobactérias e microcistinas desenvolvido no Laboratório de Ecotoxicologia e Toxicologia de Cianobactérias, Instituto de Biofísica, UFRJ. - Atuou como analista ambiental no Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) de 2003 a 2017. - Professora pesquisadora tempo integral (TI) da Universidade Castelo Branco desde 2006. - Coordenadora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade Castelo Branco, desde maio/2019. - Professora do curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental da Universidade Castelo Branco. - Professora do curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental Integrada do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFHT/UERJ). - Experiência nas áreas de Microbiologia, com ênfase em Cultivo e Fisiologia de Cianobactérias, atuando principalmente nos seguintes temas: cianobactéria, microcistinas, cianobactérias, cianotoxinas e Complexo Lagunar de Jacarepaguá. - Experiência em estudos ecotoxicológicos com organismos bioindicadores.
ANA MARIA DA COSTA TEIXEIRA CARNEIRO
Graduação em Enfermagem pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, ITPAC (2008), Pós- Graduação em Enfermagem do Trabalho pela UNIRG (2009), Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior pela FABIC (2014). Mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, UNITAÚ (2014).Doutorado em Saúde Pública pela UNINTER (2018),em processo de revalidação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
ANDRÉA FAGUNDES FERREIRA CHAVES
Possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará(2000), especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Pará(2004), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba(2002) e doutorado em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Pt)(2015). Atualmente é professora do Instituto Federal do Pará (IFPA). Professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em Saneamento Ambiental e saúde ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão ambiental e gestão em saúde ambiental.
ARTURO DIAS DA CRUZ
Possui graduação em Gestão Ambiental . . Tem experiência na área de Ciências Ambientais, com ênfase em Ciências Ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade da água, ecologia, biodiversidade, qualidade de água e análise exploratória.
BEATRIZ BRAGA DA SILVA LIMA
Graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado Pará
BRISMARK GÓES DA ROCHA
Possui graduação em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1996), especialista em Estatística Computacional e Análise de dados, Mestre em Engenharia Mecânica na área de concentração Termociências pela UFRN (2007) e Doutorado em Engenharia Mecânica na área de Compósitos pela UFRN. Atualmente é docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), lotado no curso de Ciência e Tecnologia.
CAIO CESAR PARENTE DE ALENCAR LEAL
Graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (2009), especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdades Integradas de Jacarepaguá (2012), especialista em Gestão, Licenciamento e Auditoria Ambiental pela Universidade Pitágoras Unopar (2017). Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté (2018). Possui experiência na área de
AU
TOR
ES
Construção Civil, Elaboração de Projetos, Fiscalização de Obras e Docência no Ensino Superior e Ensino Técnico.
CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA
Graduação em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco, Mestrado em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade Federal de Pernambuco, Doutorado em Biotecnologia pela Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico e Pós Doutorado no Instituto de Química de Sarriá - Universidade Ramon Llull, Barcelona, Espanha (2007-2008). Atualmente é Professor Adjunto IV e leciona nos Cursos das Engenharias Ambiental e Química, Licenciatura em Química, e Pesquisador Efetivo do Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais e Biotecnologia (NPCIAMB), Universidade Católica de Pernambuco
CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO
Meteorologista, Prof. Adjunto II da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, vinculado Instituto de Educação Agricultura e Ambiente - IEAA. Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais - PPGCA/UFAM. Possui graduação e mestrado em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas (2003) e (2006) e Doutorado em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (2016). Atualmente é vice-coordenador do Núcleo Regional de Humaitá/AM Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO). Realiza pesquisas no âmbito da interação biosfera-atmosfera na Amazônia e Pantanal. Tem experiência na área de Geociências (Meteorologia), com ênfase em Radiação Solar, Micrometeorologia e Climatologia
CLAUDIO HENRIQUE KRAY
Graduado em Agronomia. Mestre e doutor em Ciência do Solo. Docente da área ambiental do IFRS Campus Viamão. Tem experiência na área de Ciência do Solo, com ênfase na Gestão Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas, Gestão de Resíduos Orgânicos na Agricultura e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.
CLÁUDIO JOSÉ GALDINO DA SILVA JUNIOR
Graduado em Engenharia Química, Mestrando em Desenvolvimento de Processos Ambientais com ênfase em Biotecnologia.
CRISTIANE DALIASSI RAMOS DE SOUZA
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Química pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é professora do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico (CDEAM) e pesquisadora do Laboratório de Pesquisas e Ensaios em Combustíveis (LAPEC). Tem experiência nas áreas de Química e Engenharia Química, com ênfase em catálise heterogênea, materiais mesoporosos e biocombustíveis.
DAGUIMAR FERREIRA DE SOUSA
Possui graduação em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Cedro (2014). Atualmente é docente da rede Municipal de Ensino Fundamental II de Ipaumirim - CE e da rede Estadual de Ensino da EEMTI Alda Ferrér Augusto Dutra de Lavras da Mangabeira - CE. Tem experiência na área de Matemática e Física, ênfase em Matemática geral, atuando principalmente nos seguintes temas: Atuação com Pesquisador no Processo Ensino Aprendizagem de Matemática Aplicada para o Ensino Médio, tecnologia no Ensino da Matemática e Jogos Matemáticos.
AU
TOR
ES
DANIEL DE OLIVEIRA LEAL
Possui Licenciatura (2004) e Bacharelado (2005) em Ciências Biológicas pela Universidade Veiga de Almeida. Mestrado (2011), atuando nas áreas de Biologia da Reprodução e Anatomia Vegetal e Doutorado (2016), atuando em Anatomia Vegetal, em Botânica pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional. Tem experiência na área de Botânica, com ênfase em Botânica Estrutural e plantas medicinais. Atualmente é Professor Auxiliar na Universidade Castelo Branco (UCB), e Pesquisador Colaborador no Laboratório de Anatomia Vegetal do Museu Nacional (UFRJ).
DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco (2005), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2008), doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2012) e Pós-doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2014). Coordenadora, Professora e pesquisadora do Mestrado em Tecnologia Ambiental do Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP. Coordenadora da Escola de Engenharia da Faculdade Ibratec. Professora da Pós-graduação em Gestão e Controle de Áreas Contaminadas por Resíduos Sólidos da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Pesquisadora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Vice-presidente da APL Metalmecânica de Pernambuco. Faz parte dos Grupos de Pesquisa: Desenvolvimento de Processos e Novos Materiais (Universidade Católica de Pernambuco) e Grupo de Estudo do Gesso (UFPE). Especialista em Elaboração de Projetos, Gerenciamento de Indicadores e Gestão de Pessoas. Tem experiência nas áreas de Processos Químicos e Bioquímicos inseridos nas linhas de Desenvolvimento e Modelagem de Reatores Polifásicos e Processos Físicos e Químicos de Valorização do Rejeito. Atuando, principalmente nos seguintes temas: gesso beta reciclável, forno rotativo piloto, parâmetros cinéticos, otimização de processos, gás natural, petróleo e meio ambiente.
DANIELLE CARNEIRO DUARTE GRASSI
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Luterana do Brasil e Curso Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). É graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFRS.
DANTE SEVERO GIUDICE
Possui graduação em Geografia (Lincenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal da Bahia (2002), graduação em Administração Hoteleira pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (1981), graduação em Geologia pela Universidade Federal da Bahia (1976). Mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (1999). Doutor em Geografia pelo Núcleo de Pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Sergipe - NPGEO/UFS (2011). Atualmente é professor assistente da Universidade Católica do Salvador e geólogo da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geologia e Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: geopolítica, geografia politica, geodiversidade e logicas territoriais, dinâmica ambiental e meio ambiente. Líder do GEPOGEO - grupo de estudo e pesquisas em geografia politica e geopolítica. Pesquisador do GEOPLAN - grupo de geoecologia e planejamento territorial - UFS, e do GPTURIS - grupo de Pesquisa em Turismo e Meio Ambiente - UNIFACS.
DAYLA CAROLINA RODRIGUES SANTOS
Graduanda em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA. Atualmente é integrante dos Grupos de Pesquisas e Estudos Socioambientais na Amazônia (GPGESA), Mapeamento socioambiental das comunidades rurais do Nordeste Paraense e do Grupo de Estudos Socioambientais na Amazônia (GESA). Além disso, é Técnica em Agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
AU
TOR
ES
DAYLIN RUBIO-RIBEAUX
Doutoranda em Biotecnologia pelo Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade Federal de Pernambuco
DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2005), Mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2007) e Doutorado em Produção Vegetal (Fruticultura) pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2013). Foi bolsista PNPD durante os anos 2013-2015 na Universidade Católica Dom Bosco-UCDB. Atua principalmente nos seguintes temas: Propagação de fruteira nativas, porta-enxertos para citros. Reuso de resíduos urbanos no cultivo de hortaliças e frutas. Iniciou nova linha de pesquisa com aquaponia em para agricultura urbana. É membro titular do conselho gestor da APAS Guariroba. Conselheiro titular na câmara de Agronomia -Crea MS, pela UCDB. Atualmente é vice-coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária e também professor do curso de Agronomia (Fruticultura) da Universidade Católica Dom Bosco.
DENIRIO ITAMAR LOPES MARQUES
Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia. Especialista em educação ambiental. Mestre e doutor em Biologia - Conservação da Biodiversidade. Docente da área ambiental do IFRS Campus Viamão. Tem experiência em educação e gestão ambiental, com ênfase em educação ambiental e unidades de conservação.
DIEGO ADANIA ZANONI
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Católica Dom Bosco (2016), mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica Dom Bosco (2018). Sou aluno de Doutorado no Programa de Pós-Graduação Tecnologias Ambientais (PPGTA). Tenho experiência na área de Hidrologia, com ênfase em séries históricas de precipitação, preenchimento de falhas e conservação de solo e água, software de base GIS.
DIOGO HENRIQUE FERNANDES DA PAZ
Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE (Campus Cabo de Santo Agostinho). Doutor em Engenharia Civil (Tecnologia Ambiental) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco (POLI/UPE) e Especialista em Perícia Ambiental na Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). Tecnólogo em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Engenheiro Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Engenheiro Ambiental pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Atualmente coordena o curso Técnico em Meio Ambiente do IFPE Cabo. Possui atuação nas áreas de Gestão Ambiental Empresarial, Construção Sustentável, Resíduos da Construção e Demolição (RCD), Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Geoprocessamento. É pesquisador-líder do AMBISOFT - Tecnologia e Gestão Ambiental
DOUGLAS SILVA DOS SANTOS
Acadêmico do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) com formação técnica em Agronegócio. É integrante do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias e Pedometria (GEOP), atuando em pesquisas nas áreas de ciências ambientais, com ênfase em estudos sobre qualidade do solo.
AU
TOR
ES
EDUARDO ANTONIO MAIA LINS
O pesquisador possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco (2000). Especialista em Gestão Ambiental pela Universidade de Pernambuco (2012), tendo obtido os títulos de Mestre (2003) e Doutor (2011) nos anos anteriores pela Universidade Federal de Pernambuco onde se especializou em Geotecnia Ambiental. Atualmente é Professor do Instituto Federal de Pernambuco (Campus Recife), onde coordena o Grupo de Poluição e Contaminação Ambiental do IFPE, lotado no departamento de Saneamento. Também leciona na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) no departamento de Engenharia Ambiental, Química, Ciências Biológicas e Civil, onde também é coordenador do Curso de Especialização Gestão e Controle de Áreas Contaminadas por Resíduos Sólidos. Professor permanente do Mestrado do Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP) na área de gestão de resíduos sólidos e contaminação ambiental. Perito Ambiental na área de Contaminação e Remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos
ELIZABET ZENNI RYMSZA
Especialização pela UTFPR em Design de Interiores (2008), possui graduação em Design de Produto pela UTP (2005). Executa projetos de arquitetura/ interiores/ mobiliários desde 2010. Professora no SENAI PR desde 2013, em 2016 participou como professora orientadora no concurso - Conecta Labs (Grupo Munhoz Caetano), classificando em 2ᵒ e 3ᵒ lugar dois alunos do Curso Técnico em Design de Móveis - SENAI PR Campus da Indústria.
EMANUEL MAIA
Agroecólogo, com formação em agronomia e doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal) pela Universidade Federal de Viçosa. Professor Associado I na Universidade Federal de Rondônia, e docente nos cursos de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal em Rolim de Moura. Orientador de mestrado e doutorado do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (www.pgdra.unir.br) e orientador do mestrado em Ciências Ambientais (www.pgca.unir.br). Líder do grupo de pesquisa em Produção Vegetal na Amazônia Ocidental. No campo de desenvolvimento científico e tecnológico, trabalha com foco em agroecologia, conservação da natureza e desenvolvimento regional nos seguintes temas: Sistemas Agroflorestais e Uso Múltiplo da Floresta.
FABIANO ANDRÉ TREIN
Engenheiro Químico – UFRGS. Pós-Graduação em Projeto de Tratamento de Resíduos – PUCRS. Mestrado em Engenharia de Produção – UFRGS. Doutorado em Qualidade Ambiental - Universidade Feevale. Pós-doutorado em Eco-Design - UFPR
FABIO MARTINS AYRES
Possui Graduação em Geografia, Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Católica Dom Bosco (1999), Mestrado em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco (2004) e Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2018). Atualmente é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professor titular da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geoprocessamento, atuando principalmente nos seguintes temas: geoprocessamento, georreferenciamento, sistema de informações geográficas, planejamento e sensoriamento remoto.
FABRYNNE MENDES DE OLIVEIRA
Técnica em edificações. Discente do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Atua nas áreas de produção de alimentos orgânicos, mudanças climáticas e monitoramento ambiental.
AU
TOR
ES
FELIPE DA COSTA DA SILVA
Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado Pará
FERNANDO JORGE CORREA MAGALHÃES FILHO
Bolsista Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (CNPq). Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Católica Dom Bosco (2010), mestrado (2013) e doutorado (2017) em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), coordena o núcleo técnico ambiental do Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental - CEIPPAM, vinculado ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e auxiliar pedagógico nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental. Professor da Pós-Graduação (Lato Sensu) em Gestão Ambiental e Stricto Sensu em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária e Desenvolvimento Local (mestrado e doutorado). Participa de projetos de extensão na área de educação ambiental, saneamento e recursos hídricos, além de membro do Comitê Científico.
FRANCIELLE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA
Possui o Curso Técnico em Segurança do Trabalho pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. É graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).
FRANCISCA KLÍVIA NOGUEIRA BARBOSA
Técnica em Meio Ambiente. Discente do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Atua nas áreas de produção de alimentos orgânicos, mudanças climáticas e monitoramento ambiental.
FRANCISCO RODRIGO DE LEMOS CALDAS
Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (2005), graduação em Licenciatura Plena Em Química pela Universidade Estadual do Ceará (2005) e mestrado em Bioprospecção Molecular pela Universidade Regional do Cariri (2011). Doutor em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos pela UFC/UFRN/UFRPE/UFPB. Professor do Instituto Federal do Ceará. Atua na área de estresse oxidativo e Química de Produtos Naturais..
HYGOR ARISTIDES VICTOR ROSSONI
Graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa (2005), mestre em Ciência Florestal pela mesma instituição (2007) e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015). Atualmente é professor da Universidade Federal de Viçosa - Campus de Florestal. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária e Ambiental, com ênfase em Controle da Poluição e Saneamento.
INGRID LELIS RICARTE CAVALCANTI
Graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande. Mestranda em Energias Renováveis.
ISAAC ANDERSON ALVES DE MOURA
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri (2009). Atualmente é assistente em administração da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Biologia Geral, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, ecologia e reciclagem.
AU
TOR
ES
JOÃO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA. Aperfeiçoamento em Georreferenciamento de Imóveis Rurais pelo IFPA, com Mestrado e Doutorado em Agronomia (Ciência do Solo) pela Universidade Estadual Paulista-UNESP; Júlio de Mesquita Filho; FCAV, campus Jaboticabal-SP. Tem experiência na área de Geotecnologias e Agronomia, com ênfase em Ciência do solo e Geomática, atuando principalmente nos seguintes temas: Variabilidade espacial de atributos dos solos, Geoestatística, Mineralogia da fração argila do solo, Relação Solo-Paisagem, Agricultura de Precisão, Pedometria, Relação Solo-Geomática, Geoprocessamento, SIG, Topografia e Sensoriamento Remoto. É Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia PGAGRO da UFRA/Belém. É líder do Grupo de Pesquisa: Geotecnologias e Pedometria (GEOP) na UFRA/Capanema. É sócio da SBCS e membro da International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS).
JULIANE KAYSE ALBUQUERQUE DA SILVA QUERINO
Doutora em Física Ambiental (2017) pelo programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT. Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas (2003), onde trabalhou com os dados de radiação solar do projeto LBA comparando o comportamento desta variável em área de pastagem. Em junho de 2006 concluiu o curso de mestrado em meteorologia, também pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde dissertou sobre "Caracterização do vento e estimativa do potencial eólico para a região de Tabuleiros Costeiros (Pilar - AL, Brasil)". No período de Julho de 2007 a Março de 2008, trabalhou no Escritório do LBA - INPA sob a orientação do Dr. Theotonio Pauliquevis, na realização do EUCAARI (European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions) e do projeto Instituto do Milênio ?Integração de abordagens do ambiente, uso da terra e dinâmica social na Amazônia: as relações homem-ambiente e o desafio da sustentabilidade ? MilênioLBA2?, na componente 7, de Aerossóis e Precipitação, atuando em cooperação com o prof. Dr. Paulo Artaxo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. No ano de 2008, ministrou as aulas das disciplinas de Laboratório de Física I e II na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Campus Humaitá. Em 2009 foi aprovada e admitida como professora assistente no curso de engenharia ambiental na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Campus Humaitá.
KAROLYNE SOUZA PROCÓPIO
Técnica em Agroecologia pelo Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC Abaitará (2018).
LÁZARO HENRIQUE PEREIRA
Técnico em Administração. Discente do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Atua nas áreas de ecossistemas aquáticos, mudanças climáticas, monitoramento ambiental, aréas degradadas e psicultura ornamental.
LUCAS LIMA RAIOL
Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Atualmente é integrante dos Grupos de Pesquisas e Estudos Socioambientais na Amazônia (GPGESA), Mapeamento socioambiental das comunidades rurais do Nordeste Paraense e do Grupo de Estudos Socioambientais na Amazônia (GESA). Além disso, é Técnico em Agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Desenvolve pesquisas nas áreas de: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, Estudos ambientais, Desenvolvimento local e Sustentabilidade
AU
TOR
ES
LUCAS VENTURA PEREIRA
Graduando em gestão Ambiental pela Universidade Castelo Branco. Atuo na area de gestão de resíduos sólidos junto com o Grupo Domingão, empresa que mais trabalha o resíduo ferroso no estado do Rio de Janeiro.
LUCY ANNE CARDOSO LOBÃO GUTIERREZ
Possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará(1997), especialização em Hidrogeologia pela Universidade Federal do Pará(1997), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará(2003) e doutorado em Geologia e Geoquímica pela Universidade Federal do Pará(2010). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado do Pará e Chefe do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Pará. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária. Atuando principalmente nos seguintes temas: lodo, Tanque séptico.
MAIKON CHAVES DE OLIVEIRA
Graduação em ENFERMAGEM pela Universidade Luterana do Brasil (2006) e Mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté (2014). Atuou como docente do curso de enfermagem na Faculdade do Bico do Papagaio-FABIC, ministrando as disciplinas de teoria: Enfermagem em Saúde Mental I e II, Ética Profissional, Saúde e Meio Ambiente, Orientações de projetos e TCC.
MARCELA DE OLIVEIRA FEITOSA
Graduação em Enfermagem pela FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT (2006). Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, Especialista em Saúde da Família e Saúde Coletiva pela Faculdade Integrada de Patos e Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Bico do Papagaio. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Bico do Papagaio desde 2009. Professora Assistente Titular da Universidade Federal do Maranhão- Campus Imperatriz. Doutorado em Ciências da Saúde em Andamento pela Faculdade de Medicina do ABC.
MARCELO PERUSSI
Graduação em Design Produto pela Universidade Tuiuti do Paraná (2003). Especialização em Design de móveis pela UTFPR (2008). Professor substituto na UTFPR curso de design de móveis (2006-2008) e (2010-2012). Instrutor técnico de marcenaria pela FAE- Bom Jesus ( 2009 - 2017) .Atualmente técnico de laboratório pela UFPR-Departamento de Arquitetura e Urbanismo
MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA
Doutoranda no Departamento de Pós-Graduação em Geografia Humana na Universidade de São Paulo-USP. Mestra em Geografia humana, pela Pontícia Universidade Católica -PUC.(2012). Possui graduação em Pedagogia (2009), graduação em História (2001), graduação em Geografia. Tem experiência docente na área de Geografia e História.
MARIA REGINA DE MACÊDO BELTRÃO
Possui pós-graduação - Mestrado em Ciencias Florestais ano de conclusão (UFRPE, 2004), Especialização em Gestão Ambiental na Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE em (2013); Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas (UFRPE, 2000), graduação em Engenharia Agronômica (UFRPE,1991). Atualmente como Coordenadora do Curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental na modalidade em Educação a Distância do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB/IFPE, atua como professora na Faculdade ESTACIO, Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho, na Faculdade FOCCA, na graduação de Pedagogia, na disciplina de Educação Ambiental, e no Centro de Ensino Grau Técnico no curso Técnico em Meio Ambiente.
AU
TOR
ES
Experiência na área de agricultura nos seguintes temas: Gestão Ambiental, em Silvicultura em manejo e coleta de sementes florestais, e recuperação de áreas degradadas -PRAD; implantação de viveiros, produção de mudas, capacitação em floricultura, paisagismo, plantas ornamentais e jardinagem inclusive com (elaboração de projetos), fruticultura, e viveiros de essências florestais, plantas ornamentais, fruticultura, e olericultura; e em Meio Ambiente - Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, Metodologia da Pesquisa, Certificação Ambiental, e Manejo e recuperação de áreas degradadas, Gestão de Resíduos Sólidos, de Recursos Naturais, Tratamento de águas e Efluentes, dos Recursos Hídricos entre outras disciplinas.
MARILDA APARECIDA DA SILVA SILVEIRA
Graduada em Geografia pela Puc-Minas, graduada em Gestão Ambiental pela UFV-Campus Florestal, cursando disciplina isolada do mestrado Tecnologia e Sustentabilidade Ambiental pelo IFMG-Bambuí. Atuou como professora de Geografia e também Alfabetização no Ensino Fundamental nas escolas públicas e particulares de Contagem-MG. Atualmente aposentada.
MATHEUS MACEDO TEIXEIRA
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Amazonas (2018). Possui Certificação Green e White Belt pela Escola EDTI (2019). Atualmente é mestrando em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi Supervisor de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na empresa Eternal - Ind. Com. Serv. e Tratamento de Resíduos LTDA (2019). Atuou com membro do Grupo de Trabalho - (GT) do CreaJr/AM (2018). Atuou como Bolsista na Escola de Enfermagem de Manaus (EEM-UFAM) no âmbito do Programa Bolsa Trabalho (2016-2018). Atuou como Bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) no âmbito da Universidade Federal do Amazonas - UFAM (2017-2018). Foi monitor da Disciplina Cinética e Reatores no âmbito da Universidade Federal do Amazonas (2017). Possui experiência em análises físico-químicas de óleos lubrificantes automotivos, em análises microbiológicas e experiência na área de Tratamento de Resíduos Sólidos e/ou Líquidos, principalmente na área de Tratamento de Efluentes.
MIRA RAYA PAULA DE LIMA
Possui graduação em Tecnologia em Processos Químicos pelo Instituto Federal do Ceará - Reitoria (2010) e mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará - Reitoria (2013). Doutoranda em Química Biológica pela Universidade Regional do Cariri. Atualmente é professora efetiva do Instituto Federal do Ceará - Reitoria. Tem experiência na área de Química, atuando principalmente nos seguintes temas: monitoramento ambiental, qualidade de água, azocorante e processos oxidativos avançados.
MÔNICA MARIA SIQUEIRA DAMASCENO
Doutoranda em Ambiente e Desenvolvimento. Mestre em Saúde da Infância e da Adolescência. Pedagoga e Especialista em Psicologia Aplicada a Educação e Especialista em Saúde Mental. Professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- campus Juazeiro do Norte. Atualmente cursando Doutorado Sanduíche no Departamento de Psicologia e Educação da Universidade de Aveiro, Portugal.
NATHÁLIA SÁ ALENCAR DO AMARAL MARQUES
Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais pela Universidade Católica de Pernambuco e doutoranda em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) da Universidade Federal Rural de Pernambuco
AU
TOR
ES
NYARA ASCHOFF CAVALCANTI FIGUEIRÊDO
Graduada em Engenharia Química pela UFPB, mestranda em Engenharia de Energias Renováveis na UFPB, com projeto na área de materiais aplicados as energias renováveis. Atualmente é pesquisadora no Instituto Nacional do Semiárido, na modalidade LABINSA. Atua em projetos na área de quimiometria, simulação de processos químicos, analise econômica e dimensionamento de sistemas, produção de energia mais limpa, síntese a partir de resíduos industriais, produção de etanol e cromatografia.
OCTAVIO CASCAES DOURADO JUNIOR
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade da Amazônia (1997), graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará (2009), Mestrado em Engenharia Civil - Hidráulica pela Universidade de São Paulo (2001) e Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos-UFPa (2011). Atualmente é professor Adjunto IV da Universidade do Estado do Pará, na área de Recursos Hídricos. Tem experiência em Direito, nas áreas de Direito Ambiental e Administrativo e Engenharia, com ênfase em meio ambiente e Recursos Hídricos.
PABLO GUMS MARIANO
Graduando em Gestão Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal, técnico em Meio Ambiente pelo IFES - Campus Santa Teresa (2014). Desenvolveu pesquisa referente a adubação fosfatada em indivíduos de Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini), atuou no serviço público municipal na área de meio ambiente, com experiência em recuperação de áreas degradadas e reflorestamento com espécies nativas da floresta ombrófila densa (Mata Atlântica).
PAULA CAROLINE DOS SANTOS SILVA
Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM (2013).Trabalhou como docente no curso de Gestão Ambiental na Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) e supervisora de meio ambiente do Grupo JBS, atuando nas áreas de tratamento de água para abastecimento, tratamento de efluentes líquidos industriais, gerenciamento de resíduos sólidos, licenciamento ambiental, monitoramento ambiental e dos requisitos legais, implantação de sistema de gestão ambiental e projetos ambientais. Atualmente mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
PAULO ANDRÉ DA SILVA MARTINS
Engenheiro Ambiental, Mestre em Ciências Ambientais ambos pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM (2014) e (2019) respectivamente. Membro do grupo de Pesquisa Interação Biosfera atmosfera na Amazônia - GPIBA. Atua nas áreas de Engenharia e Geociências, onde desenvolve pesquisas com variáveis meteorológicas: Radiação Solar, Temperatura do ar, Umidade relativa, Coeficiente de Transitividade. Em Agrometeorologia trabalha com Balanço Hídrico e Classificação Climática
PAULO SÉRGIO SILVINO NASCIMENTO
Doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2013. Professor do quadro permanente Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Ceará (IFCE). Vice-líder do Grupo de Pesquisa em estudos Ambientais. Linha de pesquisa em Análise ambiental e sustentabilidade. Pesquisa com Áreas protegidas e Comunidades Tradicionais.
PRISCILA MARIA SANTOS LIMA
Técnica em Agroecologia pelo Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC Abaitará (2018).
AU
TOR
ES
REBECA FURTADO ARNOUD
Graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará
ROGÉRIO MOURA MAIA
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri (2009). Atualmente é E.E.F.M. Alda Ferrer Augusto Dutra da secretaria municipal de educação/cedro. Tem experiência na área de Biologia Geral.
RONIZIA RAMALHO ALMEIDA
Graduada em Educação Física pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Juazeiro do Norte. Colaboradora em grupo de pesquisa na área temática de Saúde e Meio Ambiente. Atualmente pós-graduanda na Universidade Leão Sampaio.
SARA ANGÉLICA SANTOS DE SOUZA
Graduanda do curso de Engenharia Ambiental pelo Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas - IEAA/UFAM. Atualmente integrante do Grupo de Pesquisa Interação Biosfera e Atmosfera - GPIBA, desenvolvendo pesquisas correlacionando as anomalias climáticas causadas pelos fenômenos El Niño e La Niña.
SARAH GISELE DE VASCONCELOS LEITE
Graduada em Odontologia pela Faculdade de Ciências do Tocantins- FACIT (2017). Atua como dentista e coordenadora de saúde bucal da rede SUS no município de Palestina do Pará, tem aperfeiçoamento na área de cirurgia oral menor (Facit), e diagnóstico de lesões bucais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestranda pelo programa de Cirurgia e Pesquisa Experimental pela Universidade Estadual do Pará (UEPA).
SERGIO SEIXAS
Biólogo, com Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED (2013), com Especialização em Zoologia e Ecologia da Conservação pela Faculdade de Rolim de Moura – FAROL (2013). Mestre em Ciências Ambientais (Biodiversidade Amazônica e Agricultura Sustentável) pela Universidade Federal de Rondônia (2018). Professor do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP), lotado no Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC Abaitará. Onde é docente da disciplina de Biologia para os cursos Técnicos em Agroecologia, Agropecuária e Agronegócio integrado ao ensino médio. Principal atuação: Educação Profissional/Básica e pesquisa na área de Ecologia da Conservação, Biodiversidade em Ambientes Amazônicos e Sistemas Agroecológicos de Produção.
SERGIO VIEIRA ANVERSA
Biólogo, Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, especialista em Análise Ambiental, Educação Ambiental, Gerenciamento de Projetos, Altas Habilidades, Auditor Líder Ambiental ISO 14001:2004, acreditado pela RABQSA e Técnico de segurança do trabalho. Possui experiência nas áreas de meio ambiente, docência e consultoria, destacando a elaboração e coordenação de projetos, coordenação do curso de graduação de Gestão Ambiental (Universidade Castelo Branco), Auditorias Ambientais de conformidade, Segurança do trabalho e de SGA no Brasil em empresas de diferentes setores, como: grupo de industriais de transformação e serviços de natureza industrial; Grupo de obras e construções; grupo petróleo, gás e álcool carburante; Grupo de saneamento; Grupo de serviços; grupo transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário. Docência nos níveis de Educação: infantil, fundamental I e II, médio, pós-médio, extensão, técnico, graduação tecnológica e pós-graduação.
AU
TOR
ES
SUELLEN MANGUEIRA
Engenheira Florestal, Graduada pela Universidade Federal de Rondônia (2016), membro da OSCIP Ação Ecológica Guaporé – ECOPORÉ. Participou do Programa de Extensão intitulado Residência Agroflorestal (2016-2017) pela Universidade Federal de Rondônia, atuando com extensão rural, desenvolvimento sustentável e políticas públicas voltadas a agricultura familiar (PAA, PNAE, PNCF). Pesquisa e interesse profissional nas áreas de Desenvolvimento sustentável e Extensão Rural, principalmente nos seguintes temas: agricultura familiar, sistema agroflorestal, segurança e soberania alimentar, equidade de gênero, juventude no campo e diagnóstico rural participativo (DRP). Atualmente exerce suas funções como extensionista do Projeto Viveiro Cidadão.
TATIANY GOMES DO NASCIMENTO
Acadêmica em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará campus Juazeiro do Norte. Estagiaria de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental na Universidade federal do Cariri.
TIAGO RODRIGUES ROCHA
Acadêmico em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará campus Juazeiro do Norte. Estagiário de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Cariri. Membro Representante da Engenharia Ambiental - IFCE no Programa CREA JR.
VALÉRIA MONTEIRO CARRERA MORAES
Graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Pará
YURI MAIA GOULART SILVA
Formado no curso superior Tecnologia em Gestão Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal