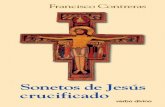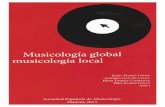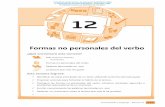LITERATURA E NACIONALISMO EM MÁRIO DE ANDRADE, NO TEMPO DE AMAR, VERBO INTRANSITIVO – IDÍLIO
Transcript of LITERATURA E NACIONALISMO EM MÁRIO DE ANDRADE, NO TEMPO DE AMAR, VERBO INTRANSITIVO – IDÍLIO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
REITOR:Adriano Aparecido Silva
VICE-REITOR:Dionei José da Silva
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO:Ana Maria Di Renzo
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO:Antônio Francisco Malheiros
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA:Juliana Vitória Vieira M. Silva
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:Weily Toro Machado
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO:Valter Gustavo Danzer
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO FINANCEIRA:Ariel Lopes Torres
PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Francisco Lledo dos SantosDIRETORIA DO INSTITUTO DE LINGUAGEM:
Ana Luiza Artiaga Rodrigues da Motta
COORDENADOR DO CAMPUS DE TANGARÁ DA SERRA
Sérgio Baldinott
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ESTUDOS LITERÁRIOS
Coordenadora: Walnice Aparecida Matos VilalvaVice-Coordenador: Agnaldo Rodrigues da Silva
Avenida Tancredo Neves, 195 – Carvalhada - Cáceres - MT - 78200-000
ISSN: 2176-1841
ANO 05, VOL. 05, N.O 05, JUN. 2012 – TANGARÁ DA SERRA/MT – PERIODICIDADE SEMESTRAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGELNÚCLEO DE PESQUISA WLADEMIR DIAS-PINO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
4
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
© copyright 2012 by autores
Revista Alere / Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários-PPGEL - Núcleo Estudos da Literatura de Mato Grosso Wlademir Dias-Pino, Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitáriode Tangará da Serra - v. 05. n.05, jun. 2012 - Tangará da Serra:Editora da Unemat, 2012.Periodicidade semestral
ISSN 2176-1841
1.Linguística. 2. Letras. 3. Literatura. I. Universidade do Estado deMato Grosso
CDU 81
EDITORES: Walnice Aparecida Matos VilalvaOlga Maria Castrillon-MendesTieko Yamaguchi MiyazakiAroldo José Abreu Pinto
CONSELHO EDITORIAL: Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT)Antônio Manoel dos Santos Silva (UNESP)Antônio Roberto Esteves (UNESP)Dante Gatto (UNEMAT)Diléa Zanotto Manfio (UNESP)Diana Junkes Martha Toneto (UNESP)Emerson da Cruz Inácio (USP)Franceli Aparecida da Silva Mello (UFMT)Gilvone Furtado Miguel (UFMT)Graciela Sánchez Guevara (ENAH-Mx)Josalba Fabiana dos Santos (UFS)José Javier Villareal Tostado (UANL-Mx)Julieta Haidar (ENAH-Mx)Madalena Aparecida Machado (UNEMAT)Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP)Manuel Cáceres (UGR-ES)Maria de Lourdes Netto Simões (UESC)María Eugenia Flores Treviño (UANL-Mx)Mário Lugarinho (USP)Olga Maria Castrillon-Mendes (UNEMAT)Susi Frank Sperber (UNICAMP)Tânia Celestino Macedo (USP)Tieko Yamaguchi Miyazaki (UNESP-UNEMAT)Vera Lúcia Rodella Abriata (UNIFRAN)Vima Lia de Rossi Martin (USP)
Walnice Aparecida Matos Vilalva (UNEMAT)
DIAGRAMAÇÃO, ARTE CAPA E MIOLO: Aroldo José Abreu Pinto
REVISÃO (PORTUGUÊS): Tieko Yamaguchi Miyazaki
TRADUÇÃO E REVISÃO (INGLÊS): Ricardo Marques Macedo
CORRESPONDÊNCIA: UNEMAT - Secretaria de Pós-GraduaçãoRodovia MT - 358, Km 07, Jardim AeroportoTangará da Serra / MT - CEP: 78.300-000.
É proibida a reprodução de partes ou do todo desta obra sem autorização dos autores.
Avenida Tancredo Neves, 195– Carvalhada - Cáceres - MTCEP: 78200-000
5
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
ApresentaçãoOs editores
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMaria Heloísa Martins Dias
Memórias de Joaquins: entre Macedo eMachadoMaria José Cardoso Lemos
Memorial de Aires: a preservação da memóriaatravés do processo de escritaSheila Katiane Staudt
Mongólia: viajantes em trânsitoGínia Maria Gomes
Narrativas em confronto: Taunay e a escritada memóriaOlga Maria Castrillon-Mendes
Testemunho e literatura através da alteridadeem Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMárcia Romero Marçal
9
13
31
53
77
97
121
6
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Literatura e nacionalismo em Mário deAndrade no tempo de Amar, verbo intransitivo– idílioDante Gatto
DISSERTAÇÕES - Resumos
CAMARÇO, Carolina Tito. Entre a magia e asedução: o imaginário infantil em Exercícios deser criança, de Manoel de Barros e em Umamaneira simples de voar, de Ivens Cuiabano Scaff
CANDIA, Luciene. As cartas epifânicas de CaioFernando Abreu: a escrita de urgência
FREITAS, Bruna Marcelo. O fenômenoliterário Luz e sombras, de Feliciano Galdinode Barros
FROEHLICH, Neila Salete Gheller. História etradição em Terra sonâmbula, de Mia Couto
GONZAGA FILHO, Bento Matias. Amarelomanga em projeções teóricas: três luzes sobre ofilme dirigido por Cláudio Assis
LIMA, Elisângela Pereira de. A reinvençãopoética de Wlademir Dias Pino: visualidade eruptura
MACEDO, Ricardo Marques. MemóriasInventadas: espaços de significação da solidão eimaginário
MATOS, Edinaldo Flauzino de. Amultiplicidade narrativa e o jogo da sedução
137
151
153
155
157
159
161
163
165
7
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
nos contos “Uns braços” e “Missa do galo” deMachado de Assis
NASCIMENTO, Luciana Alberto. Gritos esilêncios de um corpo em diferença: a dançadas contradições em Niketche de PaulinaChiziane
OLIVEIRA, Jeovani Lemes de Estudo sobre ohaicai e sua trajetória até a literaturamatogrossense
OLIVEIRA, Vanderluce Moreira Machado.Entre meninos, mendigos, pântanos epássaros: a reescritura poética de Manoel deBarros
PINHEIRO, Hérica A. J. da C. Os deslimitesda poesia: diálogos interculturais entre Manoelde Barros e Ondjaki
RAMOS, Suzanny de Araujo. O poetamarginal: a poesia lírica de Antonio Tolentinode Almeida
SANTOS, Edson Flávio. Cercas malditas:utopia e rebeldia na obra de Dom PedroCasaldáliga
SILVA, Claudiomar Pedro da. O teatropsicológico de Nelson Rodrigues e AugustoSobral: Vestido de noiva e Memórias de umamulher fatal
Normas de apresentação dos originais
167
169
171
173
175
177
179
181
8
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
9
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Carlos Fuentes afirmou, certa vez, que vivemos em paísesonde tudo está por ser dito, mas também onde está para serdescoberto como dizer este tudo. Nos caminhos que se procurapercorrer, busca-se não só descobrir, mas inventar rumos, novosolhares que jamais se acalmam diante da diversidade ou dosdiscursos estigmatizados. Um olhar curado da miopia,comprometido com o presente sem perder de vista a tradiçãoconstituidora das identidades, nem tampouco o futuro incerto,mas necessário para a madurez das conquistas. E vamos ensaiandocomos e porquês...
O trabalho em parceria tem fornecido pistas na ampliaçãodos focos dessas lentes caleidoscópicas, libertando-nos da endogenia.Por isso, neste número da Alere – Revista do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários/PPGEL – cinco Universidadescontribuem na sua composição: a UFRGS, a UERJ, a UNESP, aUSP e a UNEMAT. Numa inédita estrutura temática (sem que issofosse colocado como exigência na recepção dos artigos), os textosencaminham reflexões sobre as formas simbólicas da memória quese interpõem entre a posição do narrador e as operações discursivasque determinam o senso de alteridade, transformando a coletâneanum registro de olhares em que o Outro é examinado à luz de teoriasque estabelecem interlocução com os temas propostos, seja através
10
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
do procedimento da linguagem ou de outros recursos da construçãoda narrativa, seja através da retomada da imagética discursiva. Destaforma, lê-se barthesianamente “levantando a cabeça” diante doinusitado no momento em que o leitor entrega-se à dialéticaproposta.
Ao falar sobre o narrador Walter Benjamin destaca aimportância da sua sabedoria e coloca-o entre os mestres e os sábios,desenvolvendo um pensamento que possibilita o exercício ético decaráter libertador do comentário. O olhar crítico que permeia arelação entre a história e a ficção indica o diálogo intertextual naforma artesanal de comunicação em que o narrador deixa suasmarcas, como as que se encontram nestas leituras.
Assim, os narradores desta coletânea perfazem um percursopróprio ao desenvolvimento dessas (e outras) reflexões. MariaHeloísa Martins Dias explora uma vertente pouco estudada do poetaCarlos Drummond de Andrade em “Breve Passagem de Drummondpelo fantástico”. Não é da conhecida verve poética que ela trata,mas do contista (quase) desconhecido que traz o narradorpreocupado com uma “devoração erótico-perversa” carnavalizada,tal como a define Bakhtin na “naturalidade do absurdo”, numa leiturafluida em que, de fato, vale a pena (re)buscar o texto literário, e queconclama seu leitor (e juntamente conosco) a se aventurar nas redestrançadas pela narrativa.
No sentido dialógico, a reflexão sobre a memória retorna noartigo “Memórias de Joaquins: entre Macedo e Machado”, de MariaJosé Cardoso Lemos, em que os conhecidos escritores sãoretomados na perspectiva do narrador disfarçado em primeirapessoa. O inusitado também aqui se presentifica como instânciaautoral dissociada narrador/autor para se entender o que Machadode Assis pretendia criticar em meio ao recém-criado regimerepublicano. O gênero memórias surge como estratégia que seaproxima da criação de um suposto autor num jogo de máscarasque estabelece as fronteiras (ou os des-limites) entre memória e ficção.
Apresentação
11
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Nesse mesmo sentido Sheila Katiane Staudt, em “Memorialde Aires: a preservação da memória através do processo de escrita”ensaia a apreensão das lembranças pelo narrador. E é a WalterBenjamin que recorre para fundamentar o tipo de narrador do diáriode memórias que “valoriza a utilidade e a essencialidade do seuescrito e não os fatos sem serventia para fins de recordação”.
Quando Flora Süssekind analisa a gênese do narrador deficção nos relatos de viagem está preocupada com a formação/configuração da literatura brasileira, no momento em que o Outro secoloca como elemento de relação aqui/lá, e os textos de viagemsão tidos como paradigmas dessa discussão. Entre o diário – tantoo íntimo, quanto o resultante do movimento da viagem – e a escrituraem trânsito, o romance Mongólia, de Bernardo Carvalho, éanunciador de um movimento histórico que não se cansa de serrevisitado na literatura contemporânea. No artigo “Mongólia:viajantes em trânsito”, Gínia Maria Gomes nos brinda commemórias que anunciam pontos de vista sobre a alteridade queesclarecem a multiplicidade dos olhares metamorfoseados na/peladiversidade de narradores tão próximos e, ao mesmo tempo, tãodistantes.
As interpretações dos textos memorialistas continuam nasanálises de Olga Maria Castrillon-Mendes, “Narrativas em confronto:Taunay e a escrita da memória” e Márcia Romero Marçal,“Testemunho e literatura da alteridade em Memórias do Cárcere,de Graciliano Ramos”. A primeira recupera uma narrativa mista dedocumentos, cartas íntimas e depoimentos oficiais e de popularesda cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma célulaembrionária cujas origens estão na gênese de Mato Grosso. Em Acidade do ouro e das ruínas, do Visconde de Taunay, a memóriada guerra, as impressões e sensações sobre a natureza sãotransformados em matéria de ficção, constituindo o entrelugar dodiscurso cujo aparato de composição reconstrói um passado singularna forma como foi inventado no século XIX. Márcia Romero
Apresentação
12
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Marçal, por sua vez, interpreta as contradições entre a objetividadee a cientificidade (o saber legitimado como “verdade”). A alteridadeque se salienta desses discursos literários – do século XIX e dasprimeiras décadas do XX, respectivamente – é anunciadora dopoder do Estado, tanto pelo lado apologético do Visconde deTaunay, quanto pelo de denúncia social, portanto, precursores deuma forma de modernidade que será ratificada (e ampliada em outrasvertentes) por Mário de Andrade, como se vê na análise de DanteGatto, em “Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade notempo de Amar, verbo intransitivo – idílio”. Nas fronteiras entrea literatura de testemunho e a ficção, o esforço do escritor é levadoà experiência extrema e ao exercício narrativo de dar voz ao Outro.
A síntese, portanto, do que tem sido proposto pela literaturaao longo dos tempos tem passado pelas formas variadas de procurade caminhos de uma renovação estética e ideológica que instauradiscursos (coerentes ou não) e representa a dialética dedesenvolvimento da escrita. Pelo processo construtivo dasproduções a visão homogênea vai cedendo lugar à pluralidadecultural, inserindo a literatura, principalmente, a memorialística, nomovimento de consciência crítica da realidade brasileira e na buscados instrumentos estéticos de identificação do nacional nem semprecoerente, mas passível de recortes do como dizer.
Esperamos que este volume – em que incluímos os resumosdas dissertações da primeira turma de mestres – seja portador denovidades e contribua para estas (e outras) reflexões em rede quese tornam salutares rumo aos novos (en)caminhamentos e navisão múltipla do papel do intelectual das universidadesbrasileiras.
OS EDITORES
Apresentação
13
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
BREVE PASSAGEM DEDRUMMOND PELOFANTÁSTICO
Maria Heloísa Martins Dias(UNESP)1
RESUMO: É bem possível que o conto “O Gerente” (1945),do escritor Carlos Drummond de Andrade, sejadesconhecido do leitor brasileiro, mais familiarizado comsua poesia. Entretanto, a peculiaridade de sua linguagemnarrativa e o tratamento dado ao fantástico despertam inter-esse pelo texto, o qual desafia as possibilidades de investigaçãoliterária. O humor, um dos traços mais presentes na poéticade Drummond, se converte em uma estratégia estilística comcuriosos efeitos de sentido, assim como os aspectos estruturaisda narrativa. Já o fantástico, categoria que Drummond nãocultivou, aparece de modo inusitado em sua narrativa. Nossopropósito é analisar os procedimentos de construçãodiscursiva que permitem estabelecer diferenças entre a tradiçãoe os novos paradigmas do gênero fantástico. Para isso,buscaremos destacar fragmentos do conto que permitam adiscussão de algumas questões, como as convenções sociais, o
1 Docente aposentada, do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários e do Programade Pós-Graduação em Letras, UNESP, câmpus de São José do Rio Preto.
14
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
cotidiano, o sentimento amoroso, a tensão criada entre acomicidade e o trágico.
PALAVRAS-CHAVE: Drummond. Narrativa. Fantástico.Humor.
ABSTRACT: It is quite possible that the story “O Gerente”(1945), by Carlos Drummond de Andrade, is unknown tothe Brazilian reader, who’s more familiar with his poetry.However, the peculiarity of its narrative language and thetreatment given to fantastic awakening interest in the text,which challenges the possibilities of literary research. Thehumor, a trait more common in the poetry of Drummond,becomes a stylistic strategy with curious effects of meaning,as well as the structural aspects of the narrative. The fantas-tic, a category that Drummond has not cultivated, appearsso unusual in his narrative. Our purpose is to analyze thediscursive construction procedures for establishing differ-ences between the traditional and the new paradigms of thefantastic. For this, we will seek to highlight the story frag-ments that allow the discussion of certain issues such as so-cial conventions, the everyday, the feeling of love, the ten-sion created between the comic and tragic.
KEYWORDS: Drummond. Narrative. Fantastic. Humor.
Poucos sabem que Carlos Drummond de Andrade teve umabreve (leve?) passagem pelo fantástico, por meio de um conto quasedesconhecido, porém, com ingredientes suficientes para despertaremem nós, seus leitores, alguns comentários sobre essa curiosa narrativade 1945.
Tomo para análise a segunda edição desse conto (Record,2009), texto acompanhado das ilustrações do artista plástico AlfredoBenavidez Bedoya, belíssimas gravuras bem ajustadas à narrativadrummondiana.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
15
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
O conto se inicia de modo a anunciar de imediato o estranho,sem rodeios: “Era um homem que comia dedos de senhora, nãode senhoritas.” (ANDRADE,2009,p. 11). O fato, que surgeabruptamente e sem explicações, permanecerá com essa aura demistério até o final da narrativa, como se não interessasse ao autorresolvê-lo, e sim deixar que ele atue e gere efeitos ao longo doprocesso narrativo. Portanto, se o leitor espera encontrar umarazão para o costume incomum e absurdo da personagem (seriaantropófago? esse “comer” é metafórico?), sua expectativa sefrustra, pois os dedos de mulheres vão sendo comidos em episódiose cenas desconcertantes para as quais não há explicação.
Desse modo, o conto de Drummond foge dos padrõesclássicos da contística de Edgar Allan Poe, por exemplo, paraquem a surpresa é reservada para o final da narrativa, quandoentão o leitor se depara com o inusitado ou incomum. Em “OGerente”, pelo inverso, o insólito já nos é apresentado no começoe nos desarma, até porque não sabemos as suas razões.
Também nos causa espanto a observação do narradorquanto ao fato de serem senhoras e não senhoritas as vítimas docomedor; portanto, o apetite pelos dedos parece-nos tão estranhoquanto o alvo de interesse da personagem, carnes maisenvelhecidas e não as jovens... Portanto, associar as mordidas aalguma atração sexual ou ao amor, oculto na crueldade dessegesto, fica um tanto descabido, pois não se trata de pares amorosose sim de um comedor em série, tal qual um serial killer, que nãopara de atacar enquanto não sacia o seu desejo assassino.
Os fatos situam-se no passado, contados em terceira pessoa,um ano após a morte da personagem central, cujo nome é Samuel,um gerente de banco, funcionário exemplar, segundo o narrador.Aliás, esse é outro traço que diferencia o conto de Drummondde outros pertencentes ao gênero fantástico puro: o insólito semescla ao cotidiano, já que a personagem é focalizada em suasatitudes habituais, caracterizado como elegante, bem falante,
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
16
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
simpático e com ótimas relações sociais. Galanteador, bom deconversa e com traços finos no trato dado às mulheres. Nessesentido, ressalte-se a visão assumida pelo narrador para descrevera personagem; apesar da onisciência a comandar o relato, ele lançadúvidas, interrogações e suposições em relação às atitudes epersonalidade de Samuel: “suponho que se prendesse a raízescatólicas” (ANDRADE,2009,p.16), ou “Que preocupações teriaSamuel? Aparentemente nenhuma.” (ANDRADE, 2009,p.16),ou ainda “Ambição de riqueza é possível que tivesse; masdisfarçada.” (ANDRADE,2009, p.16).
Embora atenuadas pela incerteza ou hipóteses do narrador,essas falas denunciam o jogo entre aparência e essência nocomportamento da personagem, o que favorece o climainstaurado pelo conto. Há também um índice interessante,fornecido insistentemente pelo narrador, relacionado ao modode ser de Samuel: a suavidade ou delicadeza ao se dirigir àsmulheres, por meio de lisonjas e um deslizar sibilino, silenciosopor entre elas, ao se aproximar. A discrição da personagem,colocada de modo reticente pelo narrador, somada à insinuaçãode suavidade, funciona como aparência enganosa, uma máscara queencobre a ferocidade do ato que move a personagem (arrancar aspontas dos dedos femininos). Portanto, uma suavidade que seprepara para o ataque, uma forma insidiosa de atrair paraconseguir seu intento.
Cria-se, dessa forma, um contraste intenso entre o atolisonjeiro de beijar as mãos das mulheres e o resultado dessainvestida – o ferimento nelas deixado – o que acentua o paradoxoque envolve a situação. Galanteria e violência, trata-se de um beijodevorador, literalmente falando. De que fonte literária teriaextraído Drummond os ingredientes para compor essa devoraçãoerótico-perversa recoberta pelo macabro? Falaremos disso ao final.
É bom lembrar que estamos diante de um cenáriocaracterístico da primeira metade do século XX, tempo em que beijar
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
17
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
a mão das mulheres é um gesto frequente na roda social educada,assim como o uso de chapéu e luvas como parte fundamental dovestuário. Outras referências despontam no conto de Drummondpara retratarem a sociedade carioca da década de 40, como oslugares frequentados pela elite política e recepções de interesse aque o protagonista comparecia com agrado: Jockey Club, solar dosBoanerges, Av. Rio Branco, Igreja da Candelária, confeitaria da Ruada Carioca, Cinelândia, entre outros.
Esse espaço físico, geográfico, relevante enquanto localizaçãoe circunstancialização dos fatos, contracena com outro que se dá emoutro nível: o da proximidade da personagem com as mulheres,objeto a ser atingido por seu desejo voraz. Notemos como onarrador descreve esse espaço: “Da boca à mão o espaço era grande,e ninguém reparou como ele foi transposto.”(ANDRADE, 2009,p.19). Passagem interessantíssima essa, pois sugere a estratégia donarrador em atuar como se tivesse uma câmera oculta, posicionadano salão onde estava a personagem (Madama Sousa), portanto, àespreita para capturar a imagem desejada. Se, por um lado, “ninguémreparou” como diz o narrador, o mesmo não podemos dizer delepróprio, cujo foco se dirige com atenção para o alvo de seu interesseno relato: “O certo é que Samuel beija – está beijando a mão enluvada[...]”(ANDRADE,2009, p.19). Os verbos colocados no tempopresente e com a modalização do gerúndio, contrariamente aoque acontece com quase todas as ações da narrativa (no passado),reforçam ainda mais a proximidade da projeção criada pelonarrador na focalização da cena.
Três casos se sucedem – a madame Sousa, na casa dosBoanerges; D. Guiomar, esposa do amigo Tancredo, na saída deJockey Club, e a Sra Figueiroa, esposa de um encarregado denegócios, no baile em homenagem ao ministro da China – eSamuel é chamado para conversar com o delegado que investigao mistério do “antropófago à solta na capital do país.”, no dizerdo narrador.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
18
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Se o ridículo toma conta dos fatos, o humor também afloranas falas das personagens, como a do delegado, ao rebater a audáciaretórica de Samuel: “– Cale-se! Além de antropófago o senhor é umverborrágico, pelo que estou vendo. Não faltava mais nada.”(ANDRADE, 2009, p. 44). Antropofagia e verborragia soam,assim colocadas, como se estivessem no mesmo nível deconcretude, marcadas pelo excesso na manipulação do materialdeglutido pelo sujeito, sejam os dedos ou as palavras.
Mais adiante na narrativa, a tonalidade discursiva decaipara o humor negro, quando o médico-legista pede ao acusadoque morda diversos objetos para serem examinados seus dentese movimentos da boca: “Samuel, a princípio com relutância,depois com fúria, finalmente com resignação, pô-se a mordere a mastigar tudo: lápis, borrachas, pedacinhos de pau, gomosde cana-de-açúcar. Depois, deram-lhe uma mão de cera,comprida, de mulher.” (ANDRADE, 2009, p. 46). É precisocolocá-lo à prova, mas isso já seria abuso da paciência, como opróprio personagem retruca, mas acabou mordendo ecuspindo fora, fazendo careta.
Em nível diegético, a trama não se resolve, ou melhor, fica“arquivada”, tal como o caso do comedor de dedos. Não foipossível denunciar o homem, pois não havia indícios de sangueem sua boca, os pedaços de dedos femininos ficaramdesaparecidos e algumas vítimas inocentaram o culpado, fato quesoa mais bizarro que o próprio ato de que elas são vítimas.Ressalte-se também, como denuncia o narrador, a incapacidadeda diretoria do banco em que trabalhava Samuel de resolver essecaso singular: “não era um caso comercial”. Aqui, o grotesco seinfiltra na narrativa, pois o incongruente releva da situação:como condenar um colega, funcionário exemplar, acusado decomer dedos humanos, se não havia provas? Parece impossívelcoexistirem exemplaridade e violência, porém, nessa ficçãotomada pelo absurdo tal convivência se torna verossímil.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
19
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A presença de sensações contraditórias, como o asco e o riso,característica do grotesco na concepção de Kayser, é o que gera oinsólito da situação no conto de Drummond, porém, não atingindoo monstruoso, como propõe o teórico alemão; digamos que se trata,nesse caso, do asqueroso cômico tal como o define Bakhtin, aoabordar a cultura popular 2: o sério ou dramático é rebaixado pelabanalização do gesto repulsivo do personagem, o animalesco seinfiltra no humano. É essa mescla perturbadora do real desalojando-o de seu funcionamento previsível que, na teoria bakhtiniana,caracteriza a carnavalização. No episódio do conto, estamos diantedo efeito do mau gosto, expressão aqui no duplo sentido, estético eliteral: que gosto teriam aqueles objetos mordidos por Samuel queo delegado lhe impusera como teste, especialmente a mão de cera?...
Assim como fica suspenso o inquérito, permanecendo oestranho dos fatos para o leitor, ficam inconclusas as anotaçõesque o personagem protagonista faz em seu caderno (diário?),retomando situações e cenas de seu cotidiano. É que pequenasnarrativas são intercaladas à macronarrativa do narrador, relativasa circunstâncias afetivas vividas por Samuel em suas conquistasamorosas que, aos poucos, são substituídas pelo registro dosataques às mulheres. Trata-se de uma engenhosa estratégiadiscursiva essa, transformando o personagem em sujeito de umaoutra escrita, como se não bastasse atacá-las de verdade, comotambém degustar o fato pelo prazer de vivê-los pela ficção que osreinventa. Curioso notar que, nessas passagens de seu diário, Samuelrefere-se a uma terceira pessoa como possível autor dos crimes,criando uma distância entre ele e o fato, isentando-se: “A mulherde Tancredo foi vítima de um atentado inexplicável, à saída doJockey. Alguém, passando rapidamente, feriu-a no indicador damão direita.” (ANDRADE, 2009, p. 27).
2 Tal conceito aparece em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: ocontexto de François Rabelais, 1987.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
20
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
O surpreendente, no entanto, é a habilidade do personagemem deslocar com rapidez o foco de seus interesses, nesse diário,passando de um assunto a outro: “Receio que o dedo fiquealeijado, sem ponta. Procurei consolá-los o mais possível. Amanhãcedo vou propor ao Tancredo o negócio das ações do Cotonifício,que é ótimo.” (ANDRADE, 2009,p. 27). Como se vê, opragmatismo toma conta do sujeito, muito mais voltado anegócios financeiros que aos efeitos da mordida na mão da esposade seu amigo. Por outro lado, é possível vermos também, nessamudança repentina de assunto, o propósito sutil de desfocagemdo tema para encobrir uma suspeita em relação a si próprio comoautor do crime.
Entretanto, as anotações no diário de Samuel deixam deaparecer no conto, sem explicação. Embora os casos misteriososde mutilação dos dedos continuem a ocorrer, o protagonista parade registrá-los, até que o arquivamento do processo contra ocomedor se dê e a narrativa ruma para outra direção. Temos,então, nova situação dramática: Samuel tira férias e vai para SãoPaulo, onde permanece por oito anos. Acometido de saudadesdo Rio, resolve voltar a essa cidade para um passeio e, já em terrascariocas, recebe um telefonema misterioso. Uma mulher, que não seidentifica, insiste que se encontrem e ele vai ao lugar combinadopor ela: o Passeio Público, junto ao portão de Mestre Valentim.Interessante como, nesse conto drummondiano, o espaço, emespecial o lugar público, adquire importância para compor os fatos.Não é a intimidade nem os espaços recolhidos e fechados queinteressam, mas os lugares de movimento marcados pelo convíviosocial, onde circulam muitas pessoas, olhando e sendo olhadas,exibindo-se e levantando suspeitas sobre seus comportamentos.
A descrição da mulher se recobre de mistério, mas, para oleitor já de posse dos dados fornecidos pela narrativa do contoaté o momento, os elementos apontados pelo narradorfuncionam como verdadeiros índices: “A mulher alta destacou-se das árvores, trajando roupa escura. Tinha um casaco sobre os
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
21
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
ombros, recobrindo o braço direito. A mão esquerda segurava acarteira, e com a ponta dos dedos tocava no braço de Samuel.”(ANDRADE, 2009, p. 54). O recorte da mulher, surgindo dasárvores, alta e vestida de negro, impõe-se como uma presençainsidiosa, sensação intensificada pela maneira como o discursofoca seu braço direito, a mão esquerda e os dedos. Estaria elaavançando sedutoramente sobre Samuel para atacá-lo? Ou estariase oferecendo para ser uma próxima vítima do ataque de Samuel?Por que a insistência em querer vê-lo e em não querer revelarseu nome a ele? Aparecer, assim incógnita, provocaria maioratração em Samuel? São interrogações que o conto nos incita afazer, mas não nos responde.
O reconhecimento imediato da mulher por parte dohomem (“– Dona Deolinda...”) poderia reinstalar certanormalidade (familiaridade?) na situação, como se suspeitas emistérios se dissipassem com essa identificação, porém, oconstrangimento de Samuel permanece durante o diálogo quemantêm. A habilidade do contista está na situação alimentadapelo diálogo entre as duas personagens, de modo a colocar emjogo a malícia sedutora e falsamente carinhosa exibida pelas falasda mulher em contraste com o silêncio reticente e incômodorevelado pelas falas do homem reduzidas ao mínimo. Tudo estáa sugerir uma aproximação que pode se transformar em botevenenoso, como o conto já mostrara anteriormente, nas cenasde ataque aos dedos femininos. Só que agora a posição se inverte,sendo a mulher a incitadora das ações: “Deolinda não pensavaem afastar o corpo. A linha de calor humano pegava no ombro eia até a perna.” (ANDRADE ,2009, p. 57).
Para o leitor, não é difícil a recomposição das peças que amulher vai fornecendo em sua conversa com Samuel,relembrando o passado: era viúva, usava um vestido lilá, tinhamtomado sorvete de caju, a confeitaria na Rua da Carioca, aconversa sobre o inventário, o vendedor de aparelhos de barba,a surpresa da dor aguda... Enfim, era a viúva Mendes Gualberto,
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
22
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
uma das vítimas de Samuel. A dificuldade do personagem emestabelecer a ligação dos fatos, como se ignorando totalmenteesse passado, torna ainda mais grotesca a cena, culminando emacusações mútuas, desculpas sem sentido, incompreensões. Odramático se patenteia no momento em que o braço mutilado éexposto ao olhar: “Com o movimento o casaco tombou. Entãoapareceu a manga vazia, flutuante, um pouco abaixo do cotovelo.Deolinda rompeu em soluços.” (ANDRADE, 2009, p. 59).Digamos que um nó se cria na narrativa, suscitado por esse clímaxa ser enfrentado pelas personagens, demandando uma soluçãopara tal impasse.
É nesse momento que o conto tenta consertar os absurdosque figuraram em sua primeira parte, mas com argumentosinexplicáveis. Na verdade, são perguntas que as personagens sefazem e não podem ser respondidas, porque não há lógicapossível para os fatos, desde o início da narrativa: por queDeolinda inocentou Samuel para o delegado? Por que ela nãoo procurou para contar sobre a infecção que fez amputar a mão?Por que só agora ele jurava por Deus ser incapaz de tercometido o ato criminoso? Como não há explicações plausíveispara os fatos por meio das falas, estas cedem espaço à ação,pois ambos resolvem caminhar rumo àquela mesma confeitariaem que estiveram no passado, com “a mesma decoração artnouveau de seus tempos heróicos.”, no dizer do narrador(ANDRADE, 2009, p. 62). Eis mais um dado insólito no conto,que parece insinuar o sadismo com que a narrativa vaitrabalhando seus e lementos para compor o jogo dedespropósitos grotescos, com estranhas coincidências.
Notemos, nesse sentido, o pensamento de Samuel a respeitode Deolinda: “Se pedir um sorvete de caju, enforco-a”.(ANDRADE, 2009, p.63). A coincidência do pedido seria umaafronta para ele, da mesma forma que o desejo de enforcá-lareforça o humor negro, macabro, dessa situação para a qual nãohá conserto possível. Só mesmo a entrega à bebida e ao
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
23
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
descontrole emocional para envolver as duas personagens noclima da irrealidade que os tinha aproximado. É o que fazem,porém, Samuel ainda consegue manter um mínimo de“racionalidade”, a ponto de conduzir a mulher à casa em Grajaú,onde ela morava, despedir-se com certo carinho e deixá-ladormindo.
As últimas frases do conto ainda nos deixam uma margem desuspeita, como se não estivéssemos convencidos de que não haverámais uma vítima do comedor de dedos. Nada nos garante que oúltimo gesto de Samuel, beijar a mão da mulher dormindo, nãooculte o que já fizera outras vezes. “Samuel ergueu a mão até oslábios, devagar, com extremo cuidado e gentileza. Muito tempodurou o contato.
Pela manhã regressava a São Paulo, sem liquidar o negócio.”(ANDRADE, 2009, p.67).
Notemos como retornam aquela gentileza e demoradelicada do contato, singularizadoras do personagem-comedor,nos casos ocorridos antes. Ninguém saberá, de fato, o queresultou desse gesto. O sono da mulher e a saída de cena dopersonagem, dirigindo-se em seguida para outra cidade, sãocondições oportunas para abafarem o caso. Teria Deolinda ficadosem a ponta de seu dedo esquerdo, como ficara seu dedo direito?Qual a verdade, afinal? Ela fica em suspenso para o leitor, abalançar como a manga flutuante do casaco da mulher, ou ainda,como a epígrafe colocada por Drummond no início de seu conto,extraída de São João, XVIII,38:
“Perguntou-lhe Pilatos:
- Que é a verdade?”
A verdade, ficamos sem saber, mas interessa-nos bem maispensarmos nas possibilidades entreabertas por aquela afirmaçãoque figura no final da fala do narrador, citada acima: “sem liquidaro negócio”. Em meio ao clima de suspeita e incertezas, dominante
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
24
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
no conto, já não podemos dizer que o “negócio” faça referênciaapenas e diretamente ao trabalho a ser fechado pela personagemem sua ida ao Rio; não estaria também sugerindo outro negócio,mais escuso e ambicioso desejado pela personagem movida porsua voracidade em relação aos dedos femininos?
Eis o que Carlos Drummond de Andrade nos deixou comonarrativa “fantástica”. Não era, certamente, seu propósitoenveredar por esse gênero, conforme sua obra posterior acabounos revelando. Tanto os contos como as poesias se marcam poroutras características. No entanto, alguns ingredientes saborosos(Samuel que o diga...) que o conto “O Gerente” coloca em cenatambém podem estar presentes em outros textosdrummondianos: a atração por espaços do cotidiano, a atenção acomportamentos singulares, a espirituosidade mesclada à ironia,o absurdo de certas situações existenciais, recortes da sociedadee da cidade.
Isso já seria motivo de sobra para lermos a estranha históriade “O Gerente”. No entanto, cabe aqui ressaltar, também, asbelíssimas ilustrações de Alfredo Bedoya3, outro motivo que nosatrai para o livro.
Na capa e ao longo do texto figuram suas ilustrações, feitasem branco e preto e adequadas ao contexto da narrativa.Interessante a técnica do traçado de Alfredo Bedoya, por meioda qual as linhas que compõem as personagens se integram àslinhas dos objetos pelo espaço da tela, graças à semelhança dostraços, possibilitando uma integração das imagens. Riscasverticais, horizontais, a presença de um geometrismo singularque tende à simetria, o jogo entre claro e escuro, as várias feiçõesdo traço negro.
3 Alfredo Benavidez Bedoya, artista plástico argentino, nascido em 1951 e autor de numerosasgravuras em relevo. Premiado diversas vezes, destacando-se o Grande Prêmio da BienalInternacional de Taipei.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
25
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Aproveitando a sugestão da ponta do dedo, imagem centralno conto, o artista cria interessantíssimas gravuras, como a da p. 28:uma grande marca de dedo (polegar?) é ao mesmo tempo o turbanteda cabeça de uma mulher da América Central, de perfil. A perfeitafusão dos dois elementos, complementando-se com naturalidade,torna a figura ainda mais intrigante.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
26
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Ou então, a gravura da p. 45, em que um imenso polegar comseus traços digitais e terminando em duas pernas é devorado pelagigantesca dentadura do comedor, cuja cabeça, grudada ao polegar,resulta num só corpo.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
27
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A gravura final, denominada “A Despedida”, mostra-nos asduas personagens – Samuel e Deolinda – ela deitada na cama e eleajoelhado ao seu lado: o braço direito da mulher, reduzido ao deum esqueleto, fica suspenso obliquamente, os traços da colcha iguaisaos da calça do homem, a pequena estatueta no pé da camareproduzindo a cara de Samuel, as linhas do braço do casaco dohomem e da sola dos sapatos repetindo as do corpo do gato abaixoda mulher, o negro do tapete que continua na parede de fundo àesquerda da gravura – tudo isso acaba por gerar o efeito paradoxalde uma ternura macabra. O envolvimento (afetivo) recebe umaconcretude ou performatização plástica, visível no traçado das linhascontínuas, repetitivas, mas se recobre do negro e do brancoesquálido, intensificador da pulsão de morte. Espécie de gosto ouprazer necrófilo que resgata uma das tendências da poéticaromântica, como sabemos.
Deixamos em suspenso uma interrogação e é hora derespondê-la. Certamente a mescla de tintas fundindo o macabro,o desejo e o corpo feminino compõe um cenário de longa datana produção literária, brasileira ou não. Não cabe aqui tratardessa herança em detalhe, apenas apontar para o que, emDrummond, merece ser comentado sobre o aproveitamento desseveio fantástico-macabro.
Sabemos o quanto a figura feminina despertou interessecomo objeto desafiador para o olhar crítico que busca suacaptura, quer para transformá-la em elemento literário, artístico,quer para inseri-la (dominá-la) na práxis político-social. Desde aIdade Média, pelo menos na cultura ocidental, em que a mulherestá associada à bruxaria, aos espíritos misteriosos e malévolos,em especial por sua sexualidade, passando pelos tempos áureosdo Romantismo, dominados pela obsessão poética voltada àdicotomia anjo x demônio no culto à mulher amada, chegando àmodernidade com a atitude frívola e deambulatória dos olharesdo flanêur e do dândi, obcecados pela aparência e superficialidadeda mulher “passante” (Baudelaire), o que temos? Uma espécie
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
28
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
29
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
de impossibilidade de percepção da mulher, de seu corpo, a não serpor meio de visões desfiguradoras, permeadas pela perversidade(sádica?) que transforma a relação homem x mulher em cenáriosvarridos pelo locus horribilis.
E no conto de Drummond? Se há horror, ele está menos noespaço em que ocorrem os atos devoradores da carne feminina doque na naturalidade que envolve esse absurdo, tornado ainda maisinsólito pela presença da afabilidade do meio social e dos locaisfamiliares alusivos à cidade carioca em que os fatos se dão. A revisitaque Drummond faz da tradição macabra (gótica?) e do apetiteviolento pela carne feminina “acomoda-se” aos ares modernos (dadécada de 40), na medida em que as referências espaciais instalam oleitor em uma realidade geográfica nada irreal, nem fantástica.
Enfim, são numerosas as sugestões de leitura fornecidas peloconto de Carlos Drummond de Andrade e pelas ilustrações deAlfredo Bedoya em O Gerente (2009). Vale a pena conferir.
Referências Bibliográficas
ANDRADE, Carlos Drummond de. O Gerente. 2 ed. Rio de Janeiro, Record,2009.
BAKHTIN, Mikail. A cultura popular na Idade Média e noRenascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987.
KAYSER, Wolfgang. O grotesco: configurações na pintura e na literatura.São Paulo: Perspectiva, 1986.
Breve passagem de Drummond pelo fantásticoMARIA HELOÍSA MARTINS DIAS
30
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
31
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
1 Doutora em Letras pela Université de la Sorbonne Nouvelle -Paris 3, professora visitantedo Departamento de Letras da UERJ. E-mail: [email protected]
MEMÓRIAS DE JOAQUINS:ENTRE MACEDO EMACHADO
Maria José Cardoso Lemos(UERJ)1
On doit exiger de moi que je cherche la vérité,mais non que je la trouve.
Denis Diderot
RESUMO: A comunicação visa pensar o alcance do diálogoestabelecido entre Machado de Assis e Joaquim Manuel deMacedo, principalmente no que concerne aosromances Memórias póstumas de Brás Cubas e Memóriasdo sobrinho de meu tio, no emprego que fazem de umnarrador em primeira pessoa, mas que se mantém distanciado,conforme ressalta Flora Süssekind. O interesse aqui, além deretraçar relações de Machado com a então incipiente literaturabrasileira, é redimensionar o que Alfredo Bosi chama de“hipótese da dissociação autor-narrador” para pensar o usoda sátira e do cinismo como crítica da sociedade e do próprionarrador.
32
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
PALAVRAS-CHAVE: Sátira. Intertextualidade. Machado deAssis. Joaquim de Macedo.
ABSTRACT: This presentation is a reflection on the dia-logue between Machado de Assis and Joaquim Manuel deMacedo, namely the one regarding the novels Memóriaspóstumas de Brás Cubas and Memórias do sobrinho demeu tio, in which they make use of a first-person ( narrator,although one that remains at distance, as Flora Süssekindpoints out. Besides retracing the relationships of Machadowith the incipient Brazilian literature of that time, our in-terest here is to rethink what Alfredo Bosi calls the “hypoth-esis of author-narrator dissociation”, in order to reflect onthe use of satire and cynicism as a form of criticism of soci-ety and the narrator himself.
KEYWORDS: Satire. Intertextuality. Machado de Assis.Joaquim de Macedo.
Qual é o alcance do diálogo estabelecido entre Machado deAssis e Joaquim Manuel de Macedo, principalmente no queconcerne ao Memórias póstumas de Brás Cubas e ao Memóriasdo sobrinho de meu tio?
Em 1958, Temístocles Linhares, no ensaio “Macedo e oromance brasileiro”, ressaltou a importância do Memórias dosobrinho de meu tio na obra de Macedo, que, na tentativa de escaparao rótulo de escritor para mocinhas, buscava redimensionar, emmeados de 1860, sua carreira literária passando a tratar de assuntospolíticos e sociais. E acrescenta Linhares:
quem pode negar tenha Macedo se antecipado ou aberto caminho aoautor de Memórias póstumas nesses divertimentos ou processos dehigiene mental destinados a fazer rir ao mesmo tempo que a fazer sentira fragilidade do homem e de toda uma organização social e política?(nº 14, p. 97-103). (apud SERRA, 2004, p. 142)
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
33
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Também Flora Süssekind, na introdução à edição queorganizou do Memórias do sobrinho de meu tio em 1995,ressalta a importância de Macedo para Machado, principalmenteno que concerne ao uso que habilmente faz Macedo de umnarrador que, embora escreva em primeira pessoa, o que oaproxima do leitor, consegue se manter distanciado:
Macedo serviria de interlocutor fundamental para que Machado de Assisforjasse o método narrativo de seus romances pós-Memórias póstumasde Brás Cubas: uma primeira pessoa usada “com intenção distanciadae inimiga”, como o definiu Roberto Schwarz nos seus estudos sobre oromance machadiano. (SÜSSEKIND,1995, p. 18)
Apesar destas constatações, pouco se tem estudado sobre asrelações entre Machado e Macedo, e, quando isto acontece, o focode interesse se resume apenas no Macedo romântico, cronista decostumes de sua época. Nosso intuito aqui é tentar relacionar algunsaspectos narrativos que surgem em um “segundo Macedo” com oque acostumou-se chamar “a segunda fase” de Machado.
O foco que mais nos interessa é a figura do narradordistanciado que aparece em ambas as Memórias. Será importantepara tal redimensionar o que Alfredo Bosi chama de “a hipótese dadissociação autor-narrador” (BOSI, 1999, p. 38), levantada tantopor Roberto Schwarz quanto por alguns críticos estrangeiros, comoHellen Caldwell e John Gledson. Ou seja, para estes críticos, haveriauma instância autoral dissociada do narrador, e, desta forma, anecessidade de desvendá-la ideologicamente para se entender o queo escritor Machado de Assis pretendia criticar com suas obras.Assim, estes críticos têm trabalhado no sentido de encontrar a“verdade” dos textos machadianos.
A hipótese de dissociação se torna mais produtiva seacrescentarmos ao autor real e ao narrador a figura de um autorsuposto. Neste caso, o gênero memórias se torna uma estratégia
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
34
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
importante à tarefa de se criar um autor suposto que, embora não seconfunda com o autor real, dele se aproxima. Para Abel Barros Baptistaesta dissociação estabelece um jogo infinito de máscaras, abrindo umaindecisão entre memória e ficção. Assim, Machado de Assiscomplexifica a estratégia de Macedo para problematizar a questão daautoria, da capacidade de narrar e refletir, de viver e pensar, dapluralidade de perspectivas, traços típicos da modernidade, jáprenunciando um problema que aparecerá em Fernando Pessoa, ValeryLarbaud ou mesmo em Borges.
O 2º Macedo: crônicas, memórias e romances satíricos
Joaquim Manuel de Macedo, em sua primeira fase, teve relevantepapel na consolidação do romance brasileiro. Em 1844 publicou Amoreninha que alcançou grande sucesso junto ao público pelasimplicidade folhetinesca e pelo uso da linguagem corrente, sem nuncaferir a suscetibilidade do leitor médio. Macedo figurou comopropagador das histórias de intrigas sentimentais ligeiras, calcado quefoi no folhetim, dirigido a uma burguesia já sedenta de vida socialpossibilitada pela urbanização que, aos poucos, ia transformando oantigo sistema patriarcal de família reclusa para a prática do salão.Macedo se especializou, então, na pintura dessa nova vida social, comopedagogo dessa nova modalidade de agir, ora criticando certosexcessos mundanos, ora apontando inadequações ao então recenteestilo moderno de vida.
Em meados de 1860, a voga realista toma a cena literária emPortugal e também no Brasil. Macedo, após alguns revezes nocampo político, se vê em dificuldades financeiras. Necessita, então,aumentar seus leitores que mudavam de perfil. Passa, assim, asatirizar a vida política, fazendo crítica aos desmandos e àsincompatibilidades de certas práticas públicas com a modernizaçãopretendida pela jovem nação.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
35
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Em 1865 publica O culto do dever, em que critica aaristocracia da corte, desiludido que estava pois naufragava em sériosproblemas financeiros, uma vez que “usou na vida pessoal o códigomoral idealizante, paradigma ficcional da classe média” (SERRA,2004, p. 125). Machado de Assis criticou este romance pela inserçãode personagens reais na ficção, que não deveria se misturar aos fatos:“se a missão do romancista fosse copiar os fatos, tais quais eles sedão na vida, a arte era coisa inútil; a memória substituiria aimaginação. [...] O poeta daria a demissão e o cronista tomaria adireção do Parnaso” (apud SERRA, 2004, p. 127). Como assinalaTânia Serra, Machado também “acha errado Macedo dizer que nãoé o autor do romance”. (SERRA, 2004, p. 127).
A partir de 1867, Macedo começa a escrever Memórias dosobrinho de meu tio, que publica em 1868, e é a continuação de Acarteira de meu tio, romance quixotesco de 1855, sendo que ambosse relacionam sem dúvida, como veremos mais adiante, com Osobrinho de Rameau de Diderot. Outro romance satírico dessanova fase de Macedo é A luneta mágica, publicado em 1869,também com forte influência das crônicas jornalísticas e doschamados diálogos e contos filosóficos.
A propósito de A luneta mágica, Temístocles Linhares insisteem ver clara influência de Macedo sobre Machado: “A verdade éque muitos de tais episódios lembram Machado, o que faz suporpelo menos tenha sido Macedo uma das suas leituras preferidas,embora muita gente possa achar desprimorosa para o autor de DomCasmurro essa influência de leitura [...]”. (apud SERRA, 2004, p.147) Começam a surgir com Macedo as então chamadas sátirasromanceadas, em que se utiliza a estratégia de criticar a sociedadeatravés da perspectiva narrativa em primeira pessoa, de umnarrador-personagem cínico ou parvo, estratégica em parteretomada por Machado.
Roberto Schwarz, no ensaio “Acumulação literária e naçãoperiférica”, afirma que em Machado “as liberdades narrativas
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
36
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
peculiares à segunda fase começam sob o signo de Sterne”(SCHWARZ, 2000, p. 230), acrescentando ainda o diálogotravado com os folhetins e com as crônicas publicadas nos jornaisda época. Com efeito, com os jornais surge a necessidade deagradar o leitor, traço que aparece desde cedo em Macedo e queé retomado também em sua segunda fase cômica e satírica, queSchwarz não menciona.
Assim, Schwarz alia Machado apenas a “uma corrente decomicidade muito mais franca e popular [é] formada por FrançaJunior, Manuel Antonio de Almeida e Martins Pena” (Idem, 2000,p. 236), deixando Macedo de lado. Neste momento, o teatro que seinspirava em Alexandre Dumas tinha como objetivo a moral e aeducação do público, através dos chamados dramas de casaca. Épreciso dizer que era o que havia de mais avançado naquele momento,pois ligado ao movimento liberal, à vontade de educar o espectador,para fazer prevalecer o bom senso burguês. Foram neste sentidotanto o teatro quanto os romances satíricos de Macedo e também oteatro de Machado.
Em A luneta mágica, o personagem narrador Simplícioexperimenta sucessivamente a visão do mal, a visão do bem, epor fim adquire a visão do bom senso, quando então se cala.Simplício é também o nome do personagem do famoso Diálogossobre os dois maiores sistemas do mundo de Galileu Galileicuja publicação em 1632 custou-lhe a prisão. Nestes diálogos,gênero popular para divulgação do pensamento filosófico ecientífico de então, Galileu reproduz uma conversa entre trêspersonagens: Salviati, que defende as teses de Copérnico; Sagredo,um observador neutro; e Simplicius, defensor de Aristóteles ePtolomeu, este último, um pouco mais que um idiota,ridicularizado do princípio ao fim.
Outro diálogo importante que A luneta mágica trava écom Verdade das ciências contra os céticos e os pirrônicos de1625 do padre Marin Mersenne, muito usada pelos positivistas do
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
37
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
século XIX. Esta obra consiste também em um diálogo entre umalquimista, um cético e um filósofo cristão, onde Mersennedesenvolve sua concepção de ceticismo mitigado ou construtivopara afirmar que, se não podemos tudo conhecer, apenas nos édado conhecer algo sobre as aparências e efeitos, é a partir delesque devemos nos guiar. Mas se o conhecimento é advindo daexperiência sensorial, ou seja, dos efeitos que variam de pessoa apessoa, devemos nos pautar pelo senso comum, ou, melhor ainda,pelo bom senso.
Este tipo de ceticismo relativiza as oposições, pois tudodependeria de um ponto de vista; assim, refuta-se a noçãomaniqueísta de Bem e Mal. Ninguém poderia ser somente “bom”ou apenas “mal”. Desta maneira, Macedo critica a própria formafolhetinesca em que abundam personagens caricatos, divididos entreo heroi e o vilão.
Assim, como conclui Richard Popkin, “o ceticismo mitigadoagora assimilado por Auguste Comte torna-se […] filosoficamenterespeitável” (POPKIN, 2000, p. 211), abandona-se a busca dacerteza absoluta e aceita-se o conhecimento científico como guiapara a vida prática, usando-se de modo racionalista o ceticismo.Nesse viés, Macedo critica os excessos românticos que se afastavamda vida prática para transitar em um romantismo mais combativoe crítico. Como bem analisou Roberto Schwarz, havia em Macedouma vontade de estar em sintonia com as contradições damodernidade européia; pode-se entender, nesse sentido, essa vogacética macediana, que resulta em um ceticismo edulcorado,funcionando como verniz de modernidade.
Em A luneta mágica, Macedo também utiliza uma narrativaem primeira pessoa conduzida pelo personagem principal,Simplício, mancebo rico que sofre de miopia – tanto física comomoral – assim ele duvida de sua própria capacidade narrativaironizando sua posição social, desvelando a hipocrisia tanto dointerior de seu lar, onde deveria reinar “a paz doméstica”, quanto
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
38
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
da vida social, estratégia que também se aproxima da utilizada nasmemórias de Brás Cubas.
Macedo precisa reverter a própria lição do bom senso queimpõe o silêncio para poder criticar a vida social de sua época,utilizando-se do romance cômico, ligeiro, que não ferisse assuscetibilidades do público médio guiado por um narradorsimplório. Vai nesse senso, talvez, a declaração final de Simplício,que um dia haveria de escrever um livro que relatasse sua visãodo bom senso. Assim, o bom senso prega o sigilo: não criticarninguém, daí a necessidade de se utilizar um narrador entre cínico eparvo, sem autoridade moral, que ousasse narrar sua visão, sempreparcial, da realidade.
Como vimos, a questão do leitor e de sua suscetibilidade éuma preocupação importante para Macedo em sua tarefa, presentena primeira fase, de implantar o gosto pela leitura, porém, seusromances satíricos do “segundo Macedo” não serão bem recebidospelo público. A questão do leitor também aparece em Machado.Afinal, como criticar sem cair no dogmatismo, na mediocridade doleitor médio ou se impor como superior a ele? Se aquele que tembom senso não pode criticar, será imprescindível a estratégia deutilização do narrador parvo e desabusado, um narrador ambíguo,aquele que “morde e sopra”.
O leitor, o narrador distanciado e o suposto autor
Em 1862, Macedo publica Um passeio pela cidade do Riode Janeiro, em que reúne, num primeiro volume, 44 crônicaspublicadas no Jornal do Comércio. O livro se abre com um prólogoendereçado “aos meus leitores”, no qual Macedo explica certosdetalhes de seu trabalho, como a vontade de “salvar do olvido muitascoisas e muitos fatos cuja lembrança vai desaparecendo” (MACEDO,2004 b, p. 18).
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
39
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Pede desculpas pela sua inabilidade como escritor, uma vez quetem sido censurado pelos sábios e eruditos o fato de ele ter escrito“quase sempre em tom brincalhão” e epigramático e também pormisturar gêneros, ou seja, porque mistura “verdade histórica comtradições inaceitáveis e lendas imaginadas”. (Idem, 2004 b, p. 19)
Mas declara Macedo que sua finalidade é agradar ao povo:
Os eruditos e os sábios rir-se-iam de mim.[...]Ora, escrevendo eu também para o povo esta obra, cuja matéria éárida e fatigante, não quis expô-la ao risco de não ser lida pelo povo,que prefere os livros amenos e romanescos às obras graves eprofundas.[...]Acertei ou errei, procedendo assim?Decida o público, que é meu juiz, e qualquer que seja a sua decisão.Quer me absolva, quer me condene, ..... Fico contente. (Idem, 2004 b, p. 19/20).
Já Brás Cubas, no seu famoso prólogo “Ao leitor”, aocontrário de Macedo que opta pelo tom brincalhão para agradaro povo, declara que escreveu “com a pena da galhofa e damelancolia” correndo risco de não agradar nem aos graves nemaos frívolos “que são as duas colunas máximas da opinião”, masque ainda assim espera “angariar as simpatias da opinião.” Comosalienta Roberto Schwarz (2000, p. 242), em Machado, “a ousadialiterária [...] consistia em salientar isso mesmo, agredindo ascondições da leitura confiada e passiva, ou melhor, chamando oleitor para a vida desperta”. Como já visto, a utilização do leitor/narratário não é apenas comum em Shandy, mas também emautores do século XIX, assim como nos brasileiros, a partir dacrônica, e principalmente Macedo, mas também nos europeus,como Stendhal e Baudelaire e indiretamente em Flaubert e Eçade Queiróz.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
40
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A obra Memórias do sargento de milícias de ManuelAntonio de Almeida foi publicada em dois volumes entre 1854-5. A história, também próxima da crônica histórica, surge parao autor a partir de conversas com Antônio César Ramos, sargentoaposentado, que teria conhecido o major Vidigal, o célebre chefede polícia que aparece nas Memórias. A história se passa entreo reinado de Dom João VI, “Era no tempo do Rei”, e o 1ºReinado. Diferentemente das outras “memórias” aqui tratadas,foi escrita em 3ª pessoa, tendo sido publicada primeiramente emjornal. Na sua primeira edição não traz o nome do autor,constando apenas a assinatura “por um brasileiro”, o que aaproxima do Brás de Machado. Outro aspecto interessante é queas Memórias de Brás Cubas começam em 1805 e termina em1869, respectivamente ano do nascimento e da morte do defunto-autor. A última data é de um ano depois da publicação das“memórias” de Macedo2, e o seu início é o momento em que sepassam as memórias de Almeida, ou seja, as histórias sãocontemporâneas entre si.
É preciso ressaltar que a sátira, a crônica, a memóriatrabalham nesta relação entre a não ficção e a ficção. Nestas obrasromanescas encontramos tanto a sátira social, quanto a literária,pois, além de criticarem a sociedade de sua época, colocaram emcausa o gênero romanesco tradicional e o papel do leitor ingênuo.
A voga satírica é devedora de tradições passadas queressurgem no século XIX. Foi somente em 1822 que os diálogosde Galileu foram publicados, depois de longa censura aos livrosque defendiam o sistema heliocêntrico. É também desta época aprimeira edição d’ O sobrinho de Rameau de Diderot, que, tendosido escrito também em forma de diálogo entre 1762 e 1772, não
2 Nesta voga de memórias surgem, em 1878, as Memórias da rua do Ouvidor de Macedo quesaíram em folhetins anônimos no Jornal do Comércio de 22 de janeiro a 10 de junho destemesmo ano.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
41
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
foi publicado por Diderot, que talvez temesse represálias. Depoisde sua morte, o manuscrito foi para a Rússia. De lá aparentementechegou às mãos de Schiller que o mostrou a Goethe que o traduziupara o alemão em 1805. Mas tarde, em 1821, ele será traduzidodo alemão para o francês e publicado na França. Somente em 1891o original será publicado na França, ou seja, posteriormente àsMemórias do sobrinho de meu tio. Então, sem dúvida, Macedo3
entrou em contato com este livro – direta ou indiretamente –através da tradução feita por Goethe e, assim como o livro deGalileu, O sobrinho de Rameau deve ter conhecido um grandesucesso de público, atualizando o gosto pelo gênero.
Ao falar sobre a escolha de um narrador como sobrinho dotio, o que por si só já estabelece um distanciamento interno, FloraSüssekind reforça a influência de Diderot uma vez que “esse outrosobrinho também se desqualifica, com petulância, ao longo dodiálogo diderotiano.” (SÜSSEKIND, 1995, p. 16) E assinala aindaoutras influências da própria tradição brasileira como
da ficção humorística da primeira geração romântica brasileira. Emespecial dos Excertos das memórias e viagens do coronelBonifácio de Amarante (1848), de Manuel de Araújo porto Alegre,relato fantasioso de viagens, cuja primeira edição em livro, em 1852,acrescentaria, às aventuras de Bonifácio, anotações e histórias de seusobrinho Tibúrcio, que, acrescido de contornos políticos, pareceter servido de modelo para o narrador-protagonista de A carteira demeu tio e Memórias do sobrinho de meu tio.
O sobrinho de Rameau é cínico e amoral e, desta forma, aderecom facilidade aos jogos da vida social, às aparências. Mas ao finalconfessa que segue este estilo de vida por falta de coragem, uma
3 No Brasil, a primeira publicação de O sobrinho de Ramoau (com esta grafia) é de 1857,não constando o nome do tradutor. Agradeço ao meu orientando de iniciação científica,Luiz Felipe Andrade Silva, esta pesquisa.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
42
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
vez que seríamos todos dependentes e acanalhados. Defende, assim,a hipocrisia, a riqueza, a adulação.4
Se, através da figura do sobrinho de Rameau, Diderot traçaum ponto de vista divergente do seu, estabelece porém uma tensãoparadoxal entre seu ponto de vista, que se aproxima do personagemdo filósofo, e a perspectiva do sobrinho de Rameau. Assim, ofilósofo se sente atraído pelo sobrinho que, através de seu aspectobufão e cínico, denuncia uma sociedade feita de máscaras pelainversão de papéis que ele provoca.
Se para Diderot a arte deve partir da realidade, porém, não seconfunde com ela, assim esta tensão nunca é resolvida. Como explicaMarcelo Jacques de Moraes, para Diderot:
Imitar a natureza não significa, pois, reproduzi-la mas dirigir ao mundohistórico, justamente, um novo olhar, disseminando – por que não?– um novo gosto possível. Daí parecer-me possível inferir em Diderota consciência moderna – de que Baudelaire seria o grande disseminadorquase um século mais tarde – que concebe o artista como uma espéciede testemunha de seu presente ou, mais do que isso, como aquele queproduz um olhar sobre esse presente, um olhar que ao mesmo tempo oafirma e dele dessoa. (MORAES, 2003, p. 130)
Assim, a arte estaria buscando sentido na realidade, mastambém fabricando sentidos através dos olhos do leitor aomediar sua capacidade de observador. Para Diderot, a dimensão
4 Roberto Schwarz, em seu ensaio “Acumulação literária e nação periférica”, analisa a obra deMachado dividindo-a em duas partes: a primeira seria as dos romances em que apareceria aquestão: de, não sendo possível escapar às relações de dependência e favor, haveria uma saídapara evitar-se a humilhação que tal situação engendraria? Neste sentido penso que é interessanterelacionar-se o pensamento de Diderot sobre estas questões, que, como em Machado, sãoarticuladas não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista dito universal, semque um destes fatores seja possível sem o outro. O que é interessante, porém, ao invés de sepensar a obra como evolução, seria entender como são articulados os diferentes pontos de vistanarrativos nos textos machadianos.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
43
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
moral da arte estaria na produção de uma experiência subjetiva capazde criar alteridade. Talvez fosse importante relacionar o pensamentoartístico de Diderot para trabalhar a obra de Machado fora de certatradição crítica associada ao moralismo e à estética realista do séculoXIX e que perdura até os nossos dias.
Se, em O sobrinho de Rameau, existem duas vozestensionadas, a dele e a do filósofo, entre a razão do filósofo e a razãocínica do sobrinho, e, mesmo que esta última esteja sendo colocadaem questão com maior ênfase por Diderot, mas isso sem garantia,sem solução nesse diálogo, nas Memórias do sobrinho de meu tioencontramos um narrador distanciado, capaz de tecer consideraçõescínicas ao seu próprio comportamento. Mas este narrador, por serbastante caricatural, precisa ser contraposto, seja pelo compadrePaciência, seja pelo pós-escrito explicativo e moralizante, que se colocano lado antagônico ao sobrinho e que se aproxima do próprio escritor,Macedo, conhecido por sua virtude extremada.
O que aparece como bastante original em Diderot é que elesubverte a forma usual dos diálogos filosóficos desde os modelosplatônicos ou mesmo os já aqui citados, como os de Galileu e o deMersenne, cuja finalidade era, através da ironia socrática, superior,revelar a verdade. No diálogo diderotiano, travado entre ELE, osobrinho, e o EU do filósofo, ou seja, entre um ele-desabusado eamoral e um eu-filósofo virtuoso, surge uma contaminação recíprocaentre estes dois personagens, estabelecendo-se um diálogotipicamente moderno, sem uma verdade previamente imposta e aser revelada, traço do ceticismo de Diderot.
Pelo que foi dito, seria possível afirmar que o Brás Cubas seaproxima mais de Diderot do que do edulcorado sobrinho deMacedo. Diderot, que foi influenciado por sua vez por LaurenceSterne, em cuja obra aparecem as digressões e os comentários donarrador que entrelaça o motivo filosófico ao motivo estético datécnica romanesca, num contínuo vaivém, radicaliza por sua vez,assim como Machado, o tom cômico-ligeiro de Sterne.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
44
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Mas, em todos estes textos, está presente um novo estatutodo narrador, que, ao invés de preservar a ilusão romanesca, prefererevelar continuamente sua presença, comentando seu próprio texto,explicando suas atitudes e se dirigindo ao leitor, ou melhor, ao“narratário” para melhor o distinguir do leitor real. Parece que onarrador quer que o leitor participe das decisões que toma, masao mesmo tempo o confunde, fornecendo-lhe pistas ambíguas ecolocando em xeque o realismo do texto ficcional. Com efeito,este leitor-narratário é introduzido como um personagem quenecessita ser educado para adquirir espírito crítico, mas esta tarefase complexifica, uma vez que o próprio narrador duvida de suacapacidade crítica e de sua sabedoria, construindo um jogo dedobra e desdobra, de distanciamento e de atratividade entre onarrador e o leitor.
Enylton de Sá Rego, em seu livro O calundu e a panaceia,retomando José Guilherme Merquior, trabalha a influência dasátira menipeia e da tradição luciânica em Machado de Assis.Uma das principais características da obra de Luciano deSamosata é o aproveitamento sistemático “do ponto de vista dokataskopos ou observador distanciado, que, como um espectadordesapaixonado, analisa não só o mundo a que se refere comotambém a sua própria obra literária, a sua própria visão demundo”. (SÁ REGO, 1989, p. 45/46).
Assim, para Sá Rego, o narrador como observadordistanciado pode assumir aspectos distintos, seja como aqueleque vê o mundo do alto ou como mero observador de suaspersonagens, ou ainda, como um narrador presente no texto quenão adere a nenhum ponto de vista. Ressalta, assim, a importânciadeste ponto de vista distanciado:
Em nossa opinião, é através da utilização do ponto de vistadistanciado que Luciano consegue ao mesmo tempo afastar-se dasconvenções dos gêneros literários vigentes em sua época e,
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
45
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
paradoxalmente, renová-las, isto é, dar-lhes nova vida através de suahibridização; é ainda o distanciamento que lhe permite o uso da paródiapara aquele fim; é ele ainda que possibilita a relativização do conceito deveracidade, na produção de uma arte sobretudo imaginativa; e, finalmente,é esse mesmo distanciamento que o mantém avesso a uma posiçãoética moralizante, posto que relativiza não só as outras como a sua própriaverdade, mantendo assim a posição tradicional do spoudogeloion.” (SÁREGO, 1989, p. 66/67).
Este tipo de narrador consegue enfim manter pontos de vistaoblíquos instaurando a ambiguidade, conduzindo o leitor a uma leituraséria e uma cômica. Como um narrador autor-reflexivo quebarrocamente assistisse à sua vida como um grande teatro, acaba porinstaurar um distanciamento irônico típico desta posição deobservador do mundo e estabelece, assim, distâncias em contínuovaivém entre o autor, suas idealizações, o autor implícito, e o narrador.
É interessante observar que o momento culminante dedistanciamento do narrador, no caso de Brás Cubas, se dá nocapítulo VII, quando sofre o célebre delírio e do “alto de umamontanha” vê desfilar o flagelo dos séculos. Em Macedo, na obrade 1855, A carteira de meu tio, o maior distanciamento donarrador se dá, por sua vez, quando o sobrinho sofre uma visãoapós ter ficado “de todo fora de mim”. Assim, parece-lhe que se“achava em um lugar tão alto”, que se considerou “transportadoao mundo da lua, ou pelo menos encarapitado em cima da pedrado Corcovado”. Se em Machado a visão do alto possibilita ver afatalidade das coisas e da própria humanidade, em Macedo, o altose territorializa na pedra do Corcovado, no Rio de Janeiro, de ondepode ver o seu século e as mazelas políticas do Brasil de então. Estesnarradores buscam aqui uma perspectiva privilegiada, uma visãodo alto, possível de ser encontrada apenas enquanto “delírio”, paraaquele que está no “mundo da lua”.
José Raimundo Maia Neto explica o uso da estratégia de umnarrador em primeira pessoa, porém distanciado, que surge na
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
46
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
segunda fase da obra de Machado de Assis, através da morte deBrás Cubas, do isolamento de Bentinho, que se torna casmurro, edo afastamento da vida ativa do aposentado Conselheiro Aires. Odistanciamento possibilita a auto-reflexividade e o narrador “estáassim em condições de observar a finitude que permeia a vida”(MAIA NETO, 2007, p. 96), afastado que está das agitações edivertimentos da vida exterior. Maia Neto critica com veemência aleitura dos que “afirmam que as perspectivas de Brás Cubas, DomCasmurro e Aires são falsas ou parciais no sentido de nãoapresentarem a verdade completa presente nos romances” (MAIANETO, 2007, p. 27). Para ele, ao dissociar o narrador em primeirapessoa do autor, instância que deteria a verdade, estabelecendo aideia de um “narrador em primeira pessoa não confiável”, esta críticaestaria presa às mais tradicionais correntes hermenêuticas.
Com efeito, qualquer narrador, e não apenas aquele em primeirapessoa, pode não ser confiável, uma vez que diz o seu ponto de vista,o que torna tal afirmação improdutiva. Mesmo o narrador oniscienteapenas teoricamente conseguiria “enxergar” a verdade comototalidade, mas é sempre uma estratégia autoral, com pretensõesdogmáticas. O que ocorre no caso dos narradores em primeira pessoaque escrevem suas memórias é que eles possibilitam evidenciar, pelacriação de um autor suposto, o jogo ficcional que recai sobre qualquertipo de narrador. A criação de um narrador distanciado, como é ocaso principalmente de Brás Cubas, tem como função evidenciar eestabelecer um contraponto contínuo entre o personagem, sujeito doenunciado, aquele que atua, e o narrador, sujeito da enunciação, autordistanciado que narra sua história pessoal.
Neste mesmo sentido, Alfredo Bosi, em O enigma do olhar,descarta o que ele chamou de “a hipótese da dissociação autor-narrador”, segundo a tese de Helen Caldwell, John Gledson eRoberto Schwarz, entre outros. Assim, pergunta Bosi (1999, p. 38), “o narrador mente, de propósito, e só o autor e alguns leitoresmais avisados conhecem a verdade verdadeira e historicamenteirrefutável?”
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
47
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Assim, o autor suposto, como assinala Abel Baptista (2000,p. 152), tem como função “tornar irrecuperável a estabilidade doautor efetivo”, tornando-o objeto de interrogação incessante. Obruxo do Cosme Velho propositalmente instaura um jogo demáscaras ao queimar suas correspondências, seus manuscritos,apagando ao máximo seus traços biográficos, dissipando possíveisidentidades.
A ficção de autor acaba por quebrar o princípio de unificaçãoe de homogeneização de um conjunto de obras assinadas porMachado que, na dita “segunda fase”, compartilha e embaralha aautoria com Brás Cubas, Dom Casmurro e o Conselheiro Aires.Estes não são simplesmente narradores, mas “autores supostospreocupados com a literatura, fundamentando em critérios denatureza literária as decisões que tomam no processo de organizaçãodo discurso.” (BAPTISTA, 2000, p. 161).
As memórias como gênero
O gênero memórias difere da autobiografia na medida emque, diferentemente desta, o princípio de identidade entrenarrador e o objeto de sua narração não coincide totalmente umavez que nas memórias não se trata simplesmente de um sujeito quese conta, ele é ainda testemunho de seu tempo, principalmentequando a historia interfere na sua própria vida. Então, pode-se dizerque é um gênero que serve de maneira conveniente à sátira social epolítica, como é o caso de Macedo e em parte de Machado.
O exemplo romântico de Chateaubriand, com o seuMemórias de além-túmulo (1848), difere porém destes aspectos,pois, nesse caso, se a escrita se nutre dos eventos do presente, estesservem principalmente para despertar a memória afetiva do escritorque antecipa de certa maneira o trabalho proustiano, como tambémencontramos em Brás Cubas. Mas as memórias de Chateaubriand,
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
48
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
que levariam mais de 40 anos para serem escritas, também foramalvo de críticas, pois visavam também eternizar seu autor. Ou comoexplica no prólogo do Memórias do sobrinho de meu tio o autor-narrador, a função das memórias póstumas é poder gozar a vidamesmo depois de morto. Assim explica o sobrinho do tio, numescárnio ao autor francês que com certeza não escapou a Machado:
Desçam porém ao âmago das cousas que não hão de achar contradição:o assunto de todas Memórias é sem dúvida e sempre a desarrumaçãodo passado; mas o seu motivo, como o de todos os escritos e livros, égozo do presente, é a satisfação da vaidade do autor: até nas própriasMemórias de além-túmulo o homem, furioso por não poder escaparà morte, goza, escrevendo-as, a consolação, sui generis de preparar umlogro à morte, revivendo e imortalizando-se nos aplausos e na admiraçãoque a sua obra deve excitar.Todavia cumpre-me declarar que nenhuma destas consideraçõesinfluiu no meu ânimo, provocando-me a escrever.As minhas Memórias são nada mais e nada menos do que umadesforra e um castigo. (MACEDO, 1995, p. 50)
Dentro desta perspectiva, o autor-narrador de Macedo declaraque a finalidade de sua narrativa seria “uma desforra e um castigo”,mas acrescenta também a ideia da vaidade – uma vez que tem comoúnico princípio de conduta o “amor do eu” – e do logro à morte.Não podemos deixar de remeter estas características ao Brás Cubasde Machado; neste caso, mesmo o narrador distanciado, o defunto-autor, ainda estaria atuando na cena do mundo.
Como salienta Tania Serra (2004, p. 140), Memórias dosobrinho de meu tio “inaugura, ainda, outros aspectos estilísticosque não tínhamos visto aparecer, como a utilização da ironia, euma narrativa digressiva bem no estilo da inglesa do século XVIII,dir-se-ia mesmo “hobby-horsically tristram shandiana”.
De fato, o sobrinho de meu tio declara querer confessar quemé, e que não teme isto, tomando posição diversa do sobrinho de
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
49
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Rameau, que tem medo. Somente assumindo francamente quem eleé, ele poderá ao mesmo tempo dizer “o que eles são, e o que elesfazem, e que cuidadosamente procuram esconder.” (MACEDO,1995, p. 53) Mas sabiamente o sobrinho toma a precaução de, aoconfessar quem é, não confessar entretanto seu nome, se protegendoastutamente no anonimato.
Flora Süssekind esclarece a diferença entre o procedimentode Macedo e o de Machado da seguinte forma:
Macedo, em vez de disseminar a tensão que sugere pelo seu processode definição dos personagens (marcados, em geral, por traços únicos,exemplares) ou pela trama político-matrimonial (o que só se dá noepisodio da conquista bipartidária de Chiquinha) de Memórias dosobrinho de meu tio, não consegue sustentá-la sequer no plano danarração. Daí a utilização de uma voz antagônica, que se contrapõe,veemente, ao longo das memórias, à do sobrinho-narrador: a doincorruptível compadre Paciência. Daí, no “Pós-escrito” do livro,uma súbita alteração de foco, introduzindo-se ainda uma outra voz,que toma a palavra e, em tom sério, ralha diretamente com os políticose o governo, explicando que todo o livro não passara, na verdade de“um longo sermão”. (SÜSSEKIND, 1995, p. 18)
Talvez a crítica aqui traçada por Süssekind a Macedo o liguemais estreitamente a Sterne do que ao próprio Machado. Com efeito,Augusto Meyer, ao ressaltar a originalidade de Machado em relaçãoa Sterne, aproximou Brás Cubas do “homem subterrâneo” deDostoiévski pelo tom de amargura, como salienta Alfredo Bosi emseu livro Brás Cubas em três (2006).
Na sátira de Machado, diferentemente de Macedo que estavaestritamente ligada à história local, aparece, além de umapreocupação com o seu tempo, uma sondagem universal e filosófica.Assim, como escritor de seu tempo, Machado não se restringe aoaspecto localista, porém seu aspecto universal advém de uma práticalocal e histórica, o que a singulariza. Sua obra instaura um movimento
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
50
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
constante, entre o distanciamento e a territorialização, necessáriopara estabelecer, como já prefigurava Diderot, um olhar corrosivoe interrogativo de sua atualidade, “um olhar que ao mesmo tempo aafirma e dela dessoa”.
Uma conclusão
Como visto, para José Raimundo Maia Neto, assim como paraAlfredo Bosi, é desnecessário supor que a narração de Brás Cubas“represente uma autossátira, isto é, o desenvolvimento de um pontode vista oposto ou, de algum modo, alheio à percepção que Machadode Assis tinha da sociedade brasileira ou da humanidade em geral”(BOSI, 1999, p. 39). Para Bosi, “não se trata[va] de um jogo deexclusões, de preto e branco, de mentira e verdade, de narrador vs.autor, mas de um movimento de inclusão de Brás Cubas em Machadode Assis.” (BOSI,1999, p. 39).
Assim, instaura-se uma atração entre Machado e Brás Cubas,mas, como acontece entre o filósofo e o sobrinho de Rameau deDiderot, ocorre também uma dissociação, criando uma tensãocorrosiva entre os pontos de vista. Estabelece-se um jogo demáscaras entre autor, autor suposto e narrador, um distanciamentoinimigo, como diz Schwarz, no sentido de forçar um novo olhar emoutra posição. O gênero memórias possibilita a invenção de sujeitosque experimentam situações diversas, em diferentes perspectivas.Esta experiência da ficção do autor em Machado pressente a questãoessencial da modernidade, como explica Foucault, “de saber se sepode pensar diferentemente do que se pensa, e perceberdiferentemente do que se vê, [é] indispensável para continuar a olharou a refletir”. (FOUCAULT, 1989, p. 43).
A figura do narrador distanciado que aparece nas Memóriasdo sobrinho de meu tio, mas também em A luneta mágicanarrado que é em primeira pessoa, em que o próprio narrador míope
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
51
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
duvida da sua própria capacidade narrativa, é levada a um nível detensão máxima em Machado que afasta qualquer possibilidade deuma visão do bom senso, de um ponto privilegiado pela instauraçãodo paradoxo, que, como paixão pelo pensamento, descobre quenão se pode estabelecer um senso único, pois é próprio do sentidonão ter direção, não ter “bom sentido”, afrontando assim o bomsenso e o senso comum, deixando sempre sob suspeita as certezasexistentes.
Mas é hora de nos distanciarmos um pouco da vida literária,das relações dialógicas inerentes ao que se chama em nosso tempoliteratura, pois, como adverte Brás Cubas em seu prólogo, “aobra em si mesmo é tudo”.
Referências bibliográficas
BAPTISTA, Abel Barros. A formação do nome: duas interrogaçõessobre Machado de Assis. Campinas: Editora Unicamp, 2003.
BOSI, Alfredo. Brás Cubas em três versões: estudos machadianos. SãoPaulo: Companhia das Letras, 2006.
______. Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Ática, 1999.
CANDIDO, Antonio. O honrado e facundo Joaquim Manoel de Macedo.In: ____. Formação da literatura brasileira. v. 2, Belo Horizonte: Itatiaia,1975.
DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido. Tradução Luiz Roberto SalinasFortes, São Paulo: Perspectiva, 2000.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II: o uso dos prazeres. Riode Janeiro: Graal, 1984.
JACQUES, Marcelo. Denis Diderot: imagem, alteridade e valor. In: RevistaTerceira Margem, Rio de Janeiro, v. VII, n. 8, p. 126-144, 2003.
MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias do sobrinho do meu tio. Org.Flora Süssekind. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.
______. A luneta mágica. São Paulo: Martin Claret, 2004 a.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
52
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
______. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. v. 1. São Paulo:Planeta, 2004 b.
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Memórias póstumas de BrásCubas. Porto Alegre: LPM, 1997.
MAIA NETO, José Raimundo. O ceticismo na obra de Machado deAssis. São Paulo: Annablume, 2007.
POPKIN, Richard. História do ceticismo de Erasmo a Spinoza. TraduçãoDanilo Marcondes de Souza Filho. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2000,211p.
SCHARWZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Editora 34, 2001.
______. Um mestre na periferia do capitalismo. São Paulo: Duas cidades/Editora 34, 2000.
SERRA, Tania. Joaquim Manuel de Macedo ou os dois Macedos: a lunetamágica do II Reinado. Brasília: Editora UNB, 2ª edição, 2004.
SÜSSEKIND, Flora. Introdução. In: Macedo, Joaquim Manuel de. Memóriasdo sobrinho do meu tio. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.
Memórias de Joaquins: entre Macedo e MachadoMARIA JOSÉ CARDOSO LEMOS
53
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
MEMORIAL DE AIRES: APRESERVAÇÃO DAMEMÓRIA ATRAVÉS DOPROCESSO DE ESCRITA
Sheila Katiane Staudt (UFRGS)1
RESUMO: Este trabalho tem por finalidade caracterizar aconstrução narrativa do último romance de Machado de Assiscomo uma tentativa do narrador – conselheiro Aires – deapreender suas lembranças ad eternum através do processo deescrita de alguns episódios marcantes de sua vida, bem comoanalisar em que medida o narrador contribui para a construçãode uma narrativa conforme os moldes benjaminianos. Para isso,foram utilizados alguns textos teóricos que nos auxiliem quantoà questão da memória, são eles: Lembrar, escrever, esquecer,de Jeanne Gagnebin e O circuito das memórias em Machadode Assis, de Juracy Assmann Saraiva.
PALAVRAS-CHAVE: Memória . Escrita. Machado de Assis.
ABSTRACT: This paper intends to characterize the narrativeconstruction of the last novel of the Brazilian writer Machado
1 Doutoranda em Literatura Brasileira pela UFRGS e professora efetiva do IFRS CampusCanoas. 92412-240. Canoas, RS, Brasil. E-mail: [email protected]
54
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
de Assis as a tentative of the narrator – councilor Aires – ofgathering his experiences ad eternum beyond the writing pro-cess of some remarkable episodes of his life, as well as to analysehow the narrator adds to the construction of a narrative in thesame way as Walter Benjamin’s models. Some theorical texts weresearched in order to fullfil the issue about memory, they are: –Lembrar, escrever, esquecer, by Jeanne Gagnebin and Ocircuito das memórias em Machado de Assis, by JuracyAssmann Saraiva.
KEYWORDS: Memory. Writing. Machado de Assis.
Considerações iniciais
O sexagenário e aposentado conselheiro Aires apresenta, nestaetapa de sua vida, como que uma necessidade de “deitar ao papel”as suas lembranças mais significativas a fim de abrigá-las doesquecimento. Na primeira parte, tentaremos verificar como oprocesso de criação deste diário tem por finalidade primeira apreservação da memória de seu narrador-personagem.
Na segunda parte, analisaremos o tipo de narrador destediário de memórias com base nos estudos de Walter Benjamin. Oconselheiro Aires narra e participa dos acontecimentos registradosnas páginas de seu diário; portanto, a classificação proposta nesteestudo visa desvelar o lugar deste singular narrador-personagem apartir da concepção benjaminiana sobre o papel e função doverdadeiro escritor de narrativas.
A escrita como perpetuação do vivido
Como já sinalizava o pensamento platônico, a escrita vemsendo o principal registro da memória nos tempos modernos.Jeanne Gagnebin em seu livro Lembrar, escrever, esquecer refletesobre o status da escrita como meio através do qual o ser humano
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
55
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
preserva suas memórias: “a escrita foi, durante muito tempo,considerada o rastro mais duradouro que um homem pode deixar,uma marca capaz de sobreviver à morte de seu autor e de transmitirsua mensagem.” (GAGNEBIN, 2006, p.112).
Ao longo de toda sua obra, o conselheiro Aires preocupa-se emregistrar no papel os eventos marcantes de sua vida com o principalobjetivo de não os esquecer no futuro. A preocupação em escrever osdetalhes mais significativos dos encontros e conversas que teve faz comque os mesmos tornem-se mais vivos em sua memória e, por vezes,deem margem a interpretações e análises outras no instante da escrita e,também, na releitura de seu texto.
A escolha pelos registros em seu diário é minuciosa e requerseleção dos principais assuntos que ficarão para a posteridade:
Ouvi com paciência, porque o assunto entrou a interessar-me depoisdas primeiras palavras, e também porque o desembargador fala muiagradavelmente. Mas agora é tarde para transcrever o que ele disse;fica para depois, um dia, quando houver passado a impressão, e sóme ficar de memória o que vale a pena guardar. (MACHADO DEASSIS, 1990, p.24)
A importância dada aos acontecimentos conservados pelamemória é fato. O conselheiro Aires parece optar por escrever emseu diário apenas aquilo que não sai de sua lembrança querendoassim, perpetuar, naquelas páginas, somente os episódios que, a seuver, merecem ser rememorados. Desta forma, percebemos otrabalho desprendido por este narrador no instante de escrever suasmemórias, esforço que privilegia as recordações que realmente lhesão caras.
A intervenção do narrador-personagem Aires em seu processode escrita é constante. A autocrítica acerca de suas anotações reforçaseu zelo e preocupação ao transpor suas memórias para o diário:
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
56
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
5 DE FEVEREIRORelendo o que escrevi ontem, descubro que podia ser ainda maisresumido, e principalmente não lhe pôr tantas lágrimas. Não gostodelas, nem sei se as verti algum dia, salvo por mana, em menino;mas lá vão. Pois vão também essas que aí deixei, e mais a figura deTristão, a que cuidei dar meia dúzia de linhas e levou a maior partedelas. Nada há pior que a gente vadia, - ou aposentada, que é amesma coisa; o tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever,não há papel que baste. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.30-31)
O olhar lançado sobre o registro do dia anterior revela o quãoexigente é este narrador ao eleger suas memórias. Aires concordaque o texto da véspera poderia ser mais curto, entretanto, acreditaque esta mania de escrever tanto se deve ao fato de estar aposentadoe, por esta razão, não haver papel suficiente nesta condição ociosa,permitindo que o texto continuasse da mesma forma que estava.
Por vezes, o impulso de escrever detalhadamente sentimentose emoções vividos faz com que o conselheiro apele ao seuinterlocutor – o papel – para auxiliá-lo na seleção das suaslembranças:
8 DE ABRILPapel, amigo papel, não recolhas tudo o que escrever esta pena vadia.Querendo servir-me, acabarás desservindo-me, porque se acontecerque eu vá desta vida, sem tempo de te reduzir a cinzas, os que melerem depois da missa do sétimo dia, ou antes, ou ainda antes doenterro, podem cuidar que te confio cuidados de amor. (MACHADODE ASSIS, 1990, p.38)
Como uma súplica ao seu interlocutor e confidente, oconselheiro tenta redimir-se do que escreveu anteriormente arespeito da bela viúva Fidélia, parecendo-lhe, nesta leitura, umaconfissão de seu amor pela dama. Desta vez, percebemos areleitura de sua escrita como forma de esclarecer ou explicar as
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
57
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
rememorações selecionadas para a posteridade. Para Benjamin, “arelação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelointeresse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial,o importante é assegurar a possibilidade da reprodução”(BENJAMIN, 1986, p. 210). Sendo assim, podemos entender que opapel, propriamente dito, possui dupla função neste diário:primeiramente, como ouvinte das confissões deste narrador e, aseguir, perpetuador de suas memórias vividas.
Há um instante em que o conselheiro cogita desistir de escreverseu “diário de fatos, impressões e idéias” (ibid., p.78). Entretanto,três dias depois deste projeto passar-lhe pela cabeça, ele revela overdadeiro motivo de estar escrevendo suas memórias:
24 DE AGOSTOQual! não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez coma pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas quequerem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão. Venhamosnovamente à notação dos dias. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.38)
A passagem anterior evidencia a razão singular de escreversuas memórias e reflexões no papel: não lhe escaparem da cabeça.O processo de escrita tem função particular nesta obra, já queserve como auxílio ao narrador para que este preserve suasmemórias vivas e nítidas, com a mesma riqueza de detalhes comque foram experimentadas por ele outrora. Reviver o passadoparece ser possível no instante em que “deita ao papel” os fatosque não merecem e, voluntária ou involuntariamente, não queremser esquecidos. Segundo Gagnebin (2006, p.112),
quando alguém escreve um livro, ainda nutre a esperança de que deixaassim uma marca imortal, que inscreve um rastro duradouro no turbilhãodas gerações sucessivas, como se seu texto fosse um derradeiro abrigocontra o esquecimento e o silêncio, contra a indiferença e a morte.
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
58
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
O motivo pelo qual o conselheiro Aires resolve continuar suanarrativa vai ao encontro desta reflexão de Gagnebin que imputa notexto escrito uma capacidade de proteção contra o esquecimento, ummeio de perpetuar a si mesmo, já que ele, ao escrever seu diário, seencontra velho e aposentado, confundindo lembranças da juventude e,pouco a pouco, despedindo-se desta vida.
A constante releitura de sua própria escrita atua como umsuporte na solidificação das memórias e lembranças queridas:
20 DE SETEMBROAquele dia 18 de setembro (anteontem) há de ficar-me na memória,mais fixo e mais claro que outros, por causa da noite que passamos ostrês velhos. Talvez não escrevesse tudo nem tão bem; mas bastou-merelê-lo ontem e hoje para sentir que o escrito me acordou lembrançasvivas e interessantes, a boa velha, o bom velho, a lembrança dos doisfilhos postiços... (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.97)
Outra vez percebemos o ato de reler-se continuamente, bemcomo a confirmação de que, a partir deste feito, um desabrocharde recordações passadas vem à tona em sua mente, propiciando afixação daqueles eventos escritos para sempre em sua memória. Apreservação de instantes caros e memoráveis ao conselheiro torna-se possível ao ele escrever e reler os mesmos nas folhas de papel.
No dia 17 de outubro, Aires é surpreendido por seu criadoJosé que havia acabado de encontrar papéis velhos e esquecidospor aquele e havia acreditado que fossem úteis e valiosos para o seupatrão. O encontro com estas lembranças portadoras de um passadoremoto provoca algumas reflexões acerca das reminiscênciasafloradas pelos documentos antigos:
Eram cartas, apontamentos, minutas, contas, um inferno de lembrançasque era melhor não se terem achado. Que perdia eu sem elas? Já nãocurava delas; provavelmente não me fariam falta.[...]
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
59
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Resolvo mandar queimar os papéis, ainda que dê grande mágoa aoJosé que imaginou haver achado recordações grandes e saudades.Poderia dizer-lhe que a gente traz na cabeça outros papéis velhosque não ardem nunca e nem se perdem por malas antigas; não meentenderia. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.108-109)
O desinteresse mostrado pelo conselheiro para com aqueladescoberta de seu criado aponta para o valor dado àquelasrecordações por parte de seu dono. Ao perceber que não havia dadopela falta daquelas cartas e registros antigos, conclui não serem asmesmas importantes em sua vida, já que, nem ao menos vagamente,apareciam em sua memória. A reflexão final de Aires revela seupensamento no que diz respeito ao que pode ou não ser recordadopelas pessoas, isto é, apenas àquilo que ainda é lembrado ereconhecido pela memória.
A partir disso, entendemos ser este processo de rememoraçãouma propriedade singular dos seres humanos, cuja função éarmazenar e excluir acontecimentos de nosso cérebro de acordocom a importância dada às experiências vividas. Ao optar por nãoverbalizar esta reflexão ao seu criado José, Aires acredita ser umtanto quanto complexo para ele compreender isso, uma vez que nemmesmo o conselheiro saberia explicar com precisão o porquê dessefenômeno extraordinário que se passa em nossas mentes.
A fixação de ideias e opiniões também acontece ao seremrepetidas no processo de escrita dessas lembranças. Ao contar oromance de Fidélia e Tristão, Aires repensa e reforça julgamentossobre a moça:
A recordação do finado vive nela, sem embargo da ação do pretendente;vive com todas as doçuras e melancolias antigas, com o segredo das estreiasde um coração que aprendeu na escola do morto. Mas o gênio da espéciefaz reviver o extinto em outra forma, e aqui lho dá, aqui lho entrega erecomenda. Enquanto pôde fugir, fugiu-lhe, como escrevi há dias, e agorao repito, para não esquecer nunca. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.134)
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
60
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
As considerações acerca da bela viúva fazem com que onarrador fundamente suas concepções escritas anteriormente, agoracom mais propriedade e de maneira a “não esquecer nunca”, comoele mesmo diz. A consciência de já ter escrito a mesma frase emoutras páginas reitera a leitura constante de seu diário e, ao mesmotempo, corrobora na perpetuação dessas impressões em suamemória.
Segundo Benjamin, “a memória é a mais épica das todas asfaculdades” (BENJAMIN,1986, p.210). A referência a sua boamemória pode ser vista no diálogo entre o conselheiro e D.Carmo no instante em que esta lhe confirma a data do casamentode Tristão e Fidélia: “Eu, para levar a conversa a outro ponto,insisti que não esqueço nada, e referi várias anedotas de lembrançaviva, todas verdadeiras, mas da minha mocidade. Agora muitacoisa me passa, muitas se confundem, algumas trocam-se.”(MACHADO DE ASSIS, 1990, p.153). Neste trecho do diário,Aires parece orgulhar-se de possuir uma boa memória naquelaconversa cara a cara com D. Carmo, porém, não deixa de assumir,em suas folhas de papel, que não lembra com exatidão de muitacoisa do passado, visto que confunde ou, às vezes, troca eventosou casos da sua mocidade.
Com isso, entendemos o porquê da necessidade confessadeste narrador de escrever os momentos que consideraimportantes nesta fase de sua vida, na qual se encontra aposentadodo trabalho diplomático, possuindo tempo para, por intermédioda escrita, conservar as horas felizes nas páginas de seu diário.
Todavia, os lapsos de memória também estão registradosnas páginas de seu diário e a correção dos mesmos é feita pelopróprio narrador ao longo do processo de escrita:
10 DE AGOSTOMeu velho Aires, trapalhão da minha alma, como é que tu comemorasteno dia 3 o ministério Ferraz, que é de 10? Hoje é que ele faria anos, meu
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
61
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
velho Aires. Vês que é bom ir apontando o que se passa; sem isso não telembrarias nada ou trocarias tudo. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.74)
A imensa utilidade de suas anotações diárias fica evidente nestaretratação de Aires no que diz respeito a uma comemoraçãoantecipada do ministério para o qual trabalhara. O diálogoconsigo mesmo e a maneira de tratamento utilizada neste textopara si próprio – ‘meu velho’ – vêm ao encontro da confissãoanterior, na qual afirma que trocaria tudo ou confundiria aslembranças, se caso não as anotasse em seu diário. O conselhodado a si mesmo de continuar apontando tudo no papel sinalizapara a importância deste trabalho que abriga do esquecimentorecordações singulares de sua existência.
O empenho é tamanho para este narrador-personagem no quediz respeito a conservar suas experiências entre amigos que, muitasvezes, Aires cria estratégias de memorização com o propósito deperpetuar os instantes vividos mais tarde, em companhia das folhasde seu diário:
– Sei; disse-me que aceitou de alguns chefes de Lisboa elegê-lo deputado.– Carmo, que queria prendê-lo por um ano ou mais, ficou aborrecidae triste, e eu com ela. Trocamos os nossos aborrecimentos, querodizer que os somamos, e ficamos com o dobro cada um...Gostei desta palavra de Aguiar, e decorei-a bem para me não esquecere escrevê-la aqui. Aquele gerente de banco não perdeu o vício poético.É bom homem; creio que já o escrevi alguma vez, mas lá vai aindaagora. Não perco nada em repeti-lo. (MACHADO DE ASSIS, 1990,p.84, grifos nossos)
A fim de driblar as eventuais falhas de sua memória, o conselheirofaz uso de artifícios vários para manter as lembranças acesas em suacabeça. Neste caso, Aires apreciou a palavra dita pelo amigo Aguiar etenta decorar a mesma, visando a perpetuação posterior daquele dito
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
62
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
em seu diário. Novamente, o critério de seleção é a simpatia destenarrador para com o vivido, caso contrário, não haverá o registro doque ocorreu naquelas folhas de papel. O gosto pela palavra ouvida deAguiar é o fator decisivo para guardá-la no coração e, ao mesmotempo, na memória através da escrita da mesma.
Ainda neste trecho, o conselheiro elogia o amigo e acredita játê-lo feito anteriormente; contudo, permite que a repetiçãopermaneça no seu texto, já que ele não perderia nada com aquelesegundo agrado a Aguiar. A leitura permanente de seus escritosfavorece a recordação de reflexões e impressões do conselheiroacerca daqueles que o rodeiam. Por isso, a certeza deste narradorao afirmar já ter dado o mesmo elogio ao amigo, em outraspáginas de seu registro de memórias.
O diário parece ser o interlocutor perfeito a este narrador-personagem que aprecia, de modo geral, uma boa conversa, masque, pelo dever da profissão, aprendeu mais ouvir que falar:
Hoje, que não saio, vou glosar este mote. Acudo assim à necessidade defalar comigo, já que não posso fazer com outros; é o meu mal. A índolee a vida me deram o gosto e o costume de conversar. A diplomacia meensinou a aturar com paciência uma infinidade de sujeitos intoleráveisque este mundo nutre para os seus propósitos secretos. A aposentaçãome restituiu a mim mesmo; mas lá vem dia em que, não saindo de casae cansado de ler, sou obrigado a falar, e, não podendo falar só, escrevo.(MACHADO DE ASSIS, 1990, p.120-121)
A necessidade de expressar suas idéias e dialogar mostra-secomo parte indissociável desta personagem. O processo de escritaparece trazer de volta o antigo Aires que preferia falar a ouvir,característica esta um tanto quanto velada na sua carreira diplomática.Ao transpor para o papel episódios dignos de serem rememorados,o narrador consegue ‘dialogar’ e expor, abertamente, impressões eopiniões pessoais que sua posição não lhe outorgava, podendo,
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
63
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
assim, narrar de forma espontânea acontecimentos de toda natureza.Desta forma, o diário parece ser o interlocutor ideal a este narrador-personagem que, por comodismo da idade ou vontade própria,escreve, na carência de um ouvinte que o faça.
A suspensão da escrita nas folhas de papel é motivo deexplicações por parte deste narrador que tenta se redimir pelaausência durante certo período de tempo:
30 DE NOVEMBROTristão convidou-me a subir às Paineiras, amanhã; aceitei e vou.Há dez dias não escrevo nada. Não é doença ou achaque de qualquerespécie, nem preguiça. Também não é falta de matéria, ao contrário.Nestes dez dias soube que novas cartas chamam Tristão à Europa,agora formalmente, ainda que sem instância; há eleições próximas.(MACHADO DE ASSIS, 1990, p.123)
A preocupação em retratar-se perante seu interlocutor e, até,frente a si mesmo demonstra a seriedade com que trata seu diáriode memórias. O cuidado dispensado neste registro de lembrançaspessoais aponta para a importância dada a este legado que lhepermite trânsito livre ao passado, período este repleto derecordações singulares de sua trajetória de vida.
Em outro momento, o narrador parece se deixar tomar pelapreguiça e confessa isso nas páginas de seu diário: “Já lá vão diasque não escrevo nada. A princípio foi um pouco de reumatismo nodedo, depois visitas, falta de matéria, enfim preguiça. Sacudo apreguiça.” (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.147). Nesta segundainterrupção da escrita, o conselheiro Aires admite, após enumeraroutros prováveis motivos, ter, enfim, estado com preguiça de anotarsuas memórias no papel. No entanto, ele retoma a narrativa de suasrememorações, apesar da preguiça que o afligia.
Com isso, entendemos de que maneira nosso narrador-personagem faz da produção escrita um suporte para a conservação
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
64
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
de suas memórias. Talvez por possuir essa característica não efêmera,a escrita traga consigo essa peculiaridade de poder brincar com otempo, por vezes retrocedendo, outras vezes parando longamenteem alguma reminiscência que vale a pena ser revivida.
O narrador Conselheiro
Segundo Benjamin, em seu texto “O narrador”, “o senso práticoé a principal característica de um narrador nato” (BENJAMIN, 1986,p. 200). Neste romance, o narrador-personagem Aires preza a serventiae funcionalidade de tudo aquilo que vê, escuta, aprende com os amigos,enfim, percebe com a vivência diária em meio ao círculo de pessoascom as quais se relaciona.
De maneira a elucidar esta questão, encontramos nas própriaspalavras do conselheiro a sua preferência pelo jeito simples de narrare escrever suas memórias:
Eia, resumamos hoje o que ouvi ao desembargador em Petrópolis acercado casal Aguiar. Não ponho os incidentes, nem as anedotas soltas, e atéexcluo os adjetivos que tinham mais interesse na boca dele do que lhespoderia dar a minha pena; vão só os precisos à compreensão de coisas epessoas. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.25)
Deste modo, percebemos estar este narrador-personagem deacordo com os estudos de Benjamin, pesquisador este que classificacomo um bom contador de histórias aquele que valoriza a utilidadee a essencialidade do seu escrito e não os fatos sem serventia parafins de recordação.
Na concepção benjaminiana, a verdadeira narrativa:
[...] tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária.Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
65
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – dequalquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. [...]O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome:sabedoria. (BENJAMIN, 1986, p. 200)
A partir disso, é possível perceber, ao longo deste diário,inúmeros ensinamentos ou crenças da personagem Aires, namaioria das vezes, não verbalizados aos seus interlocutores, masque se encontram nas folhas de papel – outro interlocutorimportante deste singular narrador que sabe dar conselhos aolongo de sua obra.
Já nos primeiros dias de seu diário, essa característicaparticular de um verdadeiro narrador vem à tona na figura doconselheiro Aires em uma conversa com sua irmã Rita sobre aentão desconhecida viúva Fidélia:
Antes do almoço, tornamos a falar da viúva e do casamento, e elarepetia a aposta. Eu, lembrando-me de Goethe, disse-lhe:- Mana, você está a querer fazer comigo a aposta de Deus e deMefistófeles; não conhece?- Não conheço.Fui à minha pequena estante e tirei o volume do Fausto, abri a páginado prólogo no céu, e li-lha, resumindo como pude. Rita escutouatenta o desafio de Deus e do Diabo, a propósito do velho Fausto,o servo do Senhor, e da perda infalível que faria dele o astuto. Ritanão tem cultura, mas tem finura, e naquela ocasião tinhaprincipalmente fome. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.14)
Neste exemplo, Aires atua como um professor que detém asabedoria e tenta transmiti-la a sua irmã Rita que, segundo suaspalavras, é carente de cultura, e cabe a ele esclarecer qualquer sentidoobscuro que, eventualmente, possa existir em suas palavras. Oensinamento moral, neste caso, advém de uma fonte literária, que éutilizada no seu original a fim de retirar de lá a lição que nela está
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
66
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
contida e não por interpretações pessoais daquela obra por partedo conselheiro, mas sim, da leitura do trecho exato no qual há umaaposta de tipo semelhante àquela sugerida por Rita ao irmão.
Frases proverbiais fundamentadas em exemplos da vida realtambém fazem parte desta narrativa. Ao analisar a personagemFidélia, o conselheiro parece ver uma lágrima em seu rosto;entretanto, conclui estar errado sobre sua suposição inicial:
Também, se foi verdadeiramente lágrima, foi tão passageira que,quando dei por ela, já não existia. Tudo é fugaz neste mundo. Seeu não tivesse os olhos adoentados dava-me a compor outroEclesiastes, à moderna, posto nada deva haver moderno depoisdaquele livro. Já dizia ele que nada era novo debaixo do sol, e se onão era então, não o foi nem será nunca mais. Tudo é assimcontraditório e vago também. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.79,grifos nossos)
A partir de uma cena assistida in loco, o conselheirodesenvolve algumas verdades sobre a transitoriedade das emoçõese acontecimentos vividos pelos seres humanos. As conclusõesbaseadas em fatos palpáveis e experimentados por ele reforçammáximas já conhecidas pelo senso comum, como, por exemplo, afugacidade das coisas deste mundo, e acrescidas de idéias outras aorefletir um pouco mais sobre o assunto somando a imprecisão e acontradição das mesmas.
Apesar de tentar exemplificar suas reflexões e pensamentos,o conselheiro não aprofunda demasiadamente essas questões, àmoda de um narrador que, como afirma Benjamin, no instante deaconselhar não responde a uma pergunta, mas sugere a continuaçãode uma história que está sendo narrada. Desta forma, entendemosser Aires uma mistura entre os dois narradores propostos porBenjamin: o marinheiro comerciante e o trabalhador sedentário(BENJAMIN, 1986, p. 199). Devido à carreira diplomática, ele
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
67
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
adicionou ao seu repertório, histórias de suas viagens e vivênciapelo mundo tal qual o marinheiro comerciante e, por outro lado,na situação em que se encontra ao escrever suas memórias –aposentado da diplomacia – torna-se um trabalhador sedentário,que ouve e relembra casos e passagens da mocidade em meio aosamigos mais íntimos.
Na condição de aposentado, este trabalhador sedentárioparece escutar mais que aconselhar. Em um desses momentos deescuta e apreciação pelas histórias dos outros, o conselheiro terminasua escrita do dia 4 de abril de 1889, data esta em que foi pedidopor Tristão para servir de padrinho em seu casamento, com umalição aprendida e, ao mesmo tempo, perpetuada em seu diário:
Deu-me outros pormenores: casamento à capucha, entre onze horas emeio-dia, almoço no Flamengo, em família, e os dois serão levados àPrainha modestamente, embarcarão ali para Petrópolis. Minúciasescusadas, mas tudo se deve escutar com interesse a um coração queama. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.154-155)
O conselheiro demonstra seu lado ouvinte nesta passagem,na qual, pacientemente, escuta os detalhes do enlace matrimonialentre a viúva Fidélia e o jovem Tristão. No final deste dia, Airesadverte como sendo um dever ouvir aos corações apaixonadosde forma atenta e interessada. A recomendação deste narradorconselheiro encerra o registro das suas lembranças naquela data,mas sem maiores divagações sobre o sentimento amoroso ouacerca deste singular estado de alma que necessita de ouvidos àdisposição. Seus conselhos são antes fonte de reflexões eindagações que respostas definitivas. O trabalhador sedentáriosurge então ao repassar um ensinamento de forma a perpetuá-lonas folhas de papel.
É de consenso geral que os melhores ensinamentos são dadosatravés do próprio exemplo. Nosso narrador conselheiro parece
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
68
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
querer ensinar, por meio da própria experiência, lições preciosas aoleitor de suas memórias:
Sempre me sucedeu apreciar a maneira por que os caracteres seexprimem e se compõem, e muita vez não me desgosta o arranjodos próprios fatos. Gosto de ver e antever, e também de concluir.Esta Fidélia foge a alguma coisa, se não foge a si mesma. Querendodizer isto a Rita, usei do conselho antigo, dei sete voltas à língua,primeiro que falasse, e não falei nada; a mana podia entornar ocaldo. Também pode ser que me engane. (MACHADO DE ASSIS,1990, p.111)
Nesta passagem, notamos o quanto os conselhos antigos sãotambém caros a este narrador conselheiro. Aires realmente faz usodo velho anexim de maneira a não cometer uma calúnia para com ajovem viúva. Seu exemplo, ao empregar ele mesmo um conselho,sugere, com maior credibilidade, o uso irrestrito daquele adágio.
O jogo de poker – também visto como uma metáfora da obra– e sua famosa jogada denominada bluff é explicada pelo conselheirocom vistas a esclarecer seu leitor e a si mesmo, já que ele tambémdesconhecia aquele novo jogo praticado até por senhoras:
Nada novo, a não ser um jogo, parece que inventado nos Estados Unidose que ele (corretor Miranda) aprendeu a bordo. No meu tempo não seconhecia. Chama-se poker; eu trouxe o whist, que ainda jogo, e peguei nomeu velho voltarete. Parece que o poker vai derribar tudo. Na casa doMiranda até a senhora deste jogou.[...] fui ouvir a explicação que me davam de um bluff. No poker, bluff éuma espécie de conto-do-vigário. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.65)
A novidade que cerca o estranho jogo, aprendido numaviagem pelo corretor e amigo Miranda, desperta o interesse de nossonarrador-personagem Aires. Entretanto, o marinheiro mercante queexiste em sua narração aparece no instante em que o conselheiro faz
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
69
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
lembrar de sua importância no passado quando trouxera o whistpara o Brasil devido às suas viagens internacionais.
Muitas vezes, o nosso conselheiro parece não distinguir ospróprios conselhos de provérbios antigos. As qualidades de D.Carmo servem de mote ao aparecimento desta reflexão a respeitode como executar as tarefas em nossas vidas:
Para a boa Carmo, bordar, coser, trabalhar, enfim, é um modo deamar que ela tem. Tece com o coração.É regra velha, creio eu, ou fica sendo nova, que só se faz bem o quese faz com amor. Tem ar de velha, tão justa e vulgar parece. [...]Também eu fiz minha diplomacia com amor [...] (MACHADO DEASSIS, 1990, p.63)
A memória falha deste narrador-personagem provocaesquecimento ou confusões de ideias, como ele mesmo afirmadiversas vezes em seu diário. Essa norma prática de vida – ‘só sefaz bem o que se faz com amor’ – é outra vez transmitida aosleitores através de um modelo a ser seguido e, neste caso, eleutiliza dois exemplos: o de D. Carmo e o seu próprio. Airesaproxima-se cada vez mais do narrador proposto por Benjamin, ouseja, aquele que sabe dar conselhos por meio da “substância viva daexistência” (BENJAMIN, 1986, p. 200).
Várias personagens procuram o amigo e confidente Aires afim de aconselharem-se em assuntos pessoais. Um exemplo disso éo jovem Tristão, que convida o conselheiro a um passeio nas Paineirascom o propósito de saber-lhe o que pensa sobre sua escolha amorosa:
- Não disse isto a ninguém, conselheiro, nem à madrinha nem aopadrinho. Se lho faço aqui é que não ouso fazê-lo àqueles dois, enão tenho terceira pessoa a quem o diga. Di-lo-ia à sua irmã, se meatrevesse a tanto; mas apesar do bom trato, não lhe acho franquezaigual à sua. Parece-lhe que o meu coração escolhe bem?
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
70
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
- Pergunta ociosa, doutor; basta amar para escolher bem. Ao Diaboque fosse era sempre boa escolha. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.124)
A confidência feita pelo jovem ao conselheiro dá mostrasda confiabilidade e isenção desta personagem em comparaçãocom as demais. É para ele que todos recorrem e desejam ouviruma censura ou aprovação sobre determinado assunto. Onarrador conselheiro assegura, de forma categórica neste diálogo,que basta amar para ter feito a escolha certa e, em se tratandodaquele nobre sentimento, não haveria opção incorreta.
O olhar funcional e prático sobre a vida é lançado poreste narrador conselheiro a partir de sua observação e vivênciade mundo:
Já lá vão muitas páginas falei das simetrias que há na vida, citando oscasos de Osório e Fidélia, [...] A vida, entretanto, é assim mesmo,uma repetição de atos e meneios, como nas recepções, comidas, visitase outros folgares; nos trabalhos é a mesma coisa. Os sucessos, pormais que o acaso os teça e devolva, saem muita vez iguais no tempo enas circunstâncias; assim a história, assim o resto. (MACHADO DEASSIS, 1990, p.99)
De acordo com os estudos de Juracy Saraiva, “o repetitivo eo idêntico são a matéria do diário” (SARAIVA,1993, p.182). A fimde legitimar sua teoria a respeito da vida de forma geral, estenarrador cita exemplos e casos de pessoas estudadas por ele, como,por exemplo, Fidélia e seu pretendente Osório, que possuemmuitas coincidências em suas histórias, justificando, deste modo, assimetrias que, segundo ele, existem na vida.
A análise frequente de seu principal objeto de estudo – a jovemviúva Fidélia – proporciona a lembrança de ensinamentos e fatossimilares ocorridos outrora que são aproximados pelo nossonarrador conselheiro no registro em seu diário:
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
71
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Três vezes negou Pedro a Cristo, antes de cantar o galo. [...] Pormuito que se recuse deixa sempre algum gosto a paixão que agente inspira. Ouvi isto a uma senhora, não me lembra em quelíngua, mas o sentido era este. E Fidélia deixaria a mesa semchorar, como Pedro chorou depois do galo. (MACHADO DEASSIS, 1990, p.53)
O acompanhamento de um tímido pretendente desta viúvadesperta a intertextualidade desta ocorrência com o registrobíblico, visto que, pelo entender deste observador conselheiro,a moça negaria o pedido de casamento do advogado Osório porser fiel ao seu falecido esposo.
O signo de morte acompanha grande parte da escritadeste diário. O conselheiro, ao acompanhar as notícias doenterro de um leiloeiro local, cita uma expressão francesa queresume, de certa forma, esse delicado momento pelo qualpassamos:
23 DE MAIOLes morts vont vite. Tão depressa enterrei o leiloeiro como o esqueci.Assim foi que, escrevendo o dia de ontem, deixei de dizer que noarmazém do Fernandes achamos todos os objetos de mana Rita [...]Outra coisa que me ia esquecendo também, e mais principal, porque oofício dos leilões pode acabar algum dia, mas o de amar não cansa nemmorre. (MACHADO DE ASSIS, 1990, p.47)
Ao recuperar a tradição francesa para sua narrativa, Airescompartilha uma sabedoria estrangeira empregada no instanteda morte, pois, como a tradução nos ajuda a entender “os mortossão logo esquecidos”. No entanto, este narrador não explica outraduz a frase em língua estrangeira, apenas dá um exemplo práticode sua própria experiência para com o leiloeiro recém-falecido e jáesquecido por ele. Além disso, o conselheiro assegura que o ofíciode amar não tem fim como os ofícios comuns. Novamente, a
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
72
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
transmissão de um saber acerca dos sentimentos humanos, emcontraposição com o materialismo, faz-se presente nas páginas deseu diário.
De acordo com o estudo de Benjamin,
[...] é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem esobretudo sua existência vivida – e é dessas substâncias que são feitasas histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível.[...]A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É damorte que ele deriva sua autoridade. (BENJAMIN, 1986, p. 207-208)
No final deste diário, Aires conversa com o desembargadorCampos sobre a partida de Tristão e Fidélia para Lisboa e resumeseu ponto de vista a propósito da velhice:
30 DE AGOSTOPraia fora (esqueceu-me notar isso ontem) praia fora viemos falandonaquela orfandade às avessas em que os dois velhos ficavam, e euacrescentei, lembrando-me do marido defunto:- Desembargador, se os mortos vão depressa, os velhos ainda vãomais depressa que os mortos... Viva a mocidade! (MACHADODE ASSIS, 1990, p.170)
Por diversas vezes, a velhice é comparada à morte neste diáriode memórias. O narrador personagem Aires encontra-se aposentadoe com tempo disponível para escrever suas lembranças que lheparecem fugir da cabeça. Os inúmeros conselhos e ensinamentosescritos nesta etapa de sua vida vão ao encontro da propostabenjaminiana no que concerne à morte como permissão para tudoque o narrador pode contar. O conselheiro escreve e confessa aopapel – seu fiel interlocutor – impressões e crenças que jamaisverbalizaria a outrem, já que parece estar mais próximo daqueleestado singular que lhe autoriza transmitir as experiências de modo
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
73
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
incondicional. Aires diz: “[...] Fique isto confiado a ti somente, papelamigo, a quem digo tudo o que penso e tudo o que não penso.”(MACHADO DE ASSIS, 1990, p.56)
Ensinamentos originários da literatura são uma constanteao longo de sua narrativa. Este narrador conselheiro parecepreferir, na maioria das vezes, uma voz qualificada que tenhadifundido algum conhecimento valioso às pessoas ao invés desuas opiniões pessoais:
Talvez eu, se vivêssemos juntos, lhe descobrisse algum pequeninodefeito, ou ela em mim, mas assim separados é um gosto particularver-nos. Quando eu lia clássicos lembra-me que achei, em João deBarros, certa resposta de um rei africano aos navegadores portuguesesque o convidaram a dar-lhes ali um pedaço de terra para um pousode amigos. Respondeu-lhes o rei que era melhor ficarem amigos delonge; amigos ao pé seriam como aquele penedo contíguo ao mar,que batia nele com violência. A imagem era viva, e se não foi aprópria ouvida ao rei da África, era contudo verdadeira.(MACHADO DE ASSIS, 1990, p.140)
A reflexão a propósito da convivência diária entre duaspessoas é o mote para este narrador apoiar-se nos clássicosliterários com o propósito de ratificar seu pensamento sobreesta questão. Aires cogita a hipótese de viver junto com sua queridairmã Rita e logo conclui que o melhor é morarem separados. Comoum excelente contador de histórias, este narrador conselheiro apósapontar sua situação como modelo, imediatamente, atribui um valorde verdade à passagem literária e termina com ela o registro destadata em seu diário, de modo a deixar a última palavra com asabedoria clássica.
Com isso, entendemos ser este narrador-personagem umcontador de histórias conforme nos ensina Walter Benjamin. Amaneira singular de narrar os episódios de sua vida por meio delições tiradas da própria experiência, bem como trazer por
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
74
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
inúmeras vezes o signo de morte ao seu texto, caracterizam o nossoconselheiro Aires como um típico narrador em conformidade comos estudos benjaminianos.
Considerações finais
A problemática da memória encontra espaço importante nestaobra de Machado de Assis. Assunto este instigante que nos faz refletirdesde o título dado ao seu último romance Memorial de Aires,como também no formato diferenciado escolhido pelo narradorpara registrar suas lembranças: em forma de diário.
Através da análise do texto propriamente dita, foi possívelnotar a necessidade do narrador-personagem Aires de registrarsuas memórias nas folhas de papel, de modo que as mesmas nãose perdessem ou se confundissem em sua cabeça. Perpetuar ovivido por meio da escrita de momentos queridos é o objetivoprincipal deste diário, como lemos nas próprias palavras doconselheiro.
Ao encontro desta prática estão as idéias da estudiosaJeanne Gagnebin que retoma os estudos de Aleida Assmann afim de nos esclarecer que, desde os tempos mais remotos, quandofalamos nos termos escrita, escrituração, inscrição estes estão intimamenteligados à memória e à lembrança. Por isso, o estreito laço que unememória e o ato de escrever neste diário escrito pelo conselheiroAires.
Sua condição de “velho aposentado” parece outorga-lhe odireito de transitar do presente ao passado por intermédio dareleitura dessas memórias, bem como aconselhar, de certa forma,os seus leitores, já que, na condição de um verdadeiro contadorde histórias aos moldes benjaminianos, Aires transmite conselhose ensinamentos com base na própria experiência adquirida juntoaos amigos que lhe são estimados.
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
75
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A velhice é tema recorrente ao longo das páginas desterelato de memórias. Aires tem consciência do lugar que ocupanaquele período de sua vida, estando então afastado da diplomaciae um tanto quanto cansado devido aos seus 63 anos de idade. Areferência à morte é uma das constantes do texto e aproxima-seda situação em que se encontra este narrador-personagem que,por esta razão, detém a autoridade de um contador de históriasao repassar lições e recomendações que estão de acordo com aspalavras de Benjamin quando classifica a morte como meiotransmissor do saber.
As características de ambos narradores propostos porBenjamin – o trabalhador sedentário e o marinheiro comerciante– foram encontradas nesta personagem que conta histórias, aomesmo tempo em que ouve e partilha sua sabedoria com osdemais. A vivência no exterior enriquece sua bagagem de umamplo conhecimento sobre a cultura e tradição de paísesestrangeiros e propicia, sobremaneira, a narração de histórias dealém-mar típicas do marinheiro mercante. Por outro lado, otrabalhador sedentário está no aposentado sexagenário Aires queretoma, por via das confidências escritas em seu diário,lembranças de sua mocidade, ao mesmo tempo em que escutaseus confidentes e amigos e, a partir desses exemplos, transmiteum ensinamento moral ou uma sugestão prática de vida.
Referências bibliográficas.
BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de NikolaiLeskov. In: Walter Benjamin. São Paulo: Ática, 1986.
GAGNEBIN, Jeanne M. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Editora34, 2006.
MACHADO DE ASSIS, Joaquim M. Memorial de Aires. São Paulo: Galex,1990.
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
76
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
SARAIVA, Juracy. O circuito das memórias em Machado de Assis. SãoPaulo: Edusp; São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1993.
Memorial de Aires: a preservação da memória através do processo de escritaSHEILA KATIANE STAUDT
77
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
1 Professora de Literatura Brasileira, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, doInstituto de Letras da UFRGS. 90430-120 Porto Alegre, RS, Brasil.
MONGÓLIA: VIAJANTES EMTRÂNSITO
Gínia Maria Gomes(UFRGS)1
RESUMO: A proposta deste artigo é refletir sobre a viagemem Mongólia, romance de Bernardo Carvalho. Pretende-secentrar a discussão no cotejo entre os diários do romance – odo diplomata e os do fotógrafo – e os relatos de viagem,procurando apontar, sobretudo, as similaridades que elesmantêm com essas narrativas. Nesse sentido, ênfase será dadaà escrita em trânsito, que permite descrições mais exatas dooutro, bem como o registro das próprias emoções que avivência do momento suscita. Também será dado destaqueas referências às dificuldades do percurso, o que constituiaspecto recorrente nessas narrativas. Além disso, será objetode discussão a problemática da alteridade: olhar o outro apartir de suas diferenças, de seu exotismo seduz os viajantesde todas as épocas. Outra questão a ser investigada será oolhar do autóctone sobre os viajantes, também eles percebidoscomo estrangeiros, dado ao estranhamento que suscitam. Por
78
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
último, ainda refere-se à comparação, principal recursoutilizado nessas crônicas para dar visibilidade ao mundo doou t r o .
PALAVRAS-CHAVE: Alteridade. Crônica de viagem.Exotismo. Outro. Viagem.
ABSTRACT: The main purpose of this article is to reflectabout the travel in Mongólia, by Bernardo Carvalho. Weintend to focus the analysis in the comparison between thediaries which are inside the novel – the diplomat’s and thephotographer’s diaries – and the travel narratives, mainlylooking for their similarities. Concerning that, the emphasiswill be given to the transit writing, which allows more accu-rate descriptions about the otherness, as well as the recordingof the singular emotions which come out in the very mo-ment of living them. Another important issue to investigateis the references about the difficulties found in the way, whichis a remarkable characteristic of these narratives. Besides that,we will bring up some topics about the alterity: to look theotherness starting from the differences, from the exotic hasalways fascinated the travelers from all periods. Moreover,we will analyze the native’s look at the travelers – which areseen as foreigners as well – because of the oddness broughtwith them. Finally, the comparison is referred along the noveland it is the main resource in texts like these in order to givevisibility to the otherness’ world.
KEYWORDS: Alterity. Travel narrative. Exoticism. Oth-erness. Travel.
2 Bernardo Carvalho é um escritor reconhecido nacionalmente, tendo uma vasta produçãoliterária, constituída, sobretudo, de romances. Seu primeiro livro é Aberração, uma coletâneade contos, publicado em 1993; os demais são romances: Onze (1995), Os bêbados e ossonâmbulos (1996), Teatro (1998), As iniciais (1999); Medo de Sade (2000), Nove noites(2002), Mongólia (2003), O Sol se põe em São Paulo (2007) e O filho da mãe (2009).
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
79
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Mongólia, de Bernardo Carvalho,2 é fruto de uma viagemde dois meses em que o escritor percorreu o país que deu títuloao romance. Para tal viagem ele recebeu uma bolsa da editoraportuguesa Livros Cotovia, em parceria com a Fundação Orientede Lisboa. O romance recebeu os prêmios APCA – AssociaçãoPaulista de Críticos de Arte, em 2003, e Jabuti, em 2004.
O tema da viagem, central em Mongólia, revela-se umadas temáticas recorrentes da literatura, presente em diversasnarrativas clássicas.3 Segundo Wladimir Krysinski (2003, p. 22),esse tema constitui “um dos arquétipos temáticos e simbólicosentre os mais produtivos da literatura”. Mas é importanteestabelecer a distinção entre a Viagem na Literatura e a Literaturade Viagens.4 A primeira refere-se à temática da viagem em obrasficcionais; a segunda é representada pelas crônicas de viajantesque percorrem países estrangeiros, experiência que eles relatamem diários, em geral escritos no decorrer da jornada. Estasnarrativas proliferaram, sobretudo, a partir do Renascimento,devido aos movimentos expansionistas que levaram àsdescobertas. Nelas, se alternam descrições da terra e do homem– aspecto físico, usos e costumes ou organização social. O outro édescrito seja pelas marcas de diferença, seja pelas semelhançasque apresenta em relação ao mundo de onde o viajante é oriundo.É importante ressaltar que a Literatura de Viagens não serestringe às viagens de descobrimento, mas também engloba
3 A um breve olhar inúmeros textos acorrem imediatamente: Odisséia, A divina comédia,Os lusíadas, Dom Quixote, Viagens de Gulliver, As cidades invisíveis, Jangada depedra. Embora a lista não esteja completa, ela permite observar que a temática está presenteem inúmeros textos clássicos. No caso da Literatura Brasileira, o tema também é recorrente,o que demonstram romances como Macunaíma, Vidas secas, Grande sertão: veredas,Sargento Getúlio e, ainda para referir algumas narrativas do século XXI, O sol se põe emSão Paulo, Budapeste, Estive em Lisboa e lembrei de você. A lista poderia se estender,mas paramos por aqui.4 Fernando Cristóvão (1999, p. 35) assim define a Literatura de Viagens: “entendemos [esse]subgênero literário que se mantém vivo do século XV ao final do século XIX, cujos textos decaráter compósito, entrecruzam Literatura com História e antropologia, indo buscar àviagem real ou imaginária (por mar, terra e ar) temas, motivos e formas.”
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
80
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
viagens de peregrinação, viagens de comércio, viagens de lazere, ainda, viagens imaginárias.
As duas perspectivas – a Viagem na Literatura e Literaturade Viagens – estão manifestas em Mongólia. O tema do romanceé uma viagem: a realizada por um diplomata, em missão extra-oficial, que vai procurar um fotógrafo que teria se perdido nosMontes Altai, interior da Mongólia. Mas no romance também estãopresentes os diários de viagem desse diplomata e os do fotógrafodesaparecido. E são esses diários que serão objeto desse artigo.Mais especificamente, nas similaridades e diferenças que elesmantêm com as crônicas de viagem, que tanto seduziram os leitoresao longo dos séculos.
É importante afirmar que o romance é muito mais complexoque essas crônicas de viagem. E essa complexidade ficaimediatamente evidente ao considerar-se que em Mongólia secruzam as histórias de três personagens: a do ex-embaixador doBrasil na China que, ainda chocado com a morte de umdiplomata, com quem trabalhara quando no exercício daprofissão, vai procurar os papéis que este deixara em Pequimquando abandonara a carreira; a desse diplomata, denominadoOcidental, que viaja para a Mongólia em missão secreta, com aincumbência de encontrar um fotógrafo desaparecido; e a dopróprio fotógrafo, que se perdera nos Montes Altai.
O ex-embaixador, que daqui em diante se denominaráapenas narrador, de posse dos diários do Ocidental e do fotógrafodesaparecido, narra a viagem do diplomata, cujo percursopretende ser o mesmo feito pelo fotógrafo, seis meses antes. Nasua narrativa, baseada nesses diários, ele ora relata a viagemfazendo intervenções pessoais, com observações e avaliaçõespróprias, ora dá voz aos dois viajantes, a cada passo citando osdois diários. É preciso afirmar que o narrador, ao seguir de pertoa viagem do diplomata, está atento às suas ações. Entre elas, dádestaque ao fato de que ele, antes de iniciar o seu percurso e no
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
81
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
decorrer do mesmo, lê os diários do fotógrafo desaparecido.Dessa forma, essas três vozes se cruzam no texto: a do narrador,a do diplomata e a do fotógrafo desaparecido. Cada uma dessasvozes narrativas é apresentada com grafias diferentes.5
O que interessa neste artigo são os diários, os quais sepretende aproximar das crônicas de viagem, uma vez queapresentam várias de suas características. E a primeiraaproximação que se pode fazer está no formato de diário dessestextos. Além das observações do narrador, que explicita setratar de diários, a citação dos trechos, principalmente daquelesdo diplomata, permite observar-se a retomada de algunsaspectos desses relatos: assinalar datas e marcar os percursos é,de fato, o que se destaca imediatamente. A semelhança com ascrônicas de viagem não para aí. Ressalta-se, então, a escrita emtrânsito, recorrente nessas crônicas, sobretudo nas produzidaspelos viajantes naturalistas. Flora Süssekind (1990, p. 143) refere-se à importância de se escrever no “calor da hora”, o que permiteuma maior “exatidão das descrições e observações relatadas”.Em Mongólia, o relato é feito em trânsito e, muitas vezes, éobjeto de comentário. Em relação ao fotógrafo, Ganbold, oguia que o conduziu na sua primeira incursão pelo país apontajustamente para essa preocupação em descrever as impressõesda experiência em trânsito: “‘É o diário dele. Quero dizer, odiário da viagem que fez comigo, de Khövsgol até o Gobi dosul. Deve haver outro, em que ele transcreveu os últimos diasantes de desaparecer. Porque anotava tudo. [.. .] ’”(CARVALHO, 2003, p. 36). Também o diplomata escreve emtrânsito e, em algumas ocasiões, refere-se a isso: “Continuoescrevendo para disfarçar.” (CARVALHO, 2003, p. 141). Essaescrita em trânsito também implica o transcrever para o diárioas emoções que afloram a cada passo, sejam elas de irritação, de
5 Essas diferentes vozes narrativas não se constituem em objeto desse artigo, por isso não sepreservará as diferentes grafias nas citações.
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
82
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
tristeza, de alegria e de surpresa. O diplomata, cuja jornada temum objetivo específico – encontrar o fotógrafo -, constantementemanifesta irritação com a lentidão da viagem, imposta peloscostumes locais em franco desacordo com a sua pressa. Em umadessas ocasiões, a necessidade de visitar uma iurta desencadeia asua reflexão: “‘Está nos convidando para entrar.’ Não tenhoalternativa. Não posso dizer que estou com pressa. Terei que meacostumar. Tudo é lento por aqui.” (CARVALHO, 2003, p. 117).O narrador que leu o diário na íntegra, observa esse estado deconstante irritação do diplomata, consequência doencaminhamento da viagem: “O Ocidental seguia com umairritação contida, esperando a primeira oportunidade para mostrarao guia o seu desagrado com aquela situação em que se viaenredado contra a vontade.” (CARVALHO, 2003, p. 114).
Ao lado do formato diário dessas narrativas, outro aspectoque aproxima Mongólia dos relatos de viagem é a referência àsdificuldades do percurso, constituindo-se a alusão às travessiaspenosas em um topoi do gênero (SUSSEKÏND, 1990, p. 60). É nanarrativa do fotógrafo que esse aspecto está presente. O difícilpercurso, ao dirigir-se para o povoado onde se encontram os“tsaatans” (criadores de renas que estão em extinção), é objeto decomentários. No diário, faz o relato das agruras dessa travessia,realizada a cavalo: “O caminho pela taiga é difícil, cheio de pedras,buracos e lama.” (CARVALHO, 2003, p. 40). Mais adiante, são osseus joelhos que doem e os mosquitos que o perturbam: “Meu estriboestá no último furo e ainda assim continua demasiado curto. Logomeus joelhos começam a doer. Para completar, os mosquitos sãovorazes.” (CARVALHO, 2003, p. 41-42). Antes mesmo de atingir opovoado, reitera: “O caminho de fato é inacessível. Meus joelhosestão em frangalhos, e ainda não chegamos nem na metade.”(CARVALHO, 2003, p.42). Muitos não se submetem a essa travessiapenosa e fazem o percurso de helicóptero.
Um dos aspectos mais importantes e característicos dessascrônicas e, claro, dessas viagens é a busca daquilo que representa a
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
83
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
alteridade em relação ao lugar de onde esses viajantes são oriundos.Essas diferenças, muitas vezes exóticas, se constituem em um dosartifícios recorrentes, pois leitores ávidos ansiavam por esses paísesdistantes. Os diários do diplomata e do fotógrafo, da mesma formaque esses relatos, também procuram mostrar esse mundo diferentecom o qual se deparam em suas respectivas viagens, com vistas acompreendê-lo. Sobretudo o interior da Mongólia, por ondetransitam, é permeado por uma cultura em tudo diversa. E aqui sedestaca o nomadismo, cuja essência eles buscam apreender. Apercepção de que ao contínuo movimento exterior se sobrepõe afixação e o rigor de uma tradição que precisa ser preservada, como“condição de sobrevivência”, parece essencial. As palavras dodiplomata são claras em relação a esse aspecto:
Apesar da aparência de deslocamento e de uma vida em movimento,fazem sempre os mesmos percursos, voltam sempre aos mesmoslugares, repetem sempre os mesmos hábitos. O apego à tradição sópode ser explicado como forma de sobrevivência em condiçõesextremas. A ideia de ruptura não passa pela cabeça de ninguém. Asestradas só se tornam estradas pela força do hábito. O caminho sóexiste pela tradição. É isso na realidade o que define o nomadismomongol, uma cultura em que não há criação, só repetição. Decidir-sepor um caminho novo ou por um desvio é o mesmo que se extraviar.E, no deserto ou na neve, esse é um risco mortal. Daí a imobilidade doscostumes. Os dois motivos (losangos ou círculos entrelaçados) quesempre se repetem na decoração das portas, portões, móveis, tapetesetc., por toda a Mongólia, representam o infinito e o casamento, o quesó confirma a obsessão pela estabilidade e pela tradição numa sociedadeque em aparência é completamente móvel, a ponto de não haver espaçopara nenhum outro movimento. (CARVALHO, 2003, p. 138)
Essa repetição se estende a todas as coisas e as iurtas nãoescapam desse apego à tradição. O diplomata, cuja viagem émarcada pela pressa de encontrar o fotógrafo, não manifesta prazercom a necessidade de cumprir o ritual de visitar aquelas por onde
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
84
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
passa. Já o fotógrafo, cuja viagem tem por objetivo fotografar opaís, consegue perceber o diferencial que se destaca das repetições:
Entre os nômades, o interessante não é o sistema e os costumes, quesão sempre os mesmos, mas os indivíduos. A graça de visitar asiurtas é a surpresa do que se vai encontrar, a diversidade dosindivíduos que ali estão fazendo as mesmas coisas. O nomadismoem si não tem nenhuma graça. A mobilidade é só aparente, obedeceas regras imutáveis e a um sistema e a uma estrutura fixos. São aspessoas.” (CARVALHO, 2003, p. 138)
Nas crônicas de viagem, tudo o que é desconhecido precisaser submetido à descrição, para que o possível leitor possavisualizar o que é apresentado. Este é o caso das iurtas, que ofotógrafo assim descreve:
As iurtas – ou gers, em mongol – são tendas circulares, com estruturade hastes de madeira, cobertas por uma camada de feltro no interior,outra intermediária com tecido impermeável ou plástico e por últimouma lona branca, que funcionam como isolantes no calor ou nofrio. Mantêm o frescor no verão de trinta graus e o calor no invernode menos trinta. [...] A porta, de madeira, fica sempre virada para osul, por causa do sol provavelmente. Há todo um cerimonial e umasérie de regras de comportamento para quem entra numa iurta, acomeçar pela interdição de bater na porta, que é sagrada. Bater indicahesitação do viajante e, por conseguinte, constitui uma ofensa aosmoradores, como se ele não os considerasse dignos de recebê-lo.Fáceis de montar as iurtas são ideais para os nômades. (CARVALHO,2003, p. 39)
Esse exemplo é bem interessante. As iurtas se constituemem algo completamente novo para esse viajante, no caso ofotógrafo, pois elas não existem no seu país de origem. Então, eletem necessidade de fazer essa descrição minuciosa, para dar-lhes
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
85
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
visibilidade e, assim, mostrá-las ao leitor, permitindo o estímuloda imaginação.
Os costumes seguem uma tradição, sempre mantida. Nasiurtas, por exemplo, há um ritual de hospitalidade para com osrecém-chegados que é preservado. A estes é sempre oferecidochá salgado com leite e um prato de sopa, que o hóspede deveaceitar, mesmo que tenha acabado de fazer a refeição. O diáriodo diplomata refere inúmeras vezes essas visitas às iurtas, nasquais tinham que entrar e submeter-se ao ritual, conforme suaspróprias palavras: “A cada nova iurta somos obrigados a aceitaro que nos oferecem, mesmo que tenhamos acabado de almoçar.”(CARVALHO, 2003, p. 124).
Também o ritual da despedida, por marcar a diferença, émencionado no diário do diplomata. Ele faz esse registro nas duasocasiões em que se deparou com esse cerimonial. Então comenta que,quando as despedidas são entre mães e filhos, o cheirar substitui o tãocaracterístico beijo dos ocidentais; ou, quando entre parentes, seguraros braços e a “intensidade no olhar”:
Na Mongólia, as mães cheiram os filhos no rosto, em vez de beijá-los.Purevbaatar se curvou, e a mãe o cheirou dos dois lados do rosto, naaltura das orelhas. O pai apenas lhe segurou os braços, pelos cotovelos,como se o apoiasse. Era o mesmo cumprimento de parentes que seencontram pela primeira vez depois de um ano novo lunar,comemorado em fevereiro, como na China. Havia intensidade no olhar,mas os gestos eram econômicos. (CARVALHO, 2003, p. 113-114)
No entanto, o universo do outro nem sempre é permeável àcompreensão. Muitas são as circunstâncias em que o sentido dedeterminadas condutas escapa à percepção do olhar do viajante.De acordo com Krysinski (2003, p. 25), “a viagem não pode senãodramatizar e problematizar esta não permeabilidade dos universosrepresentados. O outro é tão outro que jamais poderei conhecer.”
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
86
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
É com essa não-permeabilidade que se depara o diplomata emdiversas ocasiões. Em uma delas, quatro homens estacionam o carropróximo da sua barraca, depois de darem explicações poucoconvincentes, vão se banhar no lago, que está gelado. O diplomataos considera uns “sujeitos estranhos” (CARVALHO, 2003, p. 140).Em seguida eles se embebedam, o que é determinante para a tensãodesse viajante. Ele mesmo tem consciência da sua dificuldade deentender o outro:
Como não entendo os códigos locais, começo a ficar apreensivo. [...]Purevbaatar diz que não preciso me inquietar, mas a situação é tensa.Talvez queiram estabelecer algum tipo de contato, mas são muitointrusivos. [...] Tento me convencer de que o intruso é gentil, mas adiferença cultural cria uma tensão permanente. Na incompreensão, sóme resta escolher entre o paternalismo e o medo. Começo a entrar empânico. Continuo escrevendo para disfarçar. [...] Começo a achar que éum assalto. [...] É uma noite tensa. (CARVALHO, 2003, p. 140)
Sem conseguir apreender as intenções do outro, faz projeçõessubjetivas ao que está acontecendo. E aqui novamente as palavrasde Krysinski (2003, p. 23), que apontam justamente para essaquestão, são esclarecedoras: “Esses relatos e essas formas sãoconduzidos por um discurso que insere sua subjetividade naobjetividade do real, do histórico, do social e do político.”Incapaz de compreender, faz suposições, as quais estão associadasaos códigos sócioculturais de onde ele é oriundo, o que está explícitono seu temor de que aquela circunstância se transforme em umassalto, pois no seu país de origem – Brasil – uma situação similarpoderia ter tal desfecho. Sua interpretação segue as conjeturassubjetivas, pois, esse real “não permeável” foge a sua compreensão.A mesma incompreensão do outro está transparente em diversascircunstâncias. Registre-se a ocasião em que, ao visitar uma iurta, asatitudes de alguns homens bêbados põem em destaque a suaignorância dos códigos: “[...] os homens estão bêbados, prontos
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
87
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
para se atracarem. Tenho a impressão de que podem ficar violentosde uma hora para outra. De vez em quando se desentendem e saemgritando de uma das iurtas. Não sei o que dizem. Pode serbrincadeira. Pode não ser.” (CARVALHO, 2003, p.125). Novamenteaqui ele não entende os códigos do outro, daí as duas possibilidadesopostas de interpretação que se impõem imediatamente. A mesmaincompreensão ocorre em relação ao guia ao longo da viagem, poisos seus gestos, palavras e ações fogem a enquadramentos e abrem adiferentes interpretações. Na circunstância em que Purevbaatar o“aconselhou” a “desfrutar a cidade” (CARVALHO, 2003, p. 111),ele expõe os seus limites: “Era impossível saber onde terminava aingenuidade e começava a ironia do guia, e mesmo se havia algumaironia.” (CARVALHO, 2003, p. 111). Ao longo do percurso, odiplomata ressalta essa dificuldade de abarcá-lo, de saber as suasintenções e mesmo de entender o roteiro escolhido pelo guia; some-se a isso o óbice da língua, que ele não conhece, o que contribui paraa sua desconfiança, o que afirmações como “não confio no que elediz ou traduz” (CARVALHO, 2003, p. 119) e é “impossível saberse estou sendo enganado ou não” (CARVALHO, 2003, p. 119)evidenciam. Por isso, a sensação de estar sendo iludido: “Fico coma impressão de estar avançando numa rede de mentiras que seautorreproduz.” (CARVALHO, 2003, p. 147).
O outro, mesmo que imune a definições e delimitações, seduzos viajantes, que se encantam pela alteridade que eles representam.E, nesse quesito, cabe lembrar a recorrente alusão à nudez dos índios,pela qual os estrangeiros que percorreram o Brasil, entre os séculosXVI e XVII, ficavam obsedados. Basta lembrar o primeirodocumento sobre o país, a Carta a El-Rei, de Pero Vaz de Caminha(1996, p. 82), quando os portugueses mostram-se obnubilados diantedas mulheres nuas, em estado de total encantamento: “[...] e suasvergonhas tão altas e tão limpas das cabeleiras que, de muito bemolharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.” Ou o ritualantropofágico, cuja essência apenas alguns poucos viajantesconseguiram compreender. Generaliza-se, então, a não
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
88
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
permeabilidade do ritual, do que decorre, segundo Ana MariaBelluzo (2000, p. 61), um esvaziamento do seu sentido original, postoque interpretado sob o prisma dos temores e subjetividade dosviajantes:
A imagem da destruição do corpo por outro homem era percebidacomo ameaça pelo europeu, e a carne humana cozida no moquémpoderia dar a impressão de uma simples cultura culinária americana,sendo omitido o sentido original da carne do inimigo para estimulara bravura guerreira necessária à tribo e à aquisição dos poderes doinimigo.
Nudez e antropofagia eram assuntos recorrentes nascrônicas dessa época. Agora, nesse outro tempo, nesse tempo deglobalização, a busca se transforma, mas ainda assim permanecea sedução pela alteridade. Em Mongólia, nos diários dofotógrafo, ao explicar a razão de determinado percurso, essaquestão fica em destaque: “Meu objetivo é fotografar os “tsaatan”,criadores de renas que vivem isolados na fronteira com a Rússia,entre a taiga e as montanhas. Estão em vias de extinção.”(CARVALHO, 2003, p. 40). Ou seja, está em busca de um grupoque representa a alteridade. É o que também procura o viajantefrancês que, já de retorno do encontro com os tsaatan, revela asua decepção. A pergunta do fotógrafo arguindo-lhe “se eleesperava encontrar bons selvagens” (CARVALHO, 2003, p. 42),deixa transparente a expectativa do francês: a de ainda poderdeparar-se com um grupo imune às insurgências da globalização.Ao contrário, sabedores da sua própria condição, alguns dessestsaatans até procuram tirar proveito dela, como faz uma dasfamílias “que fatura em cima dos eventuais turistas, posando demodelo de exotismo para não decepcionar a expectativa dos olharesocidentais.” (CARVALHO, 2003, p. 43). Mas a esse exotismosobrepõe-se a realidade de decadência e pauperização desse grupo,que o fotógrafo percebe. Além disso, a consciência da situação crucial
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
89
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
em que vivem desconstrói a imagem do exotismo: “E o contatocom o mundo exterior, depois da queda do comunismo no iníciodos anos noventa, só os fez enxergar a própria miséria.”(CARVALHO, 2003, p. 43). A ideia é repetida em outro trechocitado de seu diário: “A abertura do país com a queda do comunismolhes permitiu confrontar a própria pobreza com a riqueza dosturistas.” (CARVALHO, 2003, p. 172)
Essa percepção do fotógrafo contradiz uma imagem que seconsolidou ao longo dos séculos, a qual pressupunha arepresentação da Ásia como “locus do maravilhoso”, construídapor viajantes que a mostravam como “zona maravilhosa povoadade monstros, impérios e riquezas.” (GIUCCI, 1992, p. 67).Através das crônicas de viagem, esse imaginário, que “emana daprópria projeção européia” (GIUCCI, 1992, p. 80), se sedimenta:
E dessa projeção derivam formas híbridas, riquezas infinitas eimpérios poderosos localizados em lugares semiexplorados, mas quese espalham como um fantasma pelo Velho Mundo. Maravilhas quedespertam o assombro do europeu, que lhe revelam os mistérios domundo e o subtraem da trivialidade cotidiana.
Ao contrário do “locus maravilhoso”, das apregoadas“riquezas” e maravilhas” das narrativas dos cronistas, emMongólia é a realidade da miséria que se impõe ao olhar dessesviajantes. Quando da viagem do diplomata, esta conjuntura éagravada pelas condições climáticas do último inverno, que, devidoao seu extremo rigor, ocasionou a perda dos rebanhos: “Oscriadores de camelos perderam um quinto da cáfila durante oinverno. Não têm mais o que fazer. Dormem e bebem. É um lugardesagradável, uma vida difícil. Quando não é o calor do verão, é ofrio impossível do inverno.” (CARVALHO, 2003, p. 123). Estaperda deixou os homens sem atividade e sem possibilidade deescolha, por isso “não lhes sobrou muito a fazer além de beber e
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
90
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
dormir para vencer o calor das tardes modorrentas, recolhidosnas iurtas castigadas pelo vento.” (CARVALHO, 2003, p. 124).Ao maravilhoso tão característico das crônicas de viagem, sesobrepõe a problematização de uma realidade pobre, de homenssem perspectiva, que se entregam à bebida para amenizar as agrurasde um cotidiano sem atividade. Embora desconstruindo imagensconsagradas, esse mundo que percorrem se revela como outro, poiscompletamente diferente daquele de onde são oriundos.
Enquanto a pauperização dos nômades desconstrói umaimagem consagrada ao longo dos séculos, a natureza recebeatributos que a singularizam. Ao longo de sua viagem, odiplomata mostra-se surpreso e, muitas vezes, extasiado comsua beleza e mobilidade. Em alguns momentos, inclusive, a suaobservação coincide com a que ele leu no diário do fotógrafo:“A paisagem é incrível. É verdade o que ele escreveu sobre asnuvens, no diário. As nuvens correm pelas estepes.”(CARVALHO, 2003, p. 114). Ou seja, no trecho lido, nãodisponibilizado ao leitor, ele apenas apõe a sua concordância,não sem antes mostrar a sua admiração pelo que tem diantedos olhos. Mais adiante, o seu assombro é reforçado peloelemento comparativo, que coloca essa paisagem como a maisbela: “É a paisagem mais bonita que eu já vi. [...] Embora nãohaja grande variedade de vegetação, somos surpreendidos a cadaminuto pela mudança de relevo. Basta fazer uma curva paratudo mudar de figura, e o que era vale vira montanha e o queera deserto vira estepe.” (CARVALHO, 2003, p. 116). Aqui, abeleza está associada à mobilidade dessa paisagem, que estásempre apresentando aspectos diferentes. De Ekhen Belchir,lugar por onde ele passa, ele afirma ser “um local espetacular”.(CARVALHO, 2003, p. 118). São muitos os adjetivos a que elerecorre, mas todos eles reforçando essa ideia de singularidadedaquilo que seu olhar divisa, como ocorre em outro momento:“A vista é assombrosa, como se toda a paisagem tivesse sidocoberta por um tapete esverdeado [...].” (CARVALHO, 2003,
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
91
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
p. 120). E quase como uma conclusão, ele engloba toda paisagempor onde transita: “A vista, como sempre, é fabulosa.”(CARVALHO, 2003, p. 133). Neste aspecto, percebe-se aproximidade com os relatos de viagem. E aqui basta lembrar aCarta a El-Rei, de Caminha (1996, p.97), cuja imagem da terrade que “querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa daságuas que tem”, teve um longo percurso na Literatura Brasileira.Da mesma forma, outros viajantes procuraram mostrar assingularidades do país e, nesse sentido, procuraram ressaltar asua surpresa e admiração diante da terra. O título da narrativade André Thevet – As singularidades da França Antártica - éexemplar, pois mostra o quanto esses viajantes tinham interesseem exibir aquilo que individualizava os espaços por ondetransitavam.
Outra questão presente no romance e nos relatos de viagem éo olhar dos autóctones sobre os viajantes. Aqui a perspectiva sedesloca: em vez de o mundo por onde transitam apresentar-se comooutro, são os próprios viajantes que se transformam em outro para oshabitantes deste mundo. É principalmente no diário do diplomataque a questão aparece de forma recorrente, sendo a cada passoapresentada (talvez porque é essa viagem que o narrador acompanha).Ao longo de seu trânsito ele se depara com circunstâncias em queos olhares convergem para a sua figura. Uma delas é quando, aindaem Ulaanbaatar e, portanto, na capital do país, ele torna-se objetodos olhares, os quais o põem na condição de outro: “Ao perceberemos dois visitantes que entravam, todos os olhares se voltaram para oOcidental, como se ele fosse um extraterrestre.” (CARVALHO, 2003,p. 53). Em outra ocasião, em uma iurta, enquanto toma o tradicionalchá, sente-se observado: “Os dois me fitam sem o menorconstrangimento. [...] De vez em quando, sinto um olhar sobre mimque, no entanto, logo se desvia quando o enfrento.” (CARVALHO,2003, p. 117). Na continuidade da viagem, o motorista de umcaminhão intercepta a estrada e, ato contínuo, desce do veículo:“Apesar dos óculos escuros posso garantir que não tira os olhos de
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
92
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
mim. [...] Está bêbado, como os outros três, que me devoram comos olhos [...]”. (CARVALHO, 2003, p. 118). Em outro momento,ao olhar se sobrepõe a preocupação com a alimentação desteestrangeiro, o que mais uma vez o coloca em uma posição distanciada,ressaltando a sua alteridade: “Purevbaatar me diz que estãopreocupados comigo. Não sabem como se comportar diante demim nem o que dar de comer a um ocidental.” (CARVALHO, 2003,p. 120). Nos trechos do seu diário disponibilizados ao leitor, sãomuitas as oportunidades em que é objeto dos olhares, muitas vezesinsistentes, o que mostra a diferença que ele está representando entreos nômades. Além dos fragmentos que se podem ler no seu diário,também o narrador reforça essa questão, mostrando o quanto estesolhares eram insistentes, colocando-o na condição de estrangeiro:“E até o final da viagem não lhe faltariam ocasiões para se acostumarcom os bêbados e os curiosos que nunca tinham visto um estrangeiroe o devoravam com os olhos ao vê-lo pela primeira vez.”(CARVALHO, 2003, p. 118).
Por outro lado, não se pode esquecer que é chamado deOcidental pelos nômades, haja vista a dificuldade depronunciarem o seu nome, fato este que também denota a suacondição de estrangeiro nesse mundo e, portanto, com as marcasda alteridade em relação aos autóctones. A condição de outro doOcidental também aproxima o romance de Bernardo Carvalhodas crônicas de viagem, pois nelas esta é uma questão recorrente.Maximiliano de Wied Neuwied é um desses viajantes que é objetode “grande curiosidade”, dado o estranhamento que ele e seugrupo representam. Observe-se o trecho:
Todo o mundo se juntou para nos olhar com um ar estupefato, eforam mesmo chamar a gente das vizinhanças para vir examinar agrande curiosidade que acabava de chegar às suas moradas. Esseshomens apalparam nossos cabelos, perguntaram-nos se sabíamos ler,escrever rezar, se éramos cristãos, que língua falávamos: não nos deixaramsossegar senão quando lhes demos provas de nossa habilidade em
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
93
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
assuntos diversos. A presteza com que escrevíamos, os nossos livros degravuras, as cores e os desenhos, bem como as nossas espingardas dedois canos, que lhes mostráramos, todos esses objetos causaram-lhesgrande espanto; acabaram por declarar que a nossa situação era bemsuperior a deles, porque estávamos em condições de poder conhecer omundo; em seguida unanimemente observaram que havia no mundohomens bem singulares, que não temiam se expor às fadigas e perigosde longas viagens, para buscar, nos países longínquos, pequeninos insetos,que se maldiziam no lugar e pequenas plantas, que só são procuradaspor vacas. (NEUWIED, 1940, p. 407-408)
O interessante do trecho é que o contato e o reconhecimentodo outro permite que a população local se volte sobre si mesma eproceda a uma autoavaliação. Esta reflexão certamente seriaimpossível sem esse olhar. Outros viajantes vivenciam situaçõessimilares, sendo vistos com estranhamento pela população local e,muitas vezes, com certa desconfiança, mas sempre com curiosidade.
Conforme se tem reforçado ao longo dessa discussão, ascrônicas de viagem se reportam a uma realidade diversa daquelade onde o viajante é oriundo. Nessa conjuntura, ele se deparacom o problema de “traduzir a diferença” (HARTOG, 1999, p.229). Segundo François Hartog (1999, p. 229), há procedimentosretóricos à disposição daquele que se propõe a essa tarefa. Assimsendo, para dizer o outro, para dar-lhe visibilidade em um contextodiverso, no qual ele é desconhecido, faz-se necessário recorrerao que o autor denomina “retórica da alteridade” (HARTOG,1999, p. 229). Entre os recursos comumente utilizados, destaca-se principalmente a comparação. Ao comparar o desconhecidocom o conhecido, há uma operação de tradução, pois “filtra ooutro no mesmo” (HARTOG, 1999, p. 245). Este mecanismo érecorrente nas narrativas de viagem. Às vezes, essas comparaçõeslevam a criação de verdadeiros monstros, como as narrativas daépoca da colonização demonstram. Em Pero de MagalhãesGândavo (1980, p. 104) esse processo é utilizado com frequência.
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
94
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Observe-se a sua descrição das Antas: “Também há uns animaisque se chamam Antas, que são de uma feição de mulas, mas nãotão grandes, e tem o focinho mais delgado, e um beiço compridoà maneira de tromba.” É esse tipo de descrição que percorreessas crônicas. É uma forma de tornar o desconhecidoconhecido. As “Antas” não são conhecidas. Então ele tentamostrá-las a partir daquilo que faz parte do mundo do seupossível leitor. E isso é feito através da comparação. É o mesmoprocedimento que aparece em Mongólia, no diário do diplomata.Diante de um inseto ignorado até então, a comparação é oprincipal recurso para dar-lhe visibilidade:
Nessa região, além da infestação de moscas, há um inseto que nãopodia ser mais atemorizante, apesar de me garantirem que é inofensivo.Parece desenho animado. É uma espécie de vespa. Lembra um beija-flor, com um ferrão no lugar de bico. O ferrão tem o mesmocomprimento que o corpo. O inseto fica zumbindo com o ferrãoapontado para a sua cara. Se é tão inofensivo, para que o ferrão?(CARVALHO, 2003, p. 134)
Por ser um inseto nunca visto anteriormente, ele partedaquilo que é conhecido, apropriando-se de características quelhe permitem representar o diferente. Essa descrição seriainviável sem a aproximação com a vespa e com o beija-flor,dando destaque a algumas similaridades entre eles. Registre-se também a descrição de um outro inseto, em que oprocedimento é similar:
Entre os insetos rasteiros, havia um que parecia uma enorme barataselvagem, bojuda e sem asas, com uma couraça cinza esverdeada ecauda em forma de anzol, que lembrava um enorme ferrão. Andavadesajeitado entre as pedras, como um brinquedo de pilha desgovernado.Subia nas barracas, arranhando o náilon com as patas e fazendo umbarulho irritante à noite. O aspecto era dos mais repulsivos, mas
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
95
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Purevbaatar garantia que o bicho era inofensivo. Não sabia o nome. Ascrianças o chamavam de “helicóptero”. (CARVALHO, 2003, p. 151)
Para dar visibilidade ao inseto, ele recorre à barata, porémimediatamente a submete à deformação, o que salienta o quantoa similaridade é relativa, constituída apenas de alguns poucosaspectos. Por isso mesmo, essa comparação não dá conta dadescrição do inseto, daí a necessidade de buscar outro elementocomparativo – o “brinquedo de pilha desgovernado” – paratraduzir o diferente, o desconhecido. Esse recurso é utilizadonão apenas para a descrição dos insetos, mas para qualquer aspectoda realidade que seja novo para o viajante. Aqui se inclui também aindumentária: “Também havia casais que conversavam na esquina,vestido com dels coloridos de verão, uma espécie de manto amarradona cintura, o traje típico dos mongóis.” (CARVALHO, p. 2003, p.38). Esse procedimento, repetido muitas vezes na narrativa, éfundamental para a visualização daquilo que é desconhecido, ou seja,daquilo que não existe no mundo do viajante.
A discussão, que procurou dar ênfase a algumas similaridadesentre os dois diários de Mongólia e os relatos de viagem, nãoesgotou a questão. Outros aspectos, que sequer foram tangenciados,poderiam ter sido objeto de análise. De qualquer forma, os diáriosdesse romance, que se apresentam como diários de viagem, estãomuito próximos das narrativas de viagem, apesar das diferenças quese pontuou em alguns momentos. É importante ressaltar que àviagem realizada pelo diplomata, e que ele não desejava efetuar, sesobrepõe uma outra, aquela que o leva ao encontro de suas raízes,porque o fotógrafo – objeto da mesma – era seu irmão por partede pai, o que só é revelado no final do romance, quando elefinalmente chega ao termo de sua busca. Mas para que esse encontrofosse possível, o diplomata precisou mergulhar na cultura do outro,o que representou uma verdadeira preparação para esse confronto.Ver esse irmão, com quem só havia cruzado em uma única ocasião,lhe oportuniza a sua própria identificação: “Estou há dias sem me
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
96
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
olhar no espelho, e, de repente, é como se me visse sujo, magro,barbado, com o cabelo comprido, esfarrapado. Sou eu na porta,fora de mim. É o meu rosto em outro corpo que se assusta ao nosver.” (CARVALHO, 2003, p. 176). Mas esta já é uma outra viagem...
Referências Bibliográficas
BELUZZO, Ana Maria. O Brasil dos viajantes. Rio de Janeiro: Objetiva,2000.
CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El-Rei. In: CASTRO, Silvio. A carta dePero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 76-98.
CARVALHO, Bernardo. Mongólia. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
CRISTÓVÃO, Fernando. Para uma teoria da Literatura de Viagens. In: ——. Condicionamentos culturais da Literatura de Viagens. Lisboa: EdiçõesCosmos, 1999. p. 13-52.
GANDAVO, Pero Magalhães. Tratado da terra do Brasil. História daprovíncia de Santa Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
GIUCCI, Guilhermo. Viajantes do maravilhoso: o Novo Mundo. SãoPaulo: Companhia das Letras, p. 1992.
HARTOG, François. Uma retórica da alteridade. In: _____. O espelhode Heródoto: ensaios sobre a representação do outro. Belo Horizonte:Ed. UFMG, 1999.
KRYSINSKI, Wladimir. Discurso de viagem e sendo de alteridade.Organon, Porto Alegre, n. 34, p. 21-43, 2003.
NEWIED, Maximiliano de Wied. Viagem ao Brasil nos anos de 1815a 1817. São Paulo: Nacional, 1940. t. 2.
SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui. São Paulo: Companhiadas Letras, 1990.
THEVET, André. As singularidades da França Antártica. Belo Horizonte:Itatiaia, 1978.
Mongólia: viajantes em trânsitoGÍNIA MARIA GOMES
97
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
NARRATIVAS EMCONFRONTO: TAUNAY E AESCRITA DA MEMÓRIA
Olga Maria Castrillon-Mendes(UNEMAT)1
RESUMO: Neste artigo trago algumas reflexões sobre asnarrativas que compõem a obra A cidade do ouro e dasruínas (1891) de Alfredo D’Escragnolle Taunay (Viscondede Taunay). Misto de documentos, cartas íntimas edepoimentos oficiais e de populares, a narrativa resulta numdiscurso dialético perpassado pelo trabalho da memória, ouseja, a memória da guerra, das impressões e sensações sobre anatureza, transformadas em matéria de ficção. Numa cidadecujas origens estão na gênese de Mato Grosso, a ligação entrememória e identidades (POLLACK, 1992) constitui oentrelugar do discurso (SANTIAGO, 1982) cujo aparato decomposição reconstrói um passado singular na forma comofoi inventado (BENATTI, 2000) no século XIX.
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Identidades. Narrativas emconfronto.
1 Professora Adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT e do Programade Pós-Graduação em Estudos Literários-PPGEL/UNEMAT. Do Instituto Histórico eGeográfico de Cáceres/IHGC. CEP 78200-000. Cáceres, Mato Grosso, Brasil.
98
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
ABSTRACT: In this article I present some reflections on thenarratives that make up the book The city of Gold and theruins (1891) by Alfredo D’Escragnolle Taunay (ViscountTaunay). Joint documents, private letters and official state-ments and popular, the narrative follows a dialectical discourse(BOSI, 1992) permeate the work of memory, ie, memory ofthe war, impressions and feelings about nature, turned onfiction. In a city whose origins are in the genesis of MatoGrosso, the connection between memory and identity (POL-LACK, 1992) is the distance between the place of discourse(SANTIAGO, 1982) whose composition apparatus recon-structs a past singular as it was invented (BENATTI, 2000) inthe nineteenth century.
KEYWORDS: Memory. Identity. Narratives in confron-tation.
Tendo surgido no cenário mundial nas primeiras décadas doséculo XVIII, Mato Grosso faz parte do processo histórico quecontribuiu para formulação da ideia de espaço geográfico distantedo centro de poder, portanto, lugar de pouco acesso e muitasdificuldades, de discussões de fronteiras polêmicas em meio aconflitos e relações diplomáticas internacionais, cujas raias não sódemarcaram um mapa, mas atribuíram sentido à configuração doBrasil grande que se tem hoje. Constituiu-se, dessa forma, uma culturaplural em meio a variados sentidos de nação e nacionalidade.
Esse aspecto social, que passa também por questões políticase econômicas, sempre foi motivo de desacomodação por partedos intelectuais. Como é possível pensar a diversidade sem que seimprima, em outros moldes, a discussão entre termos antagônicos(quase irreconciliáveis) como “centro” e “periferia”? Questiona-se o sentido de uma produção cultural brasileira que ultrapasse adissociação dos conceitos local/universal e ganhe o estatuto desimplesmente ser arte/poética brasileira, pois não há como admitirque os considerados pólos de produção continuem a assegurar,
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
99
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
na prática, o que abominam na teoria, tendo em conta um mundoque se desenha de fronteiras díspares.
Nesse aspecto, retomo alguns pontos da conferência deBenjamin Abdala Junior, em Tangará da Serra, durante o XIEncontro de Estudos Comparados de Literaturas de LínguaPortuguesa, em maio de 2011, quando defendeu a concepção domomento de uma “repactualização do mundo”, ou seja, tolerara diferença, partindo para uma postura de “não ver o Outroespecularmente, reproduzindo os próprios atos, mas aprendercom ele”. Então, se faz necessário mudar o mecanismo de dizer(e fazer), ou seja, pensar na perspectiva das diversas articulaçõesde modo a não se aprisionar pela forma, mas romper com elas apartir de novas posturas. E esse tem sido um delicado problemano meio intelectual.
Há, nessa abrangência de discursos, um elo com o político ecom as relações de poder, que traça limite, demarca estereótipos econtribui para a compreensão da ideia de Brasil nas interfaces dabusca do seu sentido enquanto nação, expressa pela ciência e pelaliteratura, fascinando-se pelas singularidades da diferença. Essaslinhas de força provocam certa epopeia da construção de umamemória americana pelas experiências transformadas em textosque constroem imagens plurais da América, compreensíveis nos/pelos espaços descobertos, nomeados, estabelecidos pelomaravilhoso-exótico que avizinham a história do fantástico e aprodução do imaginário dos povos. Portanto, uma historicidademarcada e reconhecidamente modelada por práticas alienantes,embora nos encontremos hoje num outro momento social, mas, talvez,mais cristalizado pelas abalizadas discussões acadêmicas advindas,principalmente, dos centros do poder intelectual.
Sem perder de vista a ideia norteadora que pressupõe aexistência de uma produção literária ligada ao conjunto dasmanifestações (inter)nacionais, o nosso propósito é pensar umaobra que está fora do cânone (embora o seu autor seja muito
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
100
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
conhecido), fazendo emergir elementos da diversidade regional,aspectos literários e extraliterários, colocando-os em sintonia (ouconfronto) com o tempo e a história de que fala Mário César Leiteao tratar do regionalismo e identidades de uma cartografia mato-grossense, apoiado na ideia de elaboração (e não mistificação) deprodução de uma diferença cultural do mesmo modo que é produtodela (LEITE, 2005, p. 223).
Desta forma, tentamos ligar os fios que colocam o Viscondede Taunay no centro das discussões sobre Mato Grosso, recriandoa experiência da prática social dos objetos de representação quefez do Romantismo brasileiro uma estética que contribuiu paraconstruir um modo particular de ver e de sentir o mundo. Pode-se dizer que a partir de uma experiência frustrada de imitar oeuropeu, o brasileiro encontrou, no Romantismo, uma formade pensar a sua própria identidade, desvencilhando-se de umafidelidade imposta. Assim, falha na cópia e tem início certainvenção do Brasil, fortalecida pelos movimentos culturais quese seguiram, principalmente aquele eclodido na Semana de 1922.
Geograficamente, a região estranha, distante, desconhecida, repletade fatos lendários que povoaram o imaginário de muitos viajantes eestudiosos foi, significativamente, foco e palco de discussões dasfronteiras definitivas do Brasil. Um caso de fronteiras doimaginário, que acompanha o movimento da viagem e liga-se aosentido do político e das relações de poder que traçaram os limitesda soberania portuguesa, pelos balizamentos dos rios Guaporé eParaguai, dois ícones da paisagem que compõem a moldura e acena da maioria dos escritos de Taunay2. O primeiro está ligadoao autor por acontecimentos familiares, em que a memória do tio
2 Adriano Metello, em artigo sobre o sul de Mato Grosso, publicado na Revista Brasil n. 77,maio de 1922, faz uma análise das terras, campos nativos, subsolo e aguadas para demonstrar ofuturo promissor dessa região no processo de desenvolvimento nacional, no momento em queos interesses do país e do mundo se voltam para ela: é a Canahaan, que promete – mais que os nossosfallaciosos ‘El-dorados’ do ouro e da borracha – uma riqueza sólida, estabelecida em bases múltiplas eracionaes (p. 45-53).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
101
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Aimé-Adrien Taunay é lida e interpretada como documento(registra e enaltece a figura do biografado). O texto de memória éconstruído sobre outra memória, num encadeamento de situaçõesnarrativas e o lugar – Vila Bela – é palco e cenário de uma tragédiafamiliar, como está registrado nos períodos iniciais da obra Acidade do ouro e das ruínas: “razões de ordem mui particularpessoalmente me prendiam, e ainda hoje me prendem, a essadesolada parte de Matto-Grosso e ao moribundo povoado de Villa-Bella.” (TAUNAY, 1923, p. 13, grifo meu).
O segundo ícone da paisagem mato-grossense liga-se a Taunaypelo ciclo das águas que formam a bacia do pantanal sul-matogrossense, local das experiências pessoais que foramresponsáveis por grande parte do caráter da sua obra. Ambos osrios entram na composição narrativa, fundamentando os modosde articulação dos vários elementos naturais que, a partir do queSimon Schama denomina de “camadas da memória” (SCHAMA,1996), compõem imagens, criteriosamente elaboradas peloexercício narrativo, formando o quadro imagético que veiculauma ideia de lugar e discute gêneros e mitos, como o das águas,como visto por Mário César Leite (2003), e do isolamento, reescrito,dentre outros, por Alcir Lenharo (1982) e Romir Conde (2003),responsáveis pelos estereótipos criados ao longo dos tempos sobreo interior brasileiro.
Tais aspectos estão em fase de fundamentação, pois são frutosde uma pesquisa em andamento sobre regionalismos, identidadesculturais e representações literárias nos espaços amazônicos,portanto, passíveis de reformulações e redefinições. Preocupo-me,assim, numa perspectiva pautada, principalmente, no conceito de“regiões culturais” formulado por Angel Rama (2001) e na ideia deuma ligação entre memória e identidade social, de Michael Pollack(1992). Ambos embasam o nosso pressuposto de que tanto a obraliterária quanto as questões da literatura oral parecem encontrar umponto de referência na tessitura do discurso construído sobre umacidade cujas origens estão no surgimento de Mato Grosso.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
102
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Isso se explica porque entre o documento histórico e anarrativa literária perpassa o exercício da memória enfeixado peloaparato de composição. O espaço cenográfico, os atores e a históriacontada, tecidos sem muito controle, surgem numa tentativa derecuperar questões de estética e de literatura, além de historicizaruma fase da história de Mato Grosso. Desta forma, imprime umolhar individualizado que particulariza um tempo histórico, umaparcela da memória, uma imagem continuamente construída pelassensações e pelo exercício de olhares: do biografado, dosinformantes, da literatura consultada, do narrador.
Nesta discussão, avançando a leitura preliminar, focalizo aescritura histórico-literária no que atende ao processocompositivo da narrativa na fronteira entre o documentohistórico e a literatura. Como está composta e qual a forma delinguagem utilizada? Como aparece reconstruído o passado deMato Grosso que o torna único da forma como foi “inventado”por Alfredo Taunay?
Na fronteira narrativa: entre a literatura e a história
Sabe-se da indissociabilidade entre a Literatura e a História.O objeto de ambas é o homem em ação concreta ou na ficção.Uma se realiza no dinamismo das civilizações; outra apropria-seda realidade histórica, transformando-a em realidade estéticapelo imaginário. Nos dois casos, o diálogo se faz com vistas àcompreensão geral da História, que recebe do espírito românticonão só o conceito, mas a efetiva percepção do homem como serhistórico, na praxis e no pensamento.
Nessa perspectiva, o estudo do conjunto da obra do Viscondede Taunay coloca o pesquisador na fronteira entre as áreas,respeitadas as particularidades analíticas e as singularidades de cadauma. O tecido narrativo indica pistas que ajudam a construir os
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
103
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
elementos caracterizadores do discurso que se busca analisar. Então,o fato de determinados elementos da obra de Taunay pertencerema uma região específica não quer dizer que ela (a obra) se regionaliza,mas acentua a noção de que a memória nacional (pretendida peloautor) constitui a forma mais completa dos anseios nacionais à épocade sua realização. Nesse entrelugar de criação e nos espaçoscarregados de contradições e do sentimento de “não estar de todo”,caracterizado por Julio Cortázar, é possível compreendermetaforicamente a coexistência pouco pacífica entre as culturas.
Ao narrar sobre a cidade de Vila Bela, Taunay utiliza-se deartifícios de composição que atendem, de certa forma, àsnecessidades contemporâneas de ver a relação da língua com ahistória, ou a história dentro do acontecimento da linguagem.Lugar que nos coloca no diálogo entre áreas e no movimento daescrita que parece passar pelo movimento da viagem a quefaremos referências posteriores.
A obra foi publicada em 1891, na Revista do InstitutoHistórico e Geográfico Brasileiro (Tomo 54), com o longotítulo A cidade de Matto-Grosso (antiga Vila Bela), o rio Guaporée sua mais illustre victima, primeira parte (completa), contendo22 capítulos, com subtítulo explicativo “estudo histórico”. Asegunda parte, com 31 capítulos que se perderam, conforme notaexplicativa do prefácio da segunda edição (1923), organizadapostumamente pelo filho Afonso Taunay, está acrescida de maissete capítulos. Nessa edição, foi feita a atualização da linguagemalém de complementação em notas de rodapé e pequenosresumos no início de cada capítulo, características formaisresponsáveis pela clareza do discurso e organização temáticarequerida pelo organizador, dada a dispersão sofrida pelos originais.
Temos, então, um tempo histórico representado (séculos XVIII/XIX); uma figura emblemática, Adriano Taunay (um artista-viajantepossuidor do mais fino sentimento de paisagem), e uma cidade, VilaBela da Santíssima Trindade (sede do governo colonial em Mato
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
104
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Grosso). Portanto, quase dois séculos de história tecidos por peçasque são partes distintas unidas pelo fio da memória. Esse conjuntopressupõe o propósito de ligar os elementos da obra num todoorgânico para se pensar o Brasil a partir do interior. O que issopode significar para os objetivos deste estudo?
O lugar é uma cidade oitocentista (fundada com o nome dePouso Alegre) à beira do rio Guaporé, “no ponto mais ocidentalpossível do então reino português, escolhido como sede da Capitaniapelas condições propícias de terreno, solo e possibilidades de defesa”(FERREIRA E SILVA, 1998, p. 134-5, grifos meus). Foi a primeirasede da Capitania de Mato Grosso, portanto, liga-se às discussõesde/sobre fronteiras brasileiras. Ficam expressas, desta forma, avocação e o destino temporário aludido no título da segunda edição:“a cidade do ouro e das ruínas”. Na obra, um cenário de busca desolidificação dessas fronteiras, de resultado do ideário iluminista –através da eminente figura do Marquês de Pombal – e de umatragédia familiar, enfeixando muitas histórias de Mato Grosso quevêm à tona a partir de personagens emblemáticas da Guerra daTríplice Aliança com o Paraguai, contemporâneas dosacontecimentos vivenciados pelo Visconde de Taunay. Fatosrecortados que compõem quadros que esgarçam o tecido dosacontecimentos políticos, indissoluvelmente ligados na/pela escrita.
No centro da narrativa, está a figura de Adriano Taunay, ouseja, até certo ponto o tio-artista é o mote; depois, a estratégia dodiscurso recai sobre a figura do narrador, participante do episódiohistórico da retirada da Laguna e, por isso, marcado sensivelmentepela experiência em Mato Grosso, para, finalmente, dar lugar àmacro-história do Brasil, centralizada na/pela cidade de Vila Bela.
Adriano Taunay veio para Mato Grosso numa viagemcientífica, como desenhista da conhecida Expedição do CônsulLangsdorff (1825-1829), que percorreu o interior do Brasil, emdireção a Mato Grosso e regressando pelo Amazonas e Pará,conforme pode ser visto no traçado ao lado.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
105
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
No percurso quase épico do movimento da viagem, aExpedição Langsdorff teve profícuos resultados científicos e muitosacontecimentos trágicos. Um deles foi a morte acidental do artistano rio Guaporé. Fato marcante na memória do sobrinho AlfredoTaunay, que foi levado a ocupar-se de Vila Bela para, não só pagarum tributo ao ilustre membro da família, precocementedesaparecido, mas, principalmente, para dar conta de um trabalhode memória que parece se revestir de propósitos mais fortes. Em
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
106
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
1891, Taunay estava escrevendo suas Memórias3. Vivia, portanto, afase da vida de certo afastamento das atividades políticas e de intensolabor intelectual que se liga ao que diz Michel Pollak, no sentido denão se tratar mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas deanalisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e por quemeles são solidificados (POLLAK, 1989, p. 4). Desta forma, as peçasse juntam no mosaico narrativo, dimensionando a compreensão doparticular para o geral e universal.
Então, trazer à tona a figura do tio em obra específica podeser uma contribuição no processo de revelação não só dosconhecimentos sobre Mato Grosso, mas de colocar a própriafamília no centro da vida artística e política brasileira. E issocaracteriza um dos pontos mais interessantes da obra. A junçãoda memória e da história aliada a estudos em documentos, cartastrocadas entre familiares e amigos, depoimentos dos maisvariados e um farto referencial de textos de viajantes, faz danarrativa memória documental de uma parte de Mato Grossoe um monumento literário pela composição próxima da reinvenção,ou trazendo ideias de Antonio Paulo Benatti, a “diluição, nas artese na literatura, das fronteiras (fictícias) entre o real e o imaginário;enfim, todos os fenômenos da multiplicidade.” (BENATTI, 2000,p. 98). Lembre-se aqui que, para uma narrativa da segunda metadedo século XIX, Taunay coloca-se na vanguarda de uma escritura,senão apenas de conflito, como quer Benatti, mas plural, no sentidode colocar-se como condutora do processo de sobrevivência deuma memória que assume a forma de mito, tal a densidade com a
3 Esta obra de Taunay surgiu com o título de Trechos da minha vida, cujos originais foramdepositados na Arca do Sigilo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1892. Naabertura da Arca, em 1946, os manuscritos encontravam-se em perfeito estado de conservaçãoe, em 1948, seu filho Afonso Taunay, faz a sua primeira edição acrescida de outros inéditos.Nela Taunay faz comentários contundentes sobre o país, a Guerra da Tríplice Aliançacontra o Paraguai da qual participou como relator do diário de campanha por duas vezes,além de traçar sua biografia e revelar fatos “inoportunos” para a época. Daí o seu interesseem guardá-las por tanto tempo fora da leitura dos contemporâneos (cf. TAUNAY, 1948).Conferir, também, dessa obra, a edição de Sérgio Medeiros (São Paulo: Iluminuras, 2004).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
107
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
qual a figura do biografado é retirada do controle do universoindividual para o coletivo.
Dessa forma, a relação de Taunay com a cidade de Vila Belaé visceral; prende-se às memórias da infância quando seu paicontava, “com lagrimas nos olhos e tremor na voz”, sobre os“tristes lugares” onde ocorreu “o sinistro” nas águas revoltas dorio Guaporé, “à vista de Villa-Bella, arrebatando à existência seuirmão mais moço, Amado Adriano Taunay, em pleno desabrochardo mais precoce e admirável talento.” (TAUNAY, 1923, p. 13-4).Tantas e tão fecundas foram as histórias, relatadas em cartas egravadas em desenhos e relatos enviados sistematicamente à família,que as lembranças afloram densas na narrativa, com pormenorespróprios de um observador atento às características de uma regiãoque fez parte dos projetos nacionais e onde Taunay plasmou-se,do menino que ouvia aguçadamente as histórias contadas, para oarguto observador de novos mundos.
Desde o início, então, a narrativa se constrói em múltiplaspinceladas da memória: informações sobre a vida do tio Adriano, asimpressões sobre o palácio em ruínas dos antigos capitães-generaisque governaram a Província de Mato Grosso, os “frescos que oadornavam, os painéis que encerrava” (TAUNAY, 1923, p. 14) –cenário de uma intensa vida cultural na colônia, como demonstraCarlos Moura (1976 e 1976a) nos estudos sobre o teatro e as artesplásticas em Mato Grosso. Narrativa entrecortada por outrasnarrativas, bifocada constantemente com interferência subjetiva donarrador. Um cruzamento de discursos sem atitude crítica, pois amemória do tio lida e interpretada como documento, carrega oestatuto de verdade. O narrador faz-se historiador municiado pelaviva consciência dos fatos que assumem perspectiva particular. Emestudos do conjunto de sua obra verificam-se posições críticas muitoreduzidas. Note-se que, nas buscas sobre Adriano, encontram-seincorreções e divergências nos relatos dos viajantes José Gonçalvesda Fonseca e Ferreira Moutinho, como argumenta o próprio narradordas memórias (TAUNAY, 1923, p. 77-82).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
108
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Entre cartas, manifestações de pesar pela morte do tio,poemas escritos pelos seus irmãos – que fazem parte do acervodo pai Felix Emilio – Taunay narra outras histórias: aquelasouvidas por ele mesmo durante a sua estada entre as regiões deCoxim e do rio Aquidauana na campanha da Guerra. Dentreelas as de uma figura popular antológica, Cardoso Guaporé,“um homem de cor” que personifica a própria memória oral,trazendo a marca de um discurso que se liga à grandezasetecentista de Vila Bela.
Entre os fugitivos havia um homem de côr, um preto velho, muitovelho, de mais de 80 annos e de nome Cardoso Guaporé, antigocollector da villa de Miranda e que alli gozára de certa importância(...) filho da cidade de Matto Grosso, ao ouvir pela primeira vezpronunciar o meu nome, mostrou-se sobremaneira admirado e semvacilar, mas com visivel sofreguidão, logo me perguntou:-Será porventura o senhor parente de um Adriano que se afogou norio Guaporé e foi enterrado na igreja de Santo Antonio, isto pelosannos de 1827 ou 1828?- Sou seu sobrinho, respondi-lhe em extremo surpreso de encontrarnaquelles ínvios recôncavos um conhecido da família, que remontavaá occurrencia já tão antiga. Era irmão de meu pai.-Ah que homem aquelle! Exclamou o velho. (TAUNAY, 1923, p. 44-5).
Cardoso Guaporé, como elemento da memória discursiva, éo material fornecido pela história (POLLAK, 1992), e sua figuraaparece ligada à grandeza e à decadência de Vila Bela. Neste caso,o informante carrega o conhecimento mais amplo do que se estánarrando e, do seu depoimento, Taunay faz viva e efusiva transposiçãoque é narrada com sôfregos qualificativos:
E, sem mais se occupar com o momento presente, que lhe traziacomtudo tantas surpresas na sua vida de refugiado e de occulto nasmattas, começou o mais ardente e exaltado panegyrico do illustremancebo, das suas qualidades proeminentes, sua coragem indomável, sua alegriaincessante, sua actividade estupenda, sua generosidade illimitada, suas aptidões
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
109
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
inexcedíveis de musico, desenhista e poeta, sua habilidade em nadar, caçar ejogar armas, sem esquecer a notavel e impressiva belleza, atrahente e mascula,que lhe fazia correr mil aventuras de amor e lhe valia tantas e tãoespontâneas dedicações, até aquelles que poderiam pretender rivalidade.(TAUNAY, 1923, p. 45, grifos meus).
Os adjetivos fartamente utilizados, mais que caracterizaruma narrativa de época, pretendem emoldurar o biografado numquadro de referências que centralizam o olhar da história para amultiplicidade dos acontecimentos coletivos, ou uma causalidadedeterminante do processo de composição que estrutura a açãotemporal no espaço narrado. Quem narra, portanto, conta umahistória que se representa pela atividade simbólica, produzindodeslocamentos, mais líricos ou mais retóricos, cujos enunciadosresultam numa seleção contínua da memória.
Num leque de possibilidades confrontadas em situação dedepoimentos coletados por lembranças, outro informante é otenente-coronel João de Oliveira Mello4 “esse amigo que nuncaavistei, mas com quem, há annos, me correspondi animadamente,por sympathia e apreço aos seus serviços, tem uma história, ouantes, um trecho de vida digno de ser commemorado ereproduzido”. (TAUNAY, 1923, p. 48-9).
Desta forma colocada, a figura do biografado canaliza ospontos de interesse do escritor, como se o espaço da Corte carioca,
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
4 Rubens de Mendonça diz que este militar já estava esclerosado quando prestou as informaçõespara esta obra (Cf. Discurso e recepção do acadêmico Pedro Rocha Jucá por Rubens deMendonça. In: Revista da Academia Mato-grossense de Letras. Cuiabá, 2000, p. 186-192). Entretanto, encontram-se trechos que denotam que Taunay fazia cruzamento dedados, como este: “Fez Castelneau a viagem de Villa-Maria a Matto-Grosso pela estrada deque falla o Sr. Oliveira Mello e, referindo os incidentes da sua jornada, mostra-nos aimportância que tivera aquella linha de communicação” (...), (TAUNAY, 1923, p. 74-5).Ou em outros em que demonstra a falha de datas na Noticia da situação de Matto-Grosso,de José Gonçalves da Fonseca (ibidem, p. 77) e inexatidões, exageros e improbidade emNoticia sobre a Província de Matto-Grosso, de Ferreira Moutinho “o qual encerra indicaçõesbem curiosas e aproveitáveis, e de permeio muitos trechos de duvidoso acerto, ou exageradosou copiados sem discreção de outrem e até de simples jornaesinhos” (ibidem, p. 78).
110
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
à época efervescente da cultura implantada por D. Pedro II, seresumisse naquele pequeno mundo do interior mais distante da nação.Do vivo interesse imperial de alastrar os ideários monárquicos aosmais distantes espaços nacionais, uma figura – um jovem que se“sacrificou” na flor da juventude (lembre-se das dificuldades pelasquais passou a Expedição Langsdorff) – representa o ideal de umanação que deveria ser construída por grandes homens, que estavamdispostos a entregar a própria vida, se preciso fosse, nocumprimento de uma “missão”.
Esse espírito de sacrifício missionário aliado ao serviço dascausas nacionais, tão disseminado pelos ideários monárquicos,motivado, talvez, pelas concepções do filósofo Ernst Renan5,mobilizou o próprio Visconde de Taunay quando de suaparticipação no episódio da retirada da Laguna durante a Guerracom o Paraguai. Não é aleatório, portanto, que a narrativa sejadedicada “À sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro II (...) umdos mais nobres vultos da humanidade e o mais glorioso dosbrasileiros (...)” (op. cit., p. 3 e 5).
Vista desta forma, a História vazada na obra conduz àsdiscussões mais amplas como fronteiras definitivas do Brasil colonial,trânsito de cientistas, demarcadores de fronteiras, naturalistas, artistas,povoamento, ascensão e decadência de um lugar – “ouro e ruínas”,como traz o título, portanto, um ciclo completo da história de MatoGrosso centralizada na memória individual. Urdidos os fatos e atrama, irrompe uma escritura nos liames entre o real e o imaginárioem que os fenômenos se multiplicam em descontínuos e sucessivosmundos históricos, resultando num texto perpassado não só pelomovimento do olhar, mas pelo deslocamento provocado pela
5 O historiador e filósofo Ernest Renan (1823-1892) era muito lido no século XIX e suas obrasfazem parte do acervo de grande parte dos intelectuais das primeiras décadas do século XX.Para ele a História era feita por grandes homens, por isso tomava como protótipo de suas idéiaso Imperador romano Augusto. Em sua obra ?Que es una nación? resume o conceito de naçãocomo princípio espiritual, valores, costumes e educação transmitida hereditariamente. O Imperador D.Pedro II era leitor e amigo do filósofo (grifos meus).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
111
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
viagem. E isto vai nos interessar como mais um mecanismo doprocesso que engendra a narrativa.
Viagem e literatura
O que significa viagem e qual o objetivo desse movimentohumano que ao longo dos tempos tem contribuído para aconstrução dos sentidos de povo e de processos identitários? Se àviagem une-se a concepção de mobilidade, de ocupação de espaços,de construção de imagens e, dentre outras variáveis, de registrodo vivido e do observado, concebemo-la a partir da relação doviajante com o seu tempo e na diversidade das percepções domundo. No percurso dos sinais apresentados por essas narrativasé possível construir um mosaico de alternativas para se pensar oBrasil e a América, a partir de questões que dimensionam o próprioconceito de viagem, de viajante e de relatos de viagem, preocupaçãoque subjazem às minhas investigações.
Meu argumento é, portanto, que a viagem e os registros decampo dela decorrentes sistematizam um projeto que acompanhao ideário de época, provocando amadurecimento da consciêncianaturalista e do modo de significar das sociedades que transformamas relações entre a história e a ciência. Quaisquer que sejam osconceitos trabalhados na direção de compreender o movimentoda escrita e da relação cultural resultantes desse processo deconhecimento, percebe-se um narrador que emerge do seu tempoe nas diferenciadas formas de percepção do mundo. Afina o olhare os sentidos para os novos paradigmas traçados pelo século XXquando a multifacetada questão do gênero ultrapassa o registrodo viajante e ganha dimensão de literatura e de arte.
É sabido que o Brasil foi construído a partir de imagens quea Europa fornecia através dos relatos dos viajantes quereferendavam as explicações sobre o Novo Mundo, cujosparâmetros estavam baseados nas experiências externas ao próprio
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
112
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
local. Construiu-se um sentido de América sob os mais diferentesestigmas a partir do descobrimento das terras em situação de seremexploradas e povoadas, como alinham os debates de concepçõessobre o continente e seus habitantes apresentados por AntonelloGerbi (1996).
Nesse moldura, interessa-nos as relações entre os relatos deviagem e a construção das identidades plurais que compõem onacional, mais especificamente, aquelas que nos fazem pensar sobreum conceito de/sobre Mato Grosso que nos conduz a compreensõespara além das imagens estereotipadas que marcaram a forma comofomos vistos e escritos pelo olhar de fora, poucas vezes reconhecido.
O gênero literatura de viagem é, portanto, assunto vasto epolêmico, mas não há como fugir da sua problematização nestemomento. Do relato como resultado do encantamento, como fontede emoções atuantes sobre a sensibilidade do observador e comomeio para compreender, interpretar e criar uma imagem do Brasil(a viagem em nome da ciência) há um longo caminho a percorrer.Desta forma, o gênero parece se definir como o deslocamento físicodo autor pelo espaço geográfico por tempo determinado e atransformação do observado e do vivido em narrativa. Um estiloque une o estético ao labor científico. A união de ciência e poesiaé tendência inspirada em Alexander von Humboldt, no início doséculo XVIII, quando se concebiam os trópicos como lugar dacomunhão do homem com a natureza. Uma descrição que produzno leitor o prazer que a mente sensível recebe da contemplaçãoimediata da natureza. Desta maneira, Humboldt introduz o sentimentode natureza nos relatos de viagem, inaugura novos métodos deexperienciar a viagem e contribui para as mudanças do pensamentosobre a inferioridade do Novo Mundo. Participa, assim, do processode construção do narrador de ficção, como estudado por FloraSüssekind (1999) ao percorrer os textos que, no Romantismobrasileiro, bebem na fonte dos viajantes e começam a configurar afigura do narrador literário.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
113
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Por isso, a viagem, ao longo dos séculos, tem contribuído pararedesenhar a cartografia universal pela incorporação de novasgeografias no universo do conhecimento. O viajante é, então, oindivíduo de fora que observa, analisa, pesquisa, compara e avalia,o que lhe permite descobrir novos parâmetros e criar. Desta forma,cada época gera acontecimentos que se revelam emblemáticos paraas transformações do mundo, pois o viajante opera “travessias”,para lembrar Octávio Ianni (2000), pois há sempre algo de coletivono movimento, nas inquietações, nas descobertas e nas frustraçõesdos que se encontram, criando elementos de tensão, de conflitos emesclando ou dissolvendo concepções e valores.
Nesse sentido, a viagem é reconstituidora de lugares simbólicose do movimento que registra saídas, chegadas, movimentos deinteriorização ou de desterritorialização. Ou seja, coloca o indivíduoe as ideias em outros lugares, gerando novos conceitos quepermanecem em circulação, reverberando sentidos vários. Taisescrituras, traçados de “quadros” imagéticos, espaços derepresentação de singularidades entram na composição deexperiências intersubjetivas e coletivas. Delas surgem noções deraça, de povo, de paisagem, de espaços de significação nasobreposição, deslocamentos e entrelugares da diferença em queforam e são negociadas as representações de poder corroboradaspela linguagem, neste caso, performativa, aquela que se manifestano/pelo acontecimento em que se operam mudanças de statustornadas socialmente válidas.
Tal mobilização, ligada pela viagem (real ou imaginária), éuma forma de autodescoberta ou de conhecimento do outro, comose vê no texto em estudo. Narrativas entrelaçam-se nos fragmentosda memória que tecem a histórias de vida (do escritor, dobiografado, da família). Ou seja, numa ligação entre identidadeindividual e identidade nacional, tenta-se encontrar uma formade apreender os vestígios de memórias outras para interpretarrealidades subjacentes a tais percepções e, penso, sobretudo, emMichael Pollak (1992) que faz essa relação entre memória e identidade
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
114
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
social como colocado anteriormente. Refiro-me, portanto, a umareconstrução de imagens que integram lugares, símbolos formados apartir da experiência de viagem, como tentamos ler A cidade doouro e das ruínas.
As imagens, portanto, constroem pausas na narrativaentrecortada por outros documentos. Neste caso, o diário évisto como relação do acontecimento ou como memória, relatoe crônica – seriação datada dos fatos cotidianos – e remete apequenas histórias (prolongamentos), implicando naquilo quePhippe Hamon denomina de uma subjetividade em que osujeito constitui o seu traço distintivo, pois a enunciação é queinteressa em primeiro plano, inscrevendo o processo deprodução e a forma como o sujeito se insere naquilo que diz.(HAMON, 1976, p. 60).
Assim, a necessidade de contar fornece o prazer do discursoque gera o conhecimento do fato narrado. De certa forma, é comoTaunay compõe as imagens decorrentes dos variados textos econtextos explorados. São notáveis as particularidades descritivas,pois o narrador está tomado pelos acontecimentos num processode recriação histórica.
Então, não é uma questão do simples uso da tradição que sediscute, mas sua reencenação em outras temporalidades culturais. Eo que é tradição? O que significa pensar na produção “de margem”,nos aspectos “regionais”, num conceito de Mato Grosso? Essasquestões possibilitam realinhamento de conceitos que se buscacompreender a partir dos resultados do movimento da viagem, daescritura resultante dela e, consequentemente, das anotações daviagem transformadas em ficção, como acontece com o escritor emestudo.
Percorrendo o traçado da cidade feito pelo olhar atento doVisconde de Taunay compreende-se a relação entre o registro dahistória, que repousa sua origem no século XVIII, e a confecção daobra que fica entre a estética da linguagem e a narrativa histórica.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
115
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Há uma preocupação com o espaço geográfico porque esterepresenta a moldura do quadro. Então, a eficácia da imagem resultano fato de ela ser “representação dos resíduos das sensações”(WELLEK & WARREN, 1955, p. 235), tornando-se quase umsímbolo.
Essa composição gera um jogo de espelho onde imagensinvocadas como metáforas do lugar passam a fazer parte do sistemade representação desse lugar, o que acontece, de forma generalizada,nos relatos dos viajantes e, principalmente, com as anotações deAlfredo Taunay em cadernetas de campo que, de certa forma,passaram a fazer parte da gênese de sua produção, como já tiveoportunidade de analisar6.
No jogo narrativo a figura do “herói” é colocada em pautapara relacionar-se ao biografado. Tanto é heroicizado o homem comoa cidade que teve seus dias de glória e decadência. A perda davitalidade parece ligar-se à transformação sofrida pelo próprio paísque, sob o ponto de vista de Taunay, de um regime “puro” como omonarquista, passa à república fadada ao insucesso. Vila Bela podeser vista como o protótipo dessa mentalidade.
[...] fundada expressamente para capital de toda aquella afastada e largazona, incremento material expresso em obras, cujas ruínas hoje e, scientesde cousas do passado, ainda encontram, naquelles outr’ora florescentesparamos, vestígios eloqüentes de extintas grandezas, que jamais voltarão (...) e,á medida que os tempos vão se desdobrando, perdem esses mesmosvestígios a sua eloqüência e qualquer significação até, chegando afinaldia em que fiquem de todo mudos e fechados á meditação daquelles que, levadospor doloroso estimulo, tentem no estudo e na contemplação de destroços e escombrosreconstituir épocas idas e fazer reviver largos e promissores trechos de historia, quefindaram em desastres, abandonos e irremediáveis tristezas. (TAUNAY,1923, p. 11-12, grifos meus).
6 Cf. os artigos “Paisagem e memória da ficção do Visconde de Taunay” (Revista Alere nº 2.Tangará da Serra-MT, dezembro, 2009 (29-35) e “O diário de viagem em Taunay e Mário deAndrade” (Revista Ecos nº 2. Cáceres-MT: julho, 2004 (15-19).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
116
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Casas que desabaram; matto que ainda mais alteou nas ruas; inundações doGuaporé que levaram os restos do cães de outr’ora e cavaram fundonas barrancas; esboroados e largos pannos de muralha que tombaram; genteque diminuiu (e já era tão pouca!) uns mortos, outros que emigraram,tangidos pelo desespero e pela falta de recursos; arvores que cresceraminvasoras e á solta, gigantes da floresta em plena povoação, dominandono seu magestoso vigor e no sempre renascente alegria os destroços daobra dos homens. [...] (TAUNAY, 1923, p. 12-13, grifos meus).
A imagem de destruição é evidente. O próprio biografadodesabafa em cartas à família: “Tout reproduit l’image de la mort”(ibidem, p. 28). Tais dizeres criaram o sistema imagético decirculação da memória substantivada em isolamento, desolação edestruição, distâncias e intempéries, termos que farão parte dosistema simbólico de Mato Grosso que chega a ser, até certo ponto,mítico, como mítica se apresenta a figura de Adriano. Sucede quea cidade como eixo norteador da memória é depositária de umpassado de glórias que produziu homens, documentos emonumentos ainda hoje visíveis em suas ruínas que teimam emresistir ao tempo (a à depredação), como nos fragmentos acimaque reinterpretam o passado.
Por fim, a imagem de Adriano Taunay é colocada comosuperior à própria cidade, fixando um lugar de memória indizível,mas marcada de forma mais completa pela memória coletiva queadquiriu poder de circulação.
De tal maneira o exercício da escrita funcionou no labor literáriodo escritor que a junção de documentos e de depoimentos orais,somados à prodigiosa memória de que era dotado, faz da obra Acidade do ouro e das ruínas um misto de memória e história quetraduz a tradição escrita de Taunay, entrelaçando-se a uma determinadatradição oral de fontes. Nessa proliferação de escritos, Taunayposiciona-se como escritor em constante exercício da escrita. Recriasuas impressões e lembranças, relê seu contexto à luz do contexto dobiografado e revisita a memória.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
117
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Com isso explica-se a reflexão de Simon Schama (1996) sobrea capacidade que o artista tem de reproduzir, no quadro, uma cenaque está sendo narrada. Quem vê (ou ouve) dá conta de construirimagens em que vários elementos inconscientes estão envolvidosno processo das lembranças. O motivo de um “quadro” (ou de umtexto escrito) é fruto de superposição de imagens, ou seja, sãoconstrutos imagéticos já dominados. Imagem e representação sãoespaços simbólicos impossíveis de “pureza”, mas na posição bipolarassociação/dissociação de pontos de vista e de posição ideológicado artista captados pelas impressões na retina.
Meu argumento é, portanto, que a viagem e a escritura deladecorrente, como no caso da narrativa de Taunay, sistematizamum projeto historicizado no/pelo discurso, provocandodiferentes formas de significação das sociedades, transformadaspelas relações de poder.
Quaisquer que sejam os conceitos trabalhados na direção decompreender o movimento da escrita e da relação culturalresultante desse processo de conhecimento, percebe-se que o narrador,no exercício das diferentes formas de percepção do mundo, afina oolhar e os sentidos para os novos paradigmas traçados, e que amultifacetada questão do gênero ultrapassa o registro do viajante eganha dimensão de literatura e de arte, mesmo que entrecortadas pelomosaico de composição, como se viu.
Desta forma, estamos querendo argumentar que o estudodos relatos de viagem não se esgota com as descrições dodescobrimento que, durante quase três séculos, dominaram o leitoreuropeu e brasileiro. Inicialmente, os relatos atendiam a propósitoséticos e de política nacional e internacional; depois, passaram a seinteriorizar, a se subjetivar, influenciados que foram por Goethe,Rilke, Rousseau e Xavier de Maistre, cujas obras podem ter sidofontes de leitura do escritor.
Portanto, a contribuição de Taunay torna-se fundamental,levando-nos tanto à compreensão do complexo de formação dos
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
118
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
processos identitários, quanto à construção do sentido denacionalidade pelo viés da história, da memória e da escritura.As impressões e lembranças são recriadas pela releitura docontexto e pelo papel exercido da memória. Nesse processo deabsorção, o autor privilegia a construção de uma imagem de Brasil.Imagem, muitas vezes, repetitiva, mas que recompõe quadros deum tempo, de um lugar e de um ideário de época, com poucarenovação do tema. Um trabalho, enfim, de depuramento damemória e de reelaboração constante dos dados coletados.
É deste modo “civilizado” que Mato Grosso vai se constituirpelo conjunto de imagens configuradas pelo político, social eeconômico, passando a significar para o Brasil pelos efeitos desentidos gerados por essas relações de poder. Os efeitos do jogoimagético fundam o espaço de representação artística ehistoriográfica, ao mesmo tempo em que dão visibilidade a umaregião que, mais que lugar de origem, é um espaço cultural derepresentação.
Com a História dialogamos há algum tempo na Unemat etemos construído um lócus salutar e promissor de produção quetem propiciado as reflexões sobre gênero, o papel do escritor nopanorama do Romantismo e as ponderações mais abrangentesque envolvem a história a arte e a literatura. Deste modo,postulam ideias seminais sobre a formação sócio-histórica deMato Grosso e o processo de constituição das diversidadesculturais.
Referências Bibliográficas
BENNATI, Antonio Paulo. História, Ciência, Escritura e Política. In: RAGO,Margareth et all (Org.). Narrar o Passado, repensar a História. Campinas,SP: UNICAMP/IFCH, 2000.
FERREIRA, João Carlos Vicente & SILVA, José de Moura (Pe.). Cidades
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
119
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
de Mato Grosso: origem e significado de seus nomes. Cuiabá: J.C.V.Ferreira,1998.
GARCIA, Romir Conde. Mato Grosso (1800-1840): crise e estagnação doprojeto colonial. 2003. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras eCiências Humanas, USP/São Paulo.
GERBI, Antonello. O Novo Mundo: história de uma polêmica (1750-1900).Trad. Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
HAMON, Phillipe. O que é uma descrição? In: ROSSUM-GUYON et al.Categorias da narrativa. Lisboa: Vega, 1976. p.56-75.
IANNI, Octávio. Cidade e Modernidade. In: ______. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2000. p.123-137.
LEITE, Mário César Silva. Literatura, Regionalismo e Identidades: cartografiamato-grossense. In: ______. (Org.). Mapas da mina: estudos de literaturaem Mato Grosso. Cuiabá-MT: Cathedral Publicações, 2005. p. 219-254.
______. Águas encantadas de chacororé: natureza, cultura, paisagens emitos do pantanal. Cuiabá: Cathedral Unicen, 2003.
LENHARO, Alcir. Crise e mudança na frente oeste de colonização:o comércio colonial de Mato Grosso no contexto da mineração. Cuiabá-MT: Imprensa Universitária, 1982.
MOURA, Carlos Francisco. O Teatro em Mato Grosso no séculoXVIII. Belém/SUDAM; Cuiabá: EDUFMT, 1976.
______. As Artes Plásticas em Mato Grosso nos séculos XVIII e XIX.Edição da Fundação Cultural de Mato Grosso e Museu de Arte e de CulturaPopular da UFMT, 1976a.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Rio de Janeiro,Estudos Históricos, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
______. Memória e identidade social. Rio de Janeiro, EstudosHistóricos, vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-12.
RAMA, Angel. Regiões, Culturas e Literaturas. In: AGUIAR, F. &VASCONCELOS, S. G. T. (Orgs). Ángel Rama: literatura e cultura naAmérica Latina. Tradução Raquel La Corte dos Santos et al. São Paulo: Edusp,p. 281-336, 2001.
SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa (a ficção brasileira modernista).
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
120
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 25-40 (mimeo).
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. Tradução de Hildegard Feist. SãoPaulo: Companhia das Letras, 1996.
SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem.São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. A cidade do ouro e das ruínas.Segunda Edição. São Paulo: Melhoramentos, 1923.
______. Memórias do Visconde de Taunay. São Paulo: Melhoramentos,1948.
WELLEK, René & WARREN, Austin. Teoria da Literatura. Lisboa:Publicações Europa-América, 1955.
Narrativas em confronto: Taunay e a escrita da memóriaOLGA MARIA CASTRILLON-MENDES
121
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
1 Doutora em Literatura Espanhola Contemporânea – FFLCH – USP. Professora doDepartamento de Letras - Espanhol- FMU. Cep: 05514100 – São Paulo – SP – Brasil –[email protected]
TESTEMUNHO ELITERATURA ATRAVÉS DAALTERIDADE EM MEMÓRIASDO CÁRCERE, DEGRACILIANO RAMOS
Márcia Romero Marçal(FMU)1
RESUMO: Nosso artigo expõe uma interpretação deMemórias do cárcere, de Graciliano Ramos, que contemplaa alteridade como modo de representação de uma matériacuja particularidade decorre de apresentar a história atravésdos recursos da ficção. Graciliano Ramos registrou umaversão dos fatos mediante o discurso da subjetividade,rompendo, assim, com as práticas discursivas queconvencionalmente produzem a verdade sobre a realidadehistórica e a memória coletiva. O texto plasma a contradição,presente nesta modalidade literária, entre um discurso que sepretende objetivo e científico, como o do jornalismo e o dahistoriografia, pertencentes às instâncias produtoras de um
122
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
saber socialmente legitimado como verdade, e um discursosubjetivo, pessoal, ligado às falhas da memória individual,que, no entanto, não descarta seu compromisso com arealidade histórica objetiva. O testemunho literário desteescritor elabora-se nesta zona fronteiriça: não é pura ficção,nem pura história. Mas aqui o esforço de testemunhar umaexperiência extrema, árdua matéria narrativa, transforma-se,admiravelmente, num exercício de autorreflexão e autocrítica.Os procedimentos discursivos para levá-lo a cabo assumem aforma de aporias, frases interrogativas, expressões dubitativas,modalizantes de incerteza, que exprimem os impasses e asdificuldades de se conhecer o outro, o mundo e a si própriode modo objetivo, racional e consciente. O imperativo éticoe filosófico de denunciar as atrocidades do poder do Estadono século xx associa-se à necessidade de romper a fronteiracom o outro, dar-lhe voz, levando em conta os limites de suaapreensão. O processo de criação literária do escritor-testemunha, nesta obra, apresenta formas de alteridade comoseu eixo temático e elemento estruturador da narrativa.
PALAVRAS-CHAVE : Literatura de testemunho.Alteridade. Memórias do cárcere. Graciliano Ramos
ABSTRACT: Our article exposes an interpretation ofMemórias do cárcere, by Graciliano Ramos, which con-templates alterity as a representation mode of an issue whoseparticularity comes from presenting history through fiction’sresources. Graciliano Ramos has registered a version of factsby means of the subjectivity discourse, thus breaking withthe discursive practices that conventionally produce the truthboth on the historical reality and collective memory. Thetext shapes the contradiction, present in this literary modal-ity, between a discourse which intends itself to be objectiveand cientific, as the journalistic and historiographic discourse,belonging to the producing instances of a knowledge sociallylegitimate as the truth, and a subjective, personal discourse,linked to the faults of individual memory that, however,
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
123
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
does not discard its commitment to the objective historicalreality. The literary testimony of this writer elaborates itselfon this bordering zone: it is neither pure fiction nor purehistory. Here, however, the effort to testify to an extremeexperience, an arduous narrative issue, admirably becomes aself reflection and self criticism exercise. The discoursive pro-cedures to undertake it assume the form of apories, ques-tioning phrases, dubitative expressions, uncertaintymodalizers, which express the obstacles and difficulties ofknowing the other, the world and oneself objectively, ratio-nally, and with awareness. The ethical and philosofical im-perative of denouncing the goverment’s atrocities of the 20thcentury combined with the need to break the boundary ofthe other,give it a voice, taking into account its understand-ing limits. The process of literary creation of the witness-writer, in this work, presents alterity forms as its thematicaxis and narrative structurating element.
KEYWORDS: Testimony. Literature. Alterity. Memóriasdo cárcere (Memoirs of prision). Graciliano Ramos
O projeto de registrar as memórias de uma experiênciacarcerária vivida durante o regime autoritário de Getúlio Vargasdelineia-se de forma enxuta e significativa no primeiro capítuloda primeira parte de Memórias do cárcere, “Viagens”. Podemosnotar já nesta exibição de motivos, empecilhos, formas e limites, ocaráter testemunhal da escrita. O narrador explica que seu longoperíodo de silêncio, dez anos, deve-se a uma “matéria superior àssuas forças” e expõe o desejo de não transformar em ficção o queseria um “testemunho”. O conteúdo vertiginoso da experiênciaextrema, sua matéria excessiva e traumática, que leva a umesquecimento voluntário, embatem com a necessidade de relatar, odever de não esquecer, com a tarefa social e histórica de depor arespeito de uma vivência compartilhada e, emitindo a sua versãodos fatos, dar voz ao outro.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
124
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
O desassossego e a instabilidade constituem constantes dessefazer literário. O mergulho na memória do horror atualiza aexperiência tornando o futuro incerto; faz com que retorne apercepção de que a história das injustiças e o absurdo kafkianopodem, a qualquer momento, retirar o ser novamente de suaprecária segurança. Esse sujeito testemunha, que respira o séculodo choque e da barbárie coletiva, sente, ao rememorar, umaaproximação a uma zona de trevas e morte, subterrâneos darealidade interior e exterior.
O homem subterrâneo, analisado por Antonio Candido (1992)ao dedicar-se à obra de Graciliano Ramos, refere-se a esse movimentodescensional, à queda abismal e ao rebaixamento moral da condiçãohumana, que marcam também a literatura de testemunho. Acatástrofe subterrânea – mortes às escondidas sob a repressão dasditaduras e totalitarismos – revela que a tentativa de representar oirrepresentável procura, muitas vezes, subverter a ordem do mundo,das palavras e das imagens, atribuindo um sentido irônico à descidaaos infernos.
Em Memórias do cárcere o inferno é um dado histórico e,se a narrativa se serve de arquétipos literários ou de imagenssimbólicas, também os desnuda mostrando que o imaginárioabsurdo dos suplícios humanos pode se tornar praticável. Defato, observamos neste texto uma tentativa de retratar a passagempelas várias instâncias do cárcere mediante a imagem de umadescida aos subterrâneos da vida social e das vilezas do espírito,não obstante a resistência da testemunha a sucumbir a essadegradação inexorável. Expressões e frases como “mergulhodefinitivo”, “escorregava (...) numa sensação de queda ou voo”,“Dávamos um salto para baixo”, “não me era possível adivinharonde iríamos cair”, “via-me no fundo de um poço”, “furnamedonha”, “horrível forno”, “nos vamos achegando, (...), da trevacompleta”, “havia uma queda, vertigem, torvelinho, que nenhumgesto revelava”, “desci novamente à cova”, “o nosso inferno”,
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
125
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
“precisamos viver no inferno, mergulhar nos subterrâneos sociais,para avaliar ações que não poderíamos entender aqui em cima”,“nossa existência no sepulcro”, entre outras, remetem-nos à mortee à queda aos infernos, elementos do ideário mitológico doinframundo empregados como modo de representação de umaexperiência difícil de conceber.
A descida à cova em vida é acompanhada por uma narraçãolenta, repleta de lacunas, repetitiva, desordenada e alusiva.Embora siga uma ordem cronológica, Memórias do cárcereconstitui uma obra incompleta, póstuma e extensa, que prescindedaquela economia que o autor costumava aplicar aos seusromances. Isso é consequência da forma do testemunho queimprime ao texto um discurso que registra a incompletude, arenúncia à explicação totalizante, o apego aos detalhes, a repetiçãoe a intratextualidade: a leitura se arrasta, o horror se prolonga, ofuturo se faz improvável, tudo graças à apreensão traumática deum tempo que se apresenta como permanente.
Outra questão exposta já no início do livro e de crucialimportância para o testemunho é a da autenticidade dos fatos.A perda dos manuscritos originais não desanima o narrador,que a considera inclusive uma vantagem para escrever asmemórias. A busca de veracidade mobiliza uma série deelementos narrativos como datas, eventos históricos, descriçõesde personagens, seus nomes autênticos, reprodução de diálogos,estilização da linguagem, transparência... Tal procedimentoinscreve-se numa relação profundamente tensa no testemunho,aquela entre a historicidade e a ficção. O escritor destamodalidade literária reivindica uma versão dos fatos históricosmediante o discurso da subjetividade, rompendo assim com aspráticas discursivas convencionadas para produzir a verdadesobre a realidade histórico-social e a memória coletiva. Otestemunho literário plasma a contradição presente nesta formaliterária entre um discurso que se pretende objetivo e científico,
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
126
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
como o do jornalismo, o da historiografia, pertencentes àsinstâncias produtoras de um saber socialmente legitimadocomo verdade, e um discurso subjetivo, pessoal, ligado às falhasda memória individual, que, no entanto, não descarta seucompromisso com a realidade histórica objetiva. O testemunholiterário de Graciliano Ramos elabora-se nesta zona fronteiriçaentre história e ficção: não é, por um lado, um documentohistórico e científico e não pode ser, por outro, uma ficçãointeiramente inventada. Alfredo Bosi (2002, p.222) aponta estaambiguidade como o cerne da questão da literaturatestemunhal, defendendo a ideia de que Memórias do cárcerepertence a essa forma testemunhal, dado seu compromisso com arealidade objetiva, ainda que a objetividade não penetre na suaforma narrativa, posto que justamente a subjetividade do narradorem primeira pessoa e sua manipulação dos fatos constituem oselementos produtores do seu teor ficcional. Tal subjetividade podeser notada, por exemplo, na maneira como o narrador apreende asituação, alertando-nos de que a realidade que encontraremos naleitura repugna o concebível, excede o possível, choca e causaestranhamento. Essa será também, muitas vezes, a reação dessatestemunha. As interrogações, as dúvidas e as conjecturas nascerãotanto da indignação decorrente da ofensa causada como daimpossibilidade de penetrar no seu sentido. O vocabulárioempregado para a descrição da experiência espelha um textosaturado de palavras ligadas ao campo semântico da moral: “vil”,“imundo”, “abjeto”, “ignóbil”, “horrível” e seus substantivosderivados evidenciam tal implicação. O narrador sente-se atingidoem sua dignidade humana, degradado e humilhado. Neste sentido,sua recusa a admitir aquela realidade está enfronhada numadegradação física, da consciência e moral tão extrema que se tornainaceitável.(Bosi, 2002, p.227)
Segundo Shoshana Felman (1998/1999), o testemunhocorresponde a um discurso que se desloca do campo jurídico aoliterário, tendo como pressuposto uma crise da verdade
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
127
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
institucionalizada. A era do testemunho supõe, portanto, umdesvelamento de uma verdade em crise. O estranhamento advémdo excesso de literalidade e realidade com o qual o discursotestemunhal se relaciona. Desta forma, o discurso do testemunhocomportaria uma função de desmascarar uma verdade encobertainstitucionalmente, ao mesmo tempo em que causaria umestranhamento no leitor, metido em seu estado de ignorância. EmMemórias do cárcere, o estranhamento do narrador manifestaseu próprio desconhecimento das práticas repressivas e do sistemacarcerário sob Estado Novo, expressa a incapacidade de explicaçãoe racionalização da realidade experienciada e revela o nosso graude ignorância. Instaurado numa crise da verdade, o testemunhobusca alcançar uma versão válida, sem, contudo, pretender darconta da verdade. Mesmo porque sua matéria e os limites datestemunha não o permitiriam. Vemos, assim, como a inexatidãodo registro mnemônico conjuga-se, nesta obra, com a precariedadeda percepção do narrador.
Articulada a esses aspectos, a singularidade desse texto consiste,sobretudo, na preocupação que expressa com outros testemunhos,outras versões da realidade vivenciada, igualmente válidas, emboradiferentes. Neste sentido, o ponto de vista subjetivo se afirma e seeleva sobre a impossibilidade de uma verdade única. A veracidadese compõe de fragmentos diversos, de vozes emitidas a partir depontos de vista distintos. Trata-se de um testemunho que se encontraem interlocução com outros testemunhos, outras vozes, impressõese julgamentos de uma mesma realidade que, então, se faz diversa. Aquestão do outro coloca-se no âmbito da produção de um saberdiscursivo que se quer verdade sob a premissa de não ser a única.Essa escrita do “eu” tem em perspectiva falar para os demais e pelosdemais; seu compromisso com a história e com a ética estámediatizado pelo outro. A experiência, particular em certo aspecto,integra um processo histórico coletivo.
Há dois imperativos éticos no projeto testemunhal deGraciliano Ramos: primeiro, tomar o outro concreto como
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
128
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
personagem de um texto que implica uma preocupação moral emrelação à forma de retratar este outro; em segundo lugar, a disposiçãoa contar essa experiência brutal surge de uma necessidade dedenunciar as atrocidades de um período autoritário relativamenterecente da história do Brasil, que contém continuidades em períodosoficialmente democráticos, o que caracteriza a sociedade brasileiraportadora de “um autoritarismo socialmente implantado”,expressão cunhada por Paulo Sérgio Pinheiro. O texto, assim,estabelece uma relação perene com o outro enquanto identidadeforjada sob as mesmas condições históricas, que compartilhou amesma experiência, e com a história nacional e contemporânea, ouseja, com aqueles que formam essa comunidade de leitores.
Sendo a testemunha um escritor, poderíamos supor que suapreocupação com o outro seria motivada por uma personalidadevoltada à investigação da alma humana; existe, contudo, nesseinteresse a manifestação de um esforço de ultrapassar a barreira dadiferença, da incomunicação, das incertezas de julgamentos, que nosleva a reconhecer uma atitude ativa, inquieta, de alguém debruçadosobre a autoconsciência. O exercício de compreensão e apreensãoda alteridade conduz o narrador a uma autorreflexão, a uma buscada tolerância, a um sentimento de compaixão, à construção de suaidentidade humana ou, ainda, a uma desconstrução do caráterhumano no outro, em si, em nós.
A própria ambiguidade entre ficção e história apresenta-secomo um mal-estar neste narrador que se sente desconfortávelcom a primeira pessoa. As razões explicitadas se ligam a um desejode recuo em face desse “eu” que quer ceder lugar ao outro, maismerecedor de ser apresentado. Contraditoriamente, seu “eu”narrativo aspira a uma transcendência que tem como finalidadeabarcar uma realidade mais ampla na qual o outro, a quem ele dá voze se dirige, ocupa um papel fundamental, ao mesmo tempo em quetende ao auto-rebaixamento, à redução da dimensão do ego dianteda vida (Candido, 1992, pp. 29-30). Um encaramujamento do “eu”,
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
129
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
uma propensão ao isolamento, vincula-se a uma melancolia que seaprofunda de modo que a primeira pessoa é evitadasistematicamente: o narrador trata-se por “Fulano”, passa à primeirapessoa do plural numa tentativa de esboçar um “nós coletivo”,despreza seu exercício literário, sua formação rústica, seutemperamento impetuoso, instintivo.
O processo de relativização de seus valores e representaçõesda realidade mediante a autorreflexão às vezes gera umaidentificação com o outro, na diferença, ou uma não identificaçãoconsigo mesmo, na semelhança. Em alguns momentos, esta lógicada diferença encontra barreiras intransponíveis para captar ooutro enquanto sujeito. De qualquer maneira, o texto deixapatente que, na sua particular relação de alteridade, Gracilianofaz do conhecimento um caminho para o autoconhecimento, para oconhecimento da experiência limite do cárcere durante o EstadoNovo e do mundo.
Episódios como o do Capitão Lobo no quartel, primeiraforma de detenção por que passa a testemunha, o do porão donavio Manaus no qual os detentos são transferidos ao Rio deJaneiro; no Pavilhão dos Primários na nova Prisão no RJ, o dafúria que lhe acomete e lhe enche de vergonha ao intervir naEleição do Coletivo, o da desconfiança permanente ante o riscode ser delatado à tortura, e o do tumulto contra a negligênciados médicos à crise de hemoptise de Benigno; o da chegada àMangaritiba, a caminho da Colônia Correcional, em que elepercebe o lugar nulo, de total insignificância, que ocupa na vidasocial; na Colônia Correcional, o da incontrolável repugnânciaque sente na sua relação com um preso homossexual ou o daconversa com o violento soldado Alfeu; enfim, vários episódiosexemplificam distintamente uma atividade metódica de alteridadeque articula a forma destas memórias. Por representar a origem dessemétodo na linearidade da história, apresentaremos a análise doepisódio de Capitão Lobo.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
130
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A introdução desse fragmento remonta à situação que oprecede imediatamente, de 1936, quando Graciliano Ramos,funcionário na Instrução Pública de Alagoas, começa a sofrerameaças, insistentemente desprezadas, que redundam em suademissão. Em um estilo ágil, repleto de alusões históricas, elerelata sua frustração em relação à função pública quedesempenhava, sua impotência diante da estrutura políticaautoritária e alienada, à qual se sentia submetido. Com ironia,comenta seu desejo ingênuo e fanfarrão de isolar-se em uma prisãopara escrever.
As razões imponderáveis do processo de reclusão carceráriase anunciam já no momento da detenção. As perguntas sobre osmotivos da detenção e seu destino recheiam a narrativa. Gracilianoimagina-se presa de uma “ratoeira suja”, suspeita um “incidentemedíocre”, imagens que sinalizarão seu desconhecimento do devir.A ausência de acusação, o tratamento despersonalizante, asupressão dos direitos mínimos envolvem-no em sua chegada ao20º Batalhão. Internamente: o fastio, o torpor e as lacunas dememória começam a invadi-lo.
Após uma noite no quartel onde a imprecisão do espaço edo tempo atordoa sua consciência, provoca-lhe náuseas, chegacapitão Lobo à sua cela. O relato do primeiro contato com Lobosublinha seu modo de portar-se: o passeio invariável do capitão“da mesa para a janela e da janela para a mesa”, acentuando suadisciplina nos pequenos hábitos, quase uma mania; a seriedade eobjetividade de Lobo ao colocar-lhes as regras do estabelecimento,suas pausas compassadas na fala, sua clareza de discurso, suafranqueza, energia, certa frieza e insensatez no olhar. Apesar daadmiração que Lobo lhe provoca, o narrador ressalta também ossignos de ostentação de poder e autoridade presentes napersonagem: as ordens emitidas laconicamente, sem explicações,o desenvolvimento da conversa em forma de solilóquio, a negativaa sentar-se.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
131
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A rotina impõe-se à vida de Graciliano no quartel e, com ela,o alheamento. A mecanização do hábito e o enfraquecimento dasfaculdades mentais ocasionam a perda de percepção da linearidadetemporal. As visitas do comandante e do capitão Lobo inscrevem-se nesse cotidiano de exceção.
Em uma de suas visitas, capitão Lobo emite uma frase que setransformaria num objeto de reflexão sob vários ângulos para onarrador: “Respeito as suas idéias. Não concordo com elas, masrespeito-as”. Embora as palavras do capitão se lhe apresentem a princípioduvidosas, mais tarde ele procura afastar qualquer desconfiança quantoao intuito de extorsão de informação que poderiam trazer. A indignação,no entanto, transparece no sarcasmo de sua resposta: “Quais são asminhas ideias? Sorri. Ainda não me expliquei. Estamos a comentar assuas.” A ausência de explicações e a forma arbitrária como a prisãoocorrera são ressaltadas em um discurso permeado de indignação. Afrase de Lobo, dentro desse contexto, evidencia-lhe toda a situaçãoinjusta e absurda de ausência de formalidades de um processo judicial,de supressão completa dos direitos.
A narração do próximo contato com o capitão se centra nareprimenda que este dá a Graciliano por haver usado o banheirodos oficiais. Reproduzindo o diálogo de ambos, o relato aponta otom enérgico do capitão e sua indignação quanto à infração a umaregra da ordem militar, considerada pelo mesmo quase uma ofensaque mereceria, pois, punição. A reação de Graciliano, justificandosua inocência com a ideia de que “culpa seria utilizar um banheirode categoria superior ao permitido”, intensifica a impaciência docapitão que lhe propõe uma transferência, negada pelo primeiro. Areflexão sobre o conflito cobre três páginas do livro. a tranquilidadecom que recebe a reprimenda de Lobo surpreende Graciliano; apesarde sentir-se “advertido como uma criança”, não se molesta ou sezanga, como seria de esperar de seu comportamento susceptível àcensura. A razão de tal comportamento inabitual é atribuída à“franqueza nua” do capitão.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
132
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
A exposição do conflito obedece ao seguinte procedimento:primeiramente, mostra-se o conflito, ressaltando a diferença deconcepções e de comportamento de ambos a respeito dosregulamentos. A extrema importância dada pelo capitão a umainfração aparentemente convencional contrasta com aquelaoferecida pelo narrador. Ambos concebem a questão dahierarquia e das regras de corporações de maneira oposta.Destaca-se, assim, a alteridade sobretudo enquanto diferença devalores fundamentais ligados à forma de organização social.Enquanto capitão Lobo superestima as normas e a hierarquiainstitucional na vida social, o narrador despreza-as intimamente,o que não implica, no entanto, um desprezo à sua pessoa.Graciliano não se sente ofendido, pois a sinceridade do capitãoproduz nele uma apreciação positiva que quebra seucomportamento melindroso às censuras. Em seguida, o narradorempenha-se em compreender a atitude do capitão por meio defrases interrogativas e respostas provisórias, procurando penetrarnas razões do outro e, assim, de si mesmo. Para tanto, as frasesemitidas pelo capitão são novamente evocadas e sobre as mesmasse tece uma reflexão que busca assumir o ponto de vista do outro,sem deixar de expressar o próprio. O discurso do capitão Loboé fracionado em pedaços significativos sobre os quais o narradorlevanta dúvidas cujas respostas estariam ocultas por detrás dopróprio discurso. As perguntas revelam que o conhecimento dooutro é precário, pois as palavras traem, na mesma medida emque as dúvidas esboçam a necessidade de problematizar erelativizar a fim de conhecer, humanizar e fugir aos preconceitos.
As próprias palavras do capitão possuem o princípio do qualse apropria o narrador para compor seu depoimento sobre aexperiência vivida, a da tolerância. A partir das mesmas e atravésdo esforço em ultrapassar os limites da linguagem, ele elaborasuspeitas, constrói observações da maneira de agir, dospormenores dos gestos, da fala e dos atos de Lobo para inferirseus julgamentos, que, não obstante, contêm impasses. O
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
133
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
exercício de tolerância do narrador se faz através de umapreocupação insistente com superar as aparências e atingir ofuncionamento do outro, afastando-se de predisposições contra adiferença evidente que os separa.
O momento chave do episódio ocorre quando chega amensagem da transferência do narrador emitida por Lobo. Talinformação é acompanhada de um gesto do capitão que causagrande surpresa e espanto ao narrador, abalando suas referências:Lobo suas economias. Primeiramente, o narrador destaca ahesitação em acreditar no fato, a dificuldade de imputar-lhe algumcrédito, de reproduzi-lo verossímil. Perturbado, confuso, rejeitaa oferta.
A atitude de Lobo rompe suas expectativas em relação ao serhumano. Novamente por meio de interrogações e respostasprovisórias, ele investiga as possibilidades humanas; coloca“alguém”, qualquer representante da espécie, no lugar do outro.Em seguida, coloca-se no lugar do outro, mede suas possibilidadesde ação. A reflexão sobre uma identidade concreta, capitão Lobo,estende-se à reflexão sobre o gênero humano, sobre o normal e oanormal e retorna como instrumento de autorreflexão, abalandoos prejuízos a respeito do outro e de si.
A diferença entre ambos torna-se central para justificar ainsensatez do militar. O discurso do narrador tem como finalidadeaqui naturalizar um ódio social proveniente da diferença deideologias. Como oficial da instituição militar, supõe que Loborepresentaria uma ideologia conservadora, voltada à manutençãoda ordem e do status quo. Como escritor filiado a uma ideologiaprogressista de esquerda, cujo objetivo é a transformação dadesigualdade e opressão vigentes, o narrador se oporia diretamenteà pessoa de Lobo. As relações deveriam respeitar esta lógica queparece guiar suas concepções sobre as relações sociais e humanas.Pessoas diferentes, com interesses contraditórios, deveriamhostilizar-se. Assim agira o general que lhe manifestara desgosto
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
134
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
por não poder fuzilá-lo. Assim pensava ele em sua intolerânciaaos donos do poder, à burguesia. A dúvida a respeito desta lógicainstaura-se; o narrador nega a afirmação anterior de que “espéciesdiferentes” deveriam odiar-se e embrenha-se em novasespeculações; empreende longa jornada reflexiva para entender aação do outro: varia seu ponto de vista, analisa as várias facetas dofenômeno e declara, enfim, sua frustração em não conseguir fugirda convicção de que o comportamento de Lobo contrariava osenso comum. Nenhuma pergunta, porém, é respondida demaneira objetiva. O inexplicável, a incoerência do outro, podeencontrar uma justificativa na limitação interna. O narradorvislumbra a falência de seus referenciais e concepções de mundopara dar conta da ocorrência. A insensatez recai sobre si mesmo;sua incompetência exige uma reformulação dos princípios, umquestionamento sobre a capacidade de julgar. O exame do outroregressa como forma de autoexame. A comparação é inevitável,serve-lhe de meio de autocrítica. Os modelos de julgamento sofremuma reorganização e os preconceitos são suspensos para seremreconduzidos a um novo arranjo.
Para Antonio Candido (1992), Memórias do cárcereconfigura um universo no qual aparece “a compreensão de queestes (homens) são mais complicados e que é muito mais esfumadaa divisão sumária entre bem e mal. Há um nítido processo dedescoberta do próximo e revisão de si mesmo, que o romancistaanota sofregamente (...)” (CANDIDO, 1992, p.54). Esta descobertado outro e de si mesmo, de “novas medidas da sua alma”, éexemplificada através do episódio de capitão Lobo, entre outros.Alfredo Bosi (2002, pp. 229-230), por sua vez, destina umsubcapítulo ao tema da “crise do preconceito”.
Theodor W. Adorno, ao tratar das causas do horroracontecido em Auschwitz e propor vias de combate a umapossível recorrência, aponta a autorreflexão crítica como umavia fundamental. Elaborar o próprio comportamento, aconstituição histórica e subjetiva do caráter e da ideologia, as
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
135
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
implicações políticas da racionalidade instrumental, requer umexercício permanente de autorreflexão para o pensador que lançauma luz, assim, ao problema de uma agressividade instintiva queseria brecada caso se pusesse em prática uma autorreflexãoindividual.
À guisa de conclusão, reiteramos que a prática discursiva donarrador de Memórias do cárcere é conduzida e induz àautorreflexão mediante indagações frequentes, algumas vezesrespondidas provisoriamente, outras suspensas, que enveredam porcaminhos em que os preconceitos tendem a flexibilizar-se, em queo reconhecimento do outro e de sua forma de pensar e agir relativizasua própria concepção de mundo. Enfim, um exercício detolerância em relação ao outro e uma permanente reconstrução desi mesmo, não obstante as limitações e os impasses da razão,norteiam tal discurso narrativo recheado de modalizantes deincerteza. Sendo o objeto privilegiado da obra a alteridade, taismarcas discursivas informam que este conhecimento é duvidoso,constituído de impasses e movediço, nega a totalidade e criaarmadilhas à racionalidade.
Referências bibliográficas
ADORNO, Theodor W. Educação após Auschwitz. In COHN, Gabriel(Org) Theodor W. Adorno. São Paulo: Ática, 1986.
ARRUDA, Angela (Org.) Representando a alteridade. 2 ed., Petrópolis,RJ: Vozes, 1998.
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 5 ed. Vol. 2. Brasília: EditoraUniversidade de Brasília, 1993.
BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras,2002.
CANDIDO, Antonio. Ficção e confissão: ensaio sobre Graciliano Ramos.Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
136
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
FELMAN, Shoshana. Educação e crise, ou as vicissitudes do ensino. Pulsional.Revista de Psicanálise, ano XI e XII, n. 116-117, dezembro 1998/janeiro1999,pp. 9-48.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 28 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
Testemunho e literatura através da alteridade em Memórias do Cárcere, de Graciliano RamosMÁRCIA ROMERO MARÇAL
137
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
1 Docente da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Tangará daSerra, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL). Doutor emLetras, email: [email protected].
LITERATURA ENACIONALISMO EM MÁRIODE ANDRADE, NO TEMPODE AMAR, VERBOINTRANSITIVO – IDÍLIO
Dante Gatto(UNEMAT)1
RESUMO: Pretendemos, neste trabalho, discutir amodernidade de Mário de Andrade, demonstrando a sínteseque opera seu trabalho estético (entre a propriedade internado poético e a imposição auto-modeladora do criador peloromantismo normatizado) que não se reduziu aotradicionalismo nacional e nem ao cosmopolitismodescaracterizador, configurando-se, assim, como um precur-sor da nossa pós-modernidade. O momento estéticoselecionado foi o da escritura do romance Amar, verbointransitivo – idílio.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Nação. Mário de Andrade.
138
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
ABSTRACT: We intended, in this work, to discuss the mo-dernity of Mário de Andrade, demonstrating the synthesisthat operates its aesthetic work (between the internal prop-erty of the poetic and the creator’s imposition of if to modelto the established romanticism) that was not reduced to thenational traditionalism and nor to the cosmopolitism thatturms off the differences, being configured, like this, as aprecursor of our powder-modernity. The aesthetic momentselected was the love of writing the novel Amar, verbointransitivo – idílio.
KEYWORDS: Literature. Nation. Mário de Andrade.
A partir da década de 70, anunciou-se um processo detransformação nos estudos comparados, orientado por questõesligadas à identidade nacional e cultural. Tanto centroshegemônicos, em princípio na América do Norte e na EuropaOcidental, como periféricos (lá, as minorias organizadas; aqui, apreocupação de analisar as questões literárias a partir do lugarde origem do pesquisador), sustentados por correntes, como odesconstrutivismo, a nova história e os chamados estudosculturais e pós-coloniais participaram deste processo. Taltransformação consiste, conforme Coutinho (1996, p.67), “napassagem de um discurso coeso e unânime, com forte propensãouniversalizante, para outro plural e descentrado, situadohistoricamente, e consciente das diferenças que identificam cadacorpus literário envolvido no processo de comparação”. Talfenômeno motivou-nos a pensar na postura de Mário de Andradeenquanto criador de condições propícias para esse estado decoisas, ainda na fase de efervescência do Modernismo Brasileiro,isto é, nos anos da feitura e publicação do romance Amar, verbointransitivo (o romance foi escrito em 1923 e 24, mas sóterminado em 1926 e publicado no ano seguinte), quando, ainda,se convivia com perspectiva de teor historicista, princípioscientífico-causalista próprios do positivismo e da ótica
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
139
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
formalista. Mário demonstrava-se plenamente consciente disto,conforme confessa (1927, p.154):
E ainda estava nas minhas intenções fazer uma sátira dolorosa paramim e para todos os filhos do tempo, a essa profundeza e agudezade observação psicológica dos dias de agora. Aqueles que estãomagnetizados pelo “sentimento trágico da vida” e percebem forçasexteriores, aqueles que estão representados pelo fatalismo mecânicomaquinal do indivíduo moderno, tal como Charles Chaplin, orealiza; aqueles que atravessaram o escalpelo de Freud e se sujeitarama essa forma dubitativa de autoanálise de Proust; aqueles que por tantafineza, tanta sutileza, tanta infinidade de reações psicológicas contraditóriasnão conseguem mais perceber a verdade de si mesmos. Todos essescaem na gargalhada horrível destes dias, caem no diletantismo e nemindagam de mais nada porque “ninguém o saberá jamais”. Pois então:sátira pra esses e aqueles!
Na base histórica das preocupações etnocêntricas da críticaempreendida ao comparatismo tradicional, acrescenta Coutinho(1996, p.68), afigura-se a pretensão universalizante docosmopolitismo dos estudos comparados e o discurso deapolitização apregoado pelos remanescentes da Escola Americana.Chegavam, apesar de discursos diferentes, a um denominadorcomum. Temos, pois, uma pseudodemocracia das letras que, pormeio de um instrumento comum para tratar do fenômeno literário,visava uma História Geral da Literatura ou uma poética universal.Eis, pois, criada a adequação para que os comparatistas europeusestendessem a outras literaturas os parâmetros instituídos dentrodo cânone literário europeu.
Vamos envolver a questão, buscando as suas raízes, que temcomo fundo a velha luta entre a dialética e a metafísica. Não obstanteos males da propagada globalização, argumenta Costa Lima (1996,p.39), ela permitiu repensar a literatura fora dos caminhos que foramtraçados a partir de uma conjuntura já não existente. O Estado se
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
140
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
apropriou da literatura, no processo que ele próprio orquestra, de“controle do imaginário”, (COSTA LIMA, 1996, p.39), uma armaaos Estados nacionais no seu enfrentamento, apesar da velha razão,um curioso eufemismo, que pensava e postulava a natureza humanasempre idêntica a si mesma. Havia uma legislação geral – política –e uma particular, poética, que, no fundo, era também política. Osjuristas encarregavam-se da primeira; os teóricos, da segunda. Nocaso da política poética, entram em cena categorias: por exemplo, aquestão do tempo na peça teatral, o uso da linguagem etc. Trata-sede controle e não censura. Esta, explícita, media as duas legislações;o controle implica uma interdição extra “como se dissesse: não bastaser um bom e leal vassalo para que se tenha um digno poeta.”(COSTA LIMA, 1996, p.34).
Uma das tarefas do Estado é a propagação da literaturaenquanto nacional. No romantismo, o Estado-Nação se apropriada literatura na sua acepção moderna. Dois aspectos permanecem.O primeiro, mais rico, pode ser sintetizado pela Terceira CríticaKantiana (1790) que designava a experiência propriamente estética.Trata-se da condição ‘ouriço’, termo emprestado de Schlegel, citadopor Costa Lima (1996, p.34-35): a obra de arte é plena em si,independente do mundo que a circunda, armada de espinhos, comoo ouriço, demonstra-se impermeável a qualquer ideologia, religiosaou política. O segundo diz das pessoas e das relações interpessoais.O primeiro critério destacava a propriedade interna do poético; osegundo acentuava a capacidade automodeladora do criador. Oromantismo normatizado (“ajusta a ideia de expressão individualao espírito do povo”) legitima a literatura como efeito de uma causachamada nação. A nação era o todo, o poeta, parte dela. A literaturatoma um duplo sentido ao longo do século XIX, marcado pelopositivismo: formação e educação.
Neste sentido, como confirma Luiz Costa Lima (1996, p.35-38), valorizava-se a descrição da natureza e buscava-se, ao mesmotempo, a sentimentalidade altissonante. O texto literário rompiao intercâmbio com a filosofia e, em troca, privilegiava a história
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
141
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
e a sociologia nascente. O descritivismo, resultante da ênfase nahistória literária, é estimulado pelo rompimento do intercâmbiocom a filosofia e, ao se associar ao evolucionismo de raiz biológica(darwinista), motiva, entre nós, a busca de essencialismos nacionais(a mexicanidade, a brasilidade, a crioulidade etc.), que reforçam avisão homogênea da cultura. Não ser reconhecido por sua respectivaessência parecia não só provar que se estava diante de um imitador,como justificar a exclusão do panteão da nacionalidade. A boaliteratura, neste caso, era aquela que, conforme ao padrão descritivo-realista, se revelasse acessível à interpretação alegorizante – a obraliterária como ilustração de um estado de coisas – e, como tal,utilizáveis pelo “aparelho ideológico do estado”.2
A impossibilidade da condição ouriço, observa ainda Costa Lima(1996, p.38), tornava a linguagem um simples meio para mostrar atransparência das coisas. A teorização, por sua vez, ficava circunscritae justificada no fato histórico e no condicionamento nacional.
A estética mariodeandradiana, inevitavelmente, padeceu dessepeso, que podemos identificar como mais um elemento do espíritodo tempo, mas não se restringiu às suas contingências. Ele, aliás,explicitou claramente sua intenção:
si a estética fosse considerada como uma espécie de metafísica nacionalou de superintendência, feita para imbridar artistas, milhor seriadestruí-la. Muito antes que ser subjugada por abstrações, a atividadeartística deve contribuir pra que nos libertemos delas, pois éjustamente a atividade artística que nos abre um dos caminhos maispenetrantes de introdução ao ser. Ela é que, concorrendo a uma‘ciência do singular’ e ao progresso, à salvaguarda do pensamentoconcreto, esposa e fecunda a metafísica verdadeira, ao invés de seescravizar à ideologia. (ANDRADE, 1975, p.27).3
2 Costa Lima (op. cit., p.38) lembra “O aparelho ideológico do Estado”, de Althusser.3 Cita Maurice Blondel (in F. Lèfevre – “Les Matinées du Hètre Rouge”, p.24).
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
142
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Vamos nos acercar, agora, de Amar, verbo intransitivo, empleno auge do primeiro modernismo, e demonstrar como Mário deAndrade fez uma proveitosa síntese desta situação (entre apropriedade interna do poético e a capacidade automodeladora docriador, para além dos moldes do romantismo normatizado, seafastado do essencialismo nacional), configurando-se como umprecursor da nossa pós-modernidade.
Amar, verbo intransitivo estava inserido no projeto derenovação estético cultural que Mário de Andrade ambicionavapara o Brasil, que começou com Paulicéia desvairada, em 1922.Com este, a proposta era a superação artística da poesiaparnasiana. Com o seu primeiro romance, o objetivo específicoconsistia na superação do experimentalismo pseudocientífico dosescritores naturalistas. (MINAES, 1993, p.71).
No movimento romântico, no que se refere à nossa cultura,o que havia era uma generalizada atitude de otimismo enacionalismo que foi substituída por uma visão pessimista do país,por ocasião do realismo. Podemos, pois, ver a visão modernistacomo uma síntese dialética: se se quiser tirar uma atitudepredominante ou, pelo menos, aceita pela maioria, “esta seriaprovavelmente de otimismo, de aceitação da pátria tal qual ela é,de ridicularização dos que pretendiam vê-la com olhos europeus”.(LEITE, 1969, p.260). Acrescentem-se, também, o desejo e buscade uma expressão artística nacional.
Conforme Bosi (1994, p.335 e p.352), duas linhas estéticasvanguardeiras confundiam-se nos primeiros tempos após a Semanade Arte Moderna: de um lado, a futurista, cuja prerrogativa era aexperimentação de uma linguagem moderna, em consonância aosapelos da técnica e da velocidade; de outro, a primitivista, que sevoltava à projeção das tensões inconscientes do sujeito. Mário deAndrade teve o cuidado, isto ainda antes da Semana, de promover
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
143
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
um claro afastamento de qualquer classificação como futurista.4
Revelou-se um folclorista adulto, capaz de sondar a mensageme os meios expressivos de nossa arte primitiva nas áreas mais diversas(música, dança, medicina). As raízes brasileiras pediam um tratamentoestético necessariamente primitivista. Macunaíma será o fruto maisevidente de tal opção, consistindo na mediação entre o materialfolclórico e o tratamento literário moderno. Alusivamente, isso sefaz presente, também, nos belos Contos de Belazarte, nos Contosnovos, nas crônicas de Os filhos da Candinha e em Amar, verbointransitivo.
A presença da renovação estética e ideológica em Amar, verbointransitivo está em sintonia com a natureza da poética modernista.A concepção de arte e as bases da linguagem foram assimiladas pelomodernismo brasileiro, das vanguardas européias. Conformeenumera Lafetá (1930, p.13): “a deformação do natural como fatorconstrutivo, o popular e o grotesco como contrapeso ao falsorefinamento academista, a cotidianidade como recusa à idealizaçãodo real […]” levaram os vanguardistas europeus a tomar inspiraçãoaos procedimentos técnicos da arte primitiva. Por meio desta,unindo-a à tradição artística de que fazia parte, foi possível atransformação. No Brasil, conforme Antonio Candido, citado porLafetá (1930, p.13), tanto quanto a cultura branca de origem europeia,sentiam-se presentes as artes ameríndia e negra: “o senso dofantástico, a deformação do sobrenatural, o canto do cotidiano ou
4 No “Prefácio Interessantíssimo” de Paulicéia desvairada, publicada em 1922, Mário éexplícito:
Não sou futurista (de Marinetti). Disse erepito-o. Tenho pontos de contacto com ofuturismo. Oswald de Andrade, chamando-mede futurista errou. A culpa é minha. Sabia daexistência do artigo e deixei que saísse. Tal foio escândalo, que desejei a morte do mundo. Eravaidoso. Quis sair da obscuridade. Hoje tenhoorgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade.... (ANDRADE, 1976, p.22)
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
144
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
a espontaneidade da inspiração eram elementos que circundavamas formas acadêmicas de produção artística.” Resgatando-os,inserindo-os à nova estética, os modernistas, num único golpe,negavam a ideologia que distorcia a nossa realidade e instalavamuma linguagem coerente com a modernidade do século.
Amar, verbo intransitivo reflete dialeticamente o processode desenvolvimento ideológico do autor até então. Vamos reverum pouco desse processo a partir do conceito de pátria enacionalismo estético, seguindo o percurso estabelecido por TelêPorto Ancona Lopes (1972, p.42-46).
Num primeiro impulso, olhando por alto e rapidamente,desde 1918, já pairava em suas indagações a questão da civilizaçãocomo fator de realização e felicidade do homem. O “Mário deAndrade, intransigente pacifista, internacionalista amador”(ANDRADE, 1987, p.135), de 1924, apresenta-se comocontinuador do antigo humanitarismo de Há uma gota desangue em cada poema, de 1917, e até 1928 mais ou menos,atualizará o título do seu universalismo, observando de longeelementos da teoria e da prática marxista.
Num segundo olhar, vamos aproximar mais a nossa câmarapara observar melhor esse fenômeno. A visão de ‘pátria-latejo-em ti’, que denuncia em ‘curto discurso’ no ConservatórioDramático e Musical de São Paulo, saudando o conferencista ElóiChaves, será condenado por ele mesmo em crítica de 1924.(COSTA, 1982. p.19). Em “O poeta come amendoim”, domesmo ano, Mário de Andrade sente ainda a pátria como criaçãodivina (como já em 1922 deixava explícito, notadamente no artigo“Noção de pátria”, em que, segundo o grau de importância, pátriadeveria estar abaixo da trindade Deus, Homem e Universo). Asobras humanas não poderiam mesmo ser perfeitas, uma vez queo homem não o era depois do pecado original, conforme seuraciocínio de cristão. No entanto, vamos observar a última estrofedo poema:
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
145
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Brasil amado, não porque seja minha pátria,Pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der…Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso,O gosto dos meus descansos,O balanço das minhas cantigas, amores e danças.Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada,Porque é o meu sentimento pachorrento,Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir.(ANDRADE, 1987, p.161)
Como observa Lopez (1972, p.47), a colocação sociológicados primeiros versos é superada pela dialética do nacionalismode Mário como poeta moderno e modernista, e acrescenta: “Oconceito abstrato de pátria é superado pela caracterização doBrasil, através da conceituação individual do poeta comobrasileiro, valorizando-se como indivíduo bem representativodo seu povo.” Através do subjetivismo dos conceitosparticulares e seus, a importância do Brasil será reforçada emdetrimento ao conceito de pátria, considerada apenas como“consciência da realidade brasileira.” Fica fácil perceber,portanto, que Mário de Andrade vai abandonando osessencialismos nacionais, que reforçam a visão homogênea dacultura, como vimos há pouco.
Conforme Marta Morais da Costa (1982, p.19), a noção denacionalismo, sofrerá uma evolução em Mário de Andrade nosentido de “maior abertura”. Nos meados da década de 20, aliás,momento que, ainda, se encontrava em gestação Amar, verbointransitivo, ele escapava a um “estreito patriotismo”. O que opreocupava eram questões como ‘entidade nacional’ e‘consciência nacional’ concebidas como ‘íntima, popular eunânime’. E acrescenta a pesquisadora:
Como artista, procurará na música, no folclore, na literatura popular, napintura e na língua manifestações dessa nacionalidade, e pessoalmente
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
146
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
confessa-se um “homem-do-mundo”, encarnação da dialéticaimplantada pelo Modernismo de 22: “nacionalismo X universalismo”.(COSTA, 1982, p.19).
Correndo o risco de cair numa espécie de positivismo estético,poder-se-ia dizer que Carlos, personagem de Amar, verbointransitivo, nossa “constância cultural brasileira constatada”(ANDRADE, 1927, p.155), como confessa Mário de Andrade, estáno limite entre nacionalismo e universalismo que povoaram suaspreocupações estéticas.
Vamos olhar isto mais de perto, num terceiro olhar,amparado ainda pelos estudos de Lopez (1972, p.202-205), agoracom uma leve inclinação da nossa câmara, ou seja, atentando aonacionalismo, impregnado das inquietudes peculiares aomovimento e acompanhado das preocupações estéticas do autor.Tais inquietudes podem ser resumidas na premissa básica de quenão há cultura que não espelhe as cores vivas da nação. Mário deAndrade, com este objetivo, incorpora os elementos encontradosna expressão artística do povo de forma crítica no processo decriação de personagens. É fácil entender que o caráter analítico naconstrução de personagens seria fundamental para discernir ascaracterísticas psicológicas do brasileiro. Isso já estava em Macedo(A moreninha) e Manoel Antônio de Almeida (Memórias de umsargento de milícias) por meio dos traços comportamentais daadolescente carioca e do pícaro Leonardo. A precisão era detransformar o universal em particular, mas dentro da dimensãoanalítica e, portanto, dinâmica do nacional. O caráter do brasileiroera, então, prioridade a ponto de, neste primeiro tempo —nacionalismo —, Mário não atentar ao simbólico e universal, porexemplo, de personagens como as de Sheakespeare ou de Balzac,uma vez que a análises destes reverteria em sínteses individuais enão nacionais. A fase nacionalista, no entanto, será, gradualmente,envolvida pela universalista (não descaracterizadora que fique bemclaro). Segundo Mário de Andrade, conforme Lopez (1972, p.205),
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
147
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
em 1925, ocasião da escritura de Amar, verbo intransitivo, já sepode sentir o esmaecimento do nacionalismo.
A difusão da nacionalidade, portanto, reforçaria a importânciada pátria como consciência crítica da realidade brasileira, mas istonão implicava restringir-se à particularidade da nação. Ainternacionalidade, termo inevitavelmente relacionado, seria entãoo “alastramento do conceito de pátria de forma a abranger toda ahumanidade. Pátria tornar-se-ia o geral e o particular fundidos,simultâneos”. (LOPEZ, 1972, p.215). A personagem Carlos se insereprecisamente neste momento, no processo de desenvolvimento destaideia, isto é, abrangendo a particularidade nacional (para os lados) eo impulso universal (para a frente, para o alto).
Em nossa dissertação de mestrado “A presença de Nietzscheem Amar, verbo intransitivo de Mário de Andrade”, para dar contado idílio da alemã Elza de 35 anos com o jovem brasileiro Carlos de16 anos, resumindo ao máximo a questão, baseamo-nospreliminarmente num simplório silogismo: Fräulein amava Nietzsche;Carlos, por sua vez, apresentou-se um protótipo da filosofia aristocráticado filosofo do eterno retorno. Isto representou condições propícias àsuperação da intransitividade amorosa da alemã e a efetivação doidílio, enquanto “significações figuradas como ‘devaneio’, ‘fantasia’,‘amor ingênuo e terno’, referidas ou não ao cenário rural”. (MOISES,1985. p.282). Carlos, por fim, foi construído, conforme argumentamos,sob os paradigmas nietzscheanos.
No “Mês Modernista” de A Noite, verdadeiro balanço críticodo Modernismo, em 1926, ano da publicação de Amar, verbointransitivo, Mário escreveu a crônica “Cartaz”, transcrita porLopez (1972, p.205), pedindo brasileiros “bem dotados”,conscientes de estarem vivendo no século XX. Bastam doisparágrafos para darmos conta da nossa pretensão:
Precisa-se nacionais sem nacionalismo, capazes de entender que sãoelementos-quantitativos da humanidade, qualificados porém pela
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
148
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
descendência e pelo sítio, movidos pelo presente mas estalando naquelecio racial que só as tradições maduram.
Eis, pois, nesses “nacionais sem nacionalismo” o que há poucofalávamos, referindo-nos ao conceito de pátria como simultaneidadedo geral e do particular. No mesmo texto, depois de uma longasequência anafórica de “precisa-se”, Mário de Andrade aproxima-se daquele sopro vital de Carlos: “Precisa-se de rapazes bem bestas,acreditando no sacrifício, acreditando no desprendimento,acreditando no apostolado, acreditando na dor e na felicidade e quesaibam mandar uma banana de munheca turuna pra todos os diletantismofilho-da mãi.” O grifo, conforme Lopez (1972, p.205), corresponde àanotação de Mário de Andrade na margem por ocasião do localbranco no jornal em virtude de censura.
Nietzsche, por sua vez, em Vontade de potência, citado porDeleuze (1994, p.77), explica, referindo-se ao pensamento seletivo.Apesar de longa a citação, vale a pena transcrevê-la:
“Mas se tudo está determinado, como posso dispor dos meus actos?”O pensamento e a crença são um peso que pesa sobre ti, tanto emais do que qualquer outro peso. Dizes que a alimentação, o sítio,o ar, a sociedade te transformam e te condicionam? Muito bem, astuas opiniões ainda o fazem mais porque são elas que te determinamna escolha da tua alimentação, da tua morada, do teu ar, da tuasociedade. Se assimilas este pensamento entre os pensamentos, ele tetransformará. Se, em tudo o que quiseres fazer, começas porperguntar a ti mesmo: “É certo que o queria fazer um númeroinfinito de vezes?”, será para ti o centro de gravidade mais sólido.
Mário e Nietzsche, aqui, se encontram. Carlos entre eles. Éfácil ver que da ideia nietzscheana do eterno retorno resultará umaidentificação cultural que caracterizará o “contingente original enacional da cultura” (ANDRADE, 1925, p.18), do qual Amar, verbointransitivo foi um instrumento estético. A partir da nacionalidade,
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
149
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
na visão do autor modernista brasileiro, como consciência críticada realidade e não circunscrita à particularidade da nação, mas comasas abertas ao pensamento transformador, resultará uma culturaútil, como queria Nietzsche para a Alemanha, como era o desejo deMário para o Brasil, como demonstramos em trabalho anterior(GATTO, 2000), que poderá oferecer uma contribuição relevante àhumanidade.
Temos, hoje, tomando o pensamento de Abdala Júnior (1989,p.18), por um lado, sistemas nacionais engajados que não se “com-formam” à hegemonias coloniais (patterns literários). Por outro lado,essas produções engajadas chamam-nos a atenção para patternsideológicos supranacionais. Estes, resgatando o espírito de Máriode Andrade, não se reduzem ao tradicionalismo nacional, nem aocosmopolitismo descaracterizador, mas operam uma síntese queenfatiza o processo comunicativo que estabelecem. Sua razão de serestá, pois, numa nacionalidade construída e não apenas descoberta,uma nacionalidade sem limites fechados.
Referências bibliográficas
ABDALA JUNIOR, B. Pressupostos da teoria à prática: um conjunto dialéticoque envolve a antiga metrópole e suas ex-colônias. In: ___. Literatura,história e política. São Paulo: Ática, 1989. p.16-42.
ANDRADE, M. A propósito de Amar, verbo intransitivo — 1927. In:___. Amar, verbo intransitivo — idílio. 16.ed. Belo Horizonte: VillaRica, 1995. p.153-5.
ANDRADE, M. O artista e o artesão. In: ___. O baile das quatro artes. 3.ed. São Paulo: Martins, 1975. p.9-33.
ANDRADE, M. Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
ANDRADE, M. Entrevista e depoimentos. São Paulo: T. A. Queiroz,1983.
COSTA LIMA, Luiz. Literatura e nação: esboço de uma releitura. Revista
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
150
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Brasileira de literatura comparada. Rio de Janeiro: ABRALIC, 1996, n.03.p.33-9
COSTA, M. M. O modernismo segundo Mário de Andrade. In: COSTA,M. M. et al. Estudos sobre o modernismo. Curitiba: Criar, 1982. p.11-43.
COUTINHO, Eduardo F. Literatura comparada, literaturas nacionais e oquestionamento do cânone. Revista brasileira de literatura comparada.Rio de Janeiro: ABRALIC, 1996, n.03.
DELEUZE, G. Nietzsche. Tradução Alberto Campos. Lisboa: edições 70,1994.
GATTO, D. Amar, verbo intransitivo – idílio e Nietzsche: a questão cultural.ITEC Ciência, Tangará da Serra, v.1., n.1, p. 65-72, 2000.
LAFETÁ, J. L. 1930: a crítica e o modernismo. São Paulo: Duas cidades,1974.
LEITE, D. M. O caráter nacional brasileiro. 2.ed. São Paulo: Pioneira,1969.
LOPEZ, T. P. A. Mário de Andrade: ramais e caminhos. São Paulo:Duas Cidades, 1972.
MINAES, I. P. O experimentalismo em Amar , verbo intransitivo.Revista de Letras, UNESP, v.33, p.71-80, 1993.
MOISÉS, M. Dicionário de termo literários. 4. ed. São Paulo: Cultrix,1985.
SCHELEGEL, F. Arthenäum Fragmente. In. EICHNER, Hans (Org.)Friedrich Schlegel. Kritische II: Charakterisken und Kritiken I. Munique,Padervorn, Viena: Verlag F. Schüningh e Thomas Verlag, 1797.
Literatura e nacionalismo em Mário de Andrade no tempo de Amar, verbo intransitivo – idílioDANTE GATTO
151
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
CAMARÇO, Carolina Tito. Entre a magiae a sedução: o imaginário infantil emExercícios de ser criança, de Manoel deBarros e em Uma maneira simples de voar,de Ivens Cuiabano Scaff. Tangará da Serra,2011. Dissertação (Mestrado em EstudosLiterários) – Universidade do Estado de MatoGrosso – UNEMAT, câmpus de Tangará daSerra. Orientação: Elisabeth Batista.
A partir do momento em que a infância passa a ser vista comouma construção social, a criança começa a receber bens culturaisespecíficos, entre eles uma literatura própria. Neste sentido, oobjetivo deste trabalho é apresentar uma leitura de duas obras quefocalizam a infância, faixa etária em que o imaginário tem papelpreponderante. O corpus da análise literária compreende duas obrascontemporâneas: Exercício de ser criança (1999), de Manoel deBarros e Uma maneira simples de voar (2006), de Ivens CuiabanoScaff. Observa-se que entre os livros pertencentes ao corpus destadissertação, existe uma aproximação: um dos pontos coincidentesem ambas as obras é a configuração do espaço, o quintal, que surgecomo um grande espaço que abriga a imaginação e os devaneiosdas personagens. E nele a presença dos quatros elementosfundamentais: a água, o fogo, o ar e a terra. Neste sentido, a presentepesquisa se apoia, para o entendimento e apreensão do fenômeno
DISSERTAÇÕES - Resumos
152
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
da imaginação potencializados pelo jogo ficcional, em estudos sobreo imaginário, principalmente os de Gaston Bachelard, como tambémbusca uma reflexão acerca da criança/infância e da literatura infantil/juvenil. Por fim, com a indissociabilidade entre forma e conteúdo,inerente à obra de arte, no âmbito do estudo das imagensselecionadas para a ilustração do livro destaca-se sua qualidadeestética, uma vez que não se apresentam mais como uma simplescomplementação do texto verbal, mas têm uma linguagem própria,que, unindo-se à linguagem verbal, forma um texto e estimula aoexercício da imaginação do leitor. Desta forma, as duas linguagensatuam na sensibilidade e na cognição do leitor para a concretizaçãodo livro.
Palavras-chave: Manoel de Barro. Ivens Cuiabano Scaff.Imaginário.
DISSERTAÇÕES - Resumos
153
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
CANDIA, Luciene. As cartas epifânicas deCaio Fernando Abreu: a escrita de urgência.Tangará da Serra, 2011. 108p. Dissertação(Mestrado em Estudos Literários) –Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Aroldo José Abreu Pinto.
Escrever cartas é escrever-se. Este trabalho tem por intençãomapear o escrever-se nas cartas de Caio Fernando Abreu. Cartasmetaforicamente nomeadas pelo autor no sentido de disfarce,porque são embutidas na forma de crônicas publicadas no jornalpaulistano O Estado de S. Paulo, nos seus dois últimos anos devida. Perseguimos aqui o que chamamos de escrita de urgência,no viés do pensamento crítico de Edward Said (2005 inglês [2009tradução para o português]) ao refletir sobre as obras tardias degrandes artistas. Antes de abordar essa escrita tão próxima da mortee, portanto, emergencial, analisamos o formato estético da crônicae como, na breve carreira de cronista de Caio Fernando Abreu,percebem-se diálogos literários com outros escritores, tambémcronistas, com destaque para Clarice Lispector e seus escritos quase“descartáveis”. Com a publicação em livros das crônicas dosescritores é possível realizar um estudo preciso desses textos,considerados “efêmeros”. Entender e afirmar a crônica comoproduto literário é o primeiro passo da nossa pesquisa. A seguir,
DISSERTAÇÕES - Resumos
154
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
situamos a literatura de Caio Fernando Abreu em relação aosmovimentos culturais e artísticos como cenários de uma escrituralatente e inquietante. O tema da aids também se inclui no terceirocapítulo dessa dissertação porque ele passeia entre os assuntospreferidos do autor, além de outras temáticas recorrentes comosolidão, amor, movimentos culturais, marginalidade, relaçõeshomoafetivas, situações cotidianas e o comportamento do homemcontemporâneo. Observar atentamente os temas na literatura de CaioFernando Abreu contribui para compreender seu gradativo processode criação, que Said denomina de tardio num trabalho artístico.
Palavras-chave: Crônicas. Estilo tardio. Escrita de urgência.
DISSERTAÇÕES - Resumos
155
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
FREITAS, Bruna Marcelo. O fenômenoliterário Luz e Sombras, de FelicianoGaldino de Barros. Tangará da Serra, 2011.70p. Dissertação (Mestrado em EstudosLiterários) – Universidade do Estado de MatoGrosso – UNEMAT, câmpus de Tangará daSerra.
Apresenta-se, nesta dissertação, uma abordagem analítica daobra Luz e sombras (1917) de Feliciano Galdino de Barros, com aintenção de verificar como são organizadas as ideologias na estruturada narrativa com vistas a chegar a determinados efeitos. Assim, apartir de reflexões voltadas à obra de arte e à literatura, especialmenteà forma romance, procura-se analisar como Barros constrói o seuprojeto artístico e quais são as implicações de seu empreendimento.Este estudo encontra subsídios nas teorias de Georg Lukács e deMikhail Bakhtin para pensar a epopeia e o romance; nas concepçõesaristotélicas, sobretudo, para abordar a questão da mímesis everossimilhança dentro do universo ficcional; na teoria de Forster,principalmente, para compreender o mecanismo de criação daspersonagens e a posição que ocupa o narrador; nas abordagensde Gaston Bachelard e Osman Lins para analisar o espaçoenquanto fator de homogeneização do mundo; nasfundamentações sobre romance político de Irving Howe paradestacar as “intenções ideológicas” de Barros, e a ideia de discurso
DISSERTAÇÕES - Resumos
156
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
no romance de Mikhail Bakhtin com intuito de apontar o arranjoque está nas bases de Luz e sombras. O que permitiu considerar aobra não como literatura, mas como fenômeno literário.
Palavras-chave: Romance. Literatura. Espaço literário.Fenômeno literário.
DISSERTAÇÕES - Resumos
157
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
FROEHLICH, Neila Salete Gheller. Históriae tradição em Terra sonâmbula, de MiaCouto. Tangará da Serra, 2011. Dissertação(Mestrado em Estudos Literários) –Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Agnaldo Rodrigues da Silva.
O objeto desta dissertação é o romance Terra sonâmbula,do escritor moçambicano Mia Couto, cuja obra é marcada pelaconfluência de diferentes elementos. Suas narrativas apresentam,de um lado, um fundo histórico marcado por episódiosrelacionados à guerra civil moçambicana; de outro, aparecem oselementos insólitos que dizem respeito ao mito, ao imaginário eà tradição. Nesse sentido, a pesquisa indica caminhos aosprocessos de (re)construção da história e da tradição, a fim decompreender, partindo da ficção desse autor aspectos de umdeterminado momento histórico e literário de Moçambique. Aobra escolhida como corpus localiza-se nas produções literáriascaracterizadas pela reconstrução de uma cultura ancestral emmoldes modernos em que se fazem presentes o diálogo entre ovelho e o novo, o real e o imaginário, a escrita e a oralidade, osonho, a esperança e a memória. Enfoca-se a problemática daidentidade que se constrói miticamente e que se mistura na formacriativa de narrar de Mia Couto. Nessa direção, o trabalho discute,através da atribuição de sentidos feita à narrativa estudada, como
DISSERTAÇÕES - Resumos
158
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
a história e a tradição se fazem presentes no romance proposto,partindo dos procedimentos literários que têm como base a escritaficcional. O romance também oferece outros sentidos a velhosarquétipos, trazendo à modernidade um novo indicativo para aprodução do gênero por meio de um trabalho singular da linguagem,em uma das mais poéticas epopeias de Mia Couto.
Palavras-chave: Mia Couto. Moçambique. História. Tradição.
DISSERTAÇÕES - Resumos
159
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
GONZAGA FILHO, Bento Matias. Amarelomanga em projeções teóricas: três luzessobre o filme dirigido por Cláudio Assis.Tangará da Serra, 2011. 61p. Dissertação(Mestrado em Estudos Literários) –Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Vera Lúcia da Rocha Maquêa
A dissertação Amarelo manga em projeções teóricas: trêsluzes sobre o filme dirigido por Cláudio Assis intencionaexplorar sinteticamente diversos aspectos discutidos nas teoriasde cinema, a partir das considerações psicológicas e dosfundamentos da montagem, passando pela teoria realista echegando até a concepção semiológica. O primeiro capítulo fazuma análise da tradição formativa: ancorando-se nas formulaçõesde Hugo Munsterberg e Sergei Eisenstein, penetra nos conteúdosde cunho psicológico e de discussão sobre o que é montagem equais as suas relações com o filme Amarelo manga (2002). Osegundo capítulo está sob o foco da luz realista: iluminado porSiegfried Kracauer e André Bazin, estuda o objetivo e a funçãodo cinema sob os auspícios da visão do cinema como objeto deprojeção de traços da realidade. O terceiro aborda a teoriafrancesa contemporânea, com os seus aspectos semiológicos efenomenológicos: apoia-se, na primeira parte, nos textos de Christian
DISSERTAÇÕES - Resumos
160
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Metz. Na segunda parte deste capítulo, como fechamento do textocomo um todo, a opção foi realizar um exercício ensaístico, quedisserta sobre fenomenologia e cinema. Cenas de outros filmes,além de outras obras de arte, foram solicitadas para enriquecimentoe elucidação das análises.
Palavras-chave: Cinema. Amarelo manga. Teorias.
DISSERTAÇÕES - Resumos
161
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
LIMA, Elisângela Pereira de. A reinvençãopoética de Wlademir Dias Pino: visualidadee ruptura. Tangará da Serra, 2011. 90p.Dissertação (Mestrado em Estudos Literários)– Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Rosana Rodrigues da Silva.
Esta pesquisa investiga os procedimentos poéticosdissonantes de Wlademir Dias Pino, um artista que modernizaas formas de produção e apreciação poética, por meio de umaobra embasada em processos experimentais. Analisa,particularmente, as obras Solida e A ave, observando a operaçãodo autor que nega os rigorosos parâmetros de produção epromove uma ruptura com a tradição, tentando, desta forma,contribuir para o enriquecimento da fortuna crítica de WlademirDias Pino, autor que lança o Estado de Mato Grosso na históriada literatura nacional por estar na vanguarda de importantesmovimentos: Intensivismo (1951); Concretismo (1956); e Poema-Processo (1967). A análise se embasa em pensadores da poéticada modernidade, como Marshall Berman, Hugo Friedrich,Octávio Paz, Walter Benjamin, George Steiner, Maurice Blanchot,Ferreira Gullar, Haroldo de Campos e, do contexto regional,Sérgio Dalate.
DISSERTAÇÕES - Resumos
162
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
DISSERTAÇÕES - Resumos
Palavras-chave: Wlademir Dias Pino. Visual. Ruptura.Vanguarda.
163
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
MACEDO, Ricardo Marques. MemóriasInventadas: espaços de significação da solidãoe imaginário. Tangará da Serra, 2011. 91p.Dissertação (Mestrado em Estudos Literários)– Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Tieko Yamaguchi Miyazaki.
O objetivo principal deste trabalho é investigar como seconstituem o espaço, o tempo e o eu nas três obras que compõemas Memórias inventadas, publicadas em 2003, 2005 e 2008,respectivamente, pelo poeta Manoel de Barros. A publicaçãodestinada à primeira infância traz poemas que apresentam certaintimidade com a fase infante e pré-adolescente do poeta. Já aedição referente à segunda infância apresenta um eu poético maismaduro, descobridor de prazeres da vida adulta e reflexivo. Aúltima obra da trilogia, dedicada à terceira infância, se inicia como poeta em sua velhice, busca refletir o conjunto de sua poética eao final esboça um retorno à primeira fase. A redação destetrabalho dissertativo está pensada para se nortear a partir de trêseixos que formam cada um dos capítulos, buscando compreendercomo as imagens se relacionam (e os constituem) com o espaço, otempo e o próprio eu nas poesias que formam as memóriasimaginadas. O primeiro capítulo tem como objetivo específicoinvestigar como o espaço pode se tornar constitutivo da poéticabarriana, compreendendo, entre outros, como o pantanal pode
DISSERTAÇÕES - Resumos
164
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
funcionar como uma casa materna para o sujeito poético, além deesboçar uma leitura que parte da relação entre os espaços e aconstituição do silêncio e solidão. Como apoio teórico e crítico paracompor este capítulo utilizamos textos de Gaston Bachelard,principalmente A Poética do espaço (2008), e Eclea Bosi Memóriae sociedade: lembranças de velhos (1999). O objetivo do segundocapítulo é compreender como o tempo se organiza no conjunto delembranças apresentadas pelo eu poético. Para isso são analisadas/interpretadas poesias que permitem visualizar como o tempo édesdobrado em tempo de quem recorda (enunciação) e tempo dequem é recordado (enunciado). A fundamentação teórica destecapítulo se encontra em textos de Bachelard (2007), Bergson (2006),Hallbawachs (2011), Lucia Castello Branco (2011), Luiz Fiorin (1996)e Santo Agostino (1955), entre outros. O último capítulo tem comoobjetivo analisar as diferentes constituições de sujeito ocupadas e/ou confrontadas pelo eu poético ao longo do conjunto delembranças. Há uma forte tensão ocasionada pelo confronto entreo eu que lembra e o eu que é lembrado. Ao mesmo tempo em que oeu que lembra (da enunciação) busca repetir o ponto de vista infante,o eu lembrado é modificado, mesmo que de forma não-intencional,pelo olhar do primeiro. Além disso, busca-se compreender as relaçõesexistentes entre o eu (e suas versões debreadas ou multiplicadas) e ooutro. Ainda neste capítulo buscamos mostrar que os poemas queformam as memórias imaginadas podem ser considerados poesiasautobiográficas, seja pelo título dado à produção seja pela citaçãode nomes próprios que remetem ao poeta.
Palavras-chave: Manoel de Barros. Memória. Poesia.
DISSERTAÇÕES - Resumos
165
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
MATOS, Edinaldo Flauzino de. Amultiplicidade narrativa e o jogo dasedução nos contos “Uns Braços” e “Missado Galo” de Machado de Assis. Tangará daSerra, 2011. 149p. Dissertação (Mestrado emEstudos Literários) – Universidade do Estadode Mato Grosso – UNEMAT, câmpus deTangará da Serra.Orientação: Madalena Aparecida Machado.
Machado de Assis ao fazer literatura deixa manifesta aobservação da conduta das pessoas de modo que os leitores atentospercebam a ambígua e controversa possibilidade de interpretação.Em suas narrativas, o ser humano, considerado indivíduo maisreal, pois portador de comportamentos adversos, passa a serapreendido no estado extremo de suas humanas analogias. Oscontrastes procedentes dessas relações são indagados pelo autorcomo imagem de uma sociedade que vive de exterioridades.Machado faz jus à visão cética que tinha do homem e do mundoque o leva a conceber seres muito próximos da realidade. Essavisão, aliada à análise psicológica e à especulação filosófica,propicia a criação de personagens, de modo geral, intrigantes. Adissertação propõe assinalar nos contos “Uns Braços” e “Missado Galo” a multiplicidade narrativa, a sensualidade e a seduçãocontextualizadas pela astuta capacidade de observação dos
DISSERTAÇÕES - Resumos
166
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
narradores e pelas vicissitudes com as palavras. A proposta implicaindagar estes narradores no decurso das narrativas, sorvendo palavrapor palavra, dita e não-dita, perscrutando seus sentidos ocultos,sugeridos e dissimulados. As vozes que narram formam um binômiode mistério e ambiguidade sob a perspectiva poética subjetiva doolhar. Sedutor e seduzido confrontam-se e perdem-se em meio aolabirinto de certezas junto às dúvidas, sonhos, devaneios e memóriastruncadas.
Palavras-chave: Machado de Assis. Conto. Narrador. Jogo.Sensualidade.
DISSERTAÇÕES - Resumos
167
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
NASCIMENTO, Luciana Alberto. Gritos esilêncios de um corpo em diferença: adança das contradições em Niketche de PaulinaChiziane. Tangará da Serra, 2011. Dissertação(Mestrado em Estudos Literários) –Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Elisabeth Batista.
A leitura do romance Niketche: uma história de poligamia(2004), da escritora moçambicana Paulina Chiziane, nos leva aouniverso perceptivo e cultural do país, a partir da consciênciafeminina no contexto poligâmico. O caráter plural do discursonarrativo motivou a pesquisa sobre as contradições que seengendram no seio social moçambicano e sobre os laços estreitosentre literatura e as narrativas de tradição oral, pois acreditamosque essa relação evoca a pertença cultural dos escritores a estasnarrativas orais, bem como à tradição escrita, configurando-se comoelementos estruturantes do romance. Nesse espaço narrativo emprimeira pessoa, descreve-se a poligamia como uma linguagemdramática que se moldura pela arte performática da dança, da músicae pela presença do símbolo espelho. Para essa discussão, elegemoscomo suporte os conceitos de teoria literária em Bakhtin (2010),Chaves (2005), Coelho (1993), Leite (2003), Rosário (1989), AbdalaJunior (2003,2004), Padilha (2002) e Mata (2006, 2010). O estudo
DISSERTAÇÕES - Resumos
168
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
parte da pesquisa sobre a crítica feminista de Wolf (1928) e Beauvoir(1970) para evidenciar como os movimentos feministas europeusinfluenciaram a construção de uma nova teoria feminista querepresentasse o contexto africano. Expomos a importância e opercurso das tradições orais à escrita para mostrar as confluênciasdiscursivas no romance e apresentamos Paulina Chiziane, que ressoaa primeira voz romancista no contexto do pós-colonialismomoçambicano. A partir da metáfora “novos passos numa dançaantiga”, discutimos a representação transgressora das mulheresmoçambicanas no tecido do romance, com base em Coelho (1993)e Foucault (1979). A corporeidade moçambicana embrenhada depoeticidade e erotismo, a partir de Bataille (1987), é representadana dança Niketche que, atrelada ao ritual de purificação sexual, nosremete ao silenciamento dos corpos. Finalmente, tratamos daconstrução do romance como uma estrutura narrativa híbrida, deacordo com os estudos de Bakhtin (2010) e Leite (2003) e, por esseviés, analisamos a construção das identificações da personagemprotagonista como relações espelhadas e identidadesdesassossegadas, enquanto refração das contradições experienciadaspelas personagens femininas.
Palavras-chave: Literatura moçambicana. Escrita e oralidade.Identidade. Transgressão. Feminino.
DISSERTAÇÕES - Resumos
169
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
OLIVEIRA, Jeovani Lemes de Estudo sobreo haicai e sua trajetória até a literaturamatogrossense. Tangará da Serra, 2011. 80 p.Dissertação (Mestrado em Estudos Literários)– Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Tieko Yamaguchi Miyazaki.
A preocupação em estudar o haicai passa peloesclarecimento de que se compreende o haicai como o poematradicional nipônico, de influência budista, e o haiku, a produçãomais recente, desprovida das raízes filosóficas, admitindo, entreoutras características, a abordagem social. O estudo visa avançarna compreensão do poema nipônico e entendê-lo no Ocidenteem sua relação com o modernismo e movimentos estéticosposteriores. A primeira parte deste trabalho leva em conta taisaspectos, a sua trajetória histórica no país de origem. Tendo comoancoragem os estudos de Paulo Franchetti e Roland Barthes, aseguir examinamos a produção no Brasil, e mais especificamenteno Estado de Mato Grosso. No Brasil, a produção do haicai sedeu concomitantemente ao modernismo literário eposteriormente à poesia de vanguarda. O estudo da produçãoem Mato Grosso pressupõe uma produção regional, queevidencia as características da literatura produzida nessa região,associando-se ao romantismo tardio e ao parnasianismo. A partir
DISSERTAÇÕES - Resumos
170
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
de 1930, a produção em jornais e revistas se torna intensa;entretanto, neste trabalho só são consideradas as produções emlivro.
Palavras-chave: Haicai. Haiku. Franchetti. Barthes. Literaturamatogrossense.
DISSERTAÇÕES - Resumos
171
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
OLIVEIRA, Vanderluce Moreira Machado.Entre meninos, mendigos, pântanos epássaros: a reescritura poética de Manoelde Barros. Tangará da Serra, 2011. 155p.Dissertação (Mestrado em Estudos Literários)– Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientadora: Madalena Aparecida Machado
Nesta dissertação empreendo uma incursão pela poesia deManoel de Barros com objetivo de compreender sua poética, cujotraço característico funda-se na repetição/reescritura de poemasde seu primeiro livro, Poemas concebidos sem pecado (1937),na sua produção posterior. Essas retomadas não devem serenxergadas como demérito na obra do autor, mas como algonovo, que do mesmo traz à tona o diferente. Nesse sentido, suapoesia está sempre em movimento, apresenta-se, nos termos deUmberto Eco, como uma obra aberta, pois possibilita múltiplosvieses de leituras. Tais reescrituras dão-se nos mais variadosaspectos: rítmico, sintático, campo semântico da natureza,desenhos verbais, intertextos bíblicos, reiteração de figuras,prefixo “des”, linguagem infantilizada, dentre outros. Deste modo,apresento uma discussão sobre os possíveis efeitos de sentido queessa repetição figura na obra do autor, contrariando o que parte dacrítica jornalística assevera. Minha hipótese é de que com este gesto
DISSERTAÇÕES - Resumos
172
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
o poeta ressignifica sua obra. Defendo que Barros encena umaressignificação em todos os âmbitos na sua produção lírica, assimessas reescrituras não são mera cópia. O ressignificar implicasignificar novamente, andar para frente, haurir sentidos novos desdeos existentes, que às vezes, de tanto serem vistos, deixam de serenxergados e/ou percebidos pelas retinas cansadas de tantaobviedade, pelo fato de primar por um olhar retilíneo. Esses sentidospara serem vistos/percebidos novamente, precisam ser revistos,reelaborados, redesenhados e repensados, porque a vida, o homemem si é um ato de pensar e repensar.
Palavras-chave: Repetição. Reescritura. Imaginário. Diferença.Imagem.
DISSERTAÇÕES - Resumos
173
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
PINHEIRO, Hérica A. J. da C. Os deslimitesda poesia: diálogos interculturais entre Manoelde Barros e Ondjaki. Tangará da Serra, 2011.100 p. Dissertação (Mestrado em EstudosLiterários) – Universidade do Estado de MatoGrosso – UNEMAT, câmpus de Tangará daSerra.Orientação: Vera Lúcia da Rocha Maquêa.
A dissertação propõe um estudo comparado entre duasobras poéticas pertencentes ao macrossistema das literaturas delíngua portuguesa: “Menino do Mato”, do poeta brasileiroManoel de Barros, e “Materiais para Confecção de um Espanadorde Tristezas” do poeta angolano Ondjaki. Utiliza-se comosuporte teórico o comparatismo de solidariedade teorizado porBenjamin Abdala Júnior, a partir da conceituação de sistemaliterário formulado por Antonio Candido. Nas articulações entreas poéticas focalizam-se inicialmente os temas confluentes:infância, e insignificâncias como material poético e, em seguida,os singulares: o Pantanal de Manoel de Barros e seu diálogo comas águas; a Luanda de Ondjaki e o universo intertextual quecompreende seus poemas. O estudo segue diante daspossibilidades de reflexões sobre o poema e o papel do poetaenquanto porta-voz da cultura de seu país, em que ambas poéticas
DISSERTAÇÕES - Resumos
174
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
revitalizam a língua em ressonâncias estéticas impulsionando aimaginação criadora.
Palavras-chave: Angola. Brasil. Literatura Comparada eSolidariedade. Manoel de Barros. Ondjaki.
DISSERTAÇÕES - Resumos
175
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
RAMOS, Suzanny de Araujo. O poetamarginal: a poesia lírica de AntonioTolentino de Almeida. Tangará da Serra,2011. 77p. Dissertação (Mestrado em EstudosLiterários) – Universidade do Estado de MatoGrosso – UNEMAT, Campus de Tangará daSerra.Orientação: Walnice Matos Vilalva.
Esta pesquisa tem por objetivo o estudo da poesia lírica emMato Grosso. A literatura produzida em Mato Grosso é aquiinterpretada como produção marginal, pensada a partir docânone nacional. Nessa perspectiva, nosso enfoque baseia-se noestudo analítico, abordagem sincrônica, procurando investigaro valor estético da poesia de Antonio Tolentino de Almeida,prioritariamente, o livro Ilusões Doiradas, publicado em 1910.É nesse complexo cultural que a presença de Tolentino deAlmeida se impõe aos nossos olhos como forma e compreensãodo próprio sistema que o concebe. No que tange esse “lugar dopoeta”, descortinamos a obra em seu contexto, na relaçãoestabelecida entre a obra estudada e as outras obras desse mesmoautor; na relação entre a obra estudada e as demais obras dessemesmo período e a obra e sua estrutura. Diante dessa proposição,partimos de historiografias literárias locais, especialmente, as mato-grossenses, organizadas por Rubens de Mendonça (2005) e Hilda
DISSERTAÇÕES - Resumos
176
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Gomes Dutra Magalhães (2001), na tentativa de acenar à leituracrítica da literatura denominada – primeiramente por Rubens deMendonça – como “mato-grossense”. Nesta mesma direção,acreditamos ser pertinente refletir sobre como se estabeleceu osistema literário no Estado, considerando a formação do leitorcomum.
Palavras-chave: Literatura Mato-grossense. Cânone. Margem.Poesia. Antonio Tolentino de Almeida.
DISSERTAÇÕES - Resumos
177
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
SANTOS, Edson Flávio. Cercas malditas:utopia e rebeldia na obra de Dom PedroCasaldáliga. Tangará da Serra, 2011. 83p.Dissertação (Mestrado em Estudos Literários)– Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra.Orientação: Olga Maria Castrillon-Mendes
A pesquisa, que ora se apresenta, debruça-se sobre trêsantologias da poética de Pedro Casaldáliga: Antologia retirante(1978), Águas do tempo (1989) e Versos adversos (2006). Asanálises são amparadas pelas perspectivas teóricas doengajamento (SARTRE, 1993; DENIS, 2002), literatura esociedade (CANDIDO, 2000; BOSI, 2000; 2002), e utopia(ABDALA, 2002; 2003; BLOCH, 2005) e partem das questõesestruturais do texto poético, procurando alcançar a ideia dapoesia como impressão e construção de imagens do mundovivencial pelo poder da palavra que se lê para além da estruturaformal. Dessa forma, reconhecer-se, no interior dos textosselecionados, que Casaldáliga apresenta riqueza temática e investenas formas diversas do fazer poético, revelando uma experiênciaparticular e comunitária com os conflitos de uma região que dãoorigem a uma poesia representativa de sua luta contra osproblemas sociais do homem presente.
DISSERTAÇÕES - Resumos
178
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Palavras-chave: Pedro Casaldáliga. Crítica. Poética.Engajamento.
DISSERTAÇÕES - Resumos
179
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
SILVA, Claudiomar Pedro da. O teatropsicológico de Nelson Rodrigues eAugusto Sobral: Vestido de Noiva eMemórias de Uma Mulher Fatal. Tangará daSerra, 2011. 93p. Dissertação (Mestrado emEstudos Literários) – Universidade do Estadode Mato Grosso – UNEMAT, câmpus deTangará da Serra. Orientação: AgnaldoRodrigues da Silva.
Esta dissertação tem por objetivo realizar um estudo dosaspectos psicológicos de dois textos cênicos do universo literáriode língua portuguesa que foram produzidos em momentossignificativos da história literária, relacionados com osmovimentos socioculturais de Brasil e Portugal. Trata-se deVestido de noiva, de Nelson Rodrigues, peça que provocou umarevolução no teatro brasileiro, e Memórias de uma mulherfatal, de Augusto Sobral, uma das grandes contribuições para aconsolidação do moderno teatro português. O confronto entreos dois textos ocorre à luz de dois polos que apresentam relaçõessignificativas: a literatura e a psicologia. A literatura estárepresentada pelos textos cênicos que compõem o objeto destapesquisa; a psicologia é discutida a partir das duas criações literárias,psicologia esta que se constitui em uma área do saber que abarca asatividades mentais e o comportamento humano, em sua relação com
DISSERTAÇÕES - Resumos
180
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
DISSERTAÇÕES - Resumos
o meio físico e social. Nessa direção, adotou-se a psicologia analíticajunguiana, a fim de evidenciar o fato de que, para além do que éconsciente, o homem também existe no inconsciente.
Palavras-chave: Literatura. Teatro. Psicologia. Brasil. Portugal.
181
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Formatação:
Em Word for Windows ou programa compatível,fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simplesentre linhas e parágrafos, e espaço duplo entre partesdo texto. Páginas configuradas no formato A4, semenumeração, com 03 cm nas margens superior eesquerda e 02 cm nas margens inferior e direita.
Extensão: 10 páginas no mínimo e 15, no máximo.
Estrutura:
Título em negrito e caixa alta, centralizado. Traduçãoem inglês. Imediatamente abaixo, alinhado à direita,nome completo do autor, seguido da sigla de sua IES.Em nota de rodapé: filiação científica - Departamento,Faculdade, Universidade, CEP, cidade, estado, país. Em Times New Roman e corpo 11: Resumo (máximo200 palavras) e Palavras-chave (máximo 06) no idiomado artigo; Abstract e Keywords em inglês.
182
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Normas de apresentação dos originais
– Citações:
– No texto: entre aspas, sem destaque em itálico, seguidas, entreparênteses, pelo sobrenome do autor em caixa alta, ano depublicação e, quando necessário, da página (p.). “[...] moleques,mulatos/ vêm vê-los passar.” (FERREIRA, 1939, p. 65). Se o nomedo autor estiver citado no texto, indicam-se entre parênteses a datae a página: “Segundo afirma Lotman (1991, p. 10).......”
Acima de 03 linhas: destacadas com recuo de 4 cm da margemesquerda, corpo 11, sem aspas. Entre parênteses, sobrenome doautor em caixa alta, ano, página.
Notas de rodapé: reduzidas ao mínimo, enumeradas, no pé de página,corpo 10.
Referências bibliográficas:
Em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor e conformea NBR 6023 da ABNT de 2006.
– Livros e monografias:
HATOUM, M. Órfãos do Eldorado. São Paulo: Cia das Letras.2005.
– Capítulos de livros:
AGUIAR, F. Visões do inferno ou o retorno da aura. In: NOVAES,A. (Org.). O olhar. São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 317-26.
ROSENFELD, A. Reflexões estéticas. In: _____. Texto e contexto.São Paulo: Perspectiva, 1969. p. 19-120.
183
REVISTA ALERE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 05, Vol. 05. N.o 05, jun. 2012 - ISSN 2176-1841
Normas de apresentação dos originais
– Dissertações e teses:
SILVA, I.A. Figurativização e metamorfose: o mito de Narciso.1994. Tese (Livre-docência) – Departamento de Linguística, Unesp,Araraquara/SP.
– Artigos de periódicos:
HERNÁNDEZ M., L. La importancia de la filosofía del lenguajede Ludwig Wittgenstein para la linguística del cambio de siglo.Escritos, Puebla, n.24, p.5-9, 2002.
– Artigos em jornais:
CARVALHO, M.C. Países pobres concentrarão mortos por fumo,diz estudo. Folha de S.Paulo. São Paulo, 28 ago.2009.Cotidiano, p.5.
– Trabalhos em eventos:
SILVA, A.J. Novas perspectivas ao romance brasileiro. In:SEMINÁRIO DE LITERATURA CONTEMPORÂNEA, 1,2002. Mirassol. Anais... Mato Grosso: Unemat, 2003. p. 11-20.
– Publicações On-Line
SILVEIRA, R.F. Cidade invadida por vândalos. Alerta. Curitiba,10 mar.1999. Disponível em http://www.alerta.br. Acesso em 10mar.1999.