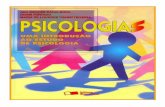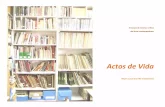VIDA INTELECTUAL, VIDA POLÍTICA – Entrevista com Luiz Werneck Vianna
Estatísticas pela Vida
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Estatísticas pela Vida
Copyright© by Gerard Viader Sauret (org.)
RevisãoMiriam Lôbo
CapaRalmildo (Ral)
Produção GráficaEdições Bagaço
Rua dos Arcos, 150 • Poço da PanelaRecife/PE • CEP 52061-180
Telefax: (81) 3205.0132 / 3205.0133email: [email protected]
www.bagaco.com.br
E79 Estatísticas pela vida: a coleta e análise de informações criminais como ins-trumentos de enfrentamento da violência letal / Gerard Viader Sauret (org.). – Recife: Bagaço Design, 2012.
135p. : il.
Inclui anexo. Inclui referências.
1. HOMICÍDIO – BRASIL – ASPECTOS SOCIAIS. 2. HOMICÍDIO – BRASIL – ANÁLISE. 3. HOMICÍDIO – BRASIL – ESTATÍSTICA. 4. CRIMINALIDADE – PERNAMBUCO – ASPECTOS SOCIAIS. 5. CRIMINALIDADE – RECIFE (PE) – ASPECTOS SOCIAIS. 6. VIOLÊNCIA URBANA – RECIFE (PE) – INDICADORES. 7. CRIMES E CRIMINOSOS – PERNAMBUCO – ASPECTOS SOCIAIS. 8. SEGURANÇA PÚBLICA – BRASIL. 9. SEGURANÇA PÚBLICA – PERNAMBUCO. 10. POLÍTICAS PÚBLICAS. 11. MORTALIDADE – CONTROLE METODOLOGIA. I. Sauret, Gerard Viader.
CDU 343.61 CDD 364.24PeR – BPE 12-0202
ISBN: 978-85-373-0944-5
Impresso no Brasil – 2012
(...)
Tudo o que encontrei
na minha longa descida,
montanhas, povoados,
caieiras, viveiros, olarias,
mesmo esses pés de cana
que tão iguais me pareciam,
tudo levava um nome
com que poder ser conhecido.
A não ser esta gente
que pelos mangues habita:
eles são gente apenas
sem nenhum nome que os distinga;
que os distinga na morte
que aqui é anônima e seguida.
São como ondas de mar,
uma só onda é sucessiva.
A não ser esta cidade
que vim encontrar sob o Recife:
sua metade podre
que com lama podre se edifica.
É cidade sem nome
sob a capital tão conhecida.
Se é também capital,
será uma capital mendiga.
É cidade sem ruas
e sem casas que se diga.
De outra qualquer cidade
possui apenas polícia.
Desta capital podre
só as estatísticas dão notícia,
ao medir sua morte,
pois não há o que medir em sua vida.
(...)
João Cabral de Melo Neto
“O RIO. Ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife1”
1. Poema escrito em 1953. NETO (1980[1966]).
Aos que produzem as estatísticas de homicídios em Pernambuco.
E em memória de todas as vítimas que as integram.
SUMÁRIO
Agradecimentos ......................................................................................................................9
Prólogo ...................................................................................................................................10
Introdução ..............................................................................................................................14
1 Inovações na contagem de homicídios: implantação da pulseira de identificação de cadáver Gerard Sauret ...........................................................................................................................20
2 Políticas de contagem de homicídios no Brasil: os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco Gerard Sauret ............................................................................................................................34
3 A implantação do georreferenciamento dos homicídios Servilho Paiva; Gerard Sauret; Augusto Sales ......................................................................62
4 Correlacionando violência e indicadores sociais no Recife: qual a melhor unidade espacial de análise? Gerard Sauret; Mariana Tiné; Egenilton Farias .................................................................78
5 Motivação de homicídios: análise de uma proposta de classificaçãoGerard Sauret .........................................................................................................................102
Anexo I – Catálogo de motivações de mortes violentas intencionais .............122
Referências bibliográficas ...............................................................................................127
Lista de siglas .................................................................................................................... 133
Sobre os autores .................................................................................................................135
9
AGRADECIMENTOS
Não tenho como mensurar a imensa dívida com Taíza, André e Lluís, pelo tempo furtado nos feriados e finais de semana em prol da redação deste livro.
Devo aos meus pais o apoio incondicional e o valor da perseverança.
Sou grato a Jonas, Sales, Brasil, Josivaldo, Oliveira, Washington, Waleska e toda a turma da Gace por participarem da alquimia que transforma a informação em conhecimento.
Agradecimentos especiais a todos os que trabalham ou trabalharam para fazer de Pernambuco um Estado mais seguro e com menos mortes nesses últimos anos.
11
O presente volume apresenta a trajetória da realização de pesquisas aplicadas e da introdução de sistemas de informações como parte da política pública de redução de homicídios no Estado de Pernambuco. Assim, interessa tanto aos
especialistas em violência e segurança, pelos dados que contém, quanto aos gestores e ao público em geral, pelo exemplo de uma política pública de gestão e análise das informações.
Trata-se de um relato do percurso institucional do ponto de vista dos técnicos. Se tivesse sido escrito pelos tomadores de decisões, o relato teria sido bem diferente, embora igualmente legítimo. O equilíbrio entre decisões políticas e técnicas é sempre delicado, mas o livro descreve um processo em que os critérios técnicos parecem não terem sido atropelados por conveniências políticas, o que nem sempre acontece.
O texto destaca pela narrativa minuciosa dos detalhes do processo de implanta-ção da política pública, incluindo os seus avanços e retrocessos, as diferentes estraté-gias empregadas e as motivações de cada uma das decisões. Em geral, as publicações que mostram resultados de políticas públicas nos apresentam um modelo fechado e supostamente bem sucedido, com escassas ressalvas, como se tudo tivesse dado ple-namente certo desde o primeiro dia. Não é o caso do livro organizado por Gerard Sauret, que nos permite acompanhar os problemas e os percalços de uma política ainda em construção. Nesse sentido, é um trabalho de grande valor para os gestores públicos dessa área, que nele podem encontrar ideias e inspiração.
Outro ponto de destaque é o notável esforço metodológico empregado na coleta e a análise das informações. Os autores revisam diversas opções metodológicas pro-postas pelos especialistas e comparam os dados e as estratégias de Pernambuco com as de outros estados, atingindo assim um interesse nacional.
O livro contém cinco capítulos independentes, mas inter-relacionados, particu-larmente os três primeiros. O primeiro deles apresenta uma metodologia inovadora para melhorar a qualidade da coleta das informações sobre homicídios, destinada a ampliar a cobertura e a reduzir as chances de duplicidade na contagem dos casos.
O segundo, complementar com o primeiro, apresenta uma comparação entre os registros de homicídios de diversos estados, contrastando-os com estimativas que permitem auferir sua validade e confiabilidade. O Estado de Pernambuco fica numa posição vantajosa nestas comparações, justamente em função dos cuidados metodoló-gicos nas suas decisões.
O terceiro capítulo lida com a implantação do georrefereciamento criminal em Per-nambuco, incluindo a metodologia de geoprocessamento e a análise de alguns resultados.
O quarto mostra que em Pernambuco, como no resto do país, as vítimas de ho-micídio são moradores das áreas mais pobres e degradadas das cidades, sublinhando o potencial das políticas públicas preventivas dirigidas às populações e aos locais mais vulneráveis. A utilização de uma nova unidade de análise, que prima pela homogenei-dade interna dos seus moradores, atinge correlações entre a violência, por um lado, e as dimensões sociais e ambientais, por outro, ainda mais elevadas do que as obtidas com as unidades tradicionais, como bairros ou setores censitários.
12
O quinto capítulo tenta uma nova taxonomia dos homicídios a partir dos dados de Pernambuco, uma questão de grande relevância para as políticas preventivas e repressivas, mas de dificuldade metodológica considerável. A melhor prova disso é que inexiste até hoje uma tipologia dos homicídios que seja consensual entre gestores ou pesquisadores. O autor nos oferece mais uma tentativa de classificação, através da agregação das categorias de motivação para o crime, fornecidas pelos delegados que comandavam as investigações, embora o seu alcance esteja limitado pela ausência de informações em aproximadamente a metade dos casos.
No Brasil, as políticas de segurança pública privilegiaram tradicionalmente os crimes contra a propriedade e preteriram os homicídios, que afetam preferencialmen-te aos mais desfavorecidos, desprovidos de voz e poder político. Neste sentido, é pre-ciso reconhecer e parabenizar os escassos exemplos de programas desenhados especi-ficamente para a redução da violência letal, como o ‘Pacto pela Vida’ de Pernambuco, o ‘Fica Vivo’ de Minas Gerais ou as UPP’s do Rio de Janeiro.
O monitoramento e avaliação das políticas públicas precisam do estabelecimen-to de um sistema de informações confiáveis que nos permita concluir em que medida o fenômeno realmente diminui ou não após a intervenção, e explorar as razões para tanto. Com efeito, a criação e consolidação de tal sistema deve ser o primeiro passo da política pública. Trata-se de um empreendimento que comporta dificuldades con-sideráveis, até porque quanto maior importância cobrarem determinados indicadores, maior será o risco de viés. Assim, se os membros de uma instituição são avaliados ou premiados em função de informações que eles ou elas mesmos/as produzem, aumen-tará a possibilidade de que surja um aumento dos indicadores que não esteja direta-mente vinculado à dimensão que estão mensurando. De fato, é conhecida a capacidade das polícias para influenciar os registros criminais, incentivando ou desincentivando, por exemplo, as denúncias dos cidadãos ou dirigindo a atuação policial àqueles crimes cujos indicadores precisam ser alterados.
Este livro nos oferece um interessante relato da implantação de um sistema de informação e análise de violência letal. Numa área lastreada pela falta de transpa-rência e de qualificação das informações, este trabalho é motivo para a esperança. A divulgação dessas informações é essencial para a aferição da eficácia das políticas pú-blicas e para que a cidadania exerça um controle externo que é imprescindível numa sociedade democrática. Tomara que esta seja apenas a primeira de muitas iniciativas deste gênero no futuro próximo.
Ignacio Cano – Laboratório de Análise da Violência - UERJ
15
Estatísticas pela vida é um livro que versa sobre os números da mortalidade violenta intencional em Pernambuco. Mas seu propósito não é o de mera-mente fazer um balanço estatístico deste fenômeno. Apesar de apresentar
análises reveladoras a respeito, trata fundamentalmente sobre aquilo que os es-pecialistas chamam metadados. Ou seja, informações sobre os processos de coleta, sistematização, classificação e análise dos dados.
Nesse sentido, chama a atenção para a importância de se debruçar sobre a historicidade das estatísticas, que são as informações de Estado por excelência, e lançar olhar crítico sobre o modo como as mesmas são construídas. Para tanto, apresenta inovações técnicas e metodológicas desenvolvidas pela Gerência de Aná-lise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Gace/SDS), cujo foco tem se pautado nos seguintes eixos: quanto, onde e por que se mata em Pernambuco.
Quanto se mata em Pernambuco?
No primeiro capítulo expõem-se os esforços e as iniciativas organizacionais empreendidas pela Gace/SDS para dar resposta a esta questão, que diz respeito à magnitude da violência letal intencional enfrentada pelo Estado. Um passo importante foi dado pela Unidade de Coleta e Tratamento dos Dados (Unicotd/Gace/SDS), que desenvolveu sistemática inovadora de cruzamento de informações de homicídios das diversas fontes policiais.
Cotejando caso a caso foi possível, desde 2003, construir e alimentar uma base de dados única, que tem sido o principal alicerce informacional para a construção do Pacto pela Vida (PPV), iniciado em 2007. Esta nova sistemática de cruzamento de dados vem melhorando desde então, sendo aprimorada em 2009 com a implantação bem-sucedida da pulseira de identificação de cadáver e, em 2010, com a publicação da portaria que instaura de forma plena o funcionamento da mesma em todo o Estado de Pernambuco. Trata-se de um mecanismo para controlar eficientemente as informações sobre mortes de interesse policial e evitar as duplicidades no banco de dados construído pela Gace/SDS.
No segundo capítulo é feita abordagem comparativa sobre os critérios oficiais de contagem estatística de homicídios em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, estados que gozam de ampla reputação no quesito segurança pública. Devido às dificuldades informacionais inerentes à coleta de dados criminais sobre violência letal, utiliza-se como padrão-ouro de comparação o estimador de homicídios proposto pelo Programa de Redução da Violência Letal – PRVL (2009; 2010), construído com base em proporções diferenciadas de dados de mortes por agressão e por intencionalidade desconhecida do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
16
Tal análise mostra que o indicador de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI2), utilizado na estatística oficial de Pernambuco, é o mais confiável. A “subcon-tabilização” média estimada para o CVLI no Estado é inferior a 1%, enquanto os dados dos demais sofrem problemas diversos. Estas discrepâncias não devem ser atribuídas a dificuldades técnicas e organizacionais para a captação de casos por parte dos sistemas de informação destes estados. Em verdade, devem-se a escolhas político-burocráticas de classificação, agregação e divulgação das informações.
Tratando-se de estatísticas de violência contra a vida, a discussão sobre as diferentes formas de construir indicadores e divulgar informações ganha maior ressonância. Especialmente no Brasil, que notadamente vem sendo afligido por essa mazela em níveis epidêmicos nas últimas décadas. Pois o que está em jogo é o direito da sociedade em ter acesso à melhor representação sobre o fenômeno da morte matada.
É notório que as estatísticas não têm como ser exatas na sua totalidade. Os sociólogos da ciência alertam que não se deve confundir um objeto com o seu retrato. E esse retrato sempre terá imprecisões, vieses, distorções. Mas esse argumento não vale como desculpa. A sociedade tem o direito de exigir que os governos, com base em critérios científicos, e não jurídicos, apresentem retrato fidedigno da violência letal.
Onde se mata em Pernambuco?
O terceiro capítulo mostra como a Gace/SDS tem empreendido esforços para dar resposta a esta questão, contornando as limitações metodológicas inerentes aos dados espaciais sobre homicídios no Estado com a implantação da sistemática de georreferenciamento. O texto está baseado em capítulo de monografia sobre o tema, defendida na Academia Superior de Polícia pelo delegado federal Servilho Paiva, ex-secretário de Defesa Social de Pernambuco. O primeiro esforço organizacional resultou na criação da Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico (Unicame) na Gace/SDS, cujo trabalho de produção de cartografias e espacialização das informações criminais no Estado vem se tornando referência.
Capitaneada pelo policial militar Augusto Sales – também colaborador no texto –, a Unicame avançou no treinamento para o uso de aparelhos GPS entre as equipes da Polícia Civil que cobrem os locais de crime de homicídios na Região Metropolitana do Recife (RMR). Esta iniciativa, junto com outras estratégias de coleta de dados geor-referenciados, tem permitido alcançar uma cobertura espacial superior a 99% do total de casos de crimes letais intencionais perpetrados naquela região.
O texto aponta como o georreferenciamento tem se mostrado uma técnica deci-siva para o avanço do modelo de gestão por resultados, implantado junto com o PPV nas polícias de Pernambuco. Pois permite aferir, com precisão e sem ambiguidades, o local exato do crime, contribuindo para a elaboração de diagnósticos acurados e elimi-
2. Como se explica detalhadamente no capítulo 2, CVLI é um indicador que agrupa o homicídio doloso, o latrocínio e a lesão corporal seguida de morte.
17
nando dúvidas entre as unidades operacionais acerca da responsabilidade territorial dos crimes em áreas de divisa.
O quarto capítulo mostra como o georreferenciamento dos homicídios tem per-mitido contornar um obstáculo técnico ao estudo sociológico da criminalidade violen-ta. O Recife é uma capital com enormes distâncias sociais entre seus habitantes. Con-tudo, ao utilizar os bairros como unidade de análise não se consegue captar toda essa disparidade. Isso porque dentro de um bairro nobre como Boa Viagem, por exemplo, podem coexistir diversas favelas, com índices socioeconômicos extremamente mais precários do que os registrados entre os vizinhos ricos que moram nos apartamentos à beira-mar.
A Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), no entanto, deu um passo decisivo em 2005 para a superação dessa limitação metodológica ao lançar o Atlas de Desenvolvi-mento Humano do Recife. No estudo realizado por técnicos e acadêmicos universitários foi proposta uma nova unidade espacial, as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH), desmembrando e agrupando bairros, com base em distritos censitários e de acordo com critérios socioeconômicos.
Com base nessa nova redistribuição territorial do espaço recifense, a Gace/SDS conseguiu transformar os pontos georreferenciados de CVLI em estatísticas de violên-cia por UDH. Se os dados não estivessem georreferenciados, essa operação seria impos-sível, dada a precariedade das informações sobre nome e número de logradouro do local de crime. Os bons préstimos de Mariana Tiné e Egenilton Farias, geógrafa e estatístico que atuam na Gace/SDS, oportunizaram a operacionalização da contagem de CVLIs por UDH e o cálculo das correlações com os indicadores sociais. Assim, tornou-se pos-sível mostrar com maior nitidez como a violência homicida na capital pernambucana correlaciona-se com os indicadores de pobreza, analfabetismo e condições de habitabili-dade, bem mais eficientemente do que a análise por bairros permite enxergar.
Por que se mata em Pernambuco?
Por último, o quinto capítulo visa a dar conta da pergunta mais importante de todas. Aquela que pode oportunizar um entendimento cabal sobre o problema enfrentado pelos órgãos competentes. Sabe-se que não existe uma única causa para o cometimento de crimes violentos intencionais, mas diversas. Além dos possíveis determinantes estruturais dos homicídios – analisados no capítulo anterior, em sua correlação espacial com a violência –, é possível inferir diferenças causais no nível da subjetividade dos autores deste tipo de crime.
A motivação do crime, como é concebida no jargão jurídico-policial, é essa causa subjetiva. Ela deve ser interpretada no contexto das circunstâncias sociais imediatas em que se desenrola a interação autor/vítima que termina com o desenlace fatal. Os delegados de polícia devem explicitar a informação sobre a motivação do crime no inquérito, subsidiando o Ministério Público no oferecimento ou arquivamento da de-núncia. Homicídio simples? Homicídio qualificado por motivo cruel, fútil ou torpe? Latrocínio? Legítima defesa? Estrito cumprimento do dever legal? Responder a tais
18
questionamentos somente é possível a partir da avaliação da motivação do crime, o que permite à Justiça proceder à tipificação do fato, à aferição da pena e à avaliação de possível existência de causa excludente da ilicitude.
O aumento da produtividade da polícia civil de Pernambuco – em decorrência do Pacto pela Vida –, no que diz respeito à instauração e à conclusão de inquéritos, trouxe reflexos na melhora significativa da coleta de informações sobre a motivação dos CVLI. Tais informações, disponibilizadas pelas polícias a partir da visão de mun-do de seus integrantes, podem ser também classificadas de modo a fornecer um retra-to de fundo mais generalizante sobre os grandes tipos de homicídios.
Em função disso, é apresentada proposta classificatória própria, agregando em grandes grupos motivações específicas para o cometimento de homicídios, bus-cando proporcionar uma visão holística do conjunto. Para tanto, foi preciso superar o extremo grau de desagregação da informação sobre motivações de homicídios, agrupando as categorias etiologicamente semelhantes em macromotivações. Os grandes tipos de homicídios, a exemplo dos tipos ideais weberianos, permitem-nos uma análise estatística mais robusta, reveladora de certas diferenças substanciais no perfil de suas vítimas, o que pode subsidiar a segmentação das políticas preventivas, direcionando-as adequadamente para populações-alvo diferenciadas.
Não há dúvida que com este livro não se esgotam as questões nem as possibili-dades de pesquisa que se apresentam aos estudiosos da problemática dos homicídios. Contudo, os trabalhos apresentados apontam avanços significativos na gestão do co-nhecimento e da informação, particularmente no Estado de Pernambuco – atividade esta que é alicerce fundamental para a construção de políticas públicas de segurança.
O organizador,Recife, janeiro de 2012
Inovações na contagemde homicídios:implantação da pulseira de identifi cação de cadáver
Gerard Sauret
1
21
No contexto recente de modernização do setor da segurança no Brasil, as es-tatísticas de homicídios estão no centro do debate sobre a conjuntura da po-lítica pública. Diversas são as razões para isso. Entre elas, estão as questões
de ordem jurídica, visto que o homicídio é o atentado mais grave contra o bem mais precioso que existe: a vida humana. Outras são de cunho pragmático, já que as mortes violentas intencionais são os crimes com menor subnotificação em comparação com outros delitos não letais, como roubos, furtos, lesões corporais e estupros (WAISEL-FISZ, 2007). Isso se explica pela própria gravidade do crime de homicídio e pela di-ficuldade de desaparecimento do corpo da vítima, que serve como prova material da ocorrência do delito (CASTRO, ASSUNÇÃO E DURANTE, 2003).
Ademais, existem razões de ordem política para colocar o problema dos homi-cídios no topo da agenda de segurança. O cenário contemporâneo de consolidação e valorização da democracia e dos direitos humanos exige respostas efetivas de combate ao fenômeno, que nas últimas décadas atingiu proporções epidêmicas no Brasil (CRUZ et al., 2008). Pernambuco figurou durante muitos anos entre os piores colocados nos rankings nacionais da violência divulgados por instituições diversas (BRASIL, 2006; FBSP, 2007; WAISELFISZ, 2007), despertando a indignação cidadã. Em resposta ao clamor popular foi implantado, em 2007, o 1º Plano Estadual de Segurança Pública, denominado Pacto pela Vida (PPV), que reconheceu os homicídios como o problema de segurança mais grave no Estado3.
Para enfrentar os altos índices registrados, o PPV propôs uma diversidade de medidas, aplicando a filosofia da gestão por resultados. Ao estabelecer meta de reduzir em 12% ao ano as taxas de mortalidade violenta intencional (PERNAMBUCO, 2007), o PPV passou a ter extrema ressonância política. Por conta disso, foi deflagrado um debate midiático, que entre outras questões levantou dúvida sobre a fidedignidade das estatísticas oficiais produzidas pelo Estado4.
Contudo, em função da transparência na divulgação das informações5 e pelo fato de a Gerência de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Gace/SDS-PE) dispor de uma metodologia de coleta de dados extrema-mente rigorosa e eficiente, o objeto de tal debate perdeu sentido.
3. O diagnostico do Pacto Pela Vida apontou que Pernambuco é um Estado com mais de 8 milhões de habitantes (em 2000) e onde morreram assassinadas aproximadamente 42 mil pessoas no lapso de dez anos (de 1996 a 2005), atingindo-se taxas anuais superiores ao patamar das 50 vítimas por 100 mil habi-tantes. (PERNAMBUCO, 2007).
4. Um blog na internet, o Pebodycount, foi criado em 2007 por jornalistas com o intuito de fiscalizar per-manentemente a veracidade das contagens oficiais sobre homicídios, assumindo papel de controle externo.
5. Desde abril de 2008, o Governo de Estado de Pernambuco vem divulgando na internet as estatísticas de CVLI mediante os Informes Mensais e Boletins Trimestrais da Conjuntura Criminal, disponíveis nos sites da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas do Estado de Pernambuco – Condepe Fidem <www.condepefidem.pe.gov.br> e da SDS <www.sds.pe.gov.br>. Esses produtos são fruto de uma par-ceria entre a SDS, a Condepe Fidem e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência, Criminalidade e Políticas Públicas de Segurança, da Universidade Federal de Pernambuco (NEPS/UFPE), procurando dar uma satisfação à sociedade quanto à transparência no tratamento da informação em segurança e promovendo o fortalecimento do papel de controle externo da sociedade civil na política pública.
22
Neste capítulo apresenta-se a sistemática de coleta de dados de homicídios em Pernambuco, cujo propósito é o de obter um retrato fiel do processo da violência letal no Estado. Iniciada em 2003, a contagem oficial de homicídios vem sendo aprimora-da desde 2008, procurando estar à altura das circunstâncias que o monitoramento permanente de uma política pública como o Pacto pela Vida exige. Nesse sentido, detalham-se as características do banco de dados sobre homicídios, assim como os flu-xos das informações que o alimentam. A abordagem também focará em detalhe uma das inovações implantadas pela Gace/SDS, que consiste na colocação de pulseiras de identificação de cadáveres nos corpos das vítimas de mortes de interesse policial.
O BANCO DE DADOS DE HOMICÍDIOSEM PERNAMBUCO
A principal característica que singulariza a estatística oficial de crimes violentos letais intencionais (CVLI6) em Pernambuco com relação à produzida em outros esta-dos é a de se dispor de um banco de dados específico para tal fim. Ou seja, a estatística oficial de homicídios é elaborada mediante uma sistemática à parte, independente da que processa outros crimes diretamente a partir dos boletins de ocorrência (BO´s). O referido banco pode ser conceituado como um sistema “multifonte”, pois os casos nele registrados provêm do cruzamento de diversas fontes de informação documentais. Portanto, não possui um instrumento de coleta único, a modo do BO ou da Declaração de Óbito. Pelo contrário, o banco é alimentado a partir das informações constantes em relatórios administrativos da Polícia Civil (PC), do Instituto de Medicina Legal (IML), da Polícia Militar (PM) e do Instituto de Criminalística (IC). Estes relatórios consistem em planilhas diárias com dados detalhados das ocorrências fatais.
Tal metodologia está embasada na técnica de triangulação de fontes e é inédita no Brasil. A sua originalidade reside no fato de não se deter apenas nos dados de homicídios coletados pela PC e PM. Pois apesar da preocupação com as informações, ambas apre-sentavam dificuldades para notificar casos cujas mortes não se consumavam no local do crime, mas em unidade hospitalar. Para contornar tal problema, os dados das polícias passaram a ser diariamente cotejados dentro do banco de dados de homicídios no Sis-tema de Informações Policiais (Infopol/SDS) com os dos relatórios do IML, que recebe os corpos das vítimas de mortes violentas, inclusive os de procedência hospitalar. Desta feita, o cruzamento das informações permitiu reunir num mesmo banco de dados todos os casos de CVLI notificados pelos diversos órgãos operativos da SDS.
Para visualizar melhor a complexa rede que compõe o sistema integrado de infor-mações de homicídios de Pernambuco, foram esboçados dois fluxogramas. Na imagem 1 apresenta-se o que descreve o fluxo das informações dos órgãos operativos que se
6. CVLI é um indicador agregado proposto pela Senasp para monitorar o processo da violência letal no Brasil. É composto pelos crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio). No livro todo utilizar-se-ão indistintamente as denominações CVLI e homicídios. Para mais detalhes sobre o CVLI, recomenda-se ler o capítulo 2.
23
fazem presentes no mesmo local onde aconteceu o crime/evento fatal. Também apare-cem delineados seus respectivos relatórios oficiais, produzidos e enviados à Gace/SDS. A imagem 2 representa o fluxo da informação para os casos de violência letal que são registrados em hospitais, locais de consumação de mortes em momento posterior ao das ocorrências. A seguir, detalha-se a abrangência e especificidade de cada fonte de infor-mação, explicando por ordem cronológica as razões da sua inclusão no sistema.
Imagem 1: Fluxograma da informação de crimes letais em local de crime
Elaboração própria.
Os primeiros procedimentos metodológicos de cruzamento de informações que possibilitaram a criação do citado banco de homicídios no Infopol/SDS foram desen-volvidos em 2002 por técnicos da Unidade de Coleta e Tratamento de Dados (Uni-cotd/Gace/SDS). O banco de dados surgiu justamente da necessidade de o Estado dispor de informações confiáveis e abrangentes, em tempo oportuno, sobre as mor-tes violentas intencionais. Atendia-se, assim, às demandas gerenciais por informação, bem como às pressões externas que o contexto midiático e político impunham ao poder público, à época, para elaboração de uma estatística oficial de homicídios7. Após
7. Nos primeiros anos do século XXI, o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) atuava como controle externo das estatísticas oficiais de homicídios, cobrando transparência e fidedignidade na divulgação. Para tanto, recorria aos dados do IML, conseguindo subsídio para apresentar números divergentes dos apurados pelo governo a partir dos registros de queixas nas delegacias.
24
a demonstração técnica do sucesso no cruzamento de dados, o referido sistema foi oficializado8 mediante o Decreto Estadual n° 25.153/2003 (PERNAMBUCO, 2003) e a Portaria GAB/SDS n° 222/2004 (PERNAMBUCO, 2004).
Imagem 2: Fluxograma da informação de crimes letais em cenário hospitalar
Elaboração própria.
Essa portaria foi atualizada pela GAB/SDS n°1.007/2006, que estabeleceu que os técnicos da Gace têm 15 dias para consolidar as informações de homicídios sub-sequentes ao mês que se encerra. Também definiu que as fontes de informação ofi-ciais seriam os Relatórios Diários das Necropsias efetuadas no Instituto de Medicina Legal (IML-PE) – sediado no Recife e com sucursais em Caruaru e Petrolina – e o Relatório Diário da Coordenação dos Plantões da Polícia Civil (Coordepol/PCPE), no qual estão centralizadas informações de ocorrências graves (inclusive homicídios) das 217 circunscrições e dos plantões policiais em todo o Estado9. Tanto os três rela-tórios produzidos pelas unidades do IML como o relatório da Coordepol/PCPE são enviados por e-mail à Gace, onde técnicos de coleta analisam os dados relativos aos homicídios e alimentam o Sistema Infopol/SDS.
8. Inicialmente foi denominado sistema de estatística de Mortes Não Naturais (MNN), embora essa denomi-nação já estivesse ultrapassada ao ter sido substituída pela OMS, desde 1996, pelo rótulo “Causas Externas”.
9. Para o registro dos homicídios, os policiais que alimentam o relatório da Coordepol, progressivamente vêm adotando a consulta direta aos BO´s eletrônicos (BOE) que, hoje em dia, já são lançados no Sistema Infopol/SDS em quase todo o Estado.
25
Na vigência do Pacto pela Vida, outra portaria do Gabinete da SDS, a de número 433/2008 (PERNAMBUCO, 2008a), concebeu a necessidade de institucionalizar outras fontes para consolidação das informações estatísticas de mortes de interesse policial. No caso, determinou que a Gace/SDS deve recuperar informações complementares desses crimes dos relatórios diários de homicídios da inteligência da PM – 2ª Seção do Estado Maior (2ªEMG/PMPE)10 e dos relatórios de perícias das unidades do IC de Recife, Caru-aru, Salgueiro e Petrolina. Também nesta portaria estabeleceu-se mais um mecanismo de controle no envio das informações da PC, ao definir-se que as delegacias seccionais11 do interior do Estado devem compilar mensalmente aquelas informações que eram comuni-cadas diariamente pelas delegacias circunscricionais à Coordepol12. Com isso, objetiva-se que eventuais falhas ou descontinuidades na comunicação dos dados informados diaria-mente venham a ser corrigidas no período posterior da consolidação mensal.
Cumpre destacar que, quando foi iniciada a sistemática de coleta de dados de homicídios, a maioria das delegacias do interior ainda não dispunha de BO e realizava os registros em livros de queixas – instrumentos inapropriados para a exploração estatística eficiente dos dados. Com a progressiva implantação dos BO´s, primeiro em formato formulário13 e depois em formato eletrônico (BOE) – pari passu à informati-zação e interligação das delegacias14–, os técnicos da UNICOTD/Gace estão conse-guindo recuperar eficientemente informações no banco de BO´s, também no Infopol/SDS, com o intuito de poder alimentar o banco de homicídios.
Na imagem 3 apresenta-se gráfico e tabela demonstrativa do grau de cober-tura das principais fontes com relação ao total de casos efetivamente registrados no banco de dados de homicídios no Infopol/SDS15. Observa-se como o IML mostra uma tendência clara de aumento dos seus registros (de 84% em 2005 a 93% em 2010), conseguindo obter uma ótima cobertura na série histórica considerada16. Tais dados
10. Apesar disso, atualmente a Coordenação de Inteligência e Estatística da Diretoria Geral de Opera-ções (CIE/DGO-PMPE) é o setor que produz o melhor relatório diário de homicídios da PM, o qual também é remetido para a Gace/SDS-PE.
11. Em Pernambuco, uma Delegacia Seccional, no nível de área, coordena diversas circunscricionais.
12. Na época, denominada Unicodplan – Unidade de Coordenação das Delegacias de Plantão da PC.
13. Esses BO´s formulário também são digitados no Sistema Infopol/SDS a posteriori, em central de digi-tação instalada na Gace, embora, por razões óbvias, não possam atender ao princípio da tempestividade da informação, tão caro na área de segurança. Mas permitem a reconstituição histórica dos níveis de ocorrências naquelas delegacias.
14. No momento em que foi redigido este livro, estimou-se que aproximadamente 90% das Delegacias Circunscricionais de Pernambuco funcionam efetivamente com o BO Eletrônico, respondendo por mais de 98% do volume de registros.
15. Informações sobre a PM e o IC não são apresentadas, haja vista que houve descontinuidades impor-tantes na alimentação da informação sobre a fonte desses dados no Sistema Infopol/SDS. Ou seja, os da-dos disponíveis não seriam representativos do verdadeiro grau de cobertura desses órgãos com relação ao fenômeno dos homicídios.
16. Foram desconsiderados os anos 2003 e 2004 porque os campos relativos às fontes de informação não apresentam graus aceitáveis de preenchimento.
26
apontam que, hoje em dia, nove de cada dez homicídios são necropsiados em alguma das instalações dos três IML do Estado. Este número não é maior porque existem algumas regiões no Agreste e no Sertão que não são cobertas pelo IML nem pelo IC. Por conta disso, tornou-se prioritário reforçar o sistema de informação com a remessa dos dados mensais das delegacias seccionais da PC do interior e o relatório diário da 2ªEMG/PMPE (PERNAMBUCO, 2008a).
A Coordepol/PC, por sua vez, é uma fonte que não ultrapassa o nível de regis-tro de 80% dos casos de homicídios (ver imagem 3). Tal dado sugere a provável exis-tência de descontinuidades na alimentação dessa fonte, assim como eventuais dificul-dades na apuração de casos de morte em unidades de saúde que não dispõem de posto policial. Entretanto, observa-se como o nível de preenchimento do campo número do Boletim de Ocorrência, no banco de homicídios, vem aumentando progressivamente. Se em 2006 apenas havia registro de BO para 75% dos casos armazenados no banco de dados de CVLI, em 2010 este número alcança 98%, superando, inclusive, desde 2009, a cobertura do IML. Esse aumento é explicado por diversas razões.
Imagem 3: Percentual de cobertura das principais fontes de informação no banco de dados de homicídios no Sistema Infopol/SDS. Pernambuco, 2005 a 2010.
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Em primeiro lugar, porque em 2007 foram implantadas três forças-tarefa no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (FTH/DHPP/PCPE), incumbidas de realizar levantamento de local de crime e instauração de inquérito de todos os casos de CVLI da Região Metropolitana do Recife (RMR). Para tanto, essas equipes contaram desde o início com a tecnologia do BOE no Infopol/SDS. Em segundo lugar, porque em meados de 2007 começou a funcionar o BOE no posto policial do Hospital da Restauração (HR) e, no final de 2008, no Hospital Regional do Agreste
27
(HRA), que são importantes unidades de trauma e emergência da RMR e do interior do Estado, respectivamente. E, em terceiro lugar, cabe citar o fato de o homicídio, desde 2007, ocupar posição de destaque como crime a ser enfrentado pelas polícias estaduais. Isso faz com que este tipo de ocorrência receba mais atenção, garantindo a lavratura dos BO´s dos casos que a PC toma conhecimento.
Imagem 4: Número de vítimas de mortes por agressão no SIM e de CVLI no Infopol/SDS. Pernambuco, 2003 a 2010.
Fontes: SIM/MS e Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Mesmo assim, o processo de consolidação do BO em todas as delegacias cir-cunscricionais do interior do Estado, primeiro em formato formulário e depois sendo progressivamente substituído pelo formato eletrônico, é recente e também deve ser correlacionado com a tendência acima exposta17. Percebe-se, então, que uma análise baseada exclusivamente nos BO´s da PC poderia ter levado a uma conclusão equivo-cada sobre o aumento da violência, quando se trataria, em realidade, de uma expansão na cobertura e nos dispositivos de trabalho daquela corporação. Além disso, foi pos-sível constatar que de 2008 a 2010, 2% dos casos constantes no banco de homicídios não foram informados nem pelos BOs, nem pelos relatórios da UNICODPLAN/PC nem pelos IML, mas por outras fontes como a PM ou as Seccionais da PC, instauradas oficialmente pela Portaria GAB/SDS n°433/2008 (PERNAMBUCO, 2008a).
Por outro lado, para a análise criminal em Pernambuco, a criação do banco de ho-micídios representou um salto de qualidade imenso, superando abismos estatísticos exis-
17. Ver nota de rodapé n° 14
28
tentes entre os dados do setor saúde e os da defesa social. Desta feita, Pernambuco hoje é um dos poucos estados cujos dados de homicídios baseados em fontes policiais conseguem superar – em números absolutos – inclusive os do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) (ver imagem 4). Cabe salientar que o SIM/MS é a fonte preferida pela maioria dos pesquisadores na área, por ser considerada a mais confiá-vel e abrangente em nível nacional (CRUZ et al., 2008; CANO; SANTOS, 2007; SOARES, 2008). Isso constitui uma mostra indiscutível da seriedade do trabalho de monitoramento dos homicídios que vem sendo feito na Unicotd/Gace/SDS-PE.
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVER
A nova metodologia de coleta e validação de informações de CVLI desenvolvida pela Gace/SDS resolveu satisfatoriamente o problema da subnotificação, reduzindo-o a proporções residuais. Entretanto, a estratégia “multifonte” abriu brechas a possível supernotificação de casos. Pois na hora de realizar o cruzamento das informações foi verificado um risco latente, pequeno mas real de que os técnicos da coleta cometam o erro de contar duas vezes um mesmo caso. Isso pode acontecer quando o nome da vítima do homicídio ou o local da ocorrência do crime são registrados de forma dife-rente pelas diversas fontes de informação.
Observando essa possibilidade, em junho de 2009, a Gace/SDS, com o apoio da Gerência Geral de Polícia Científica (GGPOC/SDS-PE), implantou o Projeto Pulseira de Identificação de Cadáver na RMR. No caso, os peritos do Instituto de Criminalística (IC) vinculados às três Forças-Tarefa de Homicídios do DHPP estão incumbidos de colocar nos tornozelos dos cadáveres periciados pulseiras lacradas e devidamente nu-meradas (ver imagem 5).
Imagem 5: Primeiro modelo de Pulseiras de Identificação de Cadáver utilizado em 2009 (SDS-PE).
Mediante um sofisticado processo de notificação, que foi transformado em Pro-cedimento Operacional Padrão (POP) da SDS-PE, todos os órgãos operativos e as polícias científicas devem incorporar o Número de Identificação de Cadáver (NIC), contido na própria pulseira, nos seus relatórios diários de homicídios, de acordo com
29
os fluxogramas estabelecidos nas imagens 1 e 2. Assim, os dados chegam aos técni-cos da coleta estatística de forma segura, permitindo a identificação de divergências entre as fontes e a apuração de duplicidades no sistema Infopol/SDS.
Os peritos criminais foram selecionados para a colocação da pulseira nos cadáveres no local da ocorrência pelo fato de serem atores que não têm inconveniência em manu-sear o corpo da vítima. Os peritos também foram apontados como os profissionais mais apropriados a preencher o documento, com três vias autocopiativas, denominado Boletim de Identificação de Cadáver (BIC), que atesta e relaciona o Número (NIC) com a Pulseira (PIC) (ver imagem 6). Trata-se de um instrumento que auxilia o perito criminal na ano-tação formatada de informações sobre a identidade da vítima no local do crime.
Após o preenchimento do BIC, o perito, que fica com uma via até ser recuperada pela Gace/SDS, deve informar o NIC ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) para que o mesmo seja incorporado no relatório de homicídios da PM. As outras duas vias do BIC, por sua vez, são entregues, respectivamente, pelo perito criminal à auto-ridade policial presente na local do crime e aos auxiliares do IML que efetuam a remoção do cadáver. De volta às dependências da Força-Tarefa de Homicídios, o perito anota o NIC no livro de registros para que posteriormente seja transcrito no Relatório Diário de Perícias de Homicídios. Também deve escanear o BIC e incorporá-lo ao laudo pericial.
Imagem 6: Primeiro modelo de Boletim de Identificação de Cadáver utilizado em 2009 (SDS-PE). Exemplo com dados fictícios.
Os policiais civis devem registrar o NIC no histórico da ocorrência (BO) e re-passá-lo à Coordepol/PC para que seja transcrito no relatório diário daquele depar-tamento. Já o IML só aceita a entrada de cadáveres que estejam com a pulseira devi-damente lacrada no tornozelo (ou no punho), acompanhados do BIC. Finalmente, o
30
médico legista inspeciona e fotografa o NIC contido na pulseira e o anota no Laudo da Necropsia e no cabeçalho da Declaração de Óbito (DO). O setor administrativo do IML deve registrar o NIC no livro e no Relatório Diário de Necrópsias, que é enca-minhado diariamente à Gace/SDS-PE.
Informações colhidas no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/MS) mostram que aproximadamente 25% dos casos de óbito por agressão na RMR consu-mam-se em hospitais. Desta feita, caso almejasse obter grau aceitável de cobertura, o Projeto Pulseira precisava levar em conta o fluxograma da informação de homicídios em cenários hospitalares (ver imagem 2). Diante dessa situação, o primeiro questio-namento foi sobre a quem caberia a responsabilidade de colocar a pulseira nestes am-bientes. Como os peritos criminais não fazem ato de presença quando um homicídio é consumado tardiamente em unidade de saúde, visto que nesse cenário não há mais como se colher vestígios do crime, a questão demandou articulação junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e os postos policiais nos hospitais.
Observou-se que os auxiliares de necrotério da unidade hospitalar (ou os res-ponsáveis pelo preparo do cadáver para encaminhamento ao IML) eram os agentes mais apropriados para a tarefa. Mesmo assim, como o interesse na coleta da infor-mação é da SDS, ficou definido que seriam os policiais civis do posto hospitalar os incumbidos de preencher os Boletins (BIC) e administrar a entrega das respectivas pulseiras aos auxiliares de necrotério. Esses policiais também ficaram responsáveis por testemunhar a colocação da pulseira por parte dos auxiliares de necrotério e pre-zar para não haver erros nem irregularidades no processo.
Definiu-se também que o auxiliar da saúde deve ceder momentaneamente ao po-licial a Guia de Remoção Hospitalar (GRH), para que este possa replicar os dados da vítima, da data em que a mesma ingressou no hospital e, não raras vezes, do local da procedência, informações caras para a investigação policial. Esse feedback tem por obje-tivo facilitar o preenchimento do BIC e a posterior lavratura de BOE. Em contrapartida, o policial deve fornecer uma via do BIC ao auxiliar de necrotério, a qual seguirá obri-gatoriamente para o IML, acompanhando o cadáver, além da GRH. Nas dependências do IML serão tomadas as mesmas providências previstas para os casos encaminhados pelo DHPP, sendo que todo cadáver proveniente de hospital onde estiver implantado o Projeto Pulseira só será aceito se os procedimentos previstos estiverem em regra.
Como se vê, essa estratégia obriga os policiais do posto a se deslocarem até o necrotério cada vez que são avisados da chegada de um cadáver a ser encaminhado ao IML. Com isso, os policiais tomam conhecimento de todas as mortes violentas ou a esclarecer ocorridas naquele hospital, inclusive dos casos de morte hospitalar tardia, que de outro modo dificilmente seriam rastreados. Esta estratégia oportuniza, por exemplo, que o policial faça um BOE de um caso de tentativa de homicídio que deu en-trada no hospital e que, dias ou semanas depois, caso a vítima venha a falecer, realize um BOE complementar de homicídio consumado, após ter participado do processo de colocação da pulseira. Na lavratura do BOE também deve ser mencionado o Número NIC, que será contrastado pelos técnicos da coleta da Gace/SDS com os dados do Relatório das Necrópsias do IML.
31
A pulseira foi implantada experimentalmente e de forma bem sucedida no Hospi-tal da Restauração (HR), em junho de 2009. A escolha fundamentou-se no fato de ser o HR a principal unidade de emergência do Nordeste e receber metade dos casos de homi-cídios consumados em ambiente hospitalar da RMR. Uma avaliação preliminar indicou que a implantação da pulseira atingiu efetivamente um grau de cobertura de 87% dos casos de CVLI da RMR nos seus primeiros meses de funcionamento, distribuídos entre DHPP (75%) e HR (12%). Os 13% restantes corresponderam a casos que se pulveri-zavam numa variedade de hospitais e unidades de saúde de menor porte (Gace, 2009).
No final de 2009 foi deflagrada uma frente de interiorização do projeto na Área Integrada de Segurança de Caruaru (AIS-14), que abrange 15 municípios do Agreste Central. Lá a pulseira foi implantada na sucursal do IC que realiza perícias nos mu-nicípios da área. Também foi implantada no Hospital Regional do Agreste (HRA), principal referência de urgência e emergência da região, cujo necrotério, até recente-mente, era utilizado pelo IML. O HRA também dispõe de um posto policial, com BOE em funcionamento. Desse modo, 97% dos óbitos por CVLI da AIS-14, em 2010, e 80% de todo o Agreste18, foram devidamente cobertos naquele ano pelo Projeto Pulseira.
Em 31 de dezembro de 2010, após um demorado e necessário processo de dis-cussão normativa entre todos os atores envolvidos, foi publicada no Diário Oficial do Estado portaria conjunta entre a SDS e a SES (a nº01/2010), com vista a implantar a pulseira, o boletim e o número de Identificação de Cadáver no âmbito de todo o Estado (PERNAMBUCO, 2010b). Nesse caso, deu-se um passo adiante ao abarcar, não somente os casos de homicídio, mas todas as mortes de interesse policial, sejam violentas (inclusive acidentais) ou com suspeita de violência (mortes a esclarecer). A citada portaria traz cinco anexos, correspondentes aos Procedimentos Operacionais Padrão (POP). A complexidade dos POP´s denotam tanto a diversidade de situações em que os órgãos operativos têm que lidar com casos de morte de interesse policial no Estado, como as especificidades das interações entre os mesmos. Que são:
• POP 1 – Locais de crime/evento fatal periciados pelo IC na RMR;
• POP 2 – Locais de crime/evento fatal periciados pelo IC no interior do Estado;
• POP 3 – Mortes consumadas em unidades de saúde com posto policial da PC;
• POP 4 – Mortes consumadas em unidades de saúde sem posto policial da PC;
• POP 5 – Locais de crime/evento fatal não periciados pelo IC (PERNAMBUCO, 2010b).
Desta feita, o projeto expandiu-se para todas as unidades de Polícia Científica que lidam com cadáveres no Estado (POP´s 1 e 2), bem como para todos os hospi-tais públicos com posto policial e BOE em funcionamento (POP 3). Ademais, a nova
18. Compreendendo as Regiões de Desenvolvimento do Agreste Central, Agreste Meridional e Agreste Setentrional (Fonte: Condepe Fidem).
32
portaria determinou que onde não há posto policial ou realização de perícia criminal as delegacias circunscricionais ou de plantão da PC (segundo competência) são in-cumbidas pela administração das pulseiras e boletins, com o auxílio dos responsáveis pela remoção do cadáver (POP´s 4 e 5). A portaria prevê também que o BIC contenha quatro vias, em vez das três previstas no projeto inicial, de modo que as guarnições da PM que fazem o isolamento do cadáver possam receber também o documento e incorporar o registro dos NIC nos seus BO´s.
Alicerce Informacional
A estratégia de triangulação de múltiplas fontes de informação sobre homicídios em Pernambuco demandou procedimento metodológico de controle para facilitar a de-tecção de duplicidades e zelar pela redução de erros. Nesse sentido, o Projeto da Pulsei-ra de Identificação de Cadáver mostrou-se altamente funcional à arquitetura multifonte daquele sistema de informação e à nova política de segurança deflagrada com o Pacto pela Vida. Desta feita, o novo modelo de gestão por resultados encontrou no banco de homicídios do Infopol/SDS e no Projeto Pulseira um dos seus principais alicerces in-formacionais. A ampla cobertura atingida pela estratégia de gestão da informação e a confiabilidade dos seus registros deram crédito e legitimidade à nova empreitada.
No tocante ao Projeto Pulseira, outra virtude é que a sua execução faz com que todos os órgãos operativos devam coincidir e interagir nos locais onde ocorrem mor-tes violentas intencionais, o que é o ideal para o trabalho integrado entre as forças policiais neste tipo de situação. Nos cenários hospitalares, o Projeto Pulseira confere relevância ao trabalho dos agentes e comissários lotados nos postos policiais, conver-tendo-os em atores privilegiados na coleta de informações estratégicas em segurança. Seus esforços contribuem para detectar a informação correta sobre a procedência das vítimas de homicídio removidas para os hospitais. Com isso, facilitam a remessa pos-terior dos laudos do IML e reduzem à mínima expressão o número de casos com local do crime não informado. O que é fundamental para alicerçar a sistemática de gestão por resultados, baseada na responsabilização territorial dos gestores policiais de área, incumbidos de apurar e coibir crimes.
O Número NIC poderá servir para o rastreamento futuro dos casos de crimes letais no sistema de justiça criminal. Atualmente, já foi incorporado no cadastro das vítimas de CVLI existente no sistema “semidigital” de inquéritos do DHPP/PCPE, o chamado Sistema PCPE Virtual. E com a informatização em curso no IC-PE e programada no IML-PE, a expectativa é que a incorporação do NIC venha a facilitar o rastreamento de casos e o cruzamento de dados, especialmente útil no tocante à remessa de laudos criminais e médico-legais, de modo a podê-los vincular de forma inequívoca aos inquéritos policiais.
Gestões foram tomadas junto a técnicos da Secretaria Estadual de Saúde para que o número NIC seja incorporado também no Sistema de Informações de Mor-talidade (SIM/MS). A ideia é que os técnicos da saúde que digitam as DO no SIM
33
introduzam o Número NIC num campo aberto. Se esta iniciativa for devidamente cumprida, facilitará que futuramente sejam feitas interligações ou cruzamentos entre os bancos de dados da Saúde e da Defesa Social em Pernambuco, mediante a técnica de linkage, o que será também mais uma experiência inovadora na gestão da informação de homicídios.
Com a expansão do Projeto Pulseira em todo o Estado e a inclusão de todas as mortes de interesse policial, a Gace/SDS ampliou o escopo do seu banco de da-dos, anteriormente restrito aos homicídios. Desse modo, desde 1° de janeiro de 2011, está sendo possível quantificar em tempo quase real19 o volume dessas outras mortes violentas/acidentais e a esclarecer com o mesmo rigor e nível de qualidade com que vinham sendo registrados os homicídios. Essa demanda, ademais, vem sendo posta em pauta pelo aumento dos acidentes de trânsito, atrelado à rápida expansão da frota de veículos.
Cumpre salientar que os primeiros passos da implantação do Projeto Pulseira coincidiram com o episódio da queda do avião da Air France no Oceano Atlântico, em 30 de maio de 2009. Naquela ocasião, pulseiras de cadáver foram utilizadas por peri-tos criminais e legistas de Pernambuco e estrangeiros. Estes técnicos trabalharam no processo de pré-identificação das vítimas no Arquipélago de Fernando de Noronha, local onde foi montada a base avançada para o traslado dos corpos ao IML do Recife. O uso do instrumento para custódia dos vestígios foi elogiado pelos profissionais es-trangeiros, que reconheceram a sua indiscutível utilidade.
Por último, porém não menos importante, vale ressaltar a valorosa contribui-ção dos técnicos da Gace/SDS, verdadeiros artífices e guardiões desta sistemática de gestão da informação. Nos últimos anos, eles participaram com afinco na construção e alimentação do banco de dados de homicídios no Infopol/SDS, bem como na dis-cussão, elaboração e implantação do Projeto Pulseira de Identificação de Cadáver. No cenário atual, a sua permanente preocupação com a fidedignidade das informações é extremamente relevante para a execução, monitoramento e avaliação do Pacto pela Vida. Política pública que visa ao efetivo enfrentamento da violência letal no Estado de Pernambuco.
19. N-1. Ou seja, no final de um dia útil, a Gace consegue informar o quantitativo de mortes de interesse policial registradas no dia anterior.
Políticas de contagem de homicídios no Brasil: os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco
Gerard Sauret
2
35
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) considera que países com índi-ces de violência superiores a 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habi-tantes vivenciam situação de violência que pode ser considerada epidêmica.
Em abril de 2011, o Governo de São Paulo anunciou que o Estado reduziu a sua taxa de homicídios, ficando abaixo, pela primeira vez, do parâmetro recomendado pela OMS. Concretamente, divulgou-se que, se o Estado mantivesse até o final daquele ano o nível de crime registrado no primeiro trimestre, fecharia 2011 com uma taxa de 9,52 homicídios dolosos por 100 mil habitantes20.
À época, a notícia teve repercussão nacional, ocupando as manchetes de gran-des veículos de comunicação. Contudo, passou despercebida à apuração jornalística a peculiaridade com que é feita a contagem policial de homicídios naquele Estado. Uma análise mais acurada revelaria a impropriedade da comparação da contagem da Secre-taria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) com o parâmetro da OMS. Pois as duas instituições divergem quanto ao critério para classificação dos assassinatos.
A OMS aponta como homicídio todos os casos de morte por agressão heteroin-flingida, com base na 10ª Classificação Intencional das Doenças e Problemas Relacio-nados à Saúde (CID-10). Já a SSP/SP segue critérios jurídicos e policiais que só levam em conta aquelas mortes cujos crimes se enquadram no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Com isso, a SSP/SP exclui do indicador oficial de violência os casos de la-trocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e pessoas mortas em confronto com a Polícia Civil e Militar.
Além disso, São Paulo utiliza o critério de contar as ocorrências e não o número de vítimas. Assim, um duplo homicídio ou uma chacina na qual são mortas três ou mais pessoas contarão como apenas uma ocorrência, não sendo somado o montante de vítimas “a mais” no índice geral de homicídios. Já a OMS contabiliza vítimas e não ocorrências, pois suas fontes são as Declarações de Óbito.
Situações como essas acontecem ainda no Brasil porque cada Estado da Fede-ração monitora a violência segundo critérios que avaliam como mais acertados. Para contornar esse problema, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) propôs a criação do indicador agregado de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúne sob a mesma rubrica os homicídios dolosos, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte (BRASIL, 2006). O CVLI, portanto, congrega as cifras das principais mortes violentas dolosas21 e resulta numa iniciativa promissora para consolidar diante da sociedade o principal indicador sobre violência gerado a partir de fontes policiais.
Em Pernambuco, com o início do Pacto pela Vida (PPV), em 2007, o CVLI foi o critério escolhido para monitorar a mortalidade violenta intencional (critério vítimas
20. Ver a matéria “Homicídio cai 19% e chega a 9,52/100 mil no Estado”, no site <www.ssp.sp.pe.gov.br>. Acesso em 15/04/11.
21. A Senasp poderia ter incluído no CVLI outras situações legais mais graves do que a lesão corporal seguida de morte (pena de 4 a 12 anos). É o caso, por exemplo, da tortura seguida de morte (pena de 8 a 16 anos), do estupro seguido de morte (pena de 12 a 30 anos) e a extorsão mediante sequestro seguida de morte (pena de 24 a 30 anos).
36
e não ocorrências). Além disso, a estatística da nova política pública de segurança inclui todos os casos que, pela sua tipicidade, se enquadram nas definições legais dos crimes previstos no indicador CVLI. Desse modo, não são realizadas considerações jurídicas acerca de excludentes de ilicitude dos atos típicos ou acerca da culpabilidade dos seus autores. Consequentemente, casos de homicídios perpetrados por cidadãos motivados por legítima defesa ou de terceiros; casos de estrito cumprimento do dever legal protagonizados por policiais ou homicídios/latrocínios cometidos por adoles-centes (considerados legalmente inimputáveis e, portanto, isentos de culpa jurídica) são incluídos no indicador CVLI.
No Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança evoluiu e, em 2011, começou a con-siderar a “Letalidade Violenta”, como um dos três indicadores estratégicos na defini-ção do Sistema Integrado de Metas22. Este indicador agregado é obtido do somatório de outros quatro indicadores: vítimas de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e auto de resistência. Ou seja, resultaria num indicador equivalente ao CVLI proposto pela Senasp e utilizado em Pernambuco.
Neste capítulo não é feita uma mera confrontação das estatísticas policiais de homicídios com as estatísticas sanitárias de mortes por agressão. Mais do que isso, realiza-se uma análise da confiabilidade dos indicadores oficiais de homicídios apre-sentados por estados considerados mais avançados no quesito da segurança pública, como são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A mesma análise é realizada para o Brasil como um todo. Para tanto, aferiu-se o grau da subcontabiliza-ção no indicador oficial de “homicídios”, empregando-se a metodologia utilizada pelo Programa de Redução da Violência Letal – PRVL23 (2009; 2010), que está baseada em proposta de Cano e Santos (2007). Estes autores construíram estimativa de homicí-dios a partir dos dados do setor saúde, incorporando um percentual razoável de casos com causa básica do óbito indeterminada nas Declarações de Óbito.
Estudos desta natureza são pertinentes porque geralmente não se dispõe de indica-dores que permitam informar sobre a confiabilidade dos números divulgados pelos órgãos de segurança. Conhecendo as taxas de subcontabilização de tais estados é possível realizar comparações mais apropriadas que as feitas meramente com os dados oficiais.
Problematizando as estatísticas oficiais de segurança
Nos anos 60 do século passado, John Kitsuse e Aaron Cicourel (1963 apud RO-BERT, 2007) redigiram um artigo que representou um ponto de inflexão na proble-
22. Os outros dois indicadores estratégicos para a aferição de metas são o “Roubo de Veículo” e o “Roubo de Rua”.
23. O PRVL é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-ca, o Observatório das Favelas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em cooperação com o Laboratório de Análise da Violência (LAV/UERJ). Tem por objetivo “promover a articulação e mobilização social para o tema, além de criar mecanismos de monitoramento dos índices de violência con-tra adolescentes nas 11 regiões metropolitanas mais vulneráveis do País” (PRVL, 2010: 11).
37
matização da confiabilidade das estatísticas das instituições de segurança e justiça como fonte legítima para a medição da criminalidade. Em nota etnometodológica, os autores apontaram, de forma inovadora, que aquelas instituições apresentavam problemas diversos na captação dos eventos criminais. Assim, questionaram a capaci-dade das estatísticas oficiais sobre crimes, baseadas em registros administrativos, de “retratarem” a realidade. E deduziram que as mesmas diziam pouco sobre o fenômeno da criminalidade.
Essa discussão teve reflexos no campo da Sociologia da Ciência, com críticas a uma abordagem epistemológica ortodoxa, demasiadamente positivista sobre os nú-meros, denominada por alguns como uma “teoria fotográfica sobre a realidade”. Esta seria uma perspectiva que “confunde a descrição de um objeto (e as inúmeras formas como isto é feito), com o objeto que está sendo descrito”. As estatísticas, portanto, não devem ser compreendidas como uma cópia (xerox ou retrato) da realidade, mas sim como sínteses construídas a partir da observação da realidade (BEATO, 2001:117).
Para Philippe Robert (2007), as chances de registro de um evento criminal de-pendem da propensão das vítimas (ou das testemunhas) em informá-lo aos serviços oficiais, da prioridade com que esses tentam desvendá-los e da facilidade ou dificul-dade dessa iniciativa (em função da maior ou menor visibilidade do autor e/ou de seu ato). Consequentemente, as estatísticas criminais, antes seriam “um retrato do processo social de notificação de crimes do que um retrato fiel do universo de crimes realmente cometidos num determinado local” (KAHN, 2005:4), do qual se deduz que o aumento de registros policiais não necessariamente deve significar um crescimento da criminalidade e vice-versa.
Assim, a famosa crítica etnometodológica teve um grande impacto no universo acadêmico da criminologia e das políticas públicas de segurança. Muitos crimino-logistas nos anos 70 adotaram uma posição relativista extrema, segundo a qual os dados quantitativos não nos dizem nada sobre o crime e, consequentemente, deve-riam ser abandonados24. Entretanto, esta posição foi duramente rebatida por Maguire (2002), para quem as estatísticas criminais podem ser úteis, desde que se realize uma aproximação crítica com o pleno entendimento de como, por que e para que propósi-tos foram produzidas.
Em qualquer caso, apesar dos excessos relativistas, estava claro que era cada vez menos satisfatório limitar-se às estatísticas oficiais para a medição da delinquência. Outros criminologistas, reconhecendo a pertinência da crítica da etnometodologia, partiram à procura de outras fontes e estratégias de informação para checar a validade e a cobertura dos números oficiais. Uma das soluções encontradas foi a confrontação das contagens policiais com os registros não penais dos mesmos eventos. No caso dos homicídios, que é o foco do presente livro, a outra fonte administrativa confiável e disponível é a estatística de causa de morte gerada pelos serviços sanitários, comum a todos os países do mundo (ROBERT, 2007).
24. No Brasil, Rolim (2006) sustenta uma posição semelhante, ao criticar as estatísticas baseadas nos registros policiais como um reflexo de uma polícia reativa, que só age após a ocorrência de delitos.
38
Fontes sanitárias de informação sobre homicídios
No Brasil, a fonte das estatísticas sanitárias sobre mortes por agressão (como são chamados os homicídios no setor saúde) é o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), que pode ser consultado através do Datasus, o banco de dados do Ministério da Saúde (MS) na internet. Este sistema foi criado em meados da década de 70 para dar conta das estatísticas de mortalidade, visando a oferecer um perfil epidemiológico das causas de morte (violentas ou não) da população em nível nacional. O instrumento de coleta do SIM é a Declaração de Óbito (DO), que é um documento padrão para todo o País (MELLO JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007).
O preenchimento da Causa Básica do Óbito, campo em que se definem as cir-cunstâncias que levaram à morte da vítima, baseia-se, desde 1996, na X Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) da Organi-zação Mundial da Saúde (OMS). A maior padronização na coleta e classificação das mortes pelo SIM faz com que este se torne um sistema mais confiável e atrativo para pesquisadores. Entretanto, as informações vinham sendo disponibilizadas na internet com dois anos de atraso, em média25. A demora na crítica dos dados é mais prolongada em função da necessidade de apurar e digitar todas as DO´s do país. Isso faz com que o sistema perca atratividade para os gestores da segurança, que precisam de informações em tempo real, o que tem incentivado o aprimoramento dos bancos de dados policiais.
Por exigência da lei, os Institutos de Medicina Legal (IML), subordinados às pastas estaduais de segurança, são os órgãos encarregados de atestar todas as mortes por causas externas (acidentes e violências) no País. Mas em muitas localidades do interior, não existe esse serviço. Nesse caso, a lei prevê que as DO´s de mortes violen-tas sejam registradas por duas pessoas qualificadas (geralmente médicos locais) que tenham presenciado ou constatado a morte.
O principal problema que afeta a qualidade da informação dos homicídios são os eventos cuja intenção é indeterminada. Consistem naqueles casos em que a autorida-de médica consegue auferir sinais de violência no cadáver, mas não consegue afirmar se a morte foi causada de forma intencional, seja por uma agressão heteroinfligida (homicídio), autoinfligida (suicídio) ou de forma não-intencional (acidente). Conside-ra-se que as mortes com intenção desconhecida são um problema universal, afetando inclusive os países mais desenvolvidos, pois nem sempre é possível pelo médico de-terminar as circunstâncias concretas que originaram o trauma ou lesão. No Brasil, contudo, outros fatores vêm contribuindo para que se registrem níveis bem acima do razoável 26.
25. São louváveis os esforços recentes do MS para agilizar a divulgação das informações no Datasus. As-sim, em 2011 começaram a estar disponíveis na internet dados preliminares de mortes violentas do ano anterior, embora com a ressalva que os números podem sofrer alterações até a sua consolidação.
26. Em matéria publicada na Folha de São Paulo, em 05/02/08, a professora Ana Maria Nogales Vas-concelos, demógrafa, estatística e coordenadora do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da UnB (Universidade de Brasília), estimou como tolerável um percentual de indeterminação de 5% do total de causas externas, embora o desejável é que esse número não ultrapasse 1%.
39
A literatura nacional aponta que tem sido predominante a tendência em pre-encher na DO o tipo de lesão (traumatismo perfuro-cortante, perfuro-contundente, etc.) no campo da Causa Básica do Óbito. Ou seja, onde deveria ser informada a cir-cunstância que levou à morte (homicídio, suicídio, acidente). Isso ocorre em função da falta de capacitação, do temor dos médicos legistas em se envolverem em processos judiciais e da ausência de informações esclarecedoras que deveriam estar contidas nos formulários de encaminhamento do cadáver ao IML (ofícios policiais, BO´s e/ou guias hospitalares) (MELLO JORGE, 1990; NJAINE et al., 1997; DRUMOND et al., 1999; BARROS et al, 2001; NJAINE; REIS, 2005).
Para contornar esses problemas, algumas secretarias municipais e estaduais de saúde vêm realizando esforços no sentido de promover treinamentos específicos para melhorar o preenchimento da DO. Ademais, considerando os problemas de esclare-cimento de certas mortes, tais secretarias vêm realizando busca ativa de informações complementares nos arquivos dos IML e na imprensa, visando a aditar as DO´s e diminuir a proporção de mortes com intenção ignorada (NJAINE; REIS, 2005). No entanto, Barros e colaboradores (2001) ressaltam que esta estratégia subsidiária não deveria perpetuar-se, haja vista que existe obrigação legal dos médicos legistas em informarem a circunstância do óbito, devendo ser assumido o correto preenchimento da DO.
No Brasil, a proporção de eventos indeterminados sobre o total de causas ex-ternas tem oscilado em torno de 9,1% nos últimos 15 anos27 – o que é quase o dobro do que seria recomendável – sem que se constate nenhuma tendência de melhora no País como um todo. Além disso, essa proporção é afetada por uma enorme variabili-dade espacial e temporal, podendo chegar ao triplo em determinados anos e estados, “o que enfraquece a comparabilidade direta das taxas de homicídios ao longo do tempo ou em diferentes lugares” (CANO; SANTOS, 2007: 31).
Assim, as mortes violentas por intenção desconhecida continuam sendo a gran-de dor de cabeça para os pesquisadores da área, pois “esse dado mal registrado impede que o País e os próprios órgãos de segurança municipais e estaduais tenham a exata dimensão da violência em suas cidades” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2008). No entanto, para con-tornar esse problema, diversos autores recomendam a adoção de estimativas de homi-cídios que incorporem parcelas variáveis daquelas mortes indeterminadas (SOUZA, 1994; CANO; SANTOS, 2007; PRVL, 2009; 2010).
Fontes policiais de informação sobre homicídios
O principal instrumento de coleta de dados criminais utilizado pelas agências policiais é o Boletim de Ocorrência (BO), sendo que cada Estado adota formulário pró-prio e organiza a coleta, a sistematização e a divulgação das informações da maneira
27. Média de 1996 a 2010. Informação coletada pelo autor no site do Datasus.
40
que achar mais apropriada28. O BO geralmente é lavrado no momento imediatamente posterior ao conhecimento de um crime por parte da autoridade policial – seja por comunicação de vítimas e testemunhas ou por deslocamento da autoridade policial ao local de crime, como costuma acontecer em ocorrências com vítimas fatais. Em caso da necessidade de correção ou complementação de informações do BO, geralmente é possível lavrar um aditivo, também chamado de BO complementar.
Os estados que investiram em sistemas de informação eficientes para gerencia-mento de BO´s dispõem de aplicativos informáticos que evitam a contagem duplicada dos BO´s complementares, oportunizando a correção eficiente da informação estatís-tica. Esse é um detalhe especialmente importante com relação aos homicídios, pois alguns casos somente se consumam em momento posterior ao da ocorrência da ten-tativa de crime, quando a vítima não resiste aos ferimentos e vem a óbito em unidade hospitalar. Nesses casos, se foi lavrado um BO de tentativa de homicídio, é oportuno fazer posteriormente um aditivo sinalizando a consumação do crime. É fato que nem todos os estados dispõem de dispositivos tecnológicos e organizacionais suficiente-mente adequados para garantir o controle das mortes violentas que se consumam em ambiente hospitalar. Essa circunstância contribui para explicar, em parte, por que em algumas unidades federativas as estatísticas sanitárias de assassinatos são superiores às policiais.
Como já adiantado no início do capítulo, as estatísticas policiais baseiam-se em critérios jurídicos e policiais. Assim, um crime violento pode ser classificado como intencional (doloso) ou não (culposo). E a sua tipificação, enquadrar-se em homicídio propriamente dito (quando há a intenção de matar), latrocínio (intenção de matar e roubar simultaneamente) ou lesão corporal seguida de morte (intenção de agredir e morte involuntária da vítima)29. Ademais, alguns estados classificam em categorias di-ferentes às do homicídio as mortes decorrentes de confronto policial (definidas como resistência seguida de morte ou auto de resistência), apesar de vários autores e orga-nismos internacionais ressaltarem que a legitimidade desses incidentes não altera a definição legal de homicídio doloso (BARROS, 2007; CANO; SANTOS, 2007; ONU 2008; PRVL, 2009; 2010).
Até recentemente, outro problema adicional dos dados policiais era a sua dispersão entre as secretarias de segurança e/ou defesa social dos estados membros da Federação e Distrito Federal. Porém, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) começou a centralizar tais informações criminais. Para tanto, valeu-se do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC), criado em 2003 e alimentado a partir de dados agregados sobre tipos de crimes enviados pelas secretarias estaduais (DURANTE, 2009).
28. A maioria dos estados baseia suas estatísticas nos registros da PC, entendendo que a autoridade policial é órgão competente para a capitulação dos crimes que chegam a seu conhecimento. Uns poucos, como MG e MT desenvolveram o chamado BO único, integrando eficientemente a estatística de BO´s da PC e da PM, que têm maior capilaridade social.
29. Outras tipificações menos recorrentes estão previstas no Código Penal, como infanticídio, estupro seguido de morte, sequestro seguido de morte, etc.
41
Em 2005, a Senasp iniciou a divulgação das informações coletadas pelo SINESPJC. A estratégia adotada foi a de agrupar os dados de diversos crimes de conceito semelhante sob um mesmo indicador agregado, a exemplo do CVLI, que englobou os principais crimes violentos letais intencionais. Esta iniciativa teve a virtude de tentar aproximar o máximo possível o indicador criado do fenômeno que se pretendia representar. A expectativa era obter níveis de criminalidade letal equivalentes aos homicídios registrados pelo SIM sob critérios epidemiológicos. Pois, em tese, os casos de crimes intencionais ao chegarem ao conhecimento do médico deveriam ser classificados como “mortes por agressão”.
É importante lembrar que em 27 de setembro de 2006, pouco antes das elei-ções presidenciais e para os governos estaduais, a Senasp divulgou, sem prévio aviso aos estados, relatório sobre ocorrências criminais dos anos 2004 e 2005. Isso gerou enorme mal-estar em alguns estados, que tiveram dificuldades para desmentir na im-prensa informações equivocadas contidas no documento. A ação foi reputada como manobra política da União para prejudicá-los, o que rendeu duras críticas à Senasp 30.
Provavelmente em reação ao clima gerado a partir de 2007, a Senasp “terceiri-zou” a divulgação das informações criminais do SINESPJC ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP31). Supõe-se que tal estratégia buscou dar maior legitimida-de aos atores institucionais envolvidos na divulgação dos dados. Assim, desde aquele ano, o FBSP vem lançando anuários estatísticos nos quais são compiladas as cifras de homicídios e de outros crimes informados no SINESPJC.
No entanto, o CVLI ainda demorou a se consolidar como indicador para efeito comparativo nacional, tendo sofrido resistência por parte de organismos e instituições diversas, tanto nas esferas federal como estadual. Nos quatro primeiros anuários (de 2007 a 2010), por exemplo, o Fórum usou a rubrica “crimes letais intencionais”
30. Desta feita, após o período eleitoral, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) realizou o workshop “Metodologia das Estatísticas Policiais no Brasil”, que aconteceu no Rio de Janeiro, entre 27 e 28 de agosto de 2007. Pretensamente, o workshop visava a reunir subsídios ao melhoramento do SINSEPJC. O fato de a Senasp não ter elaborado mecanismos de verificação dos dados antes da sua divulgação aca-bou fazendo com que alguns estados arcassem com um “preço político” por informações equivocadas. Rio de Janeiro e Paraná reclamaram ter sofrido grandes prejuízos por conta da Senasp, denunciando casos concretos referentes à divulgação de informações erradas. Justamente uma das propostas de con-senso no workshop foi que a Senasp submetesse as informações que pretendia divulgar a avaliação prévia dos estados.Apesar de o workshop ter servido de mote para atualizar uma série de demandas referentes ao aprimora-mento técnico do SINESPJC e à ampliação da assistência da Senasp aos estados, o epicentro da discussão foi a divulgação dos dados do ano anterior. Assim, o evento foi palco de críticas à controversa iniciativa da Senasp. Foram registrados, inclusive, posicionamentos agressivos por parte de alguns dos partici-pantes que condenaram a manutenção do mosaico nacional de estatísticas criminais do SINESPJC – como se encontrava naquele momento – sob a argumentação que as informações entre os estados não eram comparáveis por apresentarem graus de cobertura díspares, bem como outras heterogeneidades no modo em que as informações são coletadas, processadas e divulgadas.
31. O FBSP trata-se de organização não-governamental formada por personalidades e especialistas pre-ocupados com as políticas públicas de segurança no Brasil, e que visa a fomentar o debate da conjuntura nacional de segurança, promovendo para tanto a transparência das informações.
42
meramente como critério de apresentação separada desses crimes, aparecendo, de forma justaposta, na mesma página, as ocorrências de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Já no quinto Anuário do Fórum, de 2011, desta vez co-editado com a Senasp, finalmente foi resgatado o indicador CVLI. Além das informações desagregadas dos principais crimes letais por tipo penal, apresentou-se, à parte, a soma das mesmas, de modo a poder ser feita a aferição de uma síntese dos dados32.
Contudo, as séries históricas de CVLI do SINESPJC, que podem ser recons-truídas a partir dos dados divulgados pelo Fórum, apresentam sérias complicações. Em primeiro lugar, as estatísticas informadas por alguns estados no SINESPJC não conferem com as divulgadas por eles próprios nos seus sites na internet. O próprio Fórum reconheceu, por exemplo, que “no caso de Minas Gerais, os dados que têm sido publicados em edições anteriores do Anuário e informados ao MJ correspondem a uma média de 74% daqueles oficialmente publicados pelo governo mineiro” (FBSP, 2011: 9).
Outro ponto fraco dos números do SINESPJC é que as estatísticas divulgadas pela Senasp, e depois pelo FBSP, seguiram, desde o início, o critério de contabilização de ocorrências de homicídios, e não de vítimas, reproduzindo o problema gerado por determinados estados, inclusive alguns dentre os considerados mais avançados, como é o caso de São Paulo. Essa é uma questão claramente de escolha, pois os modernos sistemas de informação permitem incorporar diferentes unidades de contagem no seu cardápio de possibilidades.
A Senasp também não definiu se as mortes decorrentes de confrontos com a polícia (a saber, homicídios típicos, geralmente amparados sob a excludente de ilicitude de “estrito cumprimento do dever legal”) deviam ser classificadas como homicídios ou à parte. O Fórum deu um passo tímido sobre essa questão. Por exem-plo, no terceiro Anuário, de 2009, indicou-se na apresentação dos “crimes letais intencionais” que os dados de homicídio doloso de pelo menos sete estados (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Amazonas, Pará, Paraíba e Roraima) in-cluíam em suas cifras os casos de auto de resistência e policiais mortos em serviço. Mas nos anos seguintes, o Fórum deixou de especificar essa questão33. Desta feita, a situação provável é que alguns continuem adotando esse critério, enquanto outros não. E daí, o cenário das 27 Unidades Federativas aparece fragmentado, não haven-do um critério nacional único.
Apesar de tantos problemas, o próprio FBSP vem empreendendo esforços, junto à Senasp, para incentivar a melhora da qualidade das informações divulgadas. O pri-meiro deles, óbvio, é a própria divulgação das informações, pois a transparência, em
32. Cabe salientar que na ordenação dos dados do quinto Anuário do FBSP, a apresentação – primeiro dos tipos penais específicos (homicídio, latrocínio, etc.) e só depois da soma, resultando no CVLI total, fez com que a mídia prestasse atenção somente no dado sobre “homicídio doloso” sem reparar no indi-cador CVLI. Desta feita, faz-se necessário que o indicador CVLI tenha destaque editorial nos próximos anuários.
33. Nos Anuários seguintes, o quarto e o quinto, o Fórum tratou a questão do confronto policial de forma detalhada, com estatísticas próprias sobre o assunto, mas deixou de fazer citações na estatística de homicídio doloso. Note-se que uma coisa não exclui a outra.
43
tese, deve conduzir as instituições num contexto democrático a melhorarem os seus registros, reproduzindo-se um elogiável círculo virtuoso.
Outra iniciativa do Fórum para incentivar a melhora das estatísticas criminais das UFs é a divulgação segmentada das estatísticas estaduais em grupos de qualidade da informação. No primeiro Anuário do Fórum, de 2007, foi publicado um estudo que tinha segmentado as UFs em grupos, de acordo com seus níveis de violência e qua-lidade das informações. Nele (2007: 91) apareceram discriminados até cinco grupos, combinando níveis elevados, intermediários e baixos de violência com o critério de registro de óbitos (acima ou abaixo da média).
Tomando por base este estudo, o Fórum deu um passo adiante e no seu segundo Anuário (FBSP, 2008) apresentou as estatísticas criminais do conjunto de UFs seg-mentadas em dois grandes grupos: aquelas com estatísticas com maior grau de con-fiabilidade e as demais. Essa estratégia pretendia expressamente superar a crítica da incomparabilidade dos dados, promovendo a transparência e estimulando, ao mesmo tempo, a cobrança da opinião pública por estatísticas de maior qualidade. O terceiro e o quarto anuário (FBSP 2009; 2010) repetiram esta estratégia bem sucedida.
No quinto Anuário (FBSP, 2011) a ONG atualizou o estudo original, que já tinha ficado um tanto defasado, com o intuito de incorporar as alterações nos níveis de qualidade e confiabilidade dos dados. Para segmentar o conjunto de UFs, o novo estudo valeu-se da técnica de análise de grupamento hierárquico a partir da análise da média padronizada de quatro indicadores sintéticos: três referentes à qualidade das informações e mais um relativo ao nível de violência.
Tecnicamente, o estudo pode considerar-se irrepreensível, pela sofisticação ana-lítica assim com a escolha e incorporação dos indicadores ponderados dos anos 2008-2009, resultando na divisão do Brasil em três grupos: estados com números elevados de violência e alta qualidade, estados com números não tão elevados mas com alta qualidade e estados com números menos elevados e baixa qualidade.
Contudo, desde as primeiras páginas do quinto Anuário é possível perceber como houve uso inadequado do resultado do estudo, aplicando-o indiscriminadamente à divisão dos três grupos de UFs na apresentação dos dados referentes a 2010 e 2011. A conseqüência prática disso foi uma interpretação equivocada por parte da imprensa de que haveria estados cujas estatísticas criminais apresentariam níveis de qualidade bons, médios e ruins. Mas na realidade não foi isso o que o estudo havia afirmado.
Neste caso, os prejudicados foram Pernambuco e Alagoas, que apareceram clas-sificados como pertencentes a uma suposta segunda divisão da qualidade da informa-ção criminal, quando em verdade o próprio Fórum reconheceu que: “todavia, em ambos os casos, a classificação no grupo intermediário foi motivada pelos elevados índices de mortes violentas constatados em 2008 e 2009, que foram os considerados para o cálculo dos grupos” (2011:9).
Não há nada melhor que uma competição salutar para incentivar os estados a melhorarem tecnicamente as suas estatísticas e preencherem devidamente o SINESPJC. Contudo, diante dos fatos expostos, parece óbvio que o Fórum, agora
44
em conjunto com a Senasp, deveria voltar a adotar o critério inequívoco de qualidade das informações das edições anteriores (segundo a quarto anuário), que separaram as UFs em apenas dois grupos, deixando de lado o critério híbrido da última edição, que separou as UFs em três grupos, de difícil entendimento por parte da opinião pública.
Metodologia
Nesse estudo procede-se à comparação das estatísticas oficiais de homicídios dos órgãos de segurança de diversos estados e do Brasil, com estimativa de homicí-dios baseada em dados da Saúde e que incorpora, além das mortes por agressão, pro-porções diversas de mortes violentas produzidas com intenção desconhecida.
Cano e Santos (2007) explicam que para garantir a comparabilidade dos dados sanitários de homicídios, alguns especialistas sugerem técnicas de estimativa dos ca-sos com intenção indeterminada que podem ser atribuídos a assassinatos. Desta feita, tais registros deveriam ser agregados ao montante de homicídios declarados, de modo a se obter um quadro mais próximo da realidade34. Baseando-se em proposta de Lo-zano (1996; apud 2007), os autores apresentaram receita própria, que posteriormente foi adaptada e ajustada pelo PRVL (2009; 2010) em estudos sobre os homicídios na adolescência no Brasil35. Nesses últimos levantamentos a estimativa do número de homicídios agruparia diversas categorias, ponderada pelos parâmetros proporcionais contemplados na tabela 1. Esta é a formula que será adotada no presente estudo, pois além de ser a mais atual, dentre as diversas que já foram ensaiadas, desponta como a mais simples, sensata e compreensível para um maior número de pessoas 36.
Na tabela 1, o coeficiente R% corresponde à proporção de homicídios exis-tente no conjunto de casos com intenção conhecida naquele Estado e naquele ano. O pressuposto é que as mortes indeterminadas produzidas por arma foram devidas em sua totalidade a homicídios ou a suicídios, respeitando-se a proporção que se tem conhecimento com que acontecem esses eventos. Estudos anteriores levantaram que o homicídio representa na América Latina, em média, 95% das mortes intencionais conhecidas. Mas esse número pode variar no tempo e decrescer para 85% em alguns estados do Brasil, pelo que se torna aconselhável utilizar o Coeficiente R%. Já o parâ-metro de 10% foi adotado pelo PRVL com base nos resultados obtidos através de uma
34. No Brasil, foi pioneira a análise de Souza (1994), que diante das graves distorções que as mortes indeterminadas produziam na estatística de mortes por agressão no Rio de Janeiro, nas suas análises, procedeu a considerar como homicídios todos os casos indeterminados produzidos por arma de fogo.
35. Cumpre salientar que o Laboratório de Análise da Violência (LAV/UERJ), coordenado por Ignacio Cano, atuou como parceiro dos citados estudos do PRVL.
36. A proposta de Lozano (1997 apud 2007) considerava como homicídios até 50% dos casos indeter-minados provocados por outros meios (que não armas), o que parece temerário. A proposta de Cano e Santos (2007), apenas 10%. Esta última incluía também 95% das mortes acidentais por arma de fogo ou por arma branca. Já segundo o estudo do PRVL (2009), outra pesquisa de Cano (2002; apud 2009) acabou trazendo evidências de que as mortes acidentais provocadas por armas não deveriam ser consi-deradas na fórmula estimada de homicídios.
45
correlação canônica de cruzamento de diversos dados da polícia e da saúde (CANO; SANTOS: 2007). De acordo com os estudos do PRVL (2009; 2010), as intervenções legais, que é categoria prevista na CID-10, equivalente às resistências seguidas de morte na classificação da segurança, devem ser “naturalmente” contempladas como homicídios.
Tabela 1: Fórmula utilizada pelo PRVL (2009; 2010) para estimar homicídios.Proporção Categorias da CID-10100% Mortes por agressão100% Intervenções legaisR%1 Eventos de intencionalidade desconhecida por arma de fogoR%1 Eventos de intencionalidade desconhecida por arma branca10% Eventos de intencionalidade desconhecida por outros meios
1R%=[homicídios /(homicídios+suicídios)]X100
Da comparação entre o número de mortes informadas pela estatística oficial de segurança e o número de mortes estimadas, com base na fórmula do PRVL (2009; 2010), que utiliza dados da saúde, obteve-se os indicadores da subcontabilização de casos. Que são apresentados no quadro 1.
Quadro 1: Indicadores de subcontabilização de homicídios
InformadasMortesNEstimadasMortesNlizaçãosubcontabiVolume _º_º_ −=
100*_º
__º_
°−=EstimadasMortesN
InformadasMortesNEstimadasMortesNlizaçãosubcontabiTaxa
Elaboração própria.
O sentido do termo subcontabilização aqui empregado difere do conceito de sub-notificação. Pois, muitas das mortes que não são incluídas na estatística oficial de ho-micídios, de fato, foram notificadas ao setor segurança e este as registra, mas não como homicídios dolosos, strito sensu, senão de acordo com outras categorias. Assim, as sis-temáticas de divulgação de informações de alguns estados, como São Paulo e Minas Gerais, não contemplam essas mortes no índice principal da violência, mas em índices à parte. É nesse sentido que consideraremos tais mortes como subcontabilizadas em relação à estatística oficial divulgada, e não em relação ao seu registro no sistema.
No caso do Rio de Janeiro, foi possível reconstituir a série histórica do indicador “Letalidade Violenta”, desde 2003, ano a partir do qual começaram a ser divulgados no Diário Oficial daquele Estado (e no site do ISP na internet) dados de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e auto de resistência. Ressalta-se, contudo, que a Secretaria de Segurança daquele estado só vem trabalhando com o
46
indicador agregado desde 2011, momento em que deixou de dar-se apenas destaque ao homicídio doloso, como indicador principal, separado do latrocínio e demais cate-gorias.
A seleção dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco atende a um critério de relevância, pois se destacam nacionalmente pelas suas respec-tivas políticas públicas de segurança, como também pela própria produção e divulga-ção de estatísticas. Assim, deve-se considerar que a escolha desses estados atendeu também ao fato de os mesmos disponibilizarem dados nos seus sites de estatísticas de homicídios, o que infelizmente ainda não é comum em muitas outras unidades fede-rativas.
Cabe salientar que para realizar uma análise técnica da confiabilidade das estatísticas de criminalidade violenta desses estados, resulta oportuno desconsiderar a fonte do FBSP. Pois os dados divulgados respectivamente por cada secretaria estadual de segurança parecem mais consistentes. Ademais, como o setor saúde não conta ocorrências, mas vítimas (uma DO para cada vítima) é mais adequado comparar as mortes estimadas, na medida do possível, com vítimas de crimes e não ocorrências37.
Assim, foram coletadas informações oficiais sobre homicídios para os anos disponíveis, nos sites oficiais (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo – SSP/SP: 1996-2010; Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro – ISP/RJ: 2003-2010; Fundação João Pinheiro de Minas Gerais – FJP/MG: 2003-2010; Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe Fidem/PE e Gace-SDS/PE38: 2003-2010). Para o Brasil como um todo, foram considerados os dados do SINESPJC, divulgados pela Senasp (2006) e o FBSP em seus diversos anuários, contemplando o período de 2004 a 2010. Já as informações de mortes por agressão, dos diversos eventos cuja intenção é indeterminada e das intervenções legais, foram coletadas no site na internet do Datasus/MS, pelo critério do local da residência da vítima (dados consolidados para o período 1996-2009; e dados preliminares para 2010, com base na situação da base nacional em 24/11/2011).
Visando à comparação espacial e temporal das estimativas de homicídios ao longo do tempo e entre os estados, foram calculadas as taxas por 100 mil habitantes. Este é um valioso instrumento de análise, que permite a adequada comparação da frequência de ocorrência dos eventos criminais, ao ponderá-la pela população presente naquele espaço/tempo. No caso, o emprego de taxas populacionais permite contornar o problema de interpretação que surge em decorrência do aumento da população.
37. Saliente-se que, desde 2005, a SSP/SP passou a divulgar além dos números de ocorrências de homicí-dio doloso e latrocínio, também os respectivos números trimestrais de vítimas. Ou seja, no caso de São Paulo teria sido perfeitamente possível coletar o número de vítimas, e não de ocorrências. Entretanto, os cálculos oficiais de taxas de homicídio da SSP/SP continuam sendo operados com base em ocorrências, como provam análises estatísticas publicadas no próprio site. Esses foram os números que utilizei porque é justamente problematizar a confiabilidade dos números oficiais que é o alvo do presente capítulo.
38. No site da Condepe Fidem estão disponíveis as informações de CVLI de 2006 em diante. Assim as informações de CVLI de 2003 a 2005 (quando começou a série histórica) foram coletadas na própria Gace-SDS/PE.
47
O controle estatístico deste fenômeno demográfico mediante o cálculo das taxas correspondentes garante que a interpretação dos dados não venha a sofrer distorções.
As taxas também, numa perspectiva epidemiológica, expressam a probabilidade (o risco) de um indivíduo pertencente a determinada população sofrer agravo em de-terminado período de tempo. Permitem aferir, portanto, o impacto de um fenômeno em uma população que está exposta a sofrê-lo, a partir da contagem das suas unida-des afetadas. Por isso, para o emprego de taxas como medidores do risco de sofrer violência na população, resulta mais acertado a utilização da unidade de contagem de vítimas e não de ocorrências.
Para o cálculo das taxas foram geradas estimativas populacionais dos estados. Aplicou-se o método de interpolação a partir da taxa anual de crescimento geomé-trico, tomando como referência as contagens populacionais dos censos do IBGE de 2000 e 2010.
Resultados
Procede-se agora à elaboração das estimativas de violência letal para cada Es-tado e ano, e ao cálculo dos indicadores de subcontabilização (volume bruto e taxa). Aplicando a fórmula do PRVL (2009; 2010), obtêm-se os resultados que poderão ser avaliados detalhadamente nas tabelas 2 a 7, no final do capítulo.
Imagem 7: Série histórica oficial de homicídios e estimativa – São Paulo, 1996 a 2010
Fontes: SSP/SP e SIM/MS (estimativa método PRVL, 2009; 2010). Elaboração própria.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
48
São Paulo (ver imagem 7) apresentou níveis crescentes de subcontabilização de homicídios, dentre os dados oficialmente divulgados pela SSP. No período 1996-2010, estima-se, a taxa de subcontabilização foi de 25,9%, o que repre-sentaria uma média de 2.922 mortes a mais por ano. Contudo, a série histórica estudada enfrentou dois grandes ciclos: uma tendência de crescimento nos pri-meiros cinco anos (até 1999, segundo a SSP, e até 2000, de acordo com a estima-tiva), atingindo-se o impressionante pico de 16.682 mortes estimadas, seguido de outra não menos significativa queda dos números, registrando 6.672 mortes estimadas em 200839. Já em 2009 quebrou-se a tendência de queda e o número de mortes aumentou sensivelmente, naquele ano (6.918 casos). Mas em 2010 retomou-se a redução com o número mais baixo da série histórica estimada: 6.455 casos (ver tabela 2).
Esta estimativa confirma que, para o período mais recente (2007-2010), no qual São Paulo conseguiu ficar abaixo das 7.000 mortes estimadas/ano, desace-lerou-se drasticamente o ritmo da tendência de queda da série histórica, embora os números continuem diminuindo.
Destaca-se, ainda, que foi nos anos de maior patamar de violência quando se registrou o maior volume de mortes não contabilizadas como homicídios. No ano 2001, por exemplo, foram 4.214 casos. Já nos últimos quatro anos, quan-do se atingiu o menor patamar de violência, as mortes não contabilizadas vêm oscilando em torno dos 2.100 casos. Paradoxalmente, deve-se alertar que é nes-se estágio mais recente, que vêm sendo registrados os piores níveis relativos de não contabilização.
Assim, se a taxa de subcontabilização era de 18,9% no início da série, ela chega a 34,0% em 2009. Para explicar essa tendência crescente, partiu-se para a análise agrupada do peso das outras categorias de mortes violentas intencionais (que não homicídios dolosos) naquele Estado, que são latrocínios, pessoas mor-tas em confronto com a polícia civil/militar em serviço, pessoas mortas por po-liciais civis/militares de folga e policiais civis/militares mortos em serviço. Na série histórica, observa-se que, de 1996 a 2000, o peso agrupado de todas essas outras naturezas representava em média 8% do total de mortes violentas inten-cionais e, nos cinco anos seguintes, 10%. Depois, observa-se uma quebra desse equilíbrio, em 2006, momento a partir do qual essas outras categorias passam a responder, em média, por mais de 15% dos óbitos intencionais, com um pico de 17% em 2009 (ver imagem 8).
Quando se confrontam esses dados com o percentual de subcontabiliza-ção da estatística oficial de homicídios, obtêm-se coeficientes elevados de cor-relação e determinação (r=0,9205; r2=0,8475; p<0,01). Assim, é possível prever que 85% da variabilidade do grau de subcontabilização explicam-se por aquele aumento progressivo do peso das outras naturezas intencionais. Isso significa que pode atribuir-se 85% da subcontabilização das estatísticas oficiais ao fato
39. Assim, entre 2000 e 2008, estima-se, foram registradas 10.010 mortes violentas a menos, o que dá uma média de 1.251 assassinatos estimados a menos por ano entre 2000 e 2008 em São Paulo.
49
da SSP/SP não considerar os latrocínios e mortes em confronto policial como homicídios. O restante do problema provavelmente pode ser atribuído ao fato da SSP não computar vítimas, mas ocorrências.
Imagem 8: Evolução da taxa de subcontabilização de homicídios (oficiais) e o peso das outras mortes intencionais –São Paulo, 1996 a 2010
Fontes: SSP/SP e SIM/MS (estimativa método PRVL, 2009; 2010). Elaboração própria.
No tocante ao Estado do Rio de Janeiro (imagem 9), observa-se um cenário de transição na qualidade da informação dos sistemas de saúde e segurança. Em 2003 e 2004 foi maior o número de homicídios estimados com base nos dados da saúde que os informados pelo indicador “Letalidade Violenta”, reconstituído com base nos dados do ISP. Isso supõe em torno de 500 casos a mais, gerando-se uma taxa média (bianual) de subcontabilização de 6,1%. Nos dois anos seguintes, assiste-se à equiparação de números entre essas duas fontes: 120 casos a mais pelo ISP em 2005 (-2,1%); 40 a mais da estimativa em 2006 (0,5%). Ora, para o período 2007-2010, assiste-se a um cenário inusitado em que os dados do ISP/RJ supe-ram, em média, 11,2% a estimativa dos dados da saúde, chegando-se a alcançar 14,9%, em 2009 (ver tabela 3).
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
50
Imagem 9: Série histórica oficial de homicídios e estimativa – Rio de Janeiro, 1996 a 2010
Fontes: ISP/RJ e SIM/MS (estimativa método PRVL, 2009; 2010). Elaboração própria.
Esta situação reflete, de fato, um problema crescente nas estatísticas sanitárias do Rio de Janeiro, o qual já foi apontado por Cerqueira (2011) e referendado pelo FBSP (2011). O percentual de eventos com intenção indeterminada sobre o conjunto das mortes por causas externas oscilou, no Rio de Janeiro, em média, em torno de 13%, entre 1996 e 2006, o que não é um registro muito bom. Lembre-se que a média nacional é de 9,1%. A partir daquele momento começaram a piorar ainda mais: 21% em 2007; 23% em 2008; 25% em 2009 e 26% em 2010.
Ao cruzarmos esses dados com a taxa de subcontabilização aqui empregada, obtêm-se coeficientes elevados de correlação negativa e determinação (r=-0,9386; r2=0,881; p<0,01). Por esse raciocínio, pode-se argumentar que 88% da variação da taxa de subcontabilização esteve comprometida pelo peso crescente das mortes indeterminadas no total das causas externas, embora estas não sejam variáveis completamente independentes (ver imagem 10).
Conjectura-se que vem acontecendo um problema técnico grave nos serviços de saúde incumbidos do processamento das DO´s, que requer a atenção das autori-dades sanitárias e legistas daquele Estado. Deve ressalvar-se que a situação do Rio é excepcional, concorrendo para o problema o elevado grau de desaparecimento de pessoas. Muitos desses casos terminam em assassinato e, quando o cadáver é encon-trado (se é encontrado), costuma estar em avançado estado de decomposição. Isso dificulta a averiguação necroscópica da origem da lesão (causa mortis) e da causa jurídica, assim como o preenchimento do campo “causa básica do óbito” nas DOs.
51
Imagem 10: Evolução da taxa de subcontabilização de homicídios (oficiais) e o peso das mortes ignoradas no total de causas externas – Rio de Janeiro, 2003 a 2010
Elaboração própria.
No presente estudo, as taxas negativas de subcontabilização, no período de 2007 a 2010, sinalizam uma forte discrepância entre os dados do ISP e a estimativa com base na fórmula do PRVL, que não conseguiu absorver devidamente os casos com causa do óbito ignorada e estimá-los como homicídios. Para tanto, recomenda-se para o período utilizar os dados do ISP.
Na imagem 11, apresenta-se a análise dos resultados para Minas Gerais. Cabe informar que só foi possível encontrar no site da FJP informações posteriores ao ano de 2003, embora trabalhos como o de Castro, Assunção e Durante (2003) demons-trem que já existiam estatísticas da PM do Estado bem anteriores à daquele ano.
52
Imagem 11: Série histórica oficial de homicídios e estimativa – Minas Gerais, 1996 a 2010
Fontes: FJP/MG e SIM/MS (estimativa método PRVL, 2009; 2010). Elaboração própria.
No geral, a série histórica da estimativa baseada em dados da Saúde revela um período de aumento epidêmico da violência letal, entre 1996 e 2004, em que o número de mortes cresceu quase que ininterruptamente, a um ritmo de 355 mor-tes por ano. Posteriormente, assiste-se a um quadriênio (2004 a 2007) de estag-nação da violência, em que o quantitativo de mortes estabiliza-se no patamar das 4.300 casos anuais. Finalmente, entre 2007 e 2010, o número de mortes começa a diminuir, se bem num ritmo menos intenso do que tinha aumentado: 169 mortes a menos por ano.
Com relação à qualidade dos dados da Fundação João Pinheiro, aufere-se que a taxa média de subcontabilização, para o período em que existem dados, foi de 12,6%, com leve tendência de aumento, ao passar de 12,4%, em 2003, para 15,7% em 2010. Em números absolutos, o volume de subcontabilização tem oscilado em torno dos 520 casos anuais (ver tabela 4).
Por último, analisamos a série histórica de Pernambuco, único Estado do Nor-deste a ser estudado aqui (ver imagem 12). Em comparação com os três estados do Sudeste anteriormente analisados, chama a atenção a extrema proximidade entre os montantes de casos estimados e os informados pela SDS, desde que começou a nova sistemática de coleta de informações, em 2003. No caso pernambucano, a taxa de subcontabilização estimada tem sido, em média, de 0,007%, com oscilações máximas de dois pontos percentuais. Enquanto nos primeiros anos da comparação, a taxa foi positiva (em torno de 1%). Logo depois vêm alguns anos, como 2006, que sobressaem pelo fato da estatística oficial superar inclusive a estimativa em 95 casos de diferença.
53
Aqui, a taxa de subcontabilização fica negativa (-2,1%), acusando que poderia estar acontecendo supercontabilização. Isso acontece em 3 anos. Chama a atenção que, en-tre 2008 e 2010, já em pleno funcionamento do Pacto pela Vida (PPV), os valores têm ficado extremamente próximos entre as duas fontes: diferença de -14 casos em 2008 (-0,3%), 16 em 2009 (+0,4%) e 13 em 2010 (+0,4%) (ver tabela 5).
Considerando que, em estatística sempre se admite algum grau de erro, embora este nem seja sempre conhecido (MIRANDA, 2006), as diferenças encontradas aqui não podem senão ser consideradas desprezíveis diante das discrepâncias encontradas em outros estados. Assim, Pernambuco desponta como uma notável exceção, nacio-nalmente, na contagem de homicídios na área de segurança. Pois, como observado no primeiro capítulo, a sistemática de apuração não se limita aos BO´s da PC, visto que os dados são cotejados com os das necropsias realizadas pelo IML e com as informações repassadas pela PM, conseguindo capturar um número maior de casos, que de outro modo escapariam à cobertura da PC.
Imagem 12: Série histórica oficial de homicídios e estimativa – Pernambuco, 1996 a 2010
Fontes: Condepe Fidem, Gace-SDS/PE e SIM/MS (estimativa método PRVL 2009; 2010). Elaboração própria.
Seguidamente, analisamos os dados para o Brasil como um todo (imagem 13), divulgados pelo FBSP, com base nas informações da Senasp. Já foi apontada acima a dificuldade desses organismos em obter dados confiáveis do conjunto das 27 UFs. Observa-se uma brecha importante entre os dados estimados pelo estudo e os infor-mados ao SINESPJC. Entre 2004 e 2010 (dados disponíveis), a taxa média de sub-contabilização ficou na ordem de 17,3%, o que representa, aproximadamente, 9.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
54
mortes/ano que deixaram de ser contadas como vítimas da violência intencional no país (ver tabela 6).
Finalmente, apresentamos na imagem 14 e na tabela 7 as taxas das estima-tivas de homicídios (por 100 mil habitantes) dos quatro estados analisados conjunta-mente, bem como a do Brasil. Retrata-se, portanto, uma visão de conjunto em que são controladas, pelo emprego das taxas, as diferenças de população entre os estados, bem como o crescimento populacional ao longo do tempo. Ademais, empregando as esti-mativas, controlam-se os vieses nas formas de contar, classificar e divulgar as mortes violentas intencionais. Para contornar o problema apontado para o Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2010, foram aproveitadas as taxas da “Letalidade Violenta” do ISP.
Imagem 13: Série histórica oficial de homicídios e estimativa – Brasil, 1996 a 2010
Fontes: Senasp (2006), FBSP (2007; 2008; 2009; 2010; 2011) e SIM/MS (estimativa mé-todo PRVL 2009; 2010). Elaboração própria.
Começando por São Paulo, destaca-se como a diminuição da mortalidade vio-lenta naquele Estado tem se operado num patamar que a reduziu de 45,5 vítimas por cada grupo de 100 mil habitantes, em 1999, para 15,6 por 100 mil habitantes, em 2010. Ou seja, próximo da meta institucional que visa a ultrapassar o limite epidêmico de 10 vítimas/100 mil habitantes, estabelecido pela OMS (2003).
O caso de Pernambuco mostra como após um rápido crescimento na taxa nos três primeiros anos da série, o Estado oscilou durante mais de uma década entre as casas das 50 a 60 mortes por 100 mil habitantes. Revela-se também uma reversão consolidada desse quadro nos dois últimos anos da série, com reduções superiores a 12%, que é a meta estabelecida pelo PPV. Estes dados levam a crer que Pernambuco poderá alcançar a médio e longo prazo resultados tão promissores quanto os de São
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
55
Paulo. Note-se que 2010 foi o único ano em toda a série histórica em que Pernambuco ficou com uma taxa na casa das 40 vítimas por 100 mil habitantes (40,03).
Rio de Janeiro, por sua vez, protagoniza uma série histórica de redução de lon-go prazo e vai de um patamar que superava as 60 vítimas por 100 mil habitantes, em 1996 (62,9), até a casa das 36,4 vítimas/100mil, em 2010. O decréscimo prolongado somente foi interrompido bruscamente em 2002. Os últimos anos também têm sido os menores da série histórica, evidenciando a promissora evolução positiva da situa-ção naquele Estado, apesar dos problemas de informação denunciados por Cerqueira (2011).
Por último, Minas Gerais revela um quadro de aumento da taxa de homicí-dios na primeira metade da série, saltando de 9,4 vítimas por 100 mil habitantes, em 1996, (abaixo do parâmetro da OMS) para 23,7/100mil, em 2004. A partir daquele ano, constata-se a estagnação do crescimento naquele Estado e um progressivo declí-nio nos anos subsequentes, até ultrapassar, de volta, a casa dos 20/100 mil em 2010 (19,4). Em geral, pode-se avaliar que Minas Gerais não vem obtendo reduções tão aceleradas quanto as dos outros estados analisados. Apesar de situar-se num patamar menos comprometedor que Rio de Janeiro e Pernambuco, sua taxa de homicídios ain-da registra quase o dobro do limite “tolerável” definido pela OMS (2003).
Já no caso do Brasil, a sua taxa demonstra uma enorme estabilidade, em torno dos 28,5 homicídios por 100 mil habitantes. Influi para isso o fato de tratar-se de uma grande agregação demográfica (quase 191 milhões de habitantes, em 2010), portan-to, as variações nos números absolutos lhe afetam pouco estatisticamente. Mas pode estimar-se que, desde 2001, não morrem menos de 50 mil pessoas por ano no país, por conta da violência intencional. Assim, a estabilidade dos números nacionais deve-se a que em alguns estados, como os aqui analisados, está havendo redução da violência intencional, enquanto em outros o problema vem se agravando, o que a torna um de-safio ainda por resolver.
56
Imagem 14: Série histórica da taxa estimada de homicídios no Brasil e em quatro estados 1996 – 2010.
Fontes: SIM/MS (estimativa método PRVL, 2009; 2010). Elaboração própria.
57
Tab
ela
2: In
dica
dore
s de c
onfia
bilid
ade d
a es
tatís
tica
ofic
ial d
e hom
icíd
ios d
a Se
cret
aria
de S
egur
ança
Púb
lica
– Sã
o P
aulo
, 199
6-20
10
Tab
ela
3: I
ndic
ador
es d
e con
fiabi
lidad
e da
esta
tístic
a of
icia
l de h
omic
ídio
s do
Inst
ituto
de S
egur
ança
Púb
lica
– R
io d
e Ja
neir
o, 1
996-
2010
* M
édia
200
3-20
10
Tab
ela
4 : I
ndic
ador
es d
e con
fiabi
lidad
e da
esta
tístic
a of
icia
l de h
omic
ídio
s da
Fun
daçã
o Jo
ão P
inhe
iro
– M
inas
Ger
ais,
199
6-20
10
* M
édia
200
3-20
10
58
Tab
ela
5 : I
ndic
ador
es d
e con
fiabi
lidad
e da
esta
tístic
a of
icia
l de h
omic
ídio
s da
GA
CE
e C
onde
pe F
idem
– P
erna
mbu
co, 1
996-
2010
* M
édia
200
3-20
10
Tab
ela
6: In
dica
dore
s de c
onfia
bilid
ade d
a es
tatís
tica
ofic
ial d
e hom
icíd
ios d
a Se
cret
aria
Nac
iona
l de S
egur
ança
Púb
ica
– B
rasi
l 199
6-20
10
* M
édia
200
4-20
10
Tab
ela
7: T
axas
estim
adas
de m
orte
s vio
lent
as in
tenc
iona
is p
or 1
00 m
il ha
bita
ntes
– B
rasi
l e q
uatr
o es
tado
s, 19
96-2
010
59
Escolha política
As estatísticas de mortes violentas, no contexto brasileiro, têm se consolidado de forma inquestionável como o indicador de resultado mais importante para monito-rar e avaliar as políticas públicas de segurança. Pelo que se torna imperioso exigir do Estado a adoção das melhores práticas de aferição do fenômeno, de modo a informar à sociedade a real expressão do processo de violência. Os casos dos quatro estados analisados demonstram que não basta divulgar as informações de mortes letais de-sagregadas. Pois deveria prevalecer o entendimento de reagrupá-las posteriormente sob a égide de um indicador agregado.
Com relação à iniciativa desses estados de divulgar separadamente o homicídio doloso dos outros crimes intencionais com resultado morte, cabe considerar que não há nada de errado em classificar todos esses “homicídios” separadamente, o que serve até para conhecer a especificidade dos casos. Entretanto, com base nessas classifica-ções, termina-se adotando um critério estreito do principal indicador da violência, cuja divulgação deve oportunizar à sociedade monitorar o desempenho da política de segurança.
Assim, toma-se ao pé da letra a categoria de homicídio doloso, prevista no Códi-go Penal, e excluem-se da contagem oficial outras mortes intencionais, que de acordo com a previsão legal e seguindo o princípio jurídico da especialidade devem ser tipifi-cadas de modo diferenciado.
Dessa forma, resulta falacioso, por exemplo, não dar a mesma atenção ao latrocínio do que ao homicídio, sob o argumento de que o Código Penal, de 1942, mas ainda em vigor (BRASIL, 2010), não considerou aquele como crime contra a vida, mas como uma qualificadora do roubo, enquadrado este no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Em verdade, o Código considera a pena do latrocínio (de 20 a 30 anos) superior inclusive à do homicídio simples (de 6 a 20 anos).
Cabe considerar ainda que as rotinas que classificam assassinatos como homicí-dio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte dependem da capacidade de investi-gação policial. Esta, por sua vez, não está isenta de alto grau de discricionariedade por parte de quem tem que aferir se a motivação subjacente àquela morte foi a vontade de matar (homicídio doloso), roubar e matar (latrocínio) ou simplesmente agredir (lesão corporal seguida de morte). Desta forma, melhoras nas rotinas de investigação podem rebater em sutis alterações artificiosas nas estatísticas desses tipos penais, ao longo de uma série temporal. É obvio que, com o emprego do CVLI, este tipo de problema é contornado, pois o indicador agregado não é afetado por ele, ao somarem-se o total de casos dos três tipos penais.
Desdenhar o indicador CVLI e manter-se na contabilidade desagregada dos homicídios dolosos trata-se, no fundo, de uma escolha político-burocrática, mascarada de um viés técnico-jurídico, e fadada a minimizar a estatística da violência. A mesma coisa acontece com a decisão de alguns estados de contarem ocorrências e não a quan-tidade de vítimas. Não se trata de um problema técnico ou de limitação dos sistemas
60
de informação do setor segurança, mas de uma questão de escolha. E o que está por trás é a política de minimizar a estatística da violência, que joga para baixo do tapete o problema da segurança.
Esta interpretação não pode deixar de evocar as conclusões da tese de doutora-do de Renato Sérgio Lima, para quem a modernização na produção de estatísticas cri-minais no Brasil tem se caracterizado por uma aparente transparência na divulgação avolumada dos dados, que não se transforma em informação, conhecimento, mas que gera opacidade por excesso de exposição.
(...) diante da fragmentação discursiva do campo e das dificuldades na defini-ção do que se deve contar, do que se deve monitorar a partir da estatística como instrumento de objetivação da realidade, há, em tradução, intensas disputas sobre o sentido do controle social contemporâneo (LIMA, 2008: 68).
As secretarias de segurança devem ser mais criteriosas na hora de recorrer a parâmetros sanitários internacionais, quando os seus registros ficam bem abaixo das estatísticas sanitárias e das estimativas mais reais que podem ser construídas a partir delas. Assim mesmo, assumir prematuramente que “não existem números certos ou erra-dos sobre mortes violentas” (FBSP: 2010: 9), sem maiores críticas, é render-se ao relati-vismo e aceitar a situação atual no cenário nacional. Dentre a diversidade de critérios de contagem, existem uns mais acertados e outros menos. Portanto, seria pertinente que o FBSP valorizasse o CVLI como principal indicador agregado para monitorar a violência homicida no Brasil (não em segundo plano, como na edição do Anuário de 2011). Ainda restariam algumas questões pendentes, como a inclusão no cômputo global das mortes decorrentes de confronto e a decisão sobre a contagem de vítimas e não ocorrências.
A Secretaria de Segurança e o ISP do Rio de Janeiro deram um grande pas-so, recentemente, ao adotar o indicador “Letalidade Violenta”, equivalente do CVLI. Contudo, é de se esperar que o novo indicador passe a ser oficialmente divulgado nas publicações do ISP (boletins semestrais, anuais, etc.). Com relação às estatísticas sanitárias daquele Estado, tem sido flagrante a progressiva deterioração da qualida-de do preenchimento das DOs de mortes violentas. É preciso melhorar a gestão da informação, buscando alternativas integradoras em saúde e segurança que permitam contornar os obstáculos à qualidade dos dados a serem diagnosticados.
Até se transformar em estatística oficial (de saúde ou segurança pública), a in-formação sobre violência percorre várias instituições e depende de fatores diversos que a condicionam desde a origem (SOUZA, 2002)40. Em decorrência disso, sabe-se, as estatísticas não têm como ser exatas na sua totalidade nem coincidir 100% quando
40. A autora enumera: 1) A função social da instituição; 2) A formação e o treinamento dos técnicos e profissionais responsáveis pelo atendimento, pela realização de exames e pelo preenchimento de for-mulários; 3) A capacidade tecnológica dos serviços encarregados de atestar a causa violenta da morte (SOUZA, 2002).
61
coletadas dentre fontes diferentes. Os sociólogos da ciência alertam que não se deve confundir um objeto representado com a sua representação. E esse retrato sempre terá imprecisões, vieses, distorções. Mas tal argumento não vale como desculpa. A sociedade tem o direito de exigir que os governos, com base em critérios científicos, e não jurídicos, apresentem retrato fidedigno da violência letal que quer ser represen-tada.
Por último, chama-se a atenção à semelhança das palavras, em inglês, accountancy (contabilidade) e accountability (prestação de contas). A primeira se pauta pelas melho-res práticas de aferição e contagem. A segunda, tão cara ao processo democrático, depende da primeira e oportuniza o controle social externo das políticas públicas.
63
Hoje em dia, há ampla aceitação e consenso no mundo todo sobre a conveniência do uso das geotecnologias para o controle dos fenômenos da criminalidade e da violência (ROLIM, 2006). Um fator decisivo tem sido a reiterada constatação
empírica da chamada Zip Law, afirmação teórica segundo a qual poucas regiões concentram grande número de crimes devido a fatores ligados à ecologia urbana (BEATO; ASSUNÇÃO, 2008). As geotecnologias são consideradas instrumentos de gestão estratégica na área de segurança, pois a eloquência das suas técnicas permite incrementar significativamente a velocidade e a precisão nas tomadas de decisão gerenciais. Os primeiros sistemas de informação geográfica (SIG41) voltados para a segurança pública surgiram na década de 60 nos EUA. Entretanto, a sua implantação em terras brasileiras aconteceu em datas mais recentes e em determinados estados 42 (SILVA, 2008).
Em Pernambuco, com a implantação do Pacto pela Vida (PPV43), em maio de 2007, inaugurou-se uma nova filosofia de gestão por resultados no setor, destinada a atingir metas e a modernizar as polícias e suas formas de trabalho (PERNAMBUCO, 2007). O traço mais marcante do novo modelo de gestão instaurado progressivamen-te na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) vem sendo justamente o monitoramento contínuo e permanente dos registros de homicídios por Área Inte-grada de Segurança (AIS), aferindo o desempenho dos gestores operacionais a partir da meta de redução de homicídios.
Nesse contexto, a Gerência de Análise Criminal e Estatística (Gace/SDS) – onde diariamente são centralizadas as informações de Crimes Violentos Letais In-tencionais (CVLI)44 e produzidas as estatísticas oficiais – passou a desempenhar um papel crucial no funcionamento do novo modelo de gestão. Pois, é em torno das infor-mações produzidas pela Gace que gravita a conjuntura da política de segurança. Ou seja, situa-se “no coração do sistema”, coletando, analisando e produzindo relatórios gerenciais para todas as unidades operacionais pautarem o policiamento ostensivo e investigativo (ver imagem 15). Para tanto, possui um banco de dados extremamente confiável sobre os homicídios45 e técnicos da Gace conseguem realizar, desde o lança-mento do PPV, mapeamentos dos homicídios por bairro, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
41. Silva (2008: 418) define um SIG como “um sistema utilizado para armazenar, analisar e manipular dados que representam objetos e fenômenos em que a localização geográfica passa a ser uma caracterís-tica inerente à informação”.
42. Silva (2008) cita que as primeiras organizações estaduais de segurança pública que utilizaram SIG no Brasil foram as PM´s de Minas Gerais e São Paulo, que começaram a aplicá-lo em 1999 para o emprego operacional do efetivo policial militar. Rolim (2006) também destaca o emprego de georreferenciamento no Rio de Janeiro.
43. Para mais detalhes sobre o PPV, ver capítulo 1 deste livro.
44. CVLI é um indicador agregado proposto pela Senasp para monitorar o processo da violência letal no Brasil . É composto pelos crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio). Para mais detalhes, ver Capítulo 2.
45. Ver capítulo 1 deste livro.
64
Imagem 15: Gráfico de barras com a diferença de vítimas de CVLI por AIS. Pernambuco, 2009 a 2010
Fonte e Elaboração: Uniai/Gace/SDS.
No entanto, no delineamento inicial do modelo de gestão por resultados, ficou patente que havia uma limitação importante nas informações espaciais disponíveis sobre homicídios nos registros oficiais. Quando analisado o local exato da ocorrência dos crimes (no nome e número de logradouro), apareciam percentuais extremamente elevados de casos sem informação (em torno de 50%). Quer dizer, havia ainda uma precariedade estrutural importante nas informações a respeito de onde as pessoas estavam sendo assassinadas. E isto não condizia com o estado da arte do desenvolvi-mento das geotecnologias em segurança:
(...) com o avanço tecnológico verificado no desenvolvimento de ferramentas de georreferenciamento, como os softwares de mapeamento de crimes, está sendo possível analisar o movimento e os padrões de distribuição espacial da violên-cia de uma forma mais detalhada (...). Através destes procedimentos, tem-se observado que as concentrações de homicídios são mais localizadas do que se
65
podia supor. Antes, as análises estatísticas localizavam as regiões com maior incidência de homicídios com um nível de detalhamento que permitia identi-ficar apenas o distrito policial e/ou administrativo em que o crime ocorreu. Com o advento das ferramentas de georreferenciamento, observou-se que tais concentrações tendem a dinâmicas ainda mais localizadas e dizem respeito aos crimes cometidos numa única rua ou área específica (favelas, por exem-plo). (LIMA, 2002: 13).
Este capítulo objetiva apresentar as estratégias metodológicas bem-sucedidas empreendidas pela Gace/SDS-PE, com vista a contornar os problemas de qualidade da informação com relação ao local exato em que ocorrem os CVLI. Concretamente, discorre-se sobre o processo de implantação da sistemática de georreferenciamento das citadas ocorrências, e elaboração e divulgação de mapas apropriados para o moni-toramento da criminalidade violenta no Estado.
A criação da Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico (Unicame)
A sistemática de georreferenciamento dos CVLI em Pernambuco tinha sido idealizada no início de 2008, na redação do Plano de Ação da Câmara Setorial de Defesa Social, que se destinava a materializar as diretrizes do PPV direcionadas à repressão qualificada da criminalidade. Especificamente, na ação 14 do referido plano, propunha-se de forma inédita “implantar sistemática de análise de pontos quentes em cada área de segurança para aprimorar o lançamento do efetivo ostensivo e investigativo” (PER-NAMBUCO, 2008c). A denominação “pontos quentes”, hoje em dia de uso comum na SDS-PE, surge da adaptação da expressão inglesa “hot spots”, utilizada amplamente pelos analistas criminais de tradição anglo-saxã de todo o mundo. E refere-se à iden-tificação das áreas ou zonas geográficas com maior concentração de crimes (BEATO, 2006).
O primeiro passo previsto para a implantação de tal sistemática foi a realização de um diagnóstico da situação de utilização de “pontos quentes” nas Áreas Integradas de Segurança (PERNAMBUCO, 2008d). O referido diagnóstico fez extensa menção ao uso diversificado das estatísticas criminais pela SDS e órgãos operativos e às de-ficiências na utilização de mapas. E testemunhou a criação de um setor especializado para a produção cartográfica na Secretaria de Defesa Social, conforme trecho abaixo transcrito:
(...) visando a aprimorar a produção e difusão de análises criminais de “pon-tos quentes”, bem como atender à demanda de fornecer informações que sub-sidiem o processo de gestão por resultados em segurança pública, a Gace está implementando (...) a criação de uma Unidade Cartográfica e de Mapeamen-
66
to Estatístico (Unicame), que, entre outras atribuições, deverá realizar mapas temáticos de ocorrências criminais, mediante a aplicação de diversas técnicas de análise estatística espacial. Isso permitirá diagnosticar visualmente os pon-tos quentes da criminalidade, principalmente em relação às áreas de segurança (PERNAMBUCO, 2008d: 9).
Efetivamente, em maio 2008, foi criada a citada Unidade Cartográfica e de Ma-peamento Estatístico (Unicame), dentro da Gace, visando à produção contínua, efeti-va e permanente do mapeamento da criminalidade. A Unicame começou suas andan-ças com uma equipe mínima, composta por servidores da SDS, especialistas em SIG e estagiários vinculados ao curso de geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além de seus propósitos mais pragmáticos de produção dos mapas da crimi-nalidade e da divisão da responsabilidade territorial, a Unicame nasceu também com uma função reguladora: a de padronizar e disciplinar a criação e uso das bases geo-gráficas, em meios físicos ou digitais; buscar a uniformidade e controle dos direitos autorais das mesmas, assim como confeccionar e propor modelos/estudos espaciais dos dados estatísticos produzidos pela SDS e órgãos subordinados ou de terceiros, de forma autônoma ou em parceria com outros órgãos/instituições.
Cumpre destacar que no escopo destas atribuições, objetivou-se ir além da sim-ples produção de mapas georreferenciados, ambicionando-se ordenar o emprego de cartografias por parte de diversos setores da SDS e órgãos operativos. No caso, pro-curou-se criar as condições para, no futuro, centralizar a produção de bases carto-gráficas atualizadas, bem como facilitar sua difusão e garantir seu acesso a todos os setores que necessitarem. Como se verá, com a criação da Unicame estavam postas as bases para a realização de um salto de qualidade em análise criminal, sem precedentes no Estado, iniciando-se de forma efetiva a coleta de dados geográficos de interesse policial (especialmente os homicídios) e a produção de mapas georreferenciados de estatística espacial.
Georreferenciamento dos locais de homicídio
Inicialmente, a Unicame começou suas atividades produzindo mapas temáticos por gradação de cores46 da incidência da criminalidade na Região Metropolitana (por bairro) e no Estado de Pernambuco (por município). Esta técnica já permitia visuali-zar aqueles bairros com maior registro de ocorrências (ver imagem 16), mas não se atingia um nível de precisão e especificação da informação (até o nome e o número do logradouro), demandado pelas exigências do novo contexto da política de segurança. Assim, tornava-se impreterível incrementar a qualidade das informações espaciais, atendendo às demandas funcionais do Sistema de Defesa Social.
46. Mapas por Gradação de Cores são utilizados quando os dados não possuem coordenadas exatas ou não podem ser georreferenciados. Necessitam de limites de áreas para conformar unidades espaciais poligonais (estados, municípios, regiões administrativas, bairros, setores censitários, etc).
67
Longe de se pensar que a coleta das coordenadas dos locais dos crimes de homi-cídios (o X e o Y no mapa) é um problema que pode ser facilmente resolvido apenas com os avanços tecnológicos, a exemplo da utilização da ferramenta SIG, na prática foram detectados obstáculos organizacionais a tal empreitada que os módulos de aná-lise espacial do Sistema Infopol/SDS não conseguiam contornar.
Desde 2006, vinha funcionando na Região Metropolitana do Recife uma Força-Tarefa de Homicídios, subordinada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realizava na cena do crime os trabalhos iniciais da Polícia Civil (PC), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML). Entretanto, o seu funcionamento ainda era desarticulado. No final de 2007, o trabalho do DHPP foi ampliado em três grupos de trabalho (Forças-Tarefa), com o reforço em efetivos, viaturas e equipamentos para as equipes de plantão, visando a atingir uma cobertura eficiente das ocorrências nos locais de crime, dividindo suas atuações entre a Capital, Região Metropolitana Sul (RMS) e Região Metropolitana Norte (RMN).
Essas condições oportunizaram o delineamento de uma nova estratégia para a coleta de dados georreferenciados no local do crime de homicídios. Que consistia na utilização do GPS de mão, o que permitiria a obtenção das coordenadas exatas dos locais dos crimes, mesmo quando tratavam-se de endereços não geocodificados em base cartográfica, como pode acontecer em certas favelas, canaviais ou locais ermos sem numeração. Para tanto, em junho e julho de 2008 foram ministradas instruções e acompanhamento de campo para todas as equipes das três Forças-Tarefa de Homi-cídios (FTH/PC) relativas ao uso de aparelhos GPS, para marcação das coordenadas dos locais dos crimes por elas atendidos. No final de cada jornada, as equipes de plan-tão descarregavam e mandavam para o e-mail da Gace os pontos coletados visando à validação dos mesmos.
Cabe destacar que, desde o início, detectaram-se problemas devido à falta de engajamento de algumas equipes das FTH/PC, bem como à dificuldade de fixação das equipes e à alta rotatividade das mesmas, ocasionando descontinuidades constantes no envio dos dados georreferenciados. Para contornar esta dificuldade e poder mape-ar os casos não informados pela PC, a equipe da Unicame valeu-se de uma segunda estratégia de coleta de dados: o monitoramento e rastreamento das viaturas da Polícia Militar (PM) que efetivamente haviam sido deslocadas para realizar a preservação dos locais de crime. Esta estratégia, para ser implementada, demandou a confrontação sistemática de cada viatura rastreada mediante consulta no Sistema de Informação Digital de Controle, Atedimento e Despacho de Viaturas, do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Sicoad/Ciods/SDS-PE), objetivando a validação das co-ordenadas exatas.
Após consistência dos dados coletados no bimestre (junho e julho de 2008), a Unicame/Gace apresentou os resultados ao gabinete da SDS. Tratava-se do primei-ro mapa de Kernel de homicídios da RMR – gerado com tecnologia ArcGis – com identificação precisa das áreas com maior concentração de crimes por quilômetro quadrado (ver imagem 17). A cobertura alcançada naqueles 60 dias de trabalho ficou próxima a 90%. Nesse momento, e colocando-se como meta atingir 100% dos
68
Imagem 16: Mapa temático por gradação de cores da incidência de CVLI. Recife, junho e julho de 2008
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/GACE/SDS.
69
Imagem 17: Mapa de Kernel das ocorrências de CVLI. Recife, junho e julho de 2008
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
70
casos de morte violenta intencional, pleiteou-se a necessidade de aumentar o efetivo da Unicame, de modo a reforçar as suas atividades e iniciar uma terceira estratégia para georreferenciar os homicídios. O alvo passou a ser dar conta da problemática de mapear aqueles casos nos quais as vítimas falecem em unidades hospitalares, longe dos locais do crime.
Para tanto, a Unicame se dispôs a realizar um trabalho especial de busca ativa dos pontos exatos dos homicídios mediante pesquisa junto com os familiares das víti-mas e deslocamento semanal às comunidades e lugares geográfica e socialmente mais afastados. Assim, a SDS aumentou o efetivo, disponibilizou uma viatura e armamento para uma equipe da Unicame poder realizar a “garimpagem” dos pontos de GPS in locu nas favelas, canaviais e locais mais inacessíveis. Onde, em algumas ocasiões, nem as forças-tarefa da Polícia Civil nem as guarnições da Polícia Militar chegam a atuar.
Com o tempo, os técnicos da Unicame começaram a empregar um quarto método para complementar o georreferenciamento dos homicídios. Consiste na de-terminação das coordenadas exatas do crime, mediante consulta ao nome e número do logradouro do fato, conforme registrado no Boletim de Ocorrência47. Assim, o técnico localiza aquele endereço no Google Earth na internet e, subsequentemente, copia as coordenadas na base de dados georreferenciada de homicídios. Na imagem 18, aparecem esboçadas as quatro estratégias metodológicas de coleta de dados georreferenciados.
47. O local exato do crime, registrado corretamente no BO, em tese, deveria permitir a geocodificação da ocorrência em base cartográfica adequada. Entretanto, como já foi comentado anteriormente, geral-mente esta fonte é bastante pobre. De modo que aqui é apenas usada de forma complementar, junto com os outros três métodos.
71
Resultados
Após a imediata e contínua implementação dos quatro métodos acima expostos, os resultados não demoraram a aparecer e a Unicame/Gace conseguiu georreferen-ciar mais de 99% dos homicídios na Região Metropolitana do Recife (RMR) ocorridos desde julho de 2008 até os dias de hoje. Desta feita, a estratégia bem sucedida no mapeamento dos homicídios tem permitido efetivar a sistemática de Análise e Divul-gação de Pontos Quentes, prevista no Plano de Ação da Câmara Setorial de Defesa Social (PERNAMBUCO, 2008c).
Imagem 18: Fluxograma do Georreferenciamento dos CVLIs em Pernambuco
Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
No fluxograma da imagem 18, mostra-se que são três, principalmente, os pro-dutos obtidos do georreferenciamento artesanal dos CVLI. Em primeiro lugar, os mapas de pinos são o produto mais “primitivo” da análise espacial georreferenciada (ver imagem 19). Consistem na visualização direta dos locais de crime no mapa. A sua existência remonta-se à primeira metade do século XX, época em que o pionei-ro August Volmer, chefe do Departamento de Polícia de Berkeley (EUA), alfinetava mapas na parede com pinos para visualizar a concentração espacial das ocorrências (DANTAS, s.d.).
72
Imagem 19: Mapa de pinos de ocorrências de CVLI nas AIS-2 e 5
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Imagem 20: Mapa de Kernel das ocorrências de CVLI nas AIS-2 e 5
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Hoje em dia, os mapas de pinos são menos utilizados, embora permitam, pela simples inspeção visual, enxergar a correlação entre fenômenos numa mesma área. Por exemplo: concentração de favelas e ocorrências de homicídio, etc. Entretanto, os
73
especialistas desaconselham a sua utilização, devido ao problema de poluição visual que se gera quando da plotagem de um número demasiadamente alto de ocorrências sobrepostas em determinado mapa (BEATO; ASSUNÇÃO, 2008)
O segundo produto gerado pela Unicame, os mapas de Kernel (ver imagem 20) representam um estágio mais avançado do georreferenciamento, com relação aos mapas de pinos. O mapa de Kernel é um método estatístico que estima a densi-dade de superfície por suavização e serve para identificar áreas quentes (BEATO; ASSUNÇÃO, 2008). A intensidade da escala de cores plotada informa sobre a con-centração de homicídios em cada ponto do mapa, podendo manipular-se tanto o raio de varredura como o tamanho da cédula. É claro que, para o cálculo da concentração espacial de ocorrências, estas têm que ser previamente aferidas. Ou seja, o georre-ferenciamento prévio das ocorrências, com o qual se produz os mapas de pinos, é uma condição para a posterior elaboração dos mapas de Kernel (comparar imagens 19 e 20).
Imagem 21: Exemplo de Mapa de Kernel de CVLI de janeiro 2010 com buffer de dezembro 2009
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Assim mesmo, a Unicame vem confeccionando semanalmente, desde o final de 2008, mapas de densidade (Kernel) da RMR. Ademais, para facilitar mediante inspeção visual a detecção da “migração da mancha da criminalidade”, a Unicame processa os kernels do período corrente, contrapondo-os com os buffers da mancha criminal do período precedente. No caso, os buffers não mostram a intensidade da concentração de pontos do período precedente, mas indicam o “rastro” de onde foram cometidos crimes naquela área recentemente (ver imagem 21).
74
Um terceiro produto que é obtido e distribuído com a sistemática aplicada pela Unicame são os arquivos em formato KML48 com os locais exatos dos crimes, que permitem a sua plotagem em cima de base cartográfica do Google Earth na internet, facilitando a sua utilização pelos usuários na ponta (ver imagem 22).
Imagem 22: Arquivo .kml de ocorrências de CVLI na AIS-1
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Como destacado por Paiva (2009), em trabalho monográfico sobre o tema, os gestores e comandantes responsáveis pelas AIS da Capital e RM elogiaram o em-prego do georreferenciamento de CVLI. Estes atores apontaram seus benefícios, ao atribuir maior precisão, objetividade e racionalidade ao processo de gestão e monito-ramento da criminalidade em Pernambuco, assim como reconheceram a superação de empirismos nos processos de tomada de decisão.
Para atender à demanda do interior do Estado, onde à época ainda não havia sido introduzido o georreferenciamento, a Unicame/Gace começou a confeccionar mapas temáticos (por gradação de cores), que mostram o desempenho das Áreas In-tegradas no cumprimento das metas de redução de homicídios (imagem 23). Estes trabalhos são enviados via e-mail a todos os batalhões da Polícia Militar e delegacias
48. kml é um formato de arquivo digital utilizado para a distribuição de dados georreferenciados vi-sando ao uso em softwares livres. Nos últimos anos, se tornou muito popular. Não é indicado para uso cartográfico quando o objetivo é a precisão, exemplo: cadastro fiscal, loteamento de área, etc.
75
da Polícia Civil. No entanto, como o ideal é a aferição precisa dos locais de crime, ini-ciou-se a interiorização do georreferenciamento dos homicídios no Estado. Em 2009, o novo Plano de Ação da Câmara Setorial de Defesa Social ampliou a sistemática de coleta e a divulgação de dados georreferenciados de pontos quentes para quatro Áreas Integradas de Segurança (AIS): aquelas com municípios com mais de 100 mil habi-tantes. São elas: Caruaru (AIS-14); Garanhuns (AIS-18); Petrolina (AIS-26) e Vitória de Santo Antão (AIS-12).
Imagem 23: Mapa por gradação de cores de cumprimento de metas de CVLI no interior do Estado por município. Pernambuco, 2007 e 2008.
Fonte Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Na ocasião, devido à ausência de forças-tarefa de homicídios e do Sistema Di-gital de Despacho de Viaturas da PM, a estratégia de coleta de dados foi operacio-nalizada de forma diferente. Buscou-se a parceria dos serviços de inteligência dos batalhões da Polícia Militar de Pernambuco das respectivas áreas, cujos efetivos (P2) foram treinados no uso de GPS. Assim, foram consolidados os resultados referentes ao segundo semestre de 2009 do interior do Estado, obtendo-se a representação de conjunto como mostrada na imagem 24. Os resultados, mais uma vez foram exitosos, atingindo-se o georreferenciamento de mais de 95% das ocorrências nessas quatro Áreas Integradas de Segurança.
76
Imagem 24: Mapa de Kernel dos CVLI em AIS 12, 14 e 18 de Pernambuco. 2° semestre de 2009.
Fonte: Infopol/SDS. Elaboração: Unicame/Gace/SDS.
Avanços
Em Pernambuco, o Pacto pela Vida trouxe como um de seus valores a in-corporação, em todos os níveis de execução das Políticas Públicas de Segurança, de mecanismos de gestão, monitoramento e especialmente de avaliação e corre-ção. Nesse cenário, a implantação do georreferenciamento dos homicídios vem se demonstrando funcional ao novo modelo de gestão proposto, pelos seguintes motivos:
a) identificação com precisão dos locais onde os homicídios ocorrem, possi-bilitando responsabilizar, sem ambiguidade, os gestores de área;
b) superação do empirismo, pelo uso desse instrumento tecnocientífico, tra-zendo maior precisão ao diagnóstico e objetividade no planejamento operacional;
c) racionalização do processo de gestão, mediante a focalização de efetivos e recursos disponíveis nas áreas de maior concentração de crimes violentos, servin-do de base para a adoção de decisões gerenciais e operativas;
Conclui-se que, ao passo que se avança no caminho da gestão por resultados em segurança pública, mais claramente identifica-se quão indispensável é o uso de geotecnologias para a eficiência do trabalho, visto não só as facilidades que pro-porcionam às decisões gerenciais, mas também pelas falhas que permitem apontar aos modelos de gestão tradicionais.
77
Por último, cabe-nos destacar a importância das geotecnologias para as polí-ticas públicas no âmbito de outros órgãos e poderes, que trazem reflexos à segu-rança pública. Concretamente, no âmbito da prevenção da violência, o georreferen-ciamento dos homicídios vem se demonstrando uma ferramenta indispensável para mobilizar os gestores municipais. No caso, a eloquência dos mapas criminais mostra inequivocamente que a realização de obras urbanísticas visando à ocupação e orga-nização dos espaços públicos e à recuperação de ambientes degradados tratam-se de ações complementares e indissociáveis à busca de um ambiente de paz e segurança. Desta feita, o georreferenciamento contribui mais uma vez com a identificação daque-les espaços com características que oportunizam o crime e que demandam por parte do poder público sua iminente transformação.
Correlacionando violência e indicadores sociais no Recife:qual a melhor unidade espacial de análise?
Gerard SauretMariana Tiné
Egenilton Farias
4
79
Um dos fundadores da sociologia, Emile Durkheim, dedicou-se em demons-trar que os fenômenos sociais são causados por outros fenômenos sociais, construindo sob a égide desse princípio, no século XIX, os alicerces episte-
mológicos daquela nova ciência. Sob essa ótica, desde que a violência entrou na pauta das agências de pesquisa como problema de estudo, a partir da segunda metade do século XX, alguns pesquisadores vêm tentando equacionar qual a relação entre a vio-lência com outros fenômenos sociais, como desigualdade, pobreza, desemprego, nível de instrução, etc. (CANO; SANTOS, 2007; SOARES, 2008).
A forma menos problemática de dimensionar a violência, por este viés, é sin-tetizá-la na forma de taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Isto não se dá por acaso. Como já foi explicado nos capítulos anteriores, os homicídios são os crimes vio-lentos menos subnotificados que existem e representam o resultado mais dramático que a violência pode produzir: a morte de seres humanos (CANO et al., 2007; WAI-SELFISZ, 2007). As taxas de homicídios são dados que geralmente estão disponíveis organizados em unidades espaciais de análise que se correspondem com as divisões administrativas oficiais: países, estados, regiões, municípios, bairros.
No Brasil, não são poucos os estudos que têm achado correlações e outras as-sociações significativas entre indicadores sociais e taxas de homicídios no nível in-traurbano nas principais capitais (BARATA et al. 1999; SZWARCWALD et al., 1999; MACEDO et al., 2001; SANTOS; NORONHA, 2001; GAWRYSZEWSKI; COSTA, 2005; CANO; SANTOS, 2007; RATTON; CIRENO, 2007; SOARES, 2008)49.
Destoando dos achados desses estudos, chama a atenção outro anterior reali-zado no Recife (LIMA; XIMENES, 1998), em que foram correlacionadas as taxas de violência por bairro (registradas no SIM) e um indicador de renda50. Apesar dos au-tores constatarem “evidente desigualdade na distribuição da mortalidade por causas externas51 no espaço urbano do Recife”, não encontraram correlação estatisticamente significante entre as variáveis utilizadas. E apontaram como uma limitação metodoló-gica a necessidade de ter que se trabalhar com a unidade “bairros”, pela inexistência de informações mais desagregadas que fossem confiáveis.
Acontece que, por vezes, a heterogeneidade interna dos bairros, no que diz res-peito tanto a situações sociais como às dinâmicas de produção de crimes, pode masca-rar a correlação entre fenômenos sociais e criminais, tornando mais difícil a empreita-da de achar evidências empíricas a respeito. Isto é especialmente pertinente para uma cidade como Recife, que amalgama historicamente dentro de bairros nobres de classe média ou média alta “arquipélagos” de áreas de interesse social (Zeis52 e outras áreas
49. A literatura também aponta a existência de outros estudos com conclusões convergentes: CANO; 1998; BEATO; REIS; 2000; SOARES, 2000 (apud CANO; SANTOS, 2007).
50. Percentual de chefes de família com renda percebida de até dois salários mínimos. Fonte: IBGE, 1990.
51. Os autores analisaram conjunta e separadamente homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e outros acidentes.
52. Zeis: Zona Especial de Interesse Social. Trata-se de classificação legal adotada pela Prefeitura, com
80
pobres). Essa característica faz com que alguns bairros sejam autênticos conglome-rados sociais, ao apresentarem elevada heterogeneidade interna. E seus indicadores sociais e criminais são, de fato, médias que escondem realidades opostas. Para Ratton e Cireno (2007: 54-55), que também analisaram as taxas anuais de homicídios dos bairros do Recife com resultados mais satisfatórios:
Uma observação metodológica (...) é que os bairros não são unidades homo-gêneas, do ponto de vista da ocorrência de (...) mortes violentas. Isso significa dizer que, no mesmo bairro, encontramos regiões com maior concentração de homicídios e regiões com menor concentração de homicídios.
Vários fatores podem estar relacionados à produção de tal heterogeneidade: a existência de redes criminosas com área de atuação delimitada, o perfil de atuação das organizações policiais, os indicadores de desenvolvimento social e urbano, etc.
É preciso, no entanto, estar desperto para o fato de que a classificação de um bairro como mais ou menos violento (...) deve considerar a heterogeneidade do fenômeno criminoso dentro de diferentes regiões do mesmo bairro.
A adoção de unidades administrativas também se torna problemática para fins de diagnóstico e orientação de políticas públicas, não somente quando refere-se a bairros, mas também no caso dos municípios. No Brasil, isto acontece sobremaneira ao existir grandes aglomerados, como a cidade de São Paulo, que tem tamanho populacional 13 milhares de vezes maior do que o menor município do país. Para contornar esse tipo de dificuldade metodológica, alguns pesquisadores têm proposto a utilização de medidas, como as Unidades de População Homogênea (UPH), que dividem o território nacional em áreas de aproximadamente 80 mil habitantes, com razoável homogeneidade social interna (ROCHA; ALBUQUERQUE; SILVA; CORTEZ, 2005). De modo semelhante, numa escala intraurbana, técnicos da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) e professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) têm aplicado lógica parecida ao reagrupar setores censitários socialmente semelhantes do Recife em novas unidades, que batizaram como Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH).
Neste capítulo, mostra-se como os avanços na produção e disponibilização de unidades espaciais de análise mais homogêneas, do ponto de vista demográfico, e mais heterogêneas, sob ótica socioeconômica, permitem aferir níveis mais significativos de correlação da violência homicida com os indicadores sociais no território. Para tanto, procedeu-se à analise das correlações entre as taxas de homicídios no Recife com alguns indicadores sociais, comparando o desempenho encontrado ao utilizar a unidade de análise bairro e as UDH´s.
que são catalogadas certas áreas pobres.
81
Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH)
No ano de 2005, a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) lançou o Atlas do De-senvolvimento Humano, cujo objetivo foi apresentar à sociedade indicadores sociais e de desenvolvimento, tornando possível conhecer a realidade da capital do Estado (PCR, 2005). Fruto de uma parceria do município com o Programa das Nações Uni-das para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Integração Nacional, o Atlas trouxe o retrato das características socioespaciais da capital, tendo como base as in-formações contidas nos Censos 1991 e 200053.
Como já adiantado, uma inovação metodológica interessante do Atlas foi a de disponibilizar nova divisão do espaço urbano resultante da criação das denomina-das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). Estas unidades, às quais estão agregadas uma série de informações sociais, econômicas e demográficas, resultam do desmembramento e agrupamento de bairros de tamanhos diversos, de acordo com critérios socioeconômicos. Com isso, é possível mensurar com maior precisão a dis-tância social e ambiental existente entre os diferentes segmentos populacionais que convivem num mesmo espaço intraurbano, oportunizando a adoção de novas estraté-gias de planejamento.
A metodologia de construção das UDH´s baseia-se no agrupamento de setores cen-sitários contíguos ou próximos, desde que apresentem características sociais semelhantes. Foi levada em consideração a distinção entre Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) e outras áreas pobres (identificadas pelo Censo e pela análise de fotografias de satélite) e respeitaram-se os limites legais das seis Regiões Político-Administrativas (RPA) que dividem a cidade, visando a facilitar a integração das novas unidades espaciais voltadas ao planejamento municipal. Com isso, procurou-se alcançar a divisão de todo o território do município em um número de unidades com suficiente confiabilidade estatística (com no mínimo 400 domicílios ocupados na amostra) e semelhante tamanho populacional. En-quanto o Recife é composto por 94 bairros administrativos, o Atlas dividiu o seu território num total de 62 UDH´s. Note-se que UDH´s podem ser formadas por bairros, conjunto de bairros e/ou frações de bairros, correspondendo a agrupamentos de setores censitários. Em decorrência disso, as principais características das UDH´s são:
a) elevada homogeneidade social interna – dentro de cada UDH;
b) elevada heterogeneidade social externa – entre UDH´s contíguas;
c) pouca variabilidade externa do peso demográfico entre as UDH´s.
Em suma, as UDH´s se tornam unidades espaciais de análise idôneas para a realização de estudos ecológicos, oportunizando o nível de relacionamento adequado
53. Cabe salientar que, em 2011, o trabalho do Atlas do Desenvolvimento Humano foi ampliado por técnicos da PCR e da Agência de Planejamento e Pesquisas do Estado de Pernambuco – Condepe Fidem, para toda a Região Metropolitana do Recife (RMR).
82
para o cruzamento de dados sociais, econômicos ou demográficos, entre outros. Ao priorizar a localização das desigualdades sociais existentes e harmonizar o peso de-mográfico das suas unidades, as UDH´s prometem ter grande potencial, não somente no seu uso aplicado em pesquisa, mas também para o planejamento e gestão de polí-ticas públicas.
Metodologia
Foram coletadas informações sociais, econômicas e demográficas dos bairros e das UDH´s no Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife (PCR, 2005). As infor-mações por bairro de homicídios, aqui denominados Crimes Violentos Letais Inten-cionais (CVLI)54, foram extraídas do banco de dados de mortes de interesse policial do Sistema Infopol/SDS.
A contagem de crimes por UDH foi realizada conforme os seguintes proce-dimentos. Como exposto no capítulo 3, a Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico da Gerência de Análise Criminal e Estatística (Unicame/Gace/SDS-PE) vem coletando o local georreferenciado de todos os CVLI que ocorrem na Região Me-tropolitana do Recife (RMR). Isso permite dar maior precisão à localização da ocor-rência dos crimes e aos gestores a possibilidade de analisar o ambiente onde os mes-mos foram consumados. Se os dados de CVLI não estivessem georreferenciados pela Unicame, a operação de contagem de CVLI por UDH seria impossível de executar55.
De posse desses pontos com a coordenada exata (x,y) dos CVLI, foi solicitado o layer (cartografia digital) das UDH´s aos técnicos da PCR. Inserindo esses arquivos shape file no Software ArcGis 9.3 foi possível gerar manualmente os mapas e a esta-tística de CVLI por UDH, utilizando a ferramenta Count by Atribute e exportando os resultados em formato .xls. Como a Unicame iniciou a coleta das coordenadas de CVLI em junho de 2008, isso significa que não é possível obter-se dados por UDH para datas anteriores. Em consequência, nesse trabalho somente são analisados os homicídios para os anos 2009 e 2010.
No tocante ao cálculo das taxas de CVLI por 100 mil habitantes por bairro e por UDH, usaram-se os dados de população disponíveis no próprio Atlas do Recife (PCR, 2005), baseados na contagem do Censo-2000. Como interessa calcular a taxa de CVLI de 2009 e 2010 por bairro e UDH, realizaram-se projeções, tomando como referência as contagens populacionais dos censos do IBGE de 2000 e 2010. Em função de o IBGE só ter divulgado, até então, os dados desse ano por município, projetou-se linearmente o peso de bairros e UDH da seguinte forma: primeiro obteve-se a estimativa anual da população do Recife para o ano inter-censitário de 2009, aplicando-se o método de in-
54. Para mais informações sobre o indicador CVLI, ver capítulo 2.
55. Dada a precariedade das informações sobre nome e número de logradouro dos locais de crime de homicídios, contidas nos Boletins de Ocorrência (BO´s), torna-se inviável realizar uma geocodificação confiável a esse respeito.
83
terpolação a partir da taxa anual de crescimento geométrico entre 2000 e 2010. Depois aplicou-se o peso observado no Atlas para cada bairro e cada UDH às estimativas de 2009 e 2010, presumindo que todas as unidades acompanharam por igual o crescimento demográfico da cidade. Ou seja, considerou-se que se um bairro X, por exemplo, em 2000, representava 3,07% da população da cidade, e uma UDH Y, 1,61%, então em 2009 e 2010 elas deveriam manter as mesmas proporções, sobre o total da cidade, que já au-mentou sua população. Embora esta se configure numa limitação metodológica que só poderá ser contornada quando o IBGE divulgar a contagem oficial.
Como entre as unidades espaciais utilizadas existem casos com peso demográfi-co muito pequeno, por exemplo, bairros com menos de 1.000 habitantes, é gerada uma grande volatilidade nas taxas calculadas, o que resulta numa distorção do indicador. Por isso, além das taxas anuais de 2009 e 2010, foi analisada a taxa média bianual, como forma de suavizar o problema e minimizar parte da variabilidade dos dados, que pode ser considerada conjuntural. É óbvio que as UDH´s padecem menos do que os bairros deste problema, pois foram minimizadas as disparidades populacionais entre as mesmas.
Como é sabido, as agências policiais registram os homicídios pelo local do cri-me. Já as fontes sanitárias, usam como referência o local da residência da vítima ou do óbito56. Estudos que correlacionam homicídios e indicadores sociais com base no bair-ro de residência da vítima reconhecem não ser esta a melhor opção, pois para o moni-toramento da violência e implementação de políticas públicas deveria importar o local em que efetivamente ocorreu o crime, independente de onde residia a vítima. Desta feita, “não se pode inferir quais lugares correspondem às zonas mais ou menos violentas do município (...). Trata-se somente dos distritos onde seus residentes estão submetidos a maiores ou menores situações de acidentes e violências” (GAWRYSZEWSKI; COSTA, 2005: 196).
As informações policiais seriam mais adequadas para esse fim. Entretanto, não pode-se negligenciar outra questão de método. A princípio, como as taxas de homi-cídios por 100 mil habitantes levam em conta a população residente em determinada área, pressupõe-se que o procedimento mais canônico seria o de colocar no numera-dor a quantidade de unidades afetadas pela violência. Ou seja, o número de moradores que foram efetivamente vitimados.
Teoricamente as taxas baseadas no local de crime deveriam conter, no denomi-nador, a população flutuante. Contudo, no Brasil ainda não se dispõe de estimativas das populações flutuantes por município, bairro, UDH, etc. Ademais, deve-se conside-rar que as populações flutuam em diversas direções: do dia para a noite, dos dias úteis para os feriados e finais de semana, do inverno para o verão, etc., o que torna a questão mais complexa, ainda, quando se pretendem calcular taxas anuais, como é o caso.
56. O local do crime e o do óbito não necessariamente coincidem, uma vez que as vítimas podem ser socorridas para unidades de saúde. Isso faz com que, por esse critério, as estatísticas de homicídios de ci-dades brasileiras que concentram importantes polos médicos, como é o caso do Recife (o maior do Nor-deste), passem a engrossar artificialmente os casos provenientes de municípios circunstantes. Por conta disso, praticamente a totalidade dos pesquisadores que decide trabalhar com fontes sanitárias escolhe fazê-lo pelo local da residência e não o do óbito – salvo exceções, como ocorre com Waiselfisz (2007).
84
Contudo, o homicídio é considerado, de forma genérica, “um crime de proxi-midade” (LIMA, 2002)57, o que torna essa uma questão de menor monta. Estudo realizado por Silva (2006) analisou 482 denúncias de homicídios nos arquivos do Ministério Público de Belo Horizonte. Desse montante, conseguiu geocodificar 350 casos em que obteve tanto o endereço exato do crime como do agressor. A análise da “jornada para o crime” revelou que 54% dos homicídios ocorriam a menos de 1.400 metros do local em que os agressores moravam. Mas a autora não analisou o local de residência da vítima. De acordo com Soares (2008), outro levantamento efetuado pelo DHPP de São Paulo, com base em 576 inquéritos, mostraria também “o caráter local dos homicídios”:
As pessoas matam e morrem perto de onde moram. Os autores de 48% dos homicídios moravam a menos de 500 metros do local; a percentagem referente às vítimas é ainda maior – 59%. Somente uma em cada cinco vítimas morava a mais de um quilômetro de onde foi morta e apenas um de cada quatro ho-micidas matou a mais de um quilômetro de onde morava. Uma percentagem significativa dos mortos morava a menos de um quilômetro de seu assassino (SOARES, 2008: 78).
Desta feita, embora não haja necessariamente uma coincidência perfeita entre local do crime x local da residência, as taxas populacionais funcionam bem para am-bos os critérios. Aqui, a utilização das taxas de CVLI com base no critério do local do crime (a partir dos dados fornecidos pela SDS-PE) é considerada uma pequena limitação metodológica, que não atrapalha a quem procura priorizar a localização das áreas em que efetivamente ocorrem os crimes.
Para comparar bairros e UDH´s, observaram-se, primeiramente, as caracterís-ticas populacionais dos dois universos, a partir de uma análise estatística descritiva da população no ano 2000. Seguidamente, realizaram-se comparações das correlações das taxas de CVLI com os indicadores socioeconômicos. Como no Atlas há uma dis-ponibilidade menor de indicadores para bairros do que para UDH´s, o universo de variáveis ficou limitado àqueles58. Assim, foram selecionados os seguintes indicadores, todos coletados no Censo 2000:
57. É compartilhada entre policiais de Pernambuco a percepção limitada de que os homicídios de proximidade seriam aqueles em que haveria um relacionamento prévio de amizade, afeto ou parentesco entre algoz e vítima. Do ponto de vista formal, aqueles motivados por tráfico de drogas, entre gangues rivais ou praticados sobre consumidores inadimplentes na vizinhança também poderiam ser considerados “crimes de proximidade”. Como levantou Silva (2006), os homicídios causados por drogas envolvem pessoas conhecidas entre si, com uma proximidade superior à média: 64% desses homicídios ocorreram a menos de 1.400 metros da residência do autor.
58. Especialmente sentida foi a não disponibilização para os bairros dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), referentes a educação, renda e longevidade, bem como indicadores de desigualdade.
85
CONDIÇÕES HABITACIONAIS
• % de pessoas que vivem em domicílios com água encanada;
• % de pessoas que vivem em domicílios com instalação sanitária;
• % de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo;
• % de pessoas que vivem em domicílios em Aglomerados Subnormais;
• Média de moradores por domicílio;
RENDA
• Renda média do chefe de domicílio;
• % de chefes de família sem rendimentos;
• % de chefes de família com até 1 salário mínimo;
• % de chefes de família de 1 a 2 salários mínimos;
EDUCAÇÃO
• % pessoas de 10 a 14 anos analfabetas;
• % pessoas de 15 a 17 anos analfabetas;
• % pessoas de 18 a 24 anos analfabetas.
Como as correlações por bairro ficaram prejudicadas pela presença de outliers (casos anômalos, altamente discrepantes), realizou-se na comparação uma terceira alternativa, correspondente à exclusão da análise dos bairros com menos de 1.000 habitantes. Desta feita, calcularam-se e compararam-se os coeficientes de Pearson (r) obtidos do cruzamento das taxas médias de CVLI (2009/2010) e os indicadores socioeconômicos, para todos os bairros, para os bairros com mais de mil habitantes, e para as UDH´s. Para as análises estatísticas descritivas e de correlação utilizaram-se os programas Excel 2007 e SPSS 13.0.
Resultados
Na tabela 8, apresentam-se as principais estatísticas descritivas do tamanho populacional das unidades de análise aqui utilizadas. Salta à vista a grande dispersão populacional entre os 94 bairros do Recife, que vai desde os 336 habitantes de Pau-Ferro até os 100.388 de Boa Viagem (quase trezentas vezes o tamanho do primeiro). Excluindo-se os sete bairros que no Censo 2000 apareciam com menos de mil habi-tantes, o menor bairro seria a Jaqueira, com 1.188 habitantes naquele ano. Nesse caso, a desproporção entre o maior bairro e o menor já se reduz a 84,5 vezes. No caso das
86
UDH´s, com menor número de unidades (62), reduz-se consideravelmente a amplitu-de do universo estudado. A menor, com 13.942 habitantes, é a UDH-2 (Santo Amaro/Soledade)59. Já a maior, com 42.655, é a UDH-10 (Água Fria/Fundão)60, resultando numa razão de apenas três vezes o tamanho da primeira.
A análise das médias, desvio padrão, medianas e quartis revela também a maior homogeneidade no universo das UDH´s com relação aos bairros (com ou sem as uni-dades com menos de 1.000 habitantes). Nas UDH´s, a média (22.950) praticamente coincide com a mediana (21.100), o que revela a inexistência de outliers. Já entre os bairros, observa-se que no primeiro quartil (Q1), 25% dos bairros detêm tamanho não superior a 4.827 habitantes. E a mediana revela que 50% não superam os 8.818 habitantes, bem aquém da média (15.137). Consequentemente, o desvio padrão (DP), no caso dos bairros (16.587), chega inclusive a superar a própria média, denotando enorme variabilidade. Já entre as UDH´s, o DP foi bem menor: 6.679, acusando mais uma vez maiores sinais de homogeneidade no universo amostral.
Tabela 8: Estatísticas descritivas do Tamanho da População por unidade espacial de análise Bairros Bairros>1000 UDH
N 94 87 62 Mínimo 336 1.188 13.942 Máximo 100.388 100.388 42.655 Amplitude 100.052 99.200 28.713 Média 15.137 16.300 22.950 Q1 4.827 6.240 17.394 Mediana 8.818 9.348 21.100 Q3 19.660 22.396 28.333 Desvio Padrão 16.587 16.708 6.679
Elaboração própria.
Na análise dos bairros com tamanho superior a mil habitantes, observa-se como apesar de se reduzir a amplitude entre o valor mínimo e o valor máximo, o filtro popu-lacional aplicado não conteve o DP, nem a forte discrepância entre média e mediana, que continuaram elevadas. Isso porque pesou muito o outlier no extremo superior, o bairro de Boa Viagem, cuja população no ano 2000 distava em mais de 31 mil habi-tantes a do segundo bairro mais populoso da cidade (Cohab, com 69.134 habitantes).61
59. Esta UDH inclui as vilas Naval e Operária.
60. Esta UDH inclui também as Zeis de Casa Amarela e Fundão de Fora.
61. Leve-se em conta que, numa análise como a proposta, não interessa desconsiderar a taxa média de homicídios de um bairro que detém sozinho 7% da população da cidade. Por isso, foram sacrificados apenas os bairros com menos de mil habitantes. Macedo e colaboradores (2001) têm realizado análise na cidade de Salvador, deixando de fora bairros com menos de 5 mil habitantes. Ora, para o caso do Recife, essa opção resultaria em deixar de fora da análise 25% dos bairros, como acusa o primeiro quartil (Q1) na tabela 8, embora representem apenas 4% da população. Análise posterior das correlações evidenciou
87
Imagem 25: PP-Plot População por UDH
Imagem 26: PP-Plot População por bairro (>1000)
Elaboração própria.
Comparando os gráficos de P-P Plot temos mais evidências dos diferenciais de normalidade entre bairros (>1000) e UDH´s. Na imagem 25 observa-se como para as UDH´s a probabilidade acumulada mantêm-se oscilando levemente em torno da probabilidade esperada de normalidade (perto de 45°). Já entre os bairros (imagem 26) há importantes desajustes entre os valores observados e os esperados ao longo de praticamente toda a distribuição.
que esse critério mais severo não contribui para melhorar os graus de correlação entre homicídios e indicadores sociais. Mas, com um n menor, diminui-se o ponto de corte do p-valor para aferição da significância, pelo que tem se demonstrado que no exemplo do Recife, excluir os bairros com menos de mil habitantes é uma decisão suficiente.
88
Tabela 9: Estatísticas descritivas da taxa média CVLI 2009/10 por unidade espacial de análise
Bairros Bairros>1000 UDH Mínimo 0 0 5,8 Máximo 1.119,80 158,8 152,6 Amplitude 1.119,80 158,8 146,8 Média 64,2 49,1 49,9 1° Quartil 27,7 27,7 26,0 Mediana 48,6 45,5 47,2 3° Quartil 64,0 62,5 64,1 90° Percentil 99,8 83,0 81,2 Desvio Padrão 118,0 32,1 28,4 Elaboração própria.
Na tabela 9 mostram-se as estatísticas descritivas da taxa média de CVLI por 100 mil habitantes, de 2009 e 2010, para todos os bairros, para aqueles com mais de mil habitantes e as UDH´s. No caso dos bairros, os dados mostram, de novo, uma enorme disparidade entre a menor taxa (0 mortes por 100 mil habitantes) e a maior (1.198,8/100 mil). Esse último valor, claramente um outlier, corresponde ao bairro de Santo Antônio, que com menos de 600 habitantes estimados para 2009/2010 e 13 ví-timas de CVLI nesses dois anos (6,5 de média), gerou aquele valor aberrante. Quando efetua-se o filtro dos bairros com menos de 1000 habitantes, Santo Antônio fica ex-cluído e o valor máximo da taxa média diminui drasticamente para 158,8 homicídios por 100 mil habitantes (bairro da Guabiraba). Esse é um valor estatisticamente mais aceitável (mas não socialmente, é claro!) e que se aproxima da taxa máxima obtida para as UDH´s: 152,6 vítimas por 100 mil habitantes, correspondente à UDH-4, (que agrega os bairros de Recife-Centro, São José, Santo Antônio, e inclui Zeis como a dos Coelhos e a Comunidade do Pilar).
Com relação ao valor mínimo, as duas classificações por bairro acusaram obser-vações com zero vítimas nos dois últimos anos. Consequentemente, a amplitude dos universos considerados coincidiu com os seus respectivos valores máximos. No pri-meiro caso, foram sete bairros com zero homicídios. Seja porque realmente são bairros tranquilos e reconhecidamente nobres, como Jaqueira, Graças, Aflitos e Santana; seja porque têm população muito pequena, como ocorre com Pau Ferro (356 habitantes) e Paissandu (531 habitantes), e podem não registrar nenhum caso de violência por uma questão meramente aleatória. Somente o bairro da Soledade (com 2.201 habitantes e poder aquisitivo médio) escapou a essas duas regras ao não registrar nenhum homicídio.
Como apenas dois desses sete bairros tinham população com menos de mil ha-bitantes, na análise dos bairros de mais de mil habitantes, permaneceram cinco sem vítimas fatais. Já no caso das UDH´s, o valor mínimo observado foi de 5,8 homicídios por 100 mil habitantes, correspondente à UDH-17, que aglutina os bairros de Graças, Aflitos, Derby e Espinheiro. A razão resultante entre os valores máximo/mínimo indica que a UDH-4, com a pior taxa, foi 26,5 vezes maior do que a UDH-17. Vale ressaltar, uma não muito distante geograficamente da outra.
89
Na tabela 9 observa-se como a média e a mediana das taxas de CVLI apresen-tam, de novo, melhor distribuição entre as UDH´s, com parâmetros mais próximos (49,9 e 47,2 respectivamente) do que no caso dos bairros (64,2 e 48,6) e dos bairros com mais de mil habitantes (49,1 e 45,5). O DP das UDH´s também foi menor (28,4) do que o dos bairros (118,0), como era de se esperar, e o dos bairros acima de mil habitantes (32,1). Nesse caso, apresentamos também o 90° percentil, que indica o ponto de corte a partir do qual estão inclusos 90% das unidades analisadas. Os bair-ros acusaram o valor mais elevado (99,8), influenciado pelos casos com as taxas mais volatilizadas. Já as outras duas classificações renderam valores mais ponderados: 83,0 nos bairros>1000 e 81,2 nas UDH´s.
Na imagem 27 observa-se a representação espacial das taxas médias de CVLI nas 62 UDH´s do Recife. Os pontos de corte entre as classes foram determinados pelo 1°, 2° (mediana), 3° quartis e 90° percentil. Ou seja, na cor mais intensa aparecem as cinco UDH´s com taxa de CVLI superior a 81,2 vítimas por 100 mil habitantes. Seguidas pelas UDH´s com taxa entre 64,1 e 81,2. Em terceiro lugar, aparecem as UDH´s com taxa entre 47,2 e 64,1. Em quarto lugar, as taxas entre 26,0 e 47,2. Por último, com a tonalidade mais clara, destacaram-se as UDH´s com taxa abaixo de 26,0 mortes anuais (de média) por 100 mil habitantes, que é um parâmetro bem próximo da taxa nacional de homicídios. Os índices que se afiguram no mapa representam os códigos com os quais é possível identificar as UDH´s na tabela 10.
Uma simples inspeção visual do mapa permite corroborar como há duas gran-des zonas urbanas com baixo nível de violência. A primeira, central, agrupa UDH´s com os bairros residenciais da zona centro-norte. A segunda, na zona sul, aparece entrecortada por UDH´s com altos índices de homicídios. Ou seja, lá, UDH´s vizinhas apresentam taxas de homicídios com comportamentos opostos: ou muito elevadas ou muito baixas, o que sugere a presença de bolsões de criminalidade violenta, coexis-tindo perto de áreas relativamente tranquilas, no que diz respeito a mortes violentas. Já as zonas oeste e norte da cidade apresentam maciçamente UDH´s com níveis de violência intermediários: entre a segunda e a quarta classe.
90
Imagem 27: Taxas médias de CVLI por 100 mil habitantes por UDH – Recife, 2009/2010
Elaboração própria.
91
Tab
ela
10 –
Rel
ação
de U
nida
des d
e Des
envo
lvim
ento
Hum
ano
(UD
H) p
or có
digo
e T
axa
Méd
ia d
e CV
LI e
m 2
009/
2010
.
CÓ
DIG
OUD
HTa
xa C
VLI
CÓDI
GO
UDH
Taxa
CVL
I1
SA
NT
O A
MA
RO
–
Zeis
Sa
nto
Am
aro
e J
oão
de
Barr
os
56
.15
32
TO
RR
ÕE
S –
Zeis
To
rrõe
s e
Vie
tnã
80
.36
2S
AN
TO
AM
AR
O/S
OL
ED
AD
E –
Vila
s N
ava
l e O
perá
ria
16
.64
33
VÁ
RZ
EA
/CID
AD
E U
NIV
ER
SIT
ÁR
IA5
2.1
43
BO
A V
IST
A/I
LH
A D
O L
EIT
E/P
AIS
SA
ND
U2
0.9
83
4V
ÁR
ZE
A –
Zeis
Bra
sili
t, C
am
po
Bra
nco
e V
. A
rrae
s2
9.5
44
RE
CIF
E C
EN
TR
O –
Zeis
Coe
lhos
/ A
P C
om
unid
ade
Pila
r1
52
.56
35
VÁ
RZ
EA
/CA
XA
NG
Á –
Zeis
Ros
a S
elv
age
m4
3.2
95
ILH
A J
OA
NA
BE
ZE
RR
A/S
ÃO
JO
SÉ
–Z
eis
Coq
ue
110
.50
36
AF
OG
AD
OS
/MU
ST
AR
DIN
HA
/SA
N M
AR
TIN
63
.99
6C
AM
PO
GR
AN
DE
–E
str
ada
de
Belé
m,
Zeis
Ilh
a J
oa
ne
iro
64
.51
37
BO
NG
I/S
AN
MA
RT
IN –
Zeis
Afo
gad
os e
Mus
tard
inh
a6
2.2
37
EN
CR
UZ
ILH
AD
A/H
IPÓ
DR
OM
O/R
OS
AR
INH
O/T
OR
RE
ÃO
32
.59
38
AF
OG
AD
OS
–Z
eis
Man
gu
eira
e V
ila d
o S
iri
53
.48
8C
AM
PO
GR
AN
DE
/CA
MP
INA
BA
RR
ET
O –
Zeis
Ca
mp
o G
rand
e11
4.5
53
9E
ST
ÂN
CIA
/SA
N M
AR
TIN
/JIQ
UIÁ
–P
arq
ue
do J
iqu
iá6
9.3
19
ÁG
UA
FR
IA/A
RR
UD
A/P
OR
TO
DA
MA
DE
IRA
/CA
JU
EIR
O5
0.4
64
0A
RE
IAS
–In
ês A
nd
rea
zza
, V
ila C
ard
ea
l e
Silv
a2
2.9
01
0Á
GU
A F
RIA
/FU
ND
ÃO
–Z
eis
Ca
sa
Am
are
la e
Fu
ndã
o F
ora
46
.90
41
AR
EIA
S –
Zeis
Caç
ote
, B
eirin
ha,
J.
Uc
hoa
e R
io/I
raqu
e1
09
.86
11S
TA
TE
RE
ZIN
HA
/BO
MB
A H
EM
ET
ÉR
IO –
Zeis
Cas
a A
ma
rela
53
.68
42
BA
RR
O/S
AN
CH
O/T
EJ
IPIÓ
60
.19
12
BE
BE
RIB
E/L
INH
A D
O T
IRO
–Z
eis
Cas
a A
ma
rela
80
.35
43
JA
RD
IM S
ÃO
PA
UL
O –
Zeis
Are
ias
, B
arr
o e
J.
São
Pa
ulo
38
.51
13
DO
IS U
NID
OS
–Z
eis
Dois
Un
idos
e L
inh
a
do
Tiro
75
.12
44
CU
RA
DO
/CO
QU
EIR
AL
/TO
TÓ
–Z
eis
Cav
ale
iro
47
.51
14
AP
IPU
CO
S/D
OIS
IR
MÃ
OS
/SÍT
IO D
OS
PIN
TO
S/G
UA
BIR
AB
A8
2.0
74
5C
UR
AD
O/J
.SÃ
O P
AU
LO
–Z
eis
Pla
neta
dos
Ma
ca
cos
56
.90
15
CA
SA
A
MA
RE
LA
/TA
MA
RIN
EIR
A1
9.4
34
6B
AR
RO
–Z
eis
Te
jipió
/Pa
ch
eco
e V
ila d
os M
ilagre
s4
5.5
31
6C
AS
A F
OR
TE
/PA
RN
AM
IRIM
/JA
QU
EIR
A/M
ON
TE
IRO
16
.70
47
BO
A V
IAG
EM
–S
etú
ba
l1
5.2
01
7G
RA
ÇA
S/A
FL
ITO
S/D
ER
BY
/ES
PIN
HE
IRO
5.7
54
8B
OA
VIA
GE
M/P
INA
–O
rla
, A
v. H
erc
ula
no
Ba
nd
eira
23
.61
18
CA
SA
AM
AR
ELA
–
Zeis
Alto
Man
du/S
ta I
sa
be
l1
4.9
44
9B
OA
VIA
GE
M –
Sho
ppin
g1
7.8
51
9A
LT
O J
. B
ON
IFÁ
CIO
/MO
RR
O C
ON
CE
IÇÃ
O –
Zeis
C. A
ma
rela
24
.79
50
IMB
IRIB
EIR
A –
Lag
oa d
o A
raçá
, M
as
ca
ren
ha
s d
e M
ora
is2
1.0
92
0A
LT
O J
OS
ÉD
O P
INH
O/M
AN
GU
EIR
A –
Zeis
Ca
sa A
ma
rela
40
.01
51
IPS
EP
–A
v. J
ean
Em
ile F
avre
, A
v. R
ecife
12
.92
21
VA
SC
O D
A G
AM
A –
Zeis
Cas
a A
ma
rela
31
.60
52
BO
A V
IAG
EM
–Z
eis
En
tra
-Apu
lso
e I
lha
do D
es
tin
o7
9.3
42
2B
RE
JO
S D
A G
UA
BIR
AB
A E
DE
BE
BE
RIB
E –
Zeis
C. A
ma
rela
62
.71
53
BR
AS
ÍLIA
TE
IMO
SA
/PIN
A –
Zeis
Bra
sília
Teim
osa
45
.50
23
CÓ
RR
EG
O D
O J
EN
IPA
PO
/MA
CA
XE
IRA
–Z
eis
Cas
a A
ma
rela
46
.65
54
PIN
A –
Zeis
Pin
a/E
nca
nta
Mo
ça
e I
lha
de
Deu
s5
6.1
12
4N
OV
A D
ES
CO
BE
RTA
–
Zeis
Cas
a A
ma
rela
48
.24
55
IMB
IRIB
EIR
A –
Zeis
Sít
io G
ran
de
e A
rita
na
81
.61
25
IPU
TIN
GA
–A
P A
lto
do C
éu
, M
on
se
nho
r F
ab
ríc
io5
8.8
45
6IB
UR
A –
Av.
Do
m H
éld
er
Câ
ma
ra,
Vila
do
Se
si
81
.32
26
CO
RD
EIR
O –
Av.
do F
ort
e,
Exp
osiç
ão
de
An
ima
is4
8.8
15
7IB
UR
A/J
OR
DÃ
O –
Zeis
Alto
da
Ja
qu
eira
34
.44
27
EN
Gº
DO
ME
IO/C
OR
DE
IRO
/IP
UT
ING
A –
Bom
Pa
sto
r2
6.3
65
8IB
UR
A/J
OR
DÃ
O –
Zeis
Ib
ura
/Jo
rdã
o4
1.2
62
8M
AD
AL
EN
A/I
LH
A D
O R
ET
IRO
/PR
AD
O2
1.4
55
9C
OH
AB
–A
P L
ag
oa
En
ca
nta
da
e M
onte
Ve
rde
45
.83
29
TO
RR
E/Z
UM
BI
25
.83
60
CO
HA
B –
AP
UR
’s 4
, 5,
10
/R.
Fra
ncis
co V
itoria
no
68
.39
30
MA
DA
LE
NA
/TO
RR
E –
zeis
Sít
ios
Card
os
o e
Be
rard
o6
5.0
86
1C
OH
AB
–U
R’S
1,
2 e
33
8.5
53
1IP
UT
ING
A –
Zeis
Vila
Un
ião
/AP
Detr
an
64
.12
62
CO
HA
B –
Zeis
UR
5/T
rês
Ca
rneiro
s1
6.9
7
Ela
bora
ção
próp
ria.
92
No mapa, duas UDH´s com grande extensão territorial apareceram entre as mais violentas (na quinta classe). Uma trata-se da UDH-4 que congrega o centro comercial do Recife, mas também uma população residente esparsa e bas-tante pobre, que habita um espaço urbano com níveis de degradação acentuada. Essa UDH também faz vizinhança com a UDH-5 (Ilha Joana Bezerra), a terceira com maior taxa de CVLI e um dos locais com os indicadores sociais mais severos da cidade.
A outra grande UDH com níveis elevados é a 14, que congrega alguns bairros do extremo norte da cidade, com áreas rurais e grandes extensões de Mata Atlântica. Nesse caso, os homicídios daquela área aparecem dispersos pelo extenso bairro da Guabiraba, em que a prática de “desova” de cadáveres e a presença de grupos de extermínio marcam a tônica da criminalidade local. En-tretanto, cabe alertar para a importância da utilização de mapas de kernel para identificar melhor a concentração dos crimes em áreas tão extensas, como foi discutido no capítulo 3.
Na tabela 11 apresentam-se alguns indicadores sociais nas dez UDH´s com maior taxa média de homicídios e nas dez com menor taxa (análise UDH 10+/10-). Esse exercício é meramente uma aproximação ao problema em pauta, que permitirá ilustrar a associação entre as desigualdades sociais e criminais no território. Na parte inferior da tabela sumarizam-se os resultados por indica-dores médios. Assim, por exemplo, vê-se como a média da taxa de CVLI das 10 UDH´s mais violentas (97,8 vítimas por 100 mil habitantes) é seis vezes maior do que a média das taxas das dez UDH´s menos violentas (15,7/100 mil).
Um caso interessante é o bairro de Boa Viagem, que por ser o mais popu-loso é um dos que concentra as maiores desigualdades urbanas. Ele foi segmen-tado em quatro UDH´s: a 47, a 4862, a 49 e a 52. A UDH-52 concentra o arqui-pélago de favelas, como as Zeis Entra-Apulso e Ilha do Destino, assim como os piores indicadores sociais do bairro. Não por acaso, esta UDH detém a taxa mais elevada de homicídios (79,3/100mil) dentre aquelas. Já a UDH-47, na localidade de Setúbal, ostentou uma das menores taxas do Recife, com 15,2 mortes a cada 100 mil habitantes. A taxa da UDH-52 foi a 10ª colocada no ranking municipal, 5,2 vezes mais elevada do que a taxa da UDH-47, que foi a 4ª menos violenta da cidade. Trata-se em verdade de duas Boa Viagens completamente distintas.
Retomando a análise geral das UDH´s 10+/10- (tabela 11), observa-se como as UDH´s menos violentas registraram, em média, indicadores de habi-tabilidade ligeiramente mais positivos do que aquelas com piores números de violência. Assim, no primeiro grupo as UDH´s registram índices superiores a 99%, em média, no percentual de domicílios com instalação sanitária e coleta de lixo, contra 93% e 91%, respectivamente, no segundo grupo. O percentual de
62. A UDH-48 integra tanto uma parte de Boa Viagem como do vizinho bairro do Pina (a orla e a Ave-nida Herculano Bandeira).
93
domicílios com água encanada63 engloba 96% dos domicílios no primeiro grupo contra 79,6% no segundo, favorecendo, de novo as UDH´s menos violentas.
A presença de aglomerados subnormais (eufemismo técnico para denomi-nar as favelas e palafitas), revela-se um indicador mais relevante. Pois a média do percentual de domicílios naquela situação nas dez UDH´s com maior taxa de CVLI (33,6%) é 29 vezes superior ao parâmetro aferido para as UDH´s com menor índice de violência (1,17%). Entretanto, esses dados não são conclusivos, pois se nessas dez UDH´s menos violentas realmente não há nenhum caso com índices significativos de favelização, no outro grupo o contrário não é verdadei-ro. Aparecem quatro UDH´s bem violentas (com taxa superior a 80/100 mil) e com índice de favelização inferior a 5%: UDH-12 Beberibe/Linha do Tiro (0%); UDH-14 Apipucos-Guabiraba (0%); UDH-56 Ibura (1,39%) e UDH-32 Torrões (3,74%). Assim, a comparação das médias entre os dois grupos parece estar afe-tada pelo alto grau de favelização nas outras seis UDH´s (superior a 40% dos domicílios) e com altas taxas de homicídios.
O percentual de analfabetos na população de 18 a 24 anos também apa-renta estar mais associado com a violência do que com o indicador anterior. No grupo menos violento o percentual é de 2,00% e no mais violento 8,13% (quatro vezes superior). Apenas um caso escapa à norma. Trata-se da UDH-62 Cohab (Zeis UR 5/Três Carneiros), com 6,19% de analfabetos naquela faixa etária e taxa de CVLI de 17,0/100 mil.
Para o indicador renda média do chefe de domicílio, aquela UDH é também a grande exceção. Com uma renda média de R$240,98, a UDH-62 Cohab destoa do resto do grupo menos violento, cuja média resultou em R$1.892,51. Inclusive ficou abaixo da média do grupo mais violento (R$388,72), que foi quase cinco vezes inferior ao outro grupo. Outras exceções de menor vulto foram a UDH-18 Casa Amarela, com taxa de CVLI de 14,9/100 mil e renda média de R$531,28 e a UDH-51 Ipsep, com taxa de 12,9/100 mil e renda média de R$943,01. Ressal-te-se que nenhuma das UDH´s com maiores taxas de homicídios registrou renda média superior a R$1.000,00.
Conclusão semelhante pode ser aferida ao se analisar a pobreza das UDH´s pelo indicador de percentual de pessoas com renda não superior a um salário mínimo. Esse parâmetro atingiu, em média, 31,46% da população que mora nas UDH´s com maiores índices de violência, contra 10,28% nas UDH´s com os me-nores índices (três vezes mais). De novo, as exceções mais destacáveis foram no grupo das menos violentas: UDH 62 Cohab (31,11%) e UDH 18 Casa Amarela (26,49%).
63. Lembremos que os indicadores dizem respeito ao ano 2000.
94
Tab
ela
11 –
Ran
king
das
10
UD
H´s
com
a m
aior
e co
m a
men
or ta
xa m
édia
de C
VL
I em
200
9/20
10 e
outr
os in
dica
dore
s soc
iais
div
erso
s.
Posi
ção
Códi
goU
DH
Tx M
édia
CV
LI%
águ
a en
cana
da
%
inst
alaç
ão
sani
tári
a
% c
olet
a de
lixo
%
aglo
mer
ados
Su
bnor
mai
s
% 1
8 a
24
anos
an
alfa
beto
s
Rend
a m
édia
% a
té 1
sm
1-17
GR
AÇ
AS
/ A
FLIT
OS
/ D
ERBY
/ E
SPIN
HEI
RO
5,75
99,4
599
,66
99,9
52,
941,
203.
365,
232,
02
2-51
IPSE
P -
Av.
Jea
n E
mile
Fav
re, A
v. R
ecif
e12
,92
99,1
799
,81
99,6
90,
000,
7594
3,01
8,63
3-18
CA
SA A
MA
REL
A -
Zei
s A
lto
Man
du
/Sta
. Isa
bel
14,9
493
,28
99,6
999
,61
3,53
2,67
531,
2826
,49
4-47
BO
A V
IAG
EM -
Set
úb
al15
,20
98,3
799
,85
99,2
90,
001,
182.
268,
803,
82
5-2
SAN
TO A
MA
RO
/ S
OLE
DA
DE
- V
ilas
Nav
al e
Op
erár
ia16
,64
99,0
799
,32
99,5
30,
001,
701.
342,
498,
59
6-16
CA
SA F
OR
TE /
PA
RN
AM
IRIM
/ J
AQ
UEI
RA
/ M
ON
TEIR
O16
,70
96,5
499
,15
99,8
25,
282,
423.
657,
857,
91
7-62
CO
HA
B -
Zei
s U
R 5
/Trê
s C
arn
eiro
s16
,97
83,2
097
,56
93,8
10,
006,
1924
0,98
31,1
1
8-49
BO
A V
IAG
EM -
Sh
op
pin
g17
,85
98,9
999
,82
99,2
60,
001,
312.
924,
511,
61
9-15
CA
SA A
MA
REL
A /
TA
MA
RIN
EIR
A19
,43
96,8
899
,85
99,2
70,
001,
471.
990,
677,
89
10-
3B
OA
VIS
TA /
ILH
A D
O L
EITE
/ P
AIS
SAN
DU
20,9
899
,19
99,7
799
,89
0,00
1,12
1.66
0,28
4,73
10+
52B
OA
VIA
GEM
- Z
eis:
Ent
ra-A
pu
lso
e Il
ha
do
Des
tin
o79
,34
71,9
692
,61
94,6
456
,53
7,06
806,
3725
,97
9+12
BEB
ERIB
E /
LIN
HA
DO
TIR
O -
Zei
s C
asa
Am
arel
a80
,35
89,5
996
,89
94,8
60,
006,
2529
6,63
35,1
5
8+32
TOR
RÕ
ES -
Zei
s: T
orr
ões
e V
ietn
ã80
,36
91,1
098
,48
98,0
83,
746,
4434
7,43
31,3
5
7+56
IBU
RA
- A
v D
om
Hél
der
Câm
ara,
Vila
do
Ses
i81
,32
86,5
097
,26
89,0
11,
394,
9145
0,52
21,0
6
6+55
IMB
IRIB
EIR
A -
Zei
s: S
ítio
Gra
nd
e e
Ari
tan
a81
,61
70,4
494
,02
92,8
741
,85
8,69
404,
2929
,89
5+14
API
PUC
OS
/ D
OIS
IRM
ÃO
S /
S.D
OS
PIN
TOS
/ G
UA
BIR
AB
A82
,07
80,4
393
,45
79,3
10,
009,
5241
2,25
28,2
5
4+41
AR
EIA
S -
Zeis
: Caç
ote
, Bei
rin
ha,
J.U
chô
a e
Rio
/Ira
qu
e10
9,86
82,1
991
,76
98,2
163
,90
8,60
286,
8531
,49
3+5
ILH
A J
OA
NA
BEZ
ERR
A /
SÃ
O J
OSÉ
- Z
eis
Co
qu
e11
0,50
68,9
089
,16
89,5
674
,48
11,2
719
9,36
42,5
2
2+8
CA
MPO
GR
AN
DE
/ C
AM
PIN
A B
AR
RET
O -
Zei
s C
amp
o G
ran
de
114,
5579
,39
89,5
895
,11
44,6
38,
4035
1,53
34,1
4
1+4
REC
IFE
CEN
TRO
- Z
eis
Co
elh
os
/ A
P C
om
un
idad
e Pi
lar
152,
5675
,54
87,3
686
,20
49,4
610
,14
331,
9734
,77
10 U
DH
s co
m a
s m
eno
res
taxa
s m
édia
s C
VLI
200
9/20
1015
,74
96,4
199
,45
99,0
11,
172,
0018
92,5
110
,28
10 U
DH
s co
m a
s m
airo
es t
axas
méd
ias
CV
LI 2
009/
2010
97,2
579
,60
93,0
691
,79
33,6
08,
1338
8,72
31,4
6
Raz
ão m
aio
r/m
eno
r6,
181,
211,
071,
0828
,61
4,06
4,87
3,06
Ela
bora
ção
próp
ria.
95
Imagem 28: Diagrama de dispersão das taxas de CVLI por UDH em relação ao percentual de domicílios com instalação sanitária
Elaboração própria.
Finalmente, chegamos à análise bivariada, que consistirá no cálculo dos coeficientes de correlação de pearson (r) entre as taxas médias de CVLI e os indicadores sociais das condições habitacionais dos domicílios e de educação e renda dos moradores das unidades espaciais. O objetivo é comparar o desempenho das correlações por bairro; bairro>1000 e UDH. Dentre todas as correlações calculadas, a que registrou maior coeficiente (r=-0,78) foi o percentual de domicílios com instalação sanitária por UDH. Nesse caso, o coeficiente negativo indica que, quanto mais aumenta o percen-tual de domicílios com instalação sanitária, mais decresce de modo semelhante a taxa média de CVLI.
Na imagem 28, um diagrama de dispersão entre essas duas variáveis mostra a notória concentração das unidades observadas (os pontos são as UDH´s) em tor-no da línea de melhor aderência, que representaria uma correlação perfeita (r=1). Cabe lembrar que na anterior análise das UDH´s 10+/10-, o indicador percentual de domicílios com instalação sanitária praticamente não chamou a atenção. Por esse contraste conclui-se que a maior correlação deve-se aos casos com níveis de violência intermediários, que registraram também patamares intermediários de percentual de domicílios com instalação sanitária.
A mesma correlação, quando calculada para os bairros com mais de mil habitan-tes, resultou num coeficiente um pouco menos elevado (r=-0,62), mas também altamen-te significante (p<0,01). Já a análise bivariada, levando em conta o conjunto de todos os bairros, reduziu o coeficiente para -0,22, que se manteve significante, embora em menor magnitude (p<0,05). O mesmo exercício foi feito para as outras onze variáveis indepen-dentes. Na tabela 12, sumarizam-se os coeficientes para cada indicador, comparando o desempenho segundo o critério de unidade espacial de análise. O grau de significância
96
é sinalizado pelo asterisco (*) no indicador, caso o p-valor seja inferior a 0,05 (p<0,05) e por asterisco duplo (**), caso o p-valor do coeficiente seja inferior a 0,01 (p<0,01).
Destaca-se como em todas as situações o desempenho dos coeficientes para as UDH´s foi sempre igual ou superior ao dos bairros. No caso de todos os bairros, os indicadores foram muitas vezes prejudicados pela volatilidade das taxas dos bairros com menor número de moradores. Assim, sete indicadores não apresentaram correla-ção significativa, enquanto cinco sim: três deles a um nível inferior, 0,05; e dois, a 0,01.
Tabela 12: Coeficientes de Pearson (r) e graus de significância das correlações da taxa CVLI e 12 indicadores socioeconômicos. Razão dos r por UDH com os R por bairro e por bairro>1000.
bairro bairro>1,000 UDH
Razão UDH/bairro
Razão UDH/ bairro>1000
CO
ND
IÇÕ
ES
HA
BIT
AC
ION
AIS
% de pessoas que vivem em domicílios com água
encanada-0,119 -0,437** -0,515** 4,35 1,18
% de pessoas que vivem em domicílios com instalação sanitária
-0,217* -0,617** -0,776** 3,57 1,26
% de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta
de lixo
-0,015 -0,438** -0,487** 32,13 1,11
% de pessoas que vivem em domicílios em
aglomerados subnor-mais
0,042 0,393** 0,634** 15,22 1,61
Média de moradores por domicílio
-0,416** 0,353** 0,369** -0,89 1,04
RE
ND
A
Renda média -0,182 -0,523** -0,524** 2,88 1,00
% sem rendimentos 0,225* 0,572** 0,672** 2,99 1,18
% até 1 sm 0,176 0,567** 0,597** 3,39 1,05
% 1 a 2 sm 0,150 0,504** 0,507** 3,39 1,01
ED
UC
AÇ
ÃO
% 18 a 24 anos analfa-betas
0,330** 0,646** 0,712** 2,16 1,10
% 15 a 17 anos analfa-betas
0,260* 0,577** 0,710** 2,73 1,23
% 10 a 14 anos analfa-betas
0,046 0,666** 0,737** 15,96 1,11
Elaboração própria.
**. Correlação significante ao nível 0.01 (bi-caudal).*. Correlação significante ao nível 0.05 (bi-caudal).
97
Quando foram excluídos da análise os sete bairros com menos de mil habitantes, os coeficientes dispararam, tornando-se todos altamente significantes(**). No caso das UDH´s, os doze coeficientes correlacionaram-se também ao nível de exigência es-tatística de p<0,01. Contudo, em todas as situações, observaram-se coeficientes mais elevados do que no critério de bairros com mais de mil habitantes.
Cabe salientar que todos os indicadores correlacionaram-se no sentido (positivo ou negativo) previsto teoricamente nos três critérios de análise propostos. Por exemplo, maior proporção de analfabetos correlaciona-se com maior taxa de CVLI (r=+). Maior renda média, com menor taxa de CVLI (r=-), etc. A única exceção foi o indicador média de moradores por domicílio, que correlacionou-se negativamente entre os bairros e, depois, positivamente entre os bairros>1000 e as UDH´s. O que indica que alguns valores dis-crepantes entre os menores bairros (com altas taxas) afetaram fortemente o sentido da correlação, que paradoxalmente, também se tornou altamente significante. Mas a exclu-são dos mesmos corrigiu esta situação, confirmando o sentido da previsão teórica. Outra generalização é que o valor do coeficiente r aumentou, embora nem sempre na mesma medida, ao passarmos do critério de unidade bairro para bairro>1000 e para UDH.
Para demonstrar o melhor desempenho dos coeficientes de correlação obtidos para as UDH´s na tabela 12 apresentam-se também as razões entre o r observados nas UDH´s com relação aos r observados nas unidades por bairro e por bairro>1000 habitantes. Assim, obtém-se que as correlações por UDH foram, em média, 7,2 ve-zes mais eficientes do que as aferidas por bairro nos indicadores considerados, o que resulta num nível de eficiência 612% superior àquele. Já com relação às análises por bairro>1000, os cruzamentos por UDH tiveram um desempenho médio 1,16 vezes superior, significando que foram 16% mais eficientes, em média, na hora de correla-cionar os indicadores socioeconômicos com a taxa da violência.
Discussão
A utilização do mapa temático de cores, com o qual foi possível representar cartograficamente as taxas médias de CVLI por UDH tem algumas vantagens, mas também inconvenientes. Permite a identificação de desigualdades internas em bairros que foram desagregados, contudo impossibilita apreciar diferenças entre bairros que foram agregados. Mesmo assim, consideramos importante a sua análise, pois os bair-ros que são agregados contêm pequenos contingentes populacionais. O mapa também aparece prejudicado quando alguma UDH, como a 14, com grande extensão terri-torial e imenso vazio demográfico, acusa elevados índices de violência. Nesse caso, representará toda a extensão da UDH com a intensidade cromática da classe. Uma alternativa seria sobrepor a malha viária, permitindo distinguir as áreas povoadas daquelas mais desertas.
Assim, vemos como o mapa por UDH atende parcialmente ao almejado por Ratton e Cireno (2007: 55), para quem “o ideal seria a apresentação de uma visão da
98
cidade do Recife que identificasse as «manchas criminais» e as «manchas não criminais» que atravessam as fronteiras dos bairros”. Esse mapa em questão seria o de Kernel, apresentado no capítulo 3. O mapa das taxas por UDH se diferencia dele na medida em que permite visualizar setores da cidade com ocorrência elevada de crimes ponderando-os pela população. Ou seja, mostra a densidade populacional de crimes. Já o mapa de Kernel representa a densidade espacial de crimes. Refletindo, na intensidade cromática dos pixels de cada cédula espacial no mapa, a quantidade de crimes por unidade de medida espacial (km2, por exemplo64).
Assim, o mapa de Kernel parece mais adequado para trabalhos de alocação de esforços operacionais, especialmente os policiais. Estes envolvem, por exemplo, a fi-xação de cartões-programa de circulação de viaturas ou a determinação exata dos pontos da ocorrência dos crimes para subsidiar a atribuição de competências ou a rea-lização de investigações. É valido também para a identificação de territórios com alta densidade espacial de crimes e a determinação do local mais oportuno para alocação efetiva de equipamentos públicos, visando à sua literal ocupação.
Já o mapa temático das taxas por UDH parece mais apropriado para gestores de políticas preventivas que não se atenham à intensidade territorial de crimes, mas priorizem o conhecimento do grau de vitimização da população que sofre a violência, considerando-a como legítima receptora das políticas públicas. Seja qual for o modelo usado, fica evidente o que Cano e Santos já observaram ao olhar mapas de outras ci-dades brasileiras, como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba. A saber:
Há uma superposição considerável entre o mapa socioeconômico e o mapa de risco de homicídios em cada cidade. Em consequência, é muito consistente a evidência a favor da hipótese de que as taxas de homicídio, nas áreas metro-politanas do Brasil, são mais altas entre os habitantes de bairros pobres do que entre os habitantes de classe média ou média-alta (CANO; SANTOS, 2007:79-80)
No que tange à comparação entre bairros e Unidades de Desenvolvimento Hu-mano (UDH´s), as análises efetuadas neste estudo deixam claro que as UDH´s captam melhor no espaço intraurbano a correlação entre as taxas de homicídios e os indica-dores sociais, quaisquer que estes sejam. Em alguns indicadores, atingiu-se o patamar de correlações com coeficiente na ordem de 0,7, superando, em média, os maiores registros atingidos nas análises pelo critério bairro com mais de mil moradores (na casa de 0,6). Esses achados despontam no contexto nacional, onde geralmente citam--se correlações entre homicídios e indicadores sociais com r entre 0,5 e 0,6 (SZWAR-CWALD et al., 1999; GAWRYSZEWSKI; COSTA, 2005; CANO; SANTOS, 2007; SOARES, 2008).
64. Para tanto, baseia-se na contagem eficiente dos crimes ao redor de um ponto em que se situa a cédula de referência, considerando a distância de um raio a ser definido pelo analista.
99
Quando o IBGE liberar os dados desagregados do Censo-2010, será possível testar se a disponibilidade de dados mais atuais contribui para aumentar, mais ainda, as correlações consideradas. Vale destacar que a Prefeitura do Recife, nessa última década, tem promovido a realocação de famílias de palafitas para conjuntos habitacio-nais, em áreas geográficas distintas, o que tem tornado defasado o próprio trabalho do Atlas, demandando a pronta atualização do mesmo.
Cabe lembrar ainda sobre o risco de cometer o erro de interpretação conhecido como falácia ecológica. Não se deve concluir, a partir dos dados de unidades ecológicas (bairros, UDH´s, etc.), que os riscos aferidos para aquelas podem ser extrapolados por igual a todos os indivíduos que as habitam. Ou seja, metodologicamente não se pode atri-buir que todos os indivíduos que residem em áreas sociais menos favorecidas sofrem o mesmo risco. Trata-se, em verdade, de um risco médio, que pode sofrer grandes dispari-dades de acordo com outras variáveis, como geração, gênero, raça/cor, estado civil, etc.
Assim mesmo, pela correlação entre homicídios e analfabetismo, por exemplo, no nível ecológico de análise não pode inferir-se que todas as vítimas de homicídios que ocorram em determinado bairro com elevado grau de analfabetismo sejam, de fato, analfabetas. Pois a mensuração da associação de variáveis num nível de análise ecológico, seja com base em unidades espaciais mais ou menos apropriadas, nunca terá o valor de atribuição de riscos que pode inferir-se no nível de análise dos indivíduos em outro tipo de estudos.
Pobreza, violência e políticas públicas
Sobre as consequências teóricas da forte correlação evidenciada entre violência e indicadores sociais devem ser feitas algumas colocações. Em primeiro lugar, é pre-ciso alertar que a pobreza concentrada nos bolsões periurbanos das metrópoles, en-trincheirada pelas grandes áreas comerciais e residenciais dos bairros nobres, não é equiparável àquela miséria rural, própria de comunidades interioranas, especialmente no Norte e Nordeste do país, que ainda preservam valores tradicionais. Como dizia Coelho, “não é a pobreza em si que gera a criminalidade, mas a densidade de pobreza ao per-mitir a elaboração da subcultura marginal” (1993 apud SILVA, 2006: 22). Dessa forma, as correlações aqui levantadas, geralmente não funcionam da mesma maneira quando são tomados municípios como unidade de análise. Após exame detalhado do proble-ma, Cano e Santos (2007: 85) chegaram à conclusão que é a combinação da pobreza com a urbanização, em contraposição com a pobreza em contexto rural, que desponta como importante fator determinante da violência. “Poderia ser uma combinação de fa-tores – urbanização rápida sem serviços sociais, pobreza, falta de controle social e anonimato, desigualdade, falta de oportunidades para a juventude, etc. – o que provocaria nas cidades altos níveis de violência”.
Além disso, os indicadores de maior precariedade social parecem refletir o des-caso do poder público para com a vida dos setores mais desfavorecidos da sociedade. Nesse sentido, e inspirando-nos na perspectiva das “janelas quebradas” de Wilson e
100
Kelling (1982 apud ROLIM, 2006; SOARES, 2008), consideramos que a omissão pú-blica se coadunaria com a banalização da vida. E a degradação urbana seria o atestado de que a vida das pessoas miseráveis não teria o mesmo valor para o poder público, logo, sinais de impunidade seriam emitidos pelo ambiente aos agressores.
As evidências coletadas neste estudo sinalizam que ainda há necessidade de avançar na promoção da melhoria das condições de vida destas populações. Seja por meio da realização de intervenções urbanas, como iluminação e recuperação de espa-ços públicos, ou de ampliação de programas sociais e educacionais. Percebe-se, então, a importância do papel das prefeituras no enfrentamento da violência.
Contudo, se a violência letal recrudesce nos bairros mais desfavorecidos, nem todo bairro pobre é refém da mesma, cabendo aos gestores públicos levantar as es-pecificidades locais, até para encontrar explicações aos casos que escapam à norma. Pode-se inferir que com o uso das UDH´s (construídas pela agregação de pequenos bairros homogêneos e desagregação de grandes bairros heterogêneos) foi possível otimizar a mensuração das iniquidades territoriais e a sua correlação com a produção espacial da violência. Tal achado mostra a relevância do esforço empreendido pelos técnicos, que ao criarem as UDH´s para fornecer um retrato mais fiel da heterogenei-dade social da cidade oportunizaram uma valiosa ferramenta para testar com maior precisão a aderência das taxas de homicídios aos indicadores socioeconômicos.
Motivação de homicídios: análise de uma proposta de classifi cação1
Gerard Sauret
1. Texto baseado em apresentação do autor na Mesa Redonda “Prevenção e investigação de homicídios: estratégias consolidadas e novos desafi os”, realizada no 4° Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segu-rança Pública, que aconteceu em São Paulo em 16/03/2010.
5
103
Nos últimos anos, são notáveis os avanços das pesquisas que procuraram ca-racterizar o fenômeno da violência homicida no Brasil, traçando tendências marcadamente epidêmicas e identificando o perfil das vítimas. Para tanto, os
estudiosos têm realizado cruzamentos entre todas as variáveis disponíveis nos bancos de dados oficiais, buscando associações significativas e relações de causalidade entre as mesmas, bem como fatores de proteção e de vitimização (WAISELFISZ, 2007; CRUZ; BATITTUCI, 2008; SOARES, 2008; CANO; RIBEIRO, 2007; BRASIL, 2009).
Contudo, poucas pesquisas debruçaram-se sobre uma questão central para o apri-moramento das políticas de redução de homicídios: a das motivações dos autores que cometeram aqueles crimes (LIMA, 2002; SILVA, 2006). A importância dessa questão passa pela possibilidade de construção de uma taxonomia geral dos homicídios que dê conta das situações típicas em que esses crimes acontecem. Isso permitirá a realização de diagnósticos realmente acurados e a diversificação e o refinamento das estratégias de ação, direcionando-as corretamente para os seus respectivos públicos-alvos.
Para compreender melhor o hiato existente entre a oferta acadêmica e a procura pública por conhecimento sobre a motivação dos crimes letais, há de se levar em conta que a maior parte dos estudos na área utiliza como fonte o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS). Entretanto, o SIM não prevê a coleta de informações sobre a motivação das mortes por agressão, haja vista não es-tarem disponíveis no momento da perícia do cadáver. Na maioria dos casos, apenas no desenrolar das investigações da Polícia Civil (PC) é que esse tipo de apuração é feita.
Um segundo empecilho reside no fato de que mesmo as fontes policiais sendo consultadas, os dados da motivação não estarão disponíveis na forma apropriada para a imediata quantificação. Pois muitas secretarias de Segurança Pública negligenciam a coleta de informações sobre esse item. Tal realidade parece refletir a caducidade de certas políticas de segurança pública, que não superaram os engessamentos da heran-ça jurídico-penal do sistema de justiça criminal. Isso pode-se explicar porque, como ressalta Renato Sérgio de Lima (2002: 49), “para classificar um crime como homicídio, o Estado, através dos aparelhos policial e judiciário, parte dos resultados das ações e não dos motivos ou causas”.
Ora, quando a PC constata a intencionalidade dolosa de um ato homicida (inten-ção de matar), se faz preciso que complete a investigação acerca do crime recolhendo informações sobre as motivações subjetivas do autor. Isso possibilita ao Ministério Público a fundamentação da acusação com as chamadas qualificadoras do crime: cir-cunstâncias agravantes/atenuantes previstas em lei (SILVA, 2006; BRASIL, 2010). Além disso, a demanda recente por políticas preventivas e coercitivas de redução de homicídios focada em públicos específicos traz à tona a questão dos diversos “tipos de homicídio” e suas motivações específicas, colocando-a na pauta dos departamentos de gestão da informação nas pastas que cuidam da Segurança Pública.
Nesse sentido, apresenta-se aqui uma experiência inovadora realizada pela Ge-rência de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Gace/SDS-PE), a qual consistiu na busca ativa de informações sobre a motivação
104
dos homicídios em todas as fontes policiais disponíveis, visando à alimentação do ban-co de dados oficial sobre homicídios (Infopol/SDS). Os esforços empreendidos têm frutificado na consolidação do campo motivação como mais uma variável passível de ser quantificada e cruzada com todas as outras informações disponíveis no banco de dados, como sexo, idade, instrumento utilizado, etc.
Desta feita, neste último capítulo apresenta-se análise de uma proposta taxonô-mica, resultante da agrupação conceitual das motivações específicas dos homicídios em macrocategorias, que permitem a operacionalização de “tipos ideais” de crimes, a serem descortinados a partir dos perfis diferenciados das suas vítimas.
Como já mencionado, hoje configura-se como tarefa significativa o levantamen-to sistemático dessas informações, de modo a diagnosticar de forma precisa as múl-tiplas causas do fenômeno e delinear melhor políticas públicas diferenciadas de com-bate às diversas modalidades de crime letal. Cano e Ribeiro (2007) assinalam como prioritário aprofundar na linha de pesquisa sobre a etiologia (causas) e contextos de homicídios. E em particular sobre os fatores de risco e de proteção associados a cada tipo específico de morte violenta intencional. Silveira (2008), por sua vez, desde a perspectiva da prevenção da violência, aponta a importância do aprofundamento do conhecimento sobre o tema em pauta, de modo a permitir a elaboração de programas mais adequados e o aprimoramento dos já existentes.
Conceitos e classificações sobre as motivações de homicídios
Nesse trabalho, adotamos a perspectiva weberiana assumida por Klarissa Silva (2006), segundo a qual a motivação do homicídio deve ser concebida como uma causa subjetiva, inerente ao sentido dado pelos sujeitos às suas ações sociais. Esta causa corresponderia, assim, com a finalidade da ação social do sujeito homicida. Mas para apreendê-la em seu pleno significado, a mesma deve ser circunscrita às circunstâncias em que se processa a relação entre autor e vítima. Um trabalho pioneiro nessa área foi o volume monográfico sobre o assassinato, escrito em 1956 por Hans Von Hentig (1980). Desde os pressupostos da psicologia criminal, o autor alemão adotou perspec-tiva semelhante e anteviu que não era possível conceituar a motivação do homicídio numa dimensão estática, devendo ser circunstanciada de acordo com as situações em que se desenrolava o crime.
Hentig mencionou as dificuldades da estatística criminal para operacionalizar as classificações motivacionais, uma vez que fica limitada à casuística de motivos que muitas vezes se entrecruzam. E alertou que além do motivo principal, é possível en-contrar outros, secundários. A classificação contemplava quatro grandes conflitos fundamentais como determinantes para motivar a supressão da vida alheia. Assim como uma quinta categoria “curinga” para os casos inclassificáveis. As categorias pro-postas foram:
105
1. Assassinato por lucro: englobaria tanto o roubo com homicídio65 (seria a forma mais “primitiva”), como o praticado por interesses financeiros (co-branças ou destruição de dívidas) e o “assassinato assalariado”;
2. Assassinato por conflito: crimes geralmente perpetrados por sentimentos de amor, ódio, ciúmes, cólera e vingança. Aqui entrariam tanto brigas entre casais, como disputas no local de trabalho com o patrão, ou em outras cir-cunstâncias da vida social emocionalmente desequilibrantes e que podem descambar na morte de uma das partes;
3. Assassinato por cobertura: seria aquele motivado pela necessidade de escon-der outro crime, geralmente de menor gravidade, e que forçaria o autor à eliminação de testemunhas para evitar possíveis delações;
4. Assassinato sexual: cujas vítimas preferencialmente são do sexo feminino e no qual se incluem o estupro seguido de morte e outros crimes fatais asso-ciados a desordens da sexualidade, como o fetichismo e a impotência;
5. Outros assassinatos: produzidos em circunstâncias e por motivações atípi-cas. Estariam incluídos aqui desde o assassinato político, até aqueles co-metidos sem motivo ou com motivos “pobres” e os produzidos por doentes mentais (HENTIG, 1980: 61-86).
Com o exemplo de Hentig (1980), constata-se que a criminologia clássica, especialmente a psicologia criminal, já se preocupara em estudar a questão ora em pauta. Nas ciências sociais, entretanto, apenas nas últimas décadas do século XX é que a temática tem chamado a atenção de estudiosos. De acordo com levantamento efetuado por Silva (2006), em dissertação sobre o tema, a literatura internacional sobre os tipos de homicídios tem se desenvolvido preponderantemente nos EUA. A autora destaca estudo de Parker e Smith, datado de 1979. Trata-se de trabalho que categorizou os homicídios em primários (com relacionamento prévio entre autor e vítima) e não-primários (sem relacionamento prévio e ligados a outros crimes). Aqueles autores conceberam, assim, a questão da díade autor-vítima como a chave heurística para entender melhor o fenômeno da violência letal e circunscrever a motivação do crime. Em estudo complementar de 1989, Parker refinou a classificação anterior distinguindo o homicídio primário cometido entre pessoas íntimas (familiares e namorados ou ex-namorados) do homicídio primário cometido entre pessoas não íntimas (como amigos e conhecidos). Ademais, dentre os homicídios não primários
65. Hentig cita trabalho pioneiro de estatística criminal que destacou o roubo com homicídio como o principal motivo do assassinato. Mas critica que essa estatística não considerou a maior subnotificação das outras causas: Kriminalistik fur das Jahr 1931, Berlin, 1934, pág. 35 (apud HENTIG, 1980: 62). No entanto, registros sobre a motivação de homicídios também podem ser encontrados em documentos bem mais antigos. Muchembled (1989 apud SOARES, 2008: 18-19) resgatou dos arquivos históricos dos duques de Borgonha e seus sucessores, os Habsburgo, os motivos alegados por assassinos para solicita-ção de perdões a serem concedidos (vendidos) pelos duques. Tais registros foram anteriores ao século XVII e os motivos alegados variavam desde a honra, a defesa de amigos, a vingança e o interesse pessoal, dentre outras respostas.
106
Parker diferenciou o homicídio cometido com a intenção de roubar (latrocínio) dos homicídios cometidos concomitantemente a outros crimes (tráfico de drogas, etc.) 66.
No quadro 2 são apresentadas estas e outras propostas classificatórias da lite-ratura internacional levantadas por Silva (2006), como a de Williams, de 1988, que teria distinguido os conflitos diversos, protagonizados em sua maioria por familiares e conhecidos, dos outros crimes perpetrados entre desconhecidos. Estudos mais re-centes, focados em cidades com problemas de violência, como Boston e Saint Louis (EUA), vêm abordando a questão em categorias em que o fenômeno da “gangue” ocu-pa um papel central. Finalmente, Silva (2006) cita proposta de 2003 de Kubrin, que apela mais para os detonantes emocionais individuais do que para o contexto social imediato em que se encontram inseridos vítima e agressor.
Quadro 2: Classificações sobre as motivações de homicídios na literatura internacional
1. Parker & Smith (1979)
1. Homicídios primários (movi-dos por paixão ou impulso, ligados a ato passional);2. Homicídios não-primários(ligados ao cometimento de outros crimes. São mais pre-meditados).
2. Williams (1988)
1. Conflitos diversos (amorosos, infanticídio, discussões por dinheiro ou propriedade, brigas envolvendo drogas ou álcool);2. Outros (estupro ou roubo seguido de morte, brigas de territórios de gangues e gangues juvenis).
3. Parker (1989)
1. Homicídio primário entre pessoas íntimas;2. Homicídio primário entre pessoas não íntimas;3.Homicídios concomitantes a outros crimes;4. Latrocínio.
4. Braga et al.(1999)Boston. EUA
1. Roubos envolvendo gangues (latrocínio);2. Circunstâncias domésticas;3. Circunstâncias pessoais;4. Acidentes com armas.
5. Rosenfeld et al. (1999)Saint Louis. EUA
1. Homicídios motivados por gangues;2. Homicídios envolvendo membros de gangues;3. Homicídios onde não houve envolvimento de gangues.
6. Kubrin (2003)
1. Descontrole súbito;2. Raiva;3. Ira;4. Roubo (latrocínio);5. Drogas;6. Retaliação/vingança.
Fonte: Silva (2006). Elaboração própria.
No quadro 3 elabora-se esquema semelhante ao anterior, privilegiando classifica-ções propostas por autores nacionais. Silva (2006) cita ainda autores de São Paulo, como Corrêa, que em 1983 demonstrou a miríade de motivações por trás dos chamados crimes
66. A tipologia de Parker também é citada por Beato (2006:69-70) para ilustrar a heterogeneidade etiológica dos homicídios.
107
passionais, analisando os processos de Campinas. No ano seguinte, Fausto analisou os processos julgados na cidade de São Paulo e elaborou tipologia extensa com dez catego-rias. Ainda no Estado de São Paulo, o texto de Manso (2002) procurava qualificar as po-líticas públicas de redução de homicídios, apresentando classificação própria com base na análise dos inquéritos policiais da cidade de Diadema e das zonas Sul e Leste de São Paulo.
Por sua vez, a classificação contida na dissertação de Renato Sérgio de Lima ba-seou-se na análise dos inquéritos policiais da cidade de São Paulo, em 1995. O trabalho, publicado em formato de livro (LIMA, 2002), procurou demonstrar como no cenário paulista não eram as drogas, mas os conflitos interpessoais diversos da vida cotidiana os que constituíam a principal causa para o gritante número de homicídios da época. Esta tese estava na contramão tanto da opinião pública quanto das formulações de Alba Zaluar (2004), que apontavam o tráfico de drogas como o principal vetor indutor da mortalidade violenta no cenário do Rio de Janeiro e, por extensão, do Brasil.
Quadro 3: Classificações sobre as motivações de homicídios na literatura brasileira
7. Corrêa (1983)Campinas (SP) Crimes pas-sionais.
1. Infidelidade da mulher;2. Abandono/separação de casal;3. Briga ou agressão mútua;4. Negativa de autoria do crime.
8. Fausto (1984)São Paulo (SP).
1. Honra;2. Afetividade;3. Deveres conjugais/familia-res;4. Disputas por interesses materiais;5. Questões de serviço;6. Jogo/aposta/troça;7. Choque étnico-cultural;8. Violência sexual seguida de morte;9. Roubo;10. Transgressão da ordem pública.
9. Manso (2002)Diadema, Zonas Sul e Leste de SP.
1. Comunidade;2. Familiar;3. Grupo;4. Negócios;5. Pessoal;6. Roubo;7. Outros.
10. Lima (2002)Estado de São Paulo.
1. Envolvimento com crime organizado e tráfico de drogas;2. Conflitos interpessoais diversos;3. Criminalidade não organi-zada (latrocínio);4. Informação não disponível.
11. K. A.Silva (2006)Belo Horizonte (MG).
1. Conflitos cotidianos;2. Drogas/tráfico;3. Vingança;4. Trabalho policial;5. Homicídio simples (caput);6. Conflitos amorosos;7. Motivos financeiros;8. Bala perdida;9. Outros.
12. G.D. Luciano & H.F. Silva (2007)Brasília (DF).
1. Influência ou efeito do tráfico de drogas ilícitas;2. Motivo fútil;3. Vingança;4. Passional;5. Influência ou efeito do álcool etílico;6. Ação de gangues;7. Acerto de contas;8. Erro.
Fontes: Silva (2006); Lima (2002); Manso (2002); Luciano & Silva (2007). Elaboração própria.
108
Já a dissertação de Klarissa Silva (2006) debruçou-se sobre as denúncias de homicídios (tentados e consumados) oferecidas pelo Ministério Público na comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre 2004 e 2005. A partir de uma abordagem sociológica, que levou em conta tanto os perfis dos envolvidos como as circunstân-cias sociais em que os eventos ocorreram, a autora construiu uma tipologia com tra-ços equivalentes ao que vem se convencionando chamar motivações de homicídios.
Por último, lista-se trabalho realizado por dois integrantes da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal, o tenente-coronel Luciano e a major Silva, que elencaram dados descritivos dos homicídios acontecidos em Brasília no primeiro trimestre de 2007, relacionando os principais motivos esclarecidos pela PC (LUCIANO et al., 2007).
Resulta oportuno terminar este ponto lembrando a observação de Cano e Ri-beiro (2007:52), conforme a qual não existe entre as organizações policiais, nem sequer entre os pesquisadores, uma classificação consensual sobre os tipos de ho-micídios existentes, usando cada um “a sua própria classificação em função dos seus objetivos”.
Metodologia
Neste trabalho foi realizada análise estatística uni e bivariada de uma proposta de classificação das categorias específicas no campo “motivação do homicídio” em macrocategorias conceituais. A variável construída, a macromotivação do homicí-dio, será considerada a variável dependente, segmentando-a com cinco variáveis independentes agrupadas: sexo (masculino; feminino), grupo de idade (menos de 18 anos; de 18 a 30 anos; mais de 30 anos), instrumento utilizado (arma de fogo; outros meios), região (Região Metropolitana do Recife – RMR; interior) e grupos de municípios segundo tamanho populacional (menos de 50 mil habitantes; de 50 a 100 mil habitantes; acima de 100 mil habitantes). A análise bivariada abrangeu a construção de tabelas de contingência e realização de teste de significância (Chi quadrado), utilizando-se os programas Excel 2007 e SPSS 13.0. No caso, foi testa-da a hipótese nula de ausência de diferenças significantes entre as frequências das macrocategorias construídas, quando segmentadas pelas categorias das variáveis independentes. Foram considerados inclusive os casos sem informação, que merece-rão atenção especial neste levantamento, de modo a interpretar o seu sub-registro. Finalmente, procurou-se construir perfis diferenciados de vitimização para cada tipo de homicídio.
Os dados utilizados foram extraídos do Sistema de Informações Policiais (In-fopol/SDS) e correspondem à estatística oficial de Crimes Violentos Letais Inten-cionais (CVLI) em Pernambuco. Tal banco é alimentado pela Gace/SDS, a partir de uma estratégia multifonte de apuração dos casos constantes nos relatórios Diários de Homicídios do IML, PC, PM e IC, conforme explicado no capítulo 1.
109
Imagem 29: Grau de preenchimento (%) do campo motivação do homicídio no Sistema Infopol/SDS. Pernambuco, janeiro 2004 a julho 2009.
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Com relação às informações sobre a motivação dos crimes constantes no Siste-ma Infopol/SDS, cabe salientar que antes de 2009 estas eram recuperadas apenas dos relatórios diários da 2ª Seção da PMPE e dos Boletins de Ocorrência da PCPE, o que gerava níveis muito baixos de preenchimento do campo motivação, inferiores a 25% dos casos. Em 2009, o Núcleo de Gestores da SDS realizou experiência inovadora, com base na Portaria GAB/SDS n°1.911/2008, que previa a coleta de dados sobre o andamento dos inquéritos e a motivação dos crimes em formulário próprio (PER-NAMBUCO, 2008b). Desta feita, os gestores da SDS coletaram junto às Delegacias Seccionais informações dos inquéritos e motivações relativas às vítimas de CVLI que faleceram entre janeiro e julho de 2009. Os dados levantados foram utilizados pela Gace para alimentar o campo “motivação do homicídio” no Infopol/SDS. Isso permi-tiu dar um salto de qualidade inédito e atingir um nível razoável (50,1%) de preen-chimento daquele campo de informação (ver imagem 29). Por conta disso, o período temporal analisado neste trabalho circunscreve-se ao corte de janeiro a julho de 2009.
No tocante à construção das macrocategorias de homicídios, levou-se em con-ta que são múltiplas e variadas as possibilidades de combinação de elementos emo-cionais, motivacionais e circunstanciais contidos nas relações interpessoais que des-cambam na consumação de homicídios. Entretanto, na infinidade de possibilidades classificatórias, optou-se por endossar proposta que, além de inspirar-se na tipologia de Parker (1989 apud SILVA, 2006) e adaptar-se à realidade nacional, atendesse aos seguintes requisitos:
a) ser aglutinadora, visando a evitar a dispersão dos dados estatísticos;
b) plausível de operacionalização pelas polícias, no momento da conclusão das investigações;
110
c) inteligível e atender cognitivamente às demandas de atuação da PC e PM, haja vista constituírem-se nas principais fontes que levantam informações sobre as circunstâncias dos homicídios;
d) que essa classificação auxilie na construção de políticas preventivas no âmbi-to mais amplo da política social do Estado.
Para tanto, agregaram-se as 33 categorias de motivação disponíveis no Sistema Infopol/SDS de acordo com as sete (7) macrocategorias relacionadas no quadro 4. Cumpre salientar que, visando a padronizar o processo de coleta de informações acer-ca da motivação dos homicídios, a SDS publicou a Portaria GAB/SDS n°357/2010 (PERNAMBUCO, 2010a), em cujo anexo, disponível no final do livro (anexo I), des-crevem-se as definições de todas essas categorias, que pautam as polícias para fins de registro e processamento estatístico.
Quadro 4: Relação de macrocategorias e categorias de motivação específicas de CVLI:
1. ATIVIDADES CRIMINAIS 2. CONFLITOS NA COMUNIDADE
Acerto de contas; Conflito agrário;
Disputa de gangues; Discussão em trânsito;
Entorpecentes/drogas; Discussão entre vizinhos;
Corrupção/tráfico de influências; Discussão (outras circunstâncias);
Grupo de extermínio; Embriaguez;
Interesse financeiro; Homofobia;
Pistolagem; Política;
Queima de arquivo; Racismo;
Rixa/galera. Rixa;
3. CONFLITOS AFETIVOS OU FAMILIARES Religiosa;
Briga familiar; Vingança pessoal.
Passional.
5. EXCLUDENTE DE ILICITUDE 4. CVP RESULTANTE EM MORTE
Enfrentamento com a polícia; Roubo (latrocínio);
Reação de um cidadão a um delito. Extorsão mediante sequestro seg. morte;
6. OUTRAS MOTIVAÇÕES Sequestro por engano seguido de morte.
Bala perdida; 7. NÃO INFORMADO
Crime sexual;
A definir.Engano;
Outros.
Elaboração própria.
O primeiro grande grupo aglutina os casos de homicídios relacionados a outras atividades criminais, com destaque para o tráfico de drogas, os grupos de extermínio, o acerto de contas entre criminosos, etc. O segundo grupo abrange uma ampla gama de possibilidades de conflito no âmbito comunitário. Ou seja,
111
tratam-se de homicídios vinculados a conflitos, disputas ou situações de intolerân-cia entre vítimas e autores, no âmbito da esfera pública (comunitária) das relações sociais. No terceiro grupo estão os homicídios provocados por conflitos afetivos ou familiares. São aqueles ligados a conflitos no âmbito da esfera privada das rela-ções sociais. E caracterizam-se pela presença de laços afetivos ou familiares entre vítimas e autores.
O quarto grupo é o das mortes intencionais motivadas pelo cometimento de crimes violentos contra o patrimônio, com destaque para o roubo seguido de morte (latrocínio) e a extorsão mediante sequestro seguida de morte. O quinto grupo procura englobar todas aquelas mortes teoricamente amparadas pela lei. Ou seja, que poderão ser consideradas excludentes de ilicitude por juiz. No caso, despontam as mortes decorrentes de enfrentamento com a polícia e os casos em que cidadãos reagem após o cometimento de um delito, o que resulta na morte do autor.
Como não poderia ser diferente, um sexto grupo reserva-se para aqueles casos que fogem ao esquema classificatório (balas perdidas, crimes sexuais, mor-tes por engano, etc.). Por último, o sétimo grupo prevê os casos em que não há informação nas fontes consultadas ou com motivação a definir.
Resultados
De acordo com os dados do Infopol/SDS, nos sete primeiros meses de 2009 foram registradas 2.456 vítimas de crimes violentos letais intencionais em Per-nambuco. Desse montante, não havia informação disponível sobre a motivação do crime em 1.225 casos, gerando um nível de subregistro de 49,9%. Para o restan-te dos casos, o enxugamento das categorias específicas de motivação informadas permitiu diagnosticar a predominância de dois grandes tipos de homicídios: os vinculados a atividades criminais diversas (498 casos; 20,3%) e os gerados a partir de conflitos no âmbito comunitário (461 casos; 18,8%). Em terceiro lugar apare-ceram os crimes fatais gerados por conflitos afetivos ou familiares, com 132 casos (5,4%). Em quarto lugar, os crimes violentos contra o patrimônio resultantes em morte, sendo a totalidade desses casos de vítimas de latrocínio (72 casos; 2,9%). Os casos presumidos como excludentes de ilicitude vitimaram 46 pessoas (1,9%). Por último, registraram-se 21 casos (0,9%) que foram classificados como outras motivações (Imagem 30).
112
Imagem 30: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação. Pernambuco, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Quando são segmentados os percentuais obtidos de acordo com a variável “sexo” (imagem 31), percebe-se que os níveis atingidos pelos homens são quase idênticos ao total da população vitimada. Isso se deve ao fato de que os homicídios masculinos representam quase a totalidade (93%) das mortes violentas, incorrendo numa hegemonia estatística dos casos. Desta feita, as principais causas da mortalida-de masculina seriam os homicídios concomitantes à prática de atividades criminais (21%) e os conflitos na comunidade (20%). Analisando os dados de vítimas femininas, observa-se como são registrados níveis bem diferenciados nos tipos de vitimização. A principal causa da mortalidade feminina seriam os conflitos afetivos familiares (30%), sobrepondo-se aos homicídios associados às atividades criminais (17%) e aos relacio-nados a conflitos na comunidade (6%). Isto se deve à maior presença das mulheres no espaço doméstico, no mundo da casa, em contraposição à predominância masculina no mundo da rua, como bem observou Lima, parafraseando Roberto da Matta (1982 apud 2002). Leve-se em conta também que o subregistro da motivação é bem maior entre os homens (50%) do que entre as mulheres (43%), revelando que os crimes do-mésticos são mais fáceis de diagnosticar que os crimes ocorridos no espaço público. Pois o mundo doméstico é habitado por familiares, vizinhos e conhecidos que podem ser facilmente testemunhas dos conflitos que descambam nas mortes de mulheres e mais dificilmente se furtarão a fornecer informações às fontes policiais.
113
Imagem 31: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação e sexo. PE, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Na imagem 32 comparam-se os percentuais de vitimização para cada grupo de idade. Chama a atenção que as proporções de homicídios gerados por outras ativida-des criminais são progressivamente maiores à medida que menor é a faixa de idade do grupo considerado. Assim, 13% das vítimas fatais com idade acima de 30 anos, 22% das que tinham entre 18 e 30 anos e 35% com menos de 18 anos, morreram devido à sua vinculação aos chamados mercados do crime. Embora este achado, alguém possa interpretar que referenda a formulação de propostas de redução da maioriade penal, cabe observar que as vítimas de menos de 18 anos representaram apenas 9% do total das mortes violentas. Desde essa ótica, uma evental alteração legislativa teria pouco impacto sobre o indicador geral de violência (ver também tabela 13).
Assim mesmo, de forma inversa ao exposto anteriormente, as proporções de ví-timas por conflitos na comunidade e por conflitos afetivos ou familiares são crescentes à medida que se aumenta no gradiente de grupo de idade. Somando as duas causas, elas responderam por 16% dos jovens mortos menores de idade, 22% dos adultos mortos de 18 a 30 anos e 28% das vítimas acima de 30 anos. O subregistro foi menor entre os com idade inferior a 18 anos (45%) do que nos outros grupos (50%). Talvez pelo fato de os menores encontrarem-se sob a responsabilidade legal de adultos. O que geraria maiores chances da família prestar informações sobre a vida pregressa da vítima às fontes policiais, não ocorrendo necessariamente o mesmo com os adultos mortos.
114
Imagem 32: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação e grupo de idade. PE, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
Chama também a atenção que 6% das vítimas com idade acima dos 30 anos mor-reram vítimas de latrocínio, o que representa o dobro do percentual registrado para o conjunto das vítimas fatais (3%). Sem dúvida, esse grupo de idade é o segmento da população que detém maior poder aquisitivo e, portanto, nele se encontram os alvos mais atraentes, cumprindo-se o que prega a teoria das oportunidades para o crime de Cohen e Felson (1979 apud BEATO et al. 2004).
Analisando os percentuais por instrumento utilizado (imagem 33), obser-va-se que as mortes decorrentes de envolvimento com atividades criminais são a principal causa das vítimas assassinadas por arma de fogo (23%), seguida pelos conflitos na comunidade (16%). Já entre as vítimas por outros meios (a maioria, por arma branca) as principais causas foram os conflitos na comunidade (29%) e os con-flitos domésticos familiares (16%). Note-se a disparidade significativa nos casos de subregistro: arma de fogo (51%); outros meios (44%). Isto pode dever-se a um fator de proximidade e menor anonimato associado aos crimes cometidos mediante outros meios, facilitando as investigações policiais.
115
Imagem 33: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação e instrumento. PE, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
No tocante à região em que aconteceram os crimes, as diferenças são diametral-mente opostas entre os principais tipos de homicídios. Enquanto que na Região Me-tropolitana do Recife (RMR) os homicídios ligados aos mercados do crime superam (28%) os conflitos na comunidade (13%), no interior do Estado acontece o contrário: o destaque é para os conflitos na comunidade (25%), que representam o dobro dos re-gistros de homicídios por ligação com o mundo do crime (12%). Destaca-se ainda que, no interior, as mortes produzidas por conflitos afetivos ou familiares representam 9% dos casos, contra 2% na RMR (imagem 34).
Imagem 34: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação e região. PE, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
116
A quinta variável analisada segmentou os homicídios pelo tamanho da popula-ção dos municípios em que ocorreu o crime. Aqui observa-se como na medida em que aumenta o porte populacional dos municípios, também cresce a proporção de homi-cídios ligados às atividades criminais. Já para as mortes por conflito na comunidade, ocorre o inverso: a proporção aumenta gradativamente na medida em que diminui o tamanho do município (imagem 35).
Na tabela 13 analisam-se os mesmos cruzamentos entre variáveis desde outra perspectiva. No caso, apresentam-se as frequências relativas de cada variável com relação ao total de cada grande tipo de motivação. O que permite obter o perfil de vitimização dos diversos tipos de homicídios. Todos os cruzamentos foram altamente significantes (p<0,0001), o que denota um alto grau de associação entre as variáveis.
Assim, por exemplo, com relação à variável sexo, demonstra-se que em todos os tipos de homicídios os homens representam mais de 90% das vítimas, com exceção dos conflitos afetivos ou familiares (60%). Nesse caso, cabe destacar que não apenas as mulheres são assassinadas por este motivo. Triângulos amorosos, com disputas pelo monopólio afetivo – geralmente de uma mulher – amiúde estão por trás de morte de algum dos envolvidos. Os homicídios por conflitos afetivos ou familiares também são o único tipo em que as mortes por armas de fogo (44%) aparecem em proporção in-ferior aos outros meios utilizados (56%) e a sua frequência revelou-se muito superior no interior do Estado (77%) do que na RMR (23%). Entretanto, estes se encontram quase que homogeneamente distribuídos entre os municípios com menos de 50 mil (38%), de 50 a 100 mil (26%) e acima de 100 mil habitantes (36%). A sua etiologia aparece certamente ligada a questões culturais internalizadas nas relações de gênero.
Imagem 35: Proporção de vítimas de CVLI por macromotivação e tamanho do município. PE, jan a jul 2009
Fonte: Infopol/SDS-PE. Elaboração própria.
117
Por outro lado, homicídios vinculados a atividades criminais e motivados por conflitos no âmbito comunitário têm em comum apenas o fato de vitimarem quase que exclusivamente os homens (94% e 98% respectivamente) e, principalmente, os adultos jovens de 18 a 30 anos (61% e 55% cada). As semelhanças terminam por aí. Nos homicídios ligados à criminalidade, o peso dos adultos acima de 30 anos (23%) representa pouco mais da metade dos casos de conflitos comunitários (39%), enquanto que a presença de menores (16%) representa quase o triplo do que a registrada nos conflitos comunitários (6%). Entre o primeiro tipo, a arma de fogo responde por 93% dos casos. Já no segundo, a arma de fogo recua para 70% e cede espaço para os outros meios (30%). Nas variáveis espaciais demonstra-se que os homicídios concomitantes a outros crimes são preponderantes na RMR (73%) e nas cidades acima de 100 mil habitantes (67%). Já os conflitos comunitários estão bem mais presentes no interior (63%) do que na RMR (37%), porém com maior presença nos municípios menores (43%) e nos maiores (41%), e escassa nos médios (17%).
Resulta interessante destacar na tabela 13 como os valores percentuais obtidos para os conflitos comunitários são quase sempre intermediários entre os homicídios por vinculação com o crime e os relacionados a conflitos afetivos ou familiares. Isso é especialmente válido para as variáveis: grupo de idade, instrumento utilizado, região e tamanho do município. Há uma progressiva gradação entre os três tipos. Como se o primeiro e o terceiro fossem polos opostos e os conflitos comunitários compartilhas-sem traços de ambos os fenômenos.
Com relação aos latrocínios, há uma curiosa relação inversa na comparação com os crimes presumidos de excludentes de ilicitude. No primeiro caso, encontram-se vítimas de roubo seguido de morte. No segundo, dentre outras, vítimas que pratica-ram roubos e foram mortas por policiais ou cidadãos que reagiram ao delito. Ou seja, são a expressão dialética dos dois lados de uma mesma conflagração social resul-tante do fenômeno da delinquência armada. Ambos os tipos vitimam sobremaneira a homens. Por idade, 71% dos latrocínios ceifaram a vida de adultos de mais de 30 anos, enquanto que os excludentes de ilicitude encontraram nos adultos jovens o seu alvo principal (65%). Por tipo de instrumento, observa-se ampla presença da arma de fogo nos latrocínios (79%), sendo maior ainda no excludente de ilicitude (89%). Já nas variáveis espaciais, registram-se níveis semelhantes entre esses dois tipos de morte intencional, seja no interior (60% e 54% respectivamente) ou nas cidades com mais de 100 mil habitantes (51% e 57% cada). Interessante coincidência que denota convergência no espaço entre essas duas modalidades de homicídio.
118
Tab
ela
13: T
abel
a de
cont
ingê
ncia
das
mac
roca
tego
rias
de m
otiv
ação
com
as f
requ
ênci
as p
erce
ntua
is*
(na
colu
na) p
or se
xo, g
rupo
de i
dade
, in
stru
men
to u
tiliz
ado,
reg
ião
e gru
po d
e mun
icíp
ios p
or ta
man
ho p
opul
acio
nal.
CV
LI e
m P
erna
mbu
co, j
anei
ro a
julh
o 20
09.
1. A
tivi
-da
des
Cri
min
ais
2. C
onfl
i-to
s na
co-
mun
idad
e
3. C
on-
flit
os
afet
ivos
ou
fam
ilia
res
4. C
VP
re
sult
ante
em
mor
te
5. E
x-cl
uden
te
de I
lici
-tu
de
6. O
utra
s M
oti-
vaçõ
es7.
Não
In-
form
ado
Tot
alSi
g.
Sexo
Hom
em94
%98
%60
%94
%98
%91
%94
%93
%
p<0,
0001
Mul
her
6%2%
40%
6%2%
9%6%
7%
Tot
al10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
Idad
e
Men
os d
e 18
ano
s16
%6%
5%3%
7%18
%8%
9%
p<0,
0001
De
18 a
30
anos
61%
55%
47%
26%
65%
55%
56%
56%
Mai
s de
30
anos
23%
39%
48%
71%
28%
27%
36%
35%
Tot
al10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
Inst
rum
ento
Arm
a de
fogo
93%
70%
44%
79%
89%
95%
83%
81%
p<0,
0001
Out
ros
mei
os7%
30%
56%
21%
11%
5%17
%19
%
Tot
al10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
Reg
ião
RM
R73
%37
%23
%40
%46
%91
%55
%53
%
p<0,
0001
Inte
rior
27%
63%
77%
60%
54%
9%45
%47
%
Tot
al10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
Tam
anho
M
unic
ipio
Men
os d
e 50
mil
18%
43%
38%
31%
24%
9%28
%29
%
p<0,
0001
De
50 a
100
mil
15%
17%
26%
18%
20%
5%14
%16
%
Mai
s de
100
mil
67%
41%
36%
51%
57%
86%
58%
55%
Tot
al10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
*Val
ores
arr
edon
dado
s
Font
e: In
fopo
l/SD
S-P
E. E
labo
raçã
o pr
ópri
a.
119
Diversificação das estratégias de prevenção
O agrupamento conceitual das categorias motivacionais dos homicídios pre-vistas no Sistema Infopol/SDS permitiu obter maior clareza sobre a tipificação dos crimes fatais ocorridos em Pernambuco e a diversidade das vítimas. As análises reali-zadas mostram claramente que é melhor não se desenhar estratégias de prevenção ge-néricas, uma vez que por trás dos diversos tipos de homicídio encontram-se padrões criminais que demandam soluções diferenciadas.
Os homicídios vinculados aos mercados do crime estão atrelados a dinâmicas sociais mais específicas e concentradas do que no caso dos outros tipos. No tráfico de drogas, por exemplo, as disputas pelo território entre facções concorrentes e a “puni-ção exemplar” dos consumidores que não pagam suas dívidas explicam bem os altos níveis de produção de mortes (ZALUAR, 2004; OLIVEIRA, 2008). Já nos homicídios perpetrados por grupos de extermínio, destaca-se a importância de todo um mercado de oferta e procura de serviços de proteção privada, em contextos de baixa institucio-nalidade estatal percebidos como inseguros (RATTON; ALENCAR, 200967).
Para as teorias sociológicas que procuram vincular os homicídios com o pro-cesso de urbanização e a desorganização social, o esquema proposto funcionaria bem, considerando todos esses homicídios vinculados a outras atividades criminais (ver imagem 35). Desde essa perspectiva, o processo de urbanização contribuiria com o cometimento de crimes, “através do aumento do anonimato e da impessoalidade, com o afrouxamento dos laços mais tradicionais e das formas mais elementares de controle social in-formal” (PRVL, 2010: 77). Em tese, quanto menor o tamanho populacional do municí-pio, maior a controle comunitário sobre o indivíduo e menor o número de mortes por envolvimento com outros crimes. E ao contrário, quanto maior o município, menor a ação inibitória da vizinhança e maior o número desse tipo de mortes. Note-se que no segmento infanto-juvenil é nesse primeiro grupo de homicídios que se acentua a proporção de mortes (imagem 32), especialmente no espaço metropolitano (imagem 34). A adolescência é uma fase crítica no ciclo de vida do ser humano, com maior propensão a confrontar e transgredir os valores aprendidos, como forma de experi-mentar e se posicionar no mundo. Isso denotaria a importância de se pensar políticas públicas que visem a fortalecer a integração e o desenvolvimento social dos jovens urbanos, concorrendo com os mercados do crime.
Quando analisamos os outros tipos de homicídios, as teorias da desorganização e do controle social informal não dão conta dos achados empíricos, demandando de outras abordagens teóricas. Os crimes passionais e familiares são identificados na lite-ratura grosso modo como um problema cultural que, no caso de Pernambuco, como se viu, seria generalizado no interior do Estado. Estes crimes compartilham, junto com os conflitos no âmbito comunitário que descambam no confronto armado, uma etiolo-
67. Em outro trabalho, propõe-se a hipótese não testada de que homicídios de autoria múltipa podem ser mais indicativos de crimes perpetrados por grupos de extermínio. Enquanto ocorrências com vitimi-zação múltipla (chacinas) poderiam ser ocasionadas com maior probabilidade por grupos de traficantes que disputam o controle do território (RATTON; CIRENO, 2007).
120
gia associada a “padrões rurais de honra e valorização da masculinidade e da virilidade na resolução privada de conflitos” (PERNAMBUCO, 2007: 62).
No que tange aos homicídios que detêm um forte componente cultural há postu-lações que afirmam que tais crimes são, em sua grande maioria, “impermeáveis à ação policial”, por serem muitas vezes cometidos em ambientes domésticos ou por pessoas conhecidas (BEATO, 2001). É claro que o policiamento ostensivo pouco pode fazer para evitar os crimes que acontecem na esfera da vida íntima das pessoas. Mas, é importante que, uma vez cometidos, haja a pronta resposta e a prisão em flagrante do agressor, que serão elementos fundamentais da atuação policial naquelas circunstâncias. De modo semelhante, o aumento da capacidade investigativa dos crimes letais e também da ca-pacidade de condenação das agências que atuam no sistema de justiça criminal podem incidir na diminuição da sensação de impunidade em todos os tipos de homicídios, in-clusive naqueles primários.
Em Pernambuco, há indícios promissores de que a intimação sistemática de pessoas denunciadas por ameaça para depor pode ter incidido na redução significativa dos números de assassinatos de mulheres em 2010. Este tipo de medidas encontraria embasamento teórico nas formulações sobre o ciclo da violência no casal de Walker (1979 apud BRASIL 2002). De acordo com o autor, episódios agudos de violência se-riam geralmente precedidos por uma escalada da tensão no convívio do casal, no qual as ameaças do homem tornam-se frequentes.
Por outro lado, para os crimes que acontecem no âmbito comunitário, especial-mente em áreas de lazer com grande concentração de bares e circulação de bebidas alcoólicas, é possível pensar em abordagens que busquem dar maior visibilidade da presença policial – coibindo as agressões – e a interceptação em flagrante de armas, com impacto direto na diminuição da letalidade. Nesse quesito, as intervenções em conjunto com os poderes municipais para fiscalização dos locais de consumo de álcool e promoção da organização e regularização da ambiência urbana tornam-se também contribuições importantes.
Não há dúvida que são muitas as possibilidades e estratégias de prevenção a serem desenhadas e executadas no âmbito das polícias, assim como nas políticas que visem ao desenvolvimento social mediante o acesso amplo à cidadania: educação, saú-de, emprego, esporte, cultura, lazer, justiça, etc. Se o pretendido é alcançar um impac-to transversal na diminuição da violência letal, estas políticas também precisam ser diferenciadas e direcionadas adequadamente aos seus públicos-alvos.
O levantamento das informações sobre as motivações dos homicídios por parte dos órgãos de segurança e a sua sistematização pelos respectivos departamentos de Gestão da Informação é tarefa das mais importantes. E visa a oportunizar o diagnós-tico preciso da multiplicidade de circunstâncias em que ocorre tal fenômeno, assim como o delineamento diferenciado das políticas públicas para as diversas modalidades de crime letal.
É importante notar que a experiência ora apresentada revela uma situação nova em um Estado onde o problema tinha adquirido nos últimos anos dimensões de cro-
121
nificação epidêmica. Nessa tessitura, é louvável destacar o incremento da capacidade investigativa da Polícia Civil de Pernambuco, que possibilitou a coleta das informa-ções sobre as motivações de homicídios, assim como contribuiu, junto com os outros órgãos operativos, nas reduções significativas experimentadas nos últimos anos nas taxas de mortalidade violenta intencional.
ANEXO I
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCOSECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GERÊNCIA DE ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA
PORTARIA GAB/SDS-PE Nº 357 DE 08/03/2010
CATÁLOGO DE MOTIVAÇÕES DE
MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS
123
ATIVIDADES CRIMINAIS
Homicídios vinculados a outras atividades criminais e desvios sociais (drogas)
1.1. ENTORPECENTES/DROGAS: quando a vítima está envolvida como trafican-te ou usuária de drogas, circunstância esta que tem ligação direta com a sua execução.
1.2. ACERTO DE CONTAS: surge de desentendimento relacionado com uma ativi-dade criminosa. Pressupõe-se que vítima e imputado são delinquentes.
*Nota: Excluem-se casos diretamente vinculados ao consumo/tráfico de drogas, em que deverá prevalecer a
categoria “Entorpecentes/Drogas”.
1.3. QUEIMA DE ARQUIVO: eliminação de pessoa que presenciou ou fez parte de ato criminoso e é morta para evitar possível delação.
*Nota: Excluem-se casos diretamente vinculados à categoria “Envolvimento com corrupção/ Tráfico de Influ-
ências”.
1.4. DISPUTA DE GANGUES: surge pela disputa de recursos ou território entre organizações criminosas concorrentes.
*Nota: Excluem-se casos diretamente vinculados ao consumo/tráfico de drogas, em que deverá prevalecer a
categoria “Entorpecentes/Drogas”.
1.5. RIXA/GALERA: surge do desentendimento entre indivíduos pertencentes a grupos rivais.
*Nota: Excluem-se casos envolvendo quadrilhas de traficantes (utilizar categoria “Entorpecentes/Drogas”).
1.6. GRUPO DE EXTERMÍNIO: ocorrência em que comprovadamente a autoria material pode ser imputada a organização criminosa, com ou sem fins lucrativos, des-tinada principalmente à eliminação de pessoas.
1.7. PISTOLAGEM: ocorrência em que, comprovadamente, a autoria material pode ser imputada a pessoa contratada para a execução da vítima e que receberá benefício financeiro pelo serviço.
1.8 INTERESSE FINANCEIRO: ligado a empréstimos realizados de forma ilegal (agiotagem), a cobrança de dívidas financeiras ou a obtenção de vantagem financeira ilícita sobre a vítima.
*Nota: Excluem-se casos diretamente vinculados ao consumo/tráfico de drogas, em que deverá prevalecer a
categoria “Entorpecentes/Drogas”.
1.9. ENVOLVIMENTO COM CORRUPÇÃO/TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS: eliminação de pessoa que agiu ativamente em ato(s) de corrupção/tráfico de influên-cias e é morta para evitar possível delação.
1.10. CRIME ORGANIZADO: vinculado com organização criminosa de abrangên-cia nacional ou internacional (Por exemplo: PCC, Comando Vermelho).
124
CONFLITOS NA COMUNIDADE
Homicídios vinculados a conflitos, disputas ou situações de intolerância entre vítimas e autores, no âmbito da esfera pública (comunitária) das relações sociais.
2.1. VINGANÇA PESSOAL: crime premeditado cometido entre conhecidos em que o autor mata a vítima como preço para satisfazer a sua sede de vingança por qualquer agravo anterior.
*Nota: Incluem-se também, eventualmente, casos de brigas entre famílias, em que membros de uma família X são
mortos por membros de família contrária Y, meramente para vingar a morte de outros familiares mortos com
anterioridade.
2.2. RIXA: surge do desentendimento entre pessoas. O crime é cometido em momen-to diverso ao do desentendimento.
2.3 DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS: surge do desentendimento entre moradores do mesmo bairro ou comunidade. O crime é cometido no momento da discussão.
2.4. (DISCUSSÃO POR) EMBRIAGUEZ: ocorrência em que vítima ou autor (ou ambos) apresentam importante grau de intoxicação etílica, sem que possa relacionar-se qualquer outra motivação específica à motivação da discussão que gerou o CVLI.
2.5. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO: surge do desentendimento entre condutores e/ou ocupantes de veículos automotores diversos.
2.6. DISCUSSÃO (OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS): homicídio resultante por dis-cussão não relacionada nas circunstâncias anteriores.
2.7. CONFLITO AGRÁRIO: motivado pela disputa da posse de terras entre pro-prietários e posseiros ou sem-terras.
2.8. POLÍTICO: eliminação de adversários ou opositores político-partidários.
2.9. RELIGIOSO: crime motivado por divergências de culto e/ou credo religiosa entre autor e vítima.
2.10. RACISMO: crime motivado pela condição étnica ou racial da vítima.
2.11. HOMOFOBIA: crime motivado pela condição homossexual da vítima.
125
CONFLITOS AFETIVOS OU FAMILIARES
Homicídios vinculados a conflitos no âmbito da esfera privada das relações sociais. Caracterizam-se pela presença de laços afetivos ou familiares entre vítimas e autores.
3.1 PASSIONAL: motivado pelas paixões humanas (amor, ódio, ciúmes, traição con-jugal, etc.) entre parceiros ou ex-parceiros íntimos ou terceiros envolvidos na relação.
3.2 BRIGA (INTRA)FAMILIAR: se caracteriza pela presença de laços de parentes-co entre autor(es) e vítima (consanguinidade ou afinidade).
* Nota: Não estão incluídos aqui casos de morte por briga entre diferentes famílias, que deverão ser classificados
dentro da categoria “Vingança Pessoal”.
**Quando confirmados os laços de parentesco entre autor e vítima, a escolha desta motivação deverá prevalecer
sobre qualquer outra, exceto quando há motivação passional.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO RESULTANTES EM MORTE
Mortes violentas intencionais motivadas pelo cometimento de crimes violentos con-tra o patrimônio (CVP).
4.1 ROUBO (latrocínio): A morte da vítima é resultado de ação criminosa que pre-tendia a subtração violenta de bens patrimoniais de sua posse, independente de haver intenção prévia de matá-la ou não.
4.2 EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO: A morte da vítima é resultado de ação criminosa que pretendia a extorsão de terceiros mediante o sequestro da vítima, com fins de recebimento de resgate, independente de haver intenção prévia de matá-la ou não.
4.3 SEQUESTRO POR ENGANO: A morte da vítima é resultado de ação criminosa que pretendia o sequestro de outra pessoa, independente de haver intenção prévia de matá-la ou não.
126
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
Mortes violentas intencionais que poderão ser consideradas excludentes de ilicitude por juiz.
5.1. ENFRENTAMENTO COM A POLÍCIA: a vítima investiu contra policiais de serviço ou reagiu à ordem de prisão, e estes revidam causando o óbito daquela ou de terceiros.
5.2. REAÇÃO DE UM CIDADÃO A UM DELITO: quando acontece um delito e um cidadão reage contra o delinquente, vitimando-o fatalmente, ou a terceiros. *Nota:
incluem-se os casos de legítima defesa não contemplados na categoria “Enfrentamento com a Polícia”.
OUTRAS MOTIVAÇÕES
6.1. BALA PERDIDA: uma pessoa é atingida fatalmente por arma de fogo, sem ter ligação direta com a intencionalidade do autor e, na qual, a motivação era atingir uma terceira pessoa.
*Nota: Excluem-se casos de vítimas indiretas de confronto policial (utilizar a categoria “enfrentamento com
a polícia”) ou de reação de um cidadão a um delito (utilizar a categoria “reação de um cidadão a um delito”).
6.2. ENGANO: vítima executada de forma equivocada, no lugar de outra pessoa.
6.3. CRIME SEXUAL: crime fatal vinculado a ato libidinoso do autor executado sobre a vítima.
6.4. SEITA SATÂNICA (RITUAL SATÂNICO): crime em que a vítima é sacrifica-da em ritual satânico.
6.5. ENFRENTAMENTO COM CRIMINOSO/S: morte intencional de policial que resulta do enfrentamento durante o exercício do seu dever legal.
6.6. OUTROS: qualquer outra motivação principal que não se enquadre nas catego-rias anteriores (ESPECIFICAR MOTIVO POR ESCRITO).
NOTA – a categoria “A TRAIÇÃO”, não será considerada como motivação de homicídio, por tratar-se, em verdade, de modus operandi em que crime premeditado é cometido entre co-nhecidos, e em que o autor aproveita-se da confiança pessoal entre eles para executar a vítima em circunstâncias propícias. Nesses casos deverá procurar-se a categoria de motivação adequa-
da, que responda ao porquê foi cometida aquela morte.
A DEFINIR
Caso de morte violenta intencional em que o policial responsável pela sua investi-gação não definiu ainda nenhuma das categorias de motivação elencadas nos itens
anteriores como hipótese mais provável do crime.
127
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARATA, Rita Barradas; RIBEIRO, Manoel Carlos SA; MORAES, José Cássio (1999). Desigualdades sociais e homicídios em adolescentes e adultos jovens na cidade de São Paulo em 1995. Revista Brasileira de Epidemiologia. Vol. 2, n° 1/2, 50-59
BARROS, Marcelo (2007). “Políticas de Segurança no Brasil: Mito ou realidade?”. In: RATTON, José Luiz; BARROS, M. Polícia, democracia e sociedade. Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2007. p. 63-96.
BARROS, Maria Dilma; XIMENES, Ricardo; LIMA, Maria Luíza Carvalho (2001). Causa básica de morte por causas externas: validação dos dados oficiais em Recife. Revista Panamericana de Salud Pública, 9(2): 84-93.
BEATO, Cláudio (2001). Informação e Desempenho Policial. Teoria e Sociedade, Belo Ho-rizonte (MG): UFMG, v. 7, p. 117-150. Disponível em <http://www.crisp.ufmg.br> Acesso em 15/08/2007.
_________(2006). Produção, uso de informações e diagnósticos em segurança urbana In: L. RIBEIRO; A.S. PINTO. (orgs.), A análise criminal e o planejamento operacional. Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, p. 64-123.
_________; ASSUNÇÃO, Renato (2008). Sistemas de Informação georreferenciados em segurança. In: C. BEATO (org.), Compreendendo e avaliando: projetos de segurança pública. Belo Horizonte (MG): Ed. UFMG, 2008. p. 119-166.
_________; PEIXOTO, Betânia Totino; ANDRADE, Mônica Viegas (2004). Crime, oportunidade e vitimização. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 19, n°55, junho 200, pp. 73-90.
BRASIL, Ministério da Saúde (2002). Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Brasília: Ministério da Saúde.
_______, Ministério da Justiça (2006). Análise das ocorrências registradas pela Polícias Civis (Janeiro de 2004 a Dezembro de 2005). Brasília: Secretaria Nacional de Seguran-ça Pública. Disponível em <http://www.mj.gov.br/senasp/estatisticas/> Acesso em: 12/08/07.
________, __________ (2009). Homicídios: Políticas de Controle e Prevenção no Brasil. Coleção Segurança com Cidadania / Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Brasília, DF: LGE Editora.
________, (Leis, etc.) (2010). Código Penal e Constituição Federal. 16ªed. São Paulo: Saraiva.
CANO, Ignacio; RIBEIRO, Eduardo (2007). Homicídios no Rio de Janeiro e no Brasil: dados, políticas públicas e perspectivas. In: M.V.G. Cruz; E.C. Batticucci (orgs.), Homicí-dios no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, pp. 51-78.
____________; SANTOS, Milton (2007 [2001]). Violência letal, renda e desigualdade no Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2ª edição.
128
CASTRO, Mônica S. Monteiro; ASSUNÇÃO, Renato M.; DURANTE Marcelo Otto-ni (2003). Comparação de dados sobre homicídios entre dois sistemas de informação, Minas Gerais. Revista de Saúde Pública, 37(2): 168-176.
CERQUEIRA, Daniel (2011). Mortes violentas não esclarecidas e impunidade no Rio de Janeiro. 1ª versão – outubro 2011. Disponível em <http://ww2.forumseguranca.org.br/> Acesso em 03/11/2011.
CRUZ, Marcus Vinícius Gonçalves; BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. (orgs.) (2008). Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: Ed FGV.
DANTAS, Felipe (s.d.). As bases introdutórias da análise criminal na inteligência poli-cial. Disponível em <http://www.mj.gov.br/senasp/biblioteca/artigos> Acesso em 20/06/07.
DRUMOND Jr., Marcos.; LIRA, Margarida; FREITAS, Marina et al. (1999). Ava-liação da qualidade das informações de mortalidade por acidentes não especificados e eventos com intenção indeterminada. Revista de Saúde Pública, 33(3): 273-280.
DURANTE, Marcelo Ottoni (2009). Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pú-blica e Justiça Criminal. In: BRASIL, Ministério da Justiça (2009). Gestão da Informa-ção e Estatísticas de Segurança Pública no Brasil. Coleção Segurança com Cidadania/ Senasp /MJ. Brasília, DF: LGE Editora, pp. 181-202.
FOLHA DE SÃO PAULO (2008). “Mapa da Violência” subestima homicídios. Saõ Paulo, 05/02/2008
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2007). Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2008). Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ano 2. São Paulo: FBSP.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2009). Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ano 3. São Paulo: FBSP.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2010). Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ano 4. São Paulo: FBSP.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2011). Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ano 5. São Paulo: FBSP.
GAWRYSZEWSKI, Vilma Pinheiro; COSTA, Luciana Escarlazzari (2005). Homi-cídios e desigualdades sociais no município de São Paulo. Revista de Saúde Pública, 39(2):191-7.
GERÊNCIA DE ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA – Gace/SDS-PE (2009). Avaliação da Implantação do Projeto Pulseira de Identificação de Cadáver. Junho/julho 2009. Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Mimmeo.
HENTIG, Hans Von (1980[1956]). Estudios de Psicología Criminal Volumen II – El asesinato. Madrid: Espasa Calpe, (4ª ed. espanhola). Título original: Zur psychologie der einzeldelikte II Der Mord.
129
KAHN, Túlio. (2005). Estatística de criminalidade. Manual de interpretação. Coorde-nadoria de Análise e Planejamento. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Gabinete do Secretário (CAP/SSP-SP). Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/> Acesso em 15/08/2007.
LIMA, Maria Luíza Carvalho de; XIMENES, Ricardo (1998). Violência e morte: di-ferenciais da morte por causas externas no espaço urbano do Recife, 1991. Cadernos de Saúde Pública, 14(4): 829-840.
LIMA, Renato Sérgio de (2002). Criminalidade Urbana: conflitos sociais e criminali-dade urbana – uma análise dos homicídios cometidos no município de São Paulo. São Paulo: Sicurezza.
____________ (2008). A produção da opacidade. Estatísticas criminais e segurança pública no Brasil. Novos Estudos, 80, 65-69.
LUCIANO Geraldo Donizete; SILVA Hilda Ferreira (2007). O fenômeno do homicídio no Distrito Federal. Uma análise comparativa: Primeiro Trimestre de 2006 – Primeiro Trimestre de 2007. (mimmeo). Brasília (DF). 20 p.
MACEDO, Adriana, C.; PAIM, Jairnilson Silva; SILVA, Lígia M Vieira da Silva et al. (2001). Violência e desigualdade social: Mortalidade por homicídios e condições de vida em Salvador, Brasil. Revista de Saúde Pública, 35(6):515-22.
MAGUIRE, Mike. (2002). Crime Statistics: the ‘data explosion’ and its implications. In: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod e REINER, Robert, The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, p. 322- 375.
MANSO, Bruno Paes (2002). Ação e Discurso – sugestão para debate da violência. In: Oliveira, N.V. Insegurança Pública. São Paulo: Nova Alexandria. p. 53-74.
MELLO JORGE, Maria Helena Prado de (1990). Situação atual das estatísticas oficiais relativas à mortalidade por causas externas. Revista de Saúde Pública, 24(3): 217-23.
____________; LAURENTI, Ruy; GOTLIEB, Sabina Léa Davidson (2007). Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência da implantação do SIM e do SINASC. Ciência e Saúde Coletiva, 12 (3): 643:654.
MIRANDA, Ana Paula Mendes (2006). Informação, análise criminal e sentimento de (in)segurança: considerações para a construção de políticas públicas de segurança. In: RIBEIRO, L.; PINTO, A. S. (Org.) A análise criminal e o planejamento operacional. Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública. p. 12-41.
NETO, João Cabral de Melo (1980[1966]). Morte e Vida Severina. E outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro: José Olympio (14ª Ed.).
NJAINE, Kathie; SOUZA, Edinilsa Ramos; MINAYO, Maria Cecília Souza; ASSIS, Simone Gonçalves (1997). A produção da (des)informação sobre violência: análise de uma prática discriminatória. Cadernos de Saúde Pública, 13(3): 405-414.
_____________; REIS, Ana Cristina (2005). Qualidade da informação sobre aciden-tes e violências. In: Impacto da Violência na Saúde dos Brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
130
OLIVEIRA, Adriano (2008). Relatório de pesquisa Termômetro da insegurança e vitimi-zação na cidade do Recife. Instituto Maurício de Nassau – IMN (mimmeo).
OMS – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2003). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 374 p.
ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (2008). Relatório do relator especial de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias Philip Alston. Adendo Missão ao Brasil. Conselho de Direitos Humanos. 11ª Sessão, 3º item da agenda. 29 de agosto de 2008. Tradução não oficial.
PAIVA, Servilho Silva (2009). O georreferenciamento e o geoprocessamento da criminali-dade violenta. Monografia de Especialização, Academia Nacional de Polícia. Brasília.
PERNAMBUCO, Governo de (2003). Decreto Estadual nº 25.153/2003. Cria o Sistema Estadual de Controle de Mortes Não Naturais e dá outras providências. Publicado no DOE em 30/01/2003. N°22.
____________, Secretaria de Defesa Social – SDS-PE (2004). Portaria GAB/SDS-PE n°222/2004 estabelece diretrizes para processamento do registro e estatística das mortes não naturais e dá outras providências. Publicado no DOE em 02/07/2004.
____________, __________ (2006). Portaria GAB/SDS-PE n°1007/2006 estabelece diretrizes para processamento do registro e divulgação de dados estatísticos criminais e dá outras providências. Publicado no DOE em 28/07/2006.
____________, Governo de (2007). Pacto pela Vida. Plano Estadual de Segurança Pública. Recife (PE): CEPE.
____________, Secretaria de Defesa Social – SDS-PE (2008a). Portaria GAB/SDS-PE n° 433/2008 disciplina o envio de informações para a consolidação de dados estatísticos de ocorrências de interesse policial com resultado morte. Publicado no DOE em 15/03/2008.
____________, __________ (2008b). Portaria GAB/SDS-PE n°1911/2008 estabelece normas para envio de dados estatísticos referentes ao Sistema de contenção do crime. Publica-do no DOE em 06/11/2008.
____________, __________ (2008c). Plano de Ação da Câmara Setorial de Defesa So-cial. Recife, PE: Secretaria de Defesa Social.
____________, __________ (2008d). Diagnóstico da situação atual de utilização de “pontos quentes” nas Áreas Integradas. Gerência de Análise Criminal e Estatística (Gace/SDS). Recife, PE: 27 de maio de 2008. (mimmeo).
____________, __________ (2010a). Portaria GAB/SDS-PE n°357/2010 disciplina o uso de categorias e definições sobre a motivação de mortes violentas intencionais visando a consolidação de dados estatísticos. Publicado no DOE em 09/03/2010.
____________, __________ (2010b). Portaria Conjunta SDS/SES-PE n°001/2010 institui a Pulseira de Identificação de Cadáver – PIC, o Boletim de Identificação de Cadáver
131
– BIC e o Número de Identificação de Cadáver – NIC no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras providências. Publicado no DOE em 31/12/2010.
PCR – PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (2005). Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife. CD-Rom.
PRVL – PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADO-LESCENTES E JOVENS (2009). Índice de Homicídios na Adolescência [IHA]. Análise preliminar dos homicídios em 267 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Unicef/ Secretaria de Direitos Humanos /Observatório de Favelas/ Laboratório de Análise da Violência/ Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens. Brasília, DF: Unicef. Julho 2009.
PRVL – PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADO-LESCENTES E JOVENS (2010). Homicídios na Adolescência no Brasil: IHA 2005/2007. Unicef/ Secretaria de Direitos Humanos /Observatório de Favelas/ Laboratório de Análise da Violência/ Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. CDD 362.63
RATTON, José Luiz; ALENCAR, Eduardo (2009). Extermínio e Mercados de Pro-teção Privada no Nordeste Brasileiro: em busca de uma interpretação sociológica. In: P.H. MARTINS; R. MEDEIROS (orgs.), América Latina e Brasil em Perspectiva. Recife (PE): Ed. UFPE. pp. 405-417.
________; CIRENO, Flávio (2007). Relatório de Pesquisa Violência Endêmica – Ho-micídios na cidade do Recife: dinâmica e fluxo no sistema de justiça criminal. Revista do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Ed. Especial. Volume VI.
ROBERT, Philippe (2007 [2005]). Sociologia do Crime. Petrópolis, Rj: Ed. Vozes. 182 p.
ROCHA, Sonia, ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti; SILVA, Ari Nascimento; CORTEZ, Bruno (2005). As Unidades de População Homogênea (UPHs) como instru-mento para diagnóstico e desenho de políticas públicas. Material policopiado. 19 p.
ROLIM, Marcos (2006). A síndrome da rainha vermelha. Policiamento e segurança pública no século XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
SANTOS, Simone; NORONHA, Cláudio (2001). Padrões espaciais de mortalidade e diferenciais sócio-econômicos na cidade do Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Pública, 17(5):1099-1110.
SILVA, Klarissa de Almeida (2006). Tipologia dos homicídios tentados e consumados. Uma análise sociológica das denúncias oferecidas pelo Ministério Público de Belo Horizonte. Comarca de Belo Horizonte – 2003 a 2005. Dissertação de Mestrado, Universidade Fe-deral de Minas Gerais (UFMG). Disponível em <http://www.crisp.ufmg.br> Acesso em 10/09/2010.
SILVA, Ronaldo Negreiros (2008). A aplicação do Sistema de Informações Geográfi-cas na Polícia Militar do Amazonas: diagnóstico, tendências e perspectivas. In: A.P.M. Miranda: L.L.G. Lima (orgs.), Políticas públicas de segurança, informação e análise crimi-nal. Niterói: EdUFF.
132
SILVEIRA, Andréa Maria (2008). A prevenção dos homicídios: desafio para a segurança pública. In: BEATO, C. (org.), Compreendendo e avaliando: projetos de segurança pública. Belo Horizonte (MG): Ed. UFMG pp. 119-166.
SOARES, Gláucio Ary Dillon (2008). Não matarás: Desenvolvimento, desigualdade e Homicídios. Rio de Janeiro: Ed FGV.
SOUZA, Edinilsa Ramos de (1994). Violência, o grande vilão da saúde pública na década de 80. Cadernos de saúde coletiva, 10 (supl 1): 45-60.
_________ (2002). Processos, sistemas e métodos de informação em acidentes e violências no âmbito da Saúde Pública. In: MINAYO, Maria Cecília Souza; DESLANDES, Suely Ferreira (org). Caminhos do pensamento: epistemologia e método. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz.
SZWARCWALD, Célia Landmann; BASTOS, Francisco Inácio; ESTEVES, Maria Ângela Pires; et al. (1999). Desigualdade de renda e situação de saúde. Cadernos de Saúde Pública, 15(1):15-28.
WAISELFISZ, Júlio Jacobo (2007). Mapa da violência dos municípios brasileiros. Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Brasília, DF: OEI.
ZALUAR, Alba (2004). Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Ed. FGV.
133
LISTA DE SIGLAS
AIS – Área Integrada de Segurança
BO – Boletim de Ocorrência
BOE – Boletim de Ocorrência Eletrônico
BOF – Boletim de Ocorrência Formulário
BOI – Boletim de Ocorrência pela Internet
CID-10 – 10ª Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
Ciods – Centro Integrado de Operações de Defesa Social
Condepe Fidem – Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas do Estado de Pernambuco
Consesp – Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública
Coordepol – Coordenação dos Plantões Policiais (da PCPE)
CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais
CVP – Crimes Violentos contra o Patrimônio
Datasus – Banco de Dados do Ministério da Saúde na Internet
DHPP – Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa
DO – Declaração de Óbito
FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública
FJP – Fundação João Pinheiro do Governo de Minas Gerais
FTH – Força-Tarefa de Homicídios (do DHPP)
Gace – Gerência de Análise Criminal e Estatística (da SDS)
GPS – Global Position System
GRH – Guia de Remoção Hospitalar
IC – Instituto de Criminalística
IML – Instituto de Medicina Legal
ISP – Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro
MJ – Ministério da Justiça
MS – Ministério da Saúde
OMS – Organização Mundial da Saúde
PCPE – Polícia Civil de Pernambuco
PCR – Prefeitura da Cidade do Recife
134
PESP-PE – Plano Estadual de Segurança Pública de Pernambuco
PMPE – Polícia Militar de Pernambuco
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
POP – Procedimento Operacional Padrão
PPV – Pacto pela Vida
PRVL – Programa de Redução da Violência Letal
SDS-PE – Secretaria de Defesa Social de Pernambuco
Senasp – Secretaria Nacional de Segurança Pública (do MJ do Governo Federal)
SES-PE – Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco
SSP-SP – Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
SICOAD – Sistema de Controle, Atendimento e Despachos (do Ciods)
SIG – Sistema de Informações Geográficas
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade (do MS).
SINESPJC – Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Crimi-nal (da Senasp/MJ)
UDH – Unidade de Desenvolvimento Humano (da PCR)
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco
UHP – Unidades Homogêneas de População
Uniai – Unidade de Análise e Interpretação.
Unicame – Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico (da Gace/SDS-PE)
Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância
Unicotd – Unidade de Coleta e Tratamento dos Dados (da Gace/SDS-PE)
135
SOBRE OS AUTORES
Augusto Henrique Silva Sales
2º Sargento da Polícia Militar de Pernambuco e lotado na Secretaria de Defesa So-cial de Pernambuco. O mesmo é técnico em geoprocessamento e, desde 2008, chefe da Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico (Unicame) da Gace/SDS-PE. Tem experiência como instrutor em análise criminal e georreferenciamento. Atual-mente está se formando no curso de sistemas para internet pela Universidade Mau-rício de Nassau (UMN).
Egenilton Rodolfo de Farias
Formado em estatística pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e em gestão financeira pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Possui mes-trado em Biometria pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Tem ampla experiência na docência de estatística em cursos de graduação e pós-graduação (Unicap e Focca). Desde 2010 trabalha como técnico da Unidade de Análise e Inter-pretação (Uniai) da Gace/SDS-PE.
Gerard Viader Sauret
Sociólogo e antropólogo, formado pelas Universidades de Barcelona (UB) e Autôno-ma de Barcelona (UAB), respectivamente, realizou mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desde junho de 2007, ocupa o cargo de gerente de análise criminal e estatística na Secretaria de Defesa Social de Per-nambuco (Gace/SDS-PE). Também tem sido professor da especialização em Políticas Públicas de Segurança (Facipe).
Mariana de Oliveira Tiné
Geógrafa formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com curso de especialização em Meio Ambiente – Auditoria e Perícia pelas Faculdades Unidas de Pernambuco (Faupe). Tem experiência de trabalho com o IBGE e com a ferramenta ArcGis. Desde 2010, trabalha como técnica da Unidade Cartográfica e de Mapeamen-to Estatístico (Unicame) da Gace/SDS-PE.
Servilho Silva de Paiva
Delegado da Polícia Federal, classe especial, graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui pós-graduação em Direito pela Escola Su-perior da Magistratura (Esmape) e em Gestão de Políticas de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia (ANP). No Departamento da Polícia Federal tem se destacado na coordenação e execução de diversas operações, assim como na docência da disciplina de Planejamento Operacional em diversos cursos policiais. Foi Secretá-rio de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) de 2007 a 2010 e presidente do Conse-lho de Segurança do Nordeste – Consene, de 2009 a 2010.