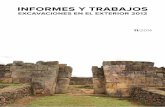PROJETO INTERDISCIPLINAR APLICADO AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (PROINTER
Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação
1
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O exercíciO físicO cOmO agente mOduladOr de parâmetrOs epigenéticOs relaciOnadOs à cOgniçãO nO prOcessO de envelhecimentO
anelise ineu figueiredo¹João cunha¹ viviane elsner²maristela padilha de souza².
Mestrando em Biociências e Reabilitação¹. Programa de Pós-Graduação Mestrado em Biociências e Reabilita-ção². Centro Universitário Metodista – IPA1,2, Porto Alegre, RS, Brasil. Endereço para correspondência: [email protected]
resumOIntrodução: O envelhecimento da população é carac-
terizado por um decréscimo de vários sistemas e funções, dentre elas destacamos a cognição. O déficit da capaci-dade cognitiva decorre dos processos fisiológicos do en-velhecimento normal ou de um estágio de transição para as demências, este declínio possui uma influencia sobre a depressão e as atividades funcionais de vida diária desta população. Neste contexto, o exercício físico atua como uma estratégia neuroprotetora no combate do declínio fisiológico. Porém os mecanismos moleculares envolvi-dos com os efeitos positivos do exercício sobre a função cognitiva não estão elucidados. Evidências experimentais sugerem o envolvimento de mecanismos epigenéticos. Objetivo: Esta revisão tem como objetivo analisar os be-nefícios do exercício no envelhecimento através dos me-canismos epigenéticos. Métodos: foram consultadas ba-ses de dados como: scielo e pubmed, sendo revisados artigos a partir de 2007, que contextualizem a proposta desta revisão. Para isso, foram utilizados os seguintes descritores: envelhecimento, epigenética, cognição e exercício físico e seus respectivos análogos em língua in-glesa. Conclusão: Estudos sugerem que a epigenética po-de modular fatores associados ao envelhecimento atra-vés do exercício físico.
Descritores: Exercício físico; Cognição; Epignética; Envelhecimento.
intrOduçãOO envelhecimento da população é encarado como um
fenômeno mundial. Estima-se que, em 2020, o número de pessoas com 65 anos ou mais superará o de crianças com idade igual ou inferior a 5 anos. Em contrapartida, os fa-tores de risco importantes para o desenvolvimento de do-enças crônicas, como o excesso de peso e a hipertensão arterial, tendem a aumentar proporcionalmente com a faixa etária da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
De acordo com Venturini et al. (2013), nesta faixa etá-ria ocorre um aumento da mortalidade, e do risco de de-senvolver uma série de doenças relacionadas ao sistema cardiovascular (como a hipertensão arterial e coronaropa-tias) e endócrino (como a diabetes tipo 2). Além destes, alguns tipos de câncer e declínio funcional, o qual também está associado com alterações da composição corporal (obesidade) também se destacam.
O declínio da capacidade cognitiva decorre dos pro-cessos fisiológicos do envelhecimento normal ou de um estágio de transição para as demências (TRINDADE et al., 2013). Para o mesmo autor, este declínio possui uma in-fluencia sobre a depressão e as atividades funcionais de vida diária desta população. A saúde cognitiva na velhice pode estar relacionada a fatores de risco cardiovasculares, tais como os níveis de lipídios séricos (REYNOLDS et al., 2010). Além disso, no estudo de Hall et al. (2013) verificou--se que um valor aumentado do colesterol é um fator pre-ditor de sintomas neuropsiquiátricos em homens. Além disso, Beydoun et al. (2008) relatou um aumento no risco de déficit cognitivo associado a idosos com IMC que ca-racterizasse sobrepeso e obesidade.
Dentro deste contexto, com o aumento da expectativa de vida, estratégias neuroprotetoras têm sido consideradas importantes ferramentas de combate ao declínio fisiológico. A literatura tem demonstrado sistematicamen-te os efeitos positivos do exercício físico em vários parâme-tros fisiológicos, tais como: a função nervosa, variáveis an-tropométricas da composição corporal, regulação do siste-ma cardiovascular, dentre outros. (WOO et al. 2013, MING-HELLI et al. 2013, SLAVÍČEK et al. 2008; KUHLE et al. 2014; LEUNG et al. 2008). Neste sentido, o exercício físico promo-ve uma melhora na capacidade funcional e na aptidão física e mental, sendo importante destacar que estes benefícios também são observados em idosos. (VIDMAR et al., 2011, CASSILHAS et al., 2007).
Contudo, os mecanismos moleculares envolvidos com os efeitos positivos do exercício sobre a função cog-nitiva não estão elucidados. Evidências experimentais su-gerem o envolvimento de mecanismos epigenéticos. (ABEL E RISSMAN 2013; NTANASIS-STATHOPOULOS et al. 2013; LOVATEL et al., 2013).
métOdOsObservando este contexto, o presente trabalho tem
por objetivo analisar através de estudos existentes na literatura científica os benefícios do exercício no enve-lhecimento através dos mecanismos epigenéticos. Tra-ta-se de um estudo de revisão de literatura onde foram consultadas bases de dados como: scielo e pubmed, sen-do revisados artigos a partir de 2007, que contextualizem a proposta desta revisão. Para isso, foram utilizados os
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
seguintes descritores: envelhecimento, epigenética, cognição e exercício físico e seus respectivos análogos em língua inglesa.
resultadOs e discussãO
EnvElhEcimEntoSegundo o IBGE (2010) estima-se que nos próximos 50
anos, 30% da população estará na faixa etária acima dos 65 anos. Com este dado, podemos ver a importância da realização de pesquisas que investiguem o envelhecimen-to e suas modificações afim de contribuirmos para uma melhor qualidade de vida da população
O processo de envelhecimento é influenciado por vá-rios fatores, tais como a genética, as doenças e o seden-tarismo, porque estes fatores estão diretamente relacio-nados com a qualidade de vida, sendo que o sedentarismo é o que mais compromete a qualidade de vida do idoso (VIDMAR, 2011).
O processo de envelhecer determina diversas modifi-cações na composição corporal. Ele está associado a au-mento da massa gordurosa e mudanças no seu padrão de distribuição assim como alterações nas concentrações de lipídios plasmáticos (SANTOS et al. 2013). A hipercoleste-rolemia pode aumentar o risco de Doença de Alzheimer (SOLOMON et al., 2007). A associação de níveis lipídicos elevados e demência pode ser um processo não detectável quando os idosos já apresentam a doença, mas sim conse-quência de níveis elevados ao longo da vida. Solomon et al. (2007) constataram que o nível de colesterol total na meia--idade (idade média de 50,4 anos) foi maior em pessoas que, em última análise, desenvolviam déficit cognitivo leve ou demência do que naqueles que não desenvolviam.
Em decorrência disto, estratégias que modulem estas variáveis com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população idosa são relevantes. Uma delas é o exercí-cio físico, que por possuir efeitos na saúde física e mental, tem sido amplamente investigado na população idosa (DESLANDES et al. 2009).
exercíciO físicOA atividade física é benéfica para diferentes funções
do organismo e estudos comprovam que esta prática po-de minimizar a perda da capacidade cardiovascular, a qual está diretamente relacionada com a hipóxia cerebral, pre-venindo, deste modo, o declínio cognitivo no idoso (AN-TUNES et al., 2006).
Idosos praticantes de exercício aeróbio regular apre-sentam menor risco de disfunções mentais, o que de-monstra os benefícios desse tipo de exercício à variável memória. Além disso, a prática regular de exercício físico orientado e sistematizado traz benefícios físicos, poden-do ser utilizada como meio preventivo e de tratamento
não medicamentoso para atrasar o déficit de memória em idosos, e assim, proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa população (SILVA et al., 2007)
Estudos experimentais sugerem uma relação dos efei-tos neuroprotetores do exercício com mecanismos epige-néticos (ELSNER et al. 2013; LOVATEL et al. 2013). Além disso, evidências recentes apontam que tanto a obesida-de quanto a dislipidemia podem estar associados a défi-cits cognitivos (HALL et al. 2013; LATHE et al. 2014).
Foi verificado no estudo de Abel e Rissman (2013) que o exercício é uma intervenção eficaz capaz de induzir a expressão do gene ambiental associado a alterações na plasticidade sináptica, vias de sinalização e regulação epi-genética, tanto no hipocampo quanto no cerebelo de cé-rebro em adolescentes. Uma vez que estas regiões cere-brais podem ser associados ao autismo, esquizofrenia, entre outros distúrbios que afetam a população, é impor-tante a realização de pesquisa que envolva uma faixa etá-ria da população mais idosa. Assim o exercício pode ser uma ferramenta valiosa na melhora dos sintomas associa-dos a estas doenças.
EpigEnéticaA epigenética estuda a relação entre o ambiente e os
genes, o termo é definido pela alteração herdável na ex-pressão gênica, sem que haja mudança na sequencia pri-mária de DNA, sendo a metilação do DNA e a modificação de histonas, importantes mecanismos envolvidos (LAFE-NETRE et al., 2011; OLIVEIRA, 2012).
A cromatina é o estado no DNA que está acondiciona-do dentro da célula. O nucleossomo é a unidade básica da cromatina e é composto de um octâmero proteico de qua-tro núcleos de histonas (H3, H4, H2A, H2B) (KOUZARI-DES, 2007). O mesmo autor afirma que as histonas cons-tituem substratos para pelo menos oito tipos diferentes de modificações pós traducionais, como por exemplo, acetilação, fosforilação e metilação.
O estado dinâmico da cromatina pode ser alterado por modificações epigenéticas, envolvendo mecanismos bioquímicos que atuam nas histonas ou no próprio DNA (KOUZARIDES, 2007).
No estudo de Lovatel et al. (2013), verificou-se através de exercício forçado, corrida em esteira ergométrica du-rante 2 semanas por 20 minutos/dia, que houve um au-mento nos níveis de acetilação da histona H4 em ratos envelhecidos, o que nos leva a acreditar que o exercício físico atenua as mudanças relacionadas à idade na croma-tina. Neste estudo também foi observado uma relação entre diminuição nos níveis de acetilação da histona H4 e o déficit de memória.
Elsner et al. (2013) observou que desequilíbrio dos me-canismos epigenéticos está envolvido com o processo de envelhecimento, visto que os níveis de metilação da H3-
3
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
-K9 e o conteúdo da DNMT1 estavam reduzidos no hipo-campo de ratos de 20 meses de idade. Além disso, obser-vou que a sessão única de exercício em ratos de 20 meses de idade reverteu as alterações em níveis de metilação da H3 – K9 induzido pelo envelhecimento.
Foi verificado por Sant’Anna et al. (2013) um aumento na atividade da enzima HDAC em ratos envelhecidos, o que favorece um desbalanço na relação HDAC/HAT levan-do a uma possível diminuição na transcrição gênica. Saha e Pahan (2006), afirmam que quando ocorre este desequi-líbrio a favor da HDAC pode-se observar uma toxicidade neuronal que parece estar relacionado, entre outros fato-res, com as doenças neurodegenerativas.
As alterações epigenéticas induzidas pelo “bom estres-se” do exercício têm um impacto positivo sobre várias fun-ções biológicas (NTANASIS-STATHOPOULOS et al., 2013).
cOnclusõesEstes estudos sugerem que a modulação epignética
desempenha importante papel na modulação dos fatores associados ao envelhecimento. Acreditamos que o exer-cício físico é uma forma que se mostra eficaz para diminuir os efeitos funcionais negativos da idade. Assim, a exposi-ção ao exercício físico pode atenuar os declínios encontra-dos no envelhecimento e isso pode estar ligado a modu-lação epigenética.
referênciasABEL, J.L.; RISSMAN, E.F. Running-induced epigenetic and gene expression changes in the adolescent brain. in-ternational Journal of developmental neuroscience. Vol. 31, n. 6, p. 382–390. 2013.
ANTUNES, H.K.M.; SANTOS, R.F. CASSILHAS, R.; SAN-TOS, R.V.T.; BUENO, O.F.A.; MELLO, M.T. Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. revista Brasileira de medicina do esporte. Vol. 12, n. 2. 2006.
BEYDOUN, M.A.; BEYDOUN, H.A.; WANG Y. Obesity and central obesity as risk factors for incident dementia and its subtypes: a systematic review and meta-analysis. Obe-sity reviews. Vol. 9, p.204–18. 2008
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2011: Uma aná-lise da situação de saúde e a vigilância da Saúde da mulher. Brasília – DF. 2012.
CASSILHAS, R.C.; VIANA, V.A.R.; GRASSMANN, V.; SAN-TOS, R.T.; SANTOS, R.F.; TUFIK, S.; MELLO, M.T. The Im-pact of Resistance Exercise on the Cognitive Function of the Elderly. medicine & science in sports & exercise. 2007.
DESLANDES, A.; MORAES, H.; FERREIRA, C.; VEIGA, H.; SILVEIRA, H.; MOUTA, R.; POMPEU, F.A.M.S.; COUTIN-HO, E.S.F.; LAKS, J. Exercise and Mental Health: Many Reasons to Move. neuropsychobiology. Vol. 59, p. 191–198. 2009.
ELSNER, V.R. LOVATEL, G.A.; MOYSÉS F.; BERTOLDI, K. SPINDLER, C.; CECHINEL, L.R.; MUOTRI, A.R.; SIQUEIRA, I.R. Exercise induces age-dependent changes on epigenetic parameters in rat hippocampus: A preliminary study. ex-perimental gerontology. Vol.48, p. 136-139. 2013.
HALL, J.R.; WIECHMANN, A.R.; JOHNSON, L.A.; ED-WARDS, M.; BARBER, R.C.; WINTER, A.S.; SINGH, M.; O’BRYANT, S.E. Biomarkers of Vascular Risk, Systemic Inflammation and Microvascular Pathology and Neuro-psychiatric Symptoms in Alzheimer’s Disease. Journal of alzheimer’s disease. V. 35, n. 2, p. 363–371. 2013.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um Panorama da Saúde no Brasil - Acesso e utilização dos ser-viços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 2008. Rio de Janeiro; 2010. KOUZARIDES, T. Chromatin modifications and their func-tion. cell. Vol. 4, p.693–705. 2007.
KUHLE, C.L.; STEFFEN, M.W.; ANDERSON, P.J.; MURAD, M.H. Effect of exercise on anthropometric measures and serum lipids in older individuals: a systematic review and meta-analysis. BmJ Open. 2014.
LAFENETRE, P.; LESKE, O.; PETRA W.; HEUMANN R. The beneficial effects of physical activity on impaired adult neurogenesis and cognitive performance. frontiers in neuroscience. Vol. 5. 2011.
LATHE, R.; SAPRONOVA, A.; KOTELEVTSEV, Y. Atheroscle-rosis and Alzheimer - diseases with a common cause? In-flammation, oxysterols, vasculature. Bmc geriatrics. 2014.
LEUNG, F. P. ; YUNG, L. M.; LAHER, I.; YAO, X.; CHEN, Z. Y.; HUANG, Y. Exercise, vascular wall and cardiovascular diseases: an update (Part 1). sports medicine. Vol. 38, n. 12, p. 1009- 1024, 2008.
LOVATEL, G.A.; ELSNER V.R.; BERTOLDI K.; VANZELLA C.; MOYSES, F.S.; ADRIANA VIZUETE, A.; SPINDLER, C.; CECHINEL, L.R.; NETTO, C.A.; MUOTRI A.R.; SIQUEIRA, I.R. Treadmill exercise induces age-related changes in aversive memory, neuroinflammatory and epigenetic processes in the rat hippocampus. neurobiology of learning and memory. Vol. 101, p. 94–102. 2013.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
4
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MINGHELLI, B.; TOMÉ, B.; NUNES, C.; NEVES, A.; SIMÕES, C. Comparison of levels of anxiety and depres-sion among active and sedentary elderly. revista de psiquiatria clínica. Vol. 40, n. 2, p. 71- 76. 2013.
NTANASIS-STATHOPOULOS, J.; TZANNINIS, J-G.; PHILIPPOU, A.; KOUTSILIERIS M. Epigenetic regulation on gene expression induced by physical exercise. Journal of musculoskeletal and neuronal interact. v. 13, n.2, p. 133-146. 2013.
OLIVEIRA, J.C. Epigenetics and human diseases. semina: ciências Biológicas e da saúde. Vol. 22, n.1, p. 21-34. 2012.
REYNOLDS, C.A.; GATZ, M.; PRINCE, J.A.; BERG, S.; PED-ERSEN, N.L. Serum lipid levels and cognitive change in late life. Journal of the american geriatrics society. Vol. 58, n. 3, p. 501–509. 2010.
SAHA, R.N.; PAHAN, K. HATs and HDACs in neurodegen-eration: a tale of disconcerted acetylation homeostasis. Cell Death & Differentiation. Vol.13,p. 539–550.
SANTOS, R.R.; BICALHO, M.A.C.; MOTA, P.; OLIVEIRA, D.R.; MORAES, E.N. Obesity in the elderly. revista médi-ca de minas gerais. Vol. 23, n.1, p. 64-73. 2013.
SANT’ ANNA, G.; ELSNER, V.R.; MOYSÉS F.; CECHINEL, L.R.; LOVATEL, G.A.; RODRIGUES SIQUEIRA, I.R. Histone deacetylase activity is altered in brain areas from aged rats. neuroscience letters. Vol.556 p. 152-4. 2013.
SILVA, M.H.A.F.; NAVARRO, F.; CAMPOS, T.F. Effect Of The Aerobic Exercise And The Exercise Of Force In The Memory
In Aged. revista Brasileira de prescrição e fisiologia do exercício. São Paulo, v. 1, n. 2, p.46-58, Mar/Abr, 2007.
SLAVÍČEK, J.; KITTNAR, O.; FRASER, G.E.; MEDOVÁ, E. KONEČNÁ, J.; ŽIŽKA, R.; ALENA DOHNALOVÁ, A.; NO-VÁK, V. Lifestyle Decreases Risk Factors for Cardiovascu-lar Diseases. central european Journal of public health. Vol. 16, n. 4, p. 161–164. 2008.
SOLOMON A, KAREHOLT I, NGANDU T, et al. Serum cho-lesterol changes after midlife and late-life cognition: twenty-one-year follow-up study. neurology. 2007.
TRINDADE, A.P.N.T.; BARBOZA, M.A.; OLIVEIRA, F.B.; BORGES, A.P.O. Repercussão do declínio cognitivo na ca-pacidade funcional em idosos institucionalizados e não institucionalizados. fisioterapia em movimento. Curiti-ba, vol. 26, n. 2, p. 281-289. 2013.
VENTURINI, C.D.; ENGROFF, P.; GOMES, I.; ATTILIO, G. Prevalência de obesidade associada à ingestão calórica, glicemia e perfil lipídico em uma amostra populacional de idosos do Sul do Brasil. revista Brasileira de geriatria e gerontologia. Vol. 16, n.3, p.591-601. 2013.
VIDMAR, M.F.; POTULSKI A.P.; SACHETTI, A; SILVEIRA, M.M.; WIBELINGER, L.M. Atividade Física e Qualidade de Vida em Idosos. revista saúde e pesquisa. Vol. 4, n.3, p. 417-424. 2011.
WOO, J.; SHIN, K.O.; PARK, S.Y.; JANG, K.S.; KANG, S. Effects of exercise and diet change on cognition function and synaptic plasticity in high fat diet induced obese rats. lipids in health and disease. Vol. 12. 2013.
5
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O usO da pausa expiratória em sistema de aspiraçãO fechadO cOmO técnica de higiene Brônquica
amanda soares skueresky1
luciane de fraga2
gomes martinstanara Bianchi3
Wagner da silva naue2,4
alexandre simões dias5,6, luiz alberto forgiarini Júnior7.
1 Acadêmica e Bolsista de Iniciação Científica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Metodista do IPA.
2 Fisioterapeuta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre3 Mestranda em Ciências Pneumológicas na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.4 Professor na Faculdade Cinecista de Osório - FACOS.5 Chefe do Serviço de Fisioterapia do Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre – HCPA.6 Professor do Curso de Fisioterapia, Programas de
Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas e Ciências do Movimento Humano na UFRGS
7 Professor do Curso de Fisioterapia, Programa de Pós--graduação em Reabilitação e Inclusão e Programa de Pós-graduacão em Biociências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista – IPA.
resumOObjetivo – Comparar a aspiração em sistema fechado
(grupo controle) com a aspiração em sistema fechado as-sociado a pausa expiratória no ventilador mecânico (gru-po intervenção) em relação a quantidade de secreção as-pirada, mecânica respiratória e hemodinâmica. métodos - Ensaio clínico randomizado cruzado incluindo pacientes em ventilação mecânica por período superior a 24 horas internados na Unidade de Terapia Intensiva do HCPA, em Porto Alegre, RS. Os pacientes foram randomizados para receber aspiração em sistema fechado e aspiração em sis-tema fechado associado à pausa expiratória no ventilador mecânico. Foram avaliadas as seguintes variáveis: frequ-ência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial média, saturação arterial periférica de oxigênio, pressão pico inspiratória, pressão do circuito do ventilador mecâ-nico durante a aspiração, o volume corrente expirado, complacência dinâmica, resistência e o peso da secreção aspirada. resultados – Foram incluídos 31 pacientes. A idade média foi de 61,1±18,2 anos. Na comparação com o grupo controle, o grupo intervenção apresentou valores significativamente maiores na quantidade de secreção as-pirada (0,45g vs. 1,6g; p = 0,0001) e não altera a hemodi-nâmica e a mecânica respiratória. conclusão: A aspiração em sistema fechado associada à pausa expiratória no ven-
tilador mecânico aumentou significativamente a quanti-dade de secreção aspirada quando comparado a técnica realizada sem esta intervenção.
Descritores: Aspiração endotraqueal, Fisioterapia res-piratória, Ventilação mecânica, Higiene brônquica.
intrOduçãOA ventilação mecânica (VM) é uma importante ferra-
menta de suporte à vida utilizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)1, entretanto, doentes críticos frequente-mente apresentam retenção de secreção nas vias aéreas, sendo a intubação traqueal um dos fatores de risco mais importantes associado ao acúmulo de secreção2.
Estes efeitos deletérios diminuem a efetividade do mecanismo mucociliar ocasionando uma estase de secre-ções nas vias aéreas, e consequentemente uma obstrução brônquica. Caso esta obstrução não seja revertida ocorre-rá uma hipoventilação nas vias aéreas distais, resultando na formação de atelectasias e em hipoxemia3.
Para a retirada deste acúmulo de secreção, diferentes sistemas de aspiração são utilizados, sendo classificados em aberto (SAA) e fechado (SAF). Quando um SAA é uti-lizado, o tubo endotraqueal está desconectado do venti-lador mecânico e a sonda de aspiração é inserida no tubo antes da aspiração, esta desconexão do tubo endotraque-al do ventilador mecânico permite que a pressão das vias aéreas se equipare a pressão atmosférica antes de iniciar o procedimento4. Enquanto isto, em um SAF, o tubo é co-nectado diretamente à sonda de aspiração já conectada ao vácuo e é introduzida na traqueia sem o tubo endotra-queal ser desconectado5,6.
Uma das principais vantagens do SAF é que ele reduz o risco de infecções por contaminação7, da mesma forma, evita a despressurização do sistema em pacientes com parâmetros de pressão positiva no final da expiração (PE-EP) elevados, previne a dessaturação de oxigênio e o co-lapso alveolar,8,9..
métOdOs
Trata-se de um ensaio clínico randomizado cruzado, realizado no UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre agosto de 2014 e junho de 2015. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA , sob protocolo nº. 14-0444/2014. Todos os pacien-tes que participaram do estudo tiveram o termo de con-sentimento informado, preenchido e assinado pelo res-ponsável e submetido a uma aspiração basal antes da aplicação de cada procedimento. A randomização foi efe-tuada através do programa on-line Research Randomizer, versão 4.0 (Social Psychology Network, http://www.ran-domizer.org/), pelo qual se realizava o sorteio para a apli-cação da primeira técnica de aspiração a ser feita, e após duas horas o paciente realizava o outro procedimento.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
6
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Foram incluídos pacientes que estiveram em VM por um período superior a 24h e inferior a 72h, em SAF, com PEEP ≥ 8cmH2O, com adequado drive respiratório, que tenham sido submetidos a aspiração 2h antes da aplica-ção do protocolo e hemodinamicamente estáveis (pres-são arterial média ≥ 60 cmH2O). Os critérios de exclusão foram a apresentação de contra-indicações para o incre-mento da pressão positiva (pneumotórax e hemotórax não drenados ou enfisema subcutâneo), suspeita de con-taminação por Influenza A. ou tuberculose, pressão de pi-co > 40 cmH2O, pós-operatório neurocirurgia ou negativa a participação do estudo por parte de seu responsável10.
Após a inclusão no estudo, todos os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal com a cabeceira eleva-da em ângulo de 30 graus, e submetidos à aspiração três vezes em SAA (Trach-care; Pacific Hospital Supply Co. LTD) com intervalo de 10 segundos e vácuo ajustado em −40 cmH2O de pressão. Após este período, foram cole-tados os parâmetros hemodinâmicos e pulmonares, os quais correspondiam à avaliação basal dos pacientes in-cluídos. A secreção aspirada foi armazenada em um fras-co coletor (Intermedical®; Intermedical-Setmed, São Paulo, Brasil) previamente pesado. As variações dos pa-râmetros hemodinâmicos e pulmonares foram recoleta-das 1 minuto após a aplicação das aspirações. Os pacien-tes foram posicionados em decúbito dorsal e foi realiza-da a aspiração em SAF com pausa da válvula expiratória durante 10 segundos, repetindo três vezes o procedi-mento. Os parâmetros hemodinâmicos e pulmonares foram recoletados 1 minuto após a aspiração e os resul-tados foram transcritos para a ficha de coleta de dados e realizou-se a pesagem dos frascos com o material co-letado da mesma maneira que o grupo controle. O volu-me de secreção aspirada foi pesado no Laboratório de Microbiologia do HCPA, em uma balança Cubis® (Sarto-rius, Bohemia, NY, EUA), por um colaborador cegado que não fez parte do estudo.
Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios coleta-dos foram: frequência cardíaca (FC), frequência respitória (FR), pressão arterial média (PAM) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) em monitor IntelliVue MP60 (Philips Medi-zin Systeme Böblingen GmbH, Böblingen, Alemanha).
Para a avaliação da mecânica ventilatória, foram men-surados a pressão de pico inspiratório, o volume corrente expiratdo (VCE), a resistência (R) e a complacência dinâ-mica (Cdyn).
O cálculo amostral foi realizado a fim de obter-se uma diferença de 0,7 ± 1,0g ou mais de secreção aspirada entre os grupos, com um valor de p<0,05 e poder de 80%. Sendo assim, foram necessários 31 pacientes.
Os dados foram analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 18.0 (SPSS Inc., Chi-cago, IL, EUA). Os dados quantitativos paramétricos fo-
ram descritos através de média e desvio-padrão, e os da-dos categóricos, através de frequência absoluta e propor-ção. Os grupos foram comparados utilizando-se o teste t pareado e o modelo linear geral para análise de variância das variáveis com distribuição paramétrica (confirmadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov). O teste de Wilcoxon foi utilizado para as variáveis com distribuição não para-métrica, enquanto o teste qui-quadrado e o teste de Fi-sher foram utilizados para as variáveis categóricas. O nível de significância adotado foi de 5%.
resultadOs Entre os 31 indivíduos incluídos, houve predomínio de
pacientes do gênero masculino e a média de idade foi 61 ± 18,2 anos, e a patologia predominante foi sepse (25,8%).
A variação dos parâmetros hemodinâmicos e mecâni-ca respiratória não apresentaram diferença significativa entre os grupos.
Quando avaliado a média da quantidade de secreção aspirada, observamos que o grupo intervenção apresen-tou um aumento significativo na quantidade de secreção aspirada quando comparado ao grupo controle (0,45g vs. 1,6g; p = 0,0001).
discussãO
No presente estudo, observamos que a aspiração uti-lizando SAF associado à pausa expiratória no ventilador mecânico resultou em um aumento na quantidade de se-creção aspirada. Além disso, não houve alterações signi-ficativas na hemodinâmica e mecânica respiratória, quan-do comparados a utilização ou não dessa técnica de aspi-ração traqueal.
A realização da aspiração com SAF limita a diminuição do volume pulmonar, o que confirma que a perda de pres-são positiva nas vias aéreas ocasionada pela desconexão do ventilador esteja associada na ocorrência do colapso alveolar devido a aspiração endotraqueal. Isto sugere que o uso do SAF possa ser recomendado em pacientes venti-lados mecanicamente com níveis elevados de PEEP. Estes pacientes apresentam maior risco de queda do volume pulmonar por despressurização da via aérea, e com o uso deste sistema pode-se evitar assim, o possível colapso al-veolar, prevenindo a formação de atelectasias11,12. Nossos achados demonstraram que independentemente da utili-zação ou não da pausa expiratória durante o procedimen-to, ambos os grupos não apresentaram alteração da SpO2.
Segundo Craig et al. a introdução do catéter de aspira-ção nas vias aéreas, sem interromper a ventilação mecânica pode impedir a capacidade do ventilador em auxiliar na efi-cácia durante a aspiração, causando dessincronia entre o paciente e o ventilador e desconforto12. Porém, nós acredi-tamos que a pausa expiratória é uma maneira de estabilizar as pressões da via aérea durante o procedimento.
7
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O presente estudo é pioneiro ao descrever a técnica de pausa expiratória no ventilador mecânico durante a as-piração com SAF, observamos um aumento significativo no volume de secreção aspirada, sendo o mecanismo pe-lo qual isso foi possível, ainda não totalmente claro. Um possível hipótese é que com a pausa expiratória, há uma estabilidade pressórica na via aérea, o que resulta em maior efetividade da pressão negativa durante a aspira-ção traqueal. Novos estudos devem ser realizados de for-ma a identificar os mecanismos fisiológicos que possibili-tam tal resultado inovador. Sugerimos que seja devido ao aumento da negativação dos níveis de pressão do ventila-dor, entretanto isso ainda não foi relatado na literatura. Podemos concluir que a aspiração associada a pausa expi-ratória aumenta o volume de secreção aspirada quando comparado aqueles sem esta estratégia durante o proce-dimento, e ainda, não resulta em alterações hemodinâmi-cas e nem a mecânica respiratória.
referências
Almgren B, Wickerts CJ, Heinonen E, Högman M. Side Effects os Endotracheal Suction in Pressure and Volume--Controlled Ventilation. Chest. 2001; 125: 1077-80.
Bassi GL, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, et al. Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventila-tion. Crit Care Medicine. 2012; 40: 895-902.
Kim CS, Rodriguez CR, Eldridge MA. Criteria for mucus transport in the airways by two-phase gas-liquid flow mechanism. J Appl Physiol. 1986; 60: 901-7.
Amato MB, Carvalho CR, Isola A. Mechanical ventilation in Acute Lung Injury (ALI)/Acute Respiratory Discomfort Syndrome (ARDS). J Bras Pneumol. 2007; 33 (Suppl 2S): S119-27.
Plevak D, Ward J. Airway management. In: Burton G, Hodgkin J. Respiratory care: a guideline to clinical practi-ce. New York: Lippincott; 1997. p. 555–609. Durbin CG Jr. Artificial airways. In: Cairo JM, Pilbeam P. Mosby’s respiratory care equipment. St. Louis: Mosby; 1999. p. 138–67.
Combes P, Fauvage B, Oleyer C. Nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a prospective rando-mised evaluation of the Stericath closed suctioning sys-tem. Intensive Care Med. 2000; 26: 878–82.
Weitl J, Betterstetter H. Indications for the use of closed endotracheal suction: artificial respiration with high posi-tive end-expiratory pressure. Anaesthesist. 1994; 43: 359–63.
Cereda M, Villa F, Colombo E. Closed system endotrache-al suctioning maintains lung volume during volumecon-trolled mechanical ventilation. Intensive Care Med. 2001; 27: 648–54.
Naue WS, Junior LAF, Dias AS, Vieira SRR. Compressão torácica com incremento da pressão em ventilação com pressão de suporte: efeitos na remoção de secreções, he-modinâmica e mecânica pulmonar em pacientes em ven-tilação mecânica. J Bras Pneumol. 2014;40(1):55-60.
Maggiore SM, Lellouche F, Pigeot J, Taille S, Deye N, Durr-meyer X, et al. Prevention of Endotracheal Suctioning--induced Alveolar Derecruitment in Acute Lung Injury. Am J Respir Care Med. 2003; 167: 1215-24.
Craig KC, Benson MS, Pierson DJ. Prevention of arterial oxygen desaturation during closed-airway endotracheal suction: effect of ventilator mode. Respir Care. 1984;29: 1013–18.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
8
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O prOcessO de inclusãO e OrientaçãO de prOfessOres universitáriOs cOm deficiência física, visual Ou auditiva
mariana pinkoski de souza1
edgar Zaninitimm2
norberto da cunha garin3
¹ Bacharel em Fisioterapia(IPA), Mestra em Reabilita-ção e Inclusão (IPA), Fisioterapeuta do Centro Universitário Metodista - IPA. E-mail: [email protected]
²Licenciado em Educação Física (UFPel), Licenciado em Filosofia (PUCRS), Mestre em Educação (PUCRS), Doutor em Educação (PUCRS), pró-reitor, professor e pes-quisador no Centro Universitário Metodista – IPA. Orien-tador. E-mail: [email protected]
³Bacharel em Teologia (FT/IMS), Licenciado em Filo-sofia (UPF), Mestre em Teologia (EST), Doutor em Teolo-gia (EST), professor e pesquisador no Centro Universitário Metodista – IPA. Email: [email protected]
resumONo final do século XX, as instituições de ensino superior
no Brasil, juntamente com os avanços sociais e tecnológi-cos e amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9394 de 1996, especialmente fundamentado no artigo 58, iniciaram uma política para proporcionar o aces-so de pessoas com deficiências nos cursos superiores, tanto alunos quanto professores. Sabe-se, pelo IBGE (2010), que 23,9% da população total do Brasil tem algum tipo de defi-ciência, visual, auditiva, motora e mental ou intelectual, o que representa uma real necessidade de inclusão de pesso-as com deficiência nas instituições de ensino superior. Dian-te desses dados, os professores universitários com defici-ência devem buscar conforto e acessibilidade. O texto que apresentamos foi construído tendo como base uma pesqui-sa realizada no Programa de Pós-Graduação em Reabilita-ção e Inclusão do Centro Universitário Metodista – IPA, que estudou a percepção de professores com deficiência física, visual ou auditiva sobre o seu processo de inclusão na Aca-demia. O estudo foi realizado no Centro Universitário Metodista, do Instituto de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O conjunto dos sujeitos da pesquisa foi cons-tituído por dois deficientes físicos, um deficiente visual e um deficiente auditivo, que trabalham como professores universitários nessa instituição. Tratando-se de um estudo qualitativo, foi realizada uma entrevista semiestruturada. O resultado do estudo realizado está apresentado no for-mato de um guia de orientação .Dentre as conclusões da pesquisa, destaca-se a necessária atenção das instituições e professores para a possibilidade de, mesmo sabendo-se
inseridos, os professores com deficiência sentirem-se par-cialmente incluídos ou não. O estudo se alinha no contexto das condições metamórficas pelas quais passam as institui-ções de ensino na contemporaneidade. Assim, o presente texto elaborado em função do texto da dissertação de mes-trado que a pesquisa resultou, pretende somar-se às discus-sões que atualmente se realizam na temática da inclusão e saúde laboral.
descritores: Professor Universitário, Deficiência Física, Visual ou Auditiva, Inclusão, Orientação, Saúde laboral.
intrOduçãOSegundo Horodynski (2009), o conceito de educação
é mais amplo que o conceito de ensino. Educação prepara para a vida em sociedade, promove saberes que social-mente são referenciados, ou seja, saberes que vão ao en-contro das demandas, valores e necessidades da popula-ção, como uma prática social de formação.
Para tal formação é necessário criar saberes socialmen-te legitimados, bem como promover interação entre sujei-tos e destes com a sociedade, ofertando a convivência com outros estudantes e corpo docente diversificado, que pos-sibilite e estimule debates intensos que explicitem conhe-cimentos, valores, sentimentos diversificados e modifica-ção de saberes pré-estabelecidos (DUSEN, 2009).
A Educação Superior, entendida como um “microcos-mo” da sociedade carrega as transformações e modifica-ções, mas sofre interferências desta sociedade em sua maneira de pensar e organizar sendo, porém, também capaz de influenciar um novo pensar e fazer social. Assim, a relação sociedade e Educação Superior é estreita, devi-do as demandas e exigências da contemporaneidade com situações complexas e dicotômicas (SANTOS et al. 2011).
Frente às transformações científicas, tecnológicas, econômicas, políticas e sociais, há um anseio por se encon-trar propostas de uma instituição democrática, autônoma, crítica e inventiva que auxilie nesse processo de construção de uma sociedade mais justa e humana. E, nessas propos-tas, o tema da inclusão torna-se fundamental.
No final do século XX, as Instituições de Ensino Supe-rior no Brasil, juntamente com os avanços sociais e tecno-lógicos, iniciaram uma política para proporcionar o acesso de pessoas com deficiências nos cursos superiores, tanto alunos como professores, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9394 de 1996, artigo 58 (BRASIL, 1996), define educação especial como “modalidade de educação escolar, ofertada preferencialmente na rede re-gular de ensino para educandos portadores de necessida-des especiais”.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2008), a Classificação Internacional de Deficiências, Inca-pacidades e Desvantagens (CIDID), elaborada no ano de 1989, conceitua deficiência, como “toda perda ou anor-
9
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
malidade de uma estrutura ou função psicológica, fisioló-gica ou anatômica”, temporária ou permanente. No ano de 1997, houve novas nomeações e definições, sendo re-nomeada como Classificação Internacional das Deficiên-cias, Atividades e Participação: um manual da dimensão das incapacidades e da saúde (CIDDM-2), que concebe a “deficiência como a perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura), ou função corporal (fisiológica), in-cluindo as funções mentais” e prevê a importância da in-teração que se estabelece entre a pessoa portadora de deficiência, a limitação das atividades físicas e os fatores do contexto socioambiental (OMS, 2008).
As Instituições de Ensino Superior no Brasil realizaram com o passar dos anos, evoluções formais, para a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. O Ministério da Edu-cação, por intermédio da Secretaria de Educação Supe-rior, publicou o Edital INCLUIR 04/2008, que convocava as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a apresen-tarem propostas de criação, reestruturação e consolida-ção de Núcleos de Acessibilidade na instituição. Os Núcle-os de Acessibilidade possuem a função de atuar na imple-mentação da acessibilidade às pessoas com deficiência em todos os espaços, ambientes, materiais, ações e pro-cessos desenvolvidos na instituição, buscando integrar e articular as demais atividades para a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência, no âmbito do Pro-grama de Acessibilidade na Educação Superior - INCLUIR, promovendo, inclusive o cumprimento disposto no De-creto nº 5.296/2004, nas Portarias MEC e nº 5.626/2005, e no referido Edital.
Os direitos da pessoa com deficiência podem ser acio-nados tanto com base no direito fundamental do ser hu-mano como com base nas características próprias desse segmento populacional, eis que 45.606.048 de brasileiros, 23,9% da população total, têm algum tipo de deficiência, sendo, visual, auditiva, motora e mental ou intelectual (CENSO IBGE 2010). A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da população brasilei-ra. Em segundo lugar está a deficiência motora, que ocor-re em 7% da população, seguidas da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou intelectual, em 1,40%, sendo 25.800.681 (26,5%) em mulheres e 19.805.367 (21,2%) em homens (CENSO IBGE, 2010).
A inclusão de indivíduos com deficiência, no Ensino Superior, é primordial para mudança de paradigmas anti-gos, podendo aumentar a demanda de profissionais capa-citados para a docência. A sociedade democrática é fun-dada no princípio ético da equidade, assegurando direitos iguais ao processo educacional, frente ao conceito de in-clusão, pelo qual, de acordo com Costa (2011), inclusão não significa apenas inserir a pessoa com limitações ou dificuldades dentro do sistema de ensino, mas implica preparar esse ambiente para recebê-la. Para Sassaki
(1997), a prática desta inclusão social e educacional, re-pousa em princípios até então considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valo-rização de cada indivíduo, a convivência com diferentes grupos sociais e a aprendizagem através da cooperação. Por sua vez, Dias Sobrinho (2010), refere que a inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade por meio de transformações, pequenas e grandes, no ambiente físico (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobili-ário e meios de transporte), nos procedimentos técnicos e principalmente na mentalidade de todas as pessoas, co-mo também dos indivíduos com deficiência.
É importante perceber-se que está inaugurado um novo milênio, a era da diversidade, na qual não cabe mais discriminar e excluir, pois o reconhecimento e a inclusão de indivíduos com deficiência representam um avanço significativo para a instauração de uma sociedade plenamente democrática (SIQUEIRA, 2010).
De acordo com o Censo da Pessoa com Deficiência (2010), outra iniciativa que dá garantias ao trabalhador com deficiência é a Lei de Cotas 8213/91, criada em 24 de julho de 1991 e que estabelece em seu Artigo 93 que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com pessoas com deficiência e reabilitadas, na seguinte pro-porção do número total de funcionários: até 200, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; de 1001 e acima, 5%.
Apesar da exigência legal de cotas para trabalhadores com deficiência, a participação deles no mercado de tra-balho, em 2010, ainda era baixa quando comparada à das pessoas sem deficiência. Do total de 86,4 milhões de pes-soas, de 10 anos ou mais, ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência 23,6% do total. Em 2010, havia 44. 073. 377 pessoas com pelo menos uma deficiência em idade ativa, mas 23,7 milhões não estavam ocupadas. O maior contingente de pessoas ocupadas foi representado pelo grupo na faixa etária de 40 a 59 anos, cuja população era de 10. 708. 757 trabalhadores. O menor número de tra-balhadores ocupados foi o da população de 10 a 14 anos, com 120. 837 pessoas com pelo menos uma deficiência trabalhando na semana (CENSO 2010 PESSOA COM DE-FICIÊNCIA).
Com base nesses referenciais e na reflexão que os mes-mos suscitaram, foi desenvolvida a pesquisa sobre a per-cepção de professores universitários com deficiência física, visual ou auditiva na Educação Superior, e, nela, aspectos referentes à dimensão da inclusão podem ser observados.
metOdOlOgiaA pesquisa, dada a sua idealização original e os objeti-
vos a serem alcançados, constituiu-se em uma investiga-ção de natureza qualitativa, na qual, segundo Bardin
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
10
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
(2012), permite-se que o foco de estudo vá se construindo e ajustando ao longo do processo. A pesquisa foi realizada no âmbito da educação superior brasileira, tomando em estudo de caso uma instituição confessional no Estado do Rio Grande do Sul. Escolhi, intencionalmente, o Centro Universitário Metodista, do IPA, por observação própria da natureza dos processos de inclusão de pessoas com algu-ma deficiência e da constatação que fiz de que tais proces-sos inclusivos têm sido tomados em estudos na graduação e na pós-graduação nos trabalhos de conclusão de curso, sendo um tema pertinente e importante para as pessoas com deficiência, bem como para as outras pessoas que com elas convivem e para a própria Instituição de Ensino.
O conjunto dos sujeitos da pesquisa foi constituído, pelo critério de inclusão, de dois deficientes físicos, um deficiente visual e um deficiente auditivo que trabalham como professores universitários no Centro Universitário Metodista. O critério de exclusão residiu na condição con-trária a esse dispositivo, isto é, não ser professor deficien-te na IES ou, se deficiente, não desejasse participar da pesquisa. O número de participantes ficou condicionado à observação do número de professores deficientes que há na Instituição.
A pesquisa foi realizada considerando além da biblio-grafia impressa, a bibliografia encontrada nos portais científicos utilizando os termos professores universitá-rios, inclusão, deficiência física, deficiência auditiva e de-ficiência visual, em busca de material científico relevante para os objetivos dos estudos.
Foi realizada, para coletar os dados, uma entrevista semiestruturada. A opção pela entrevista foi feita porque na pesquisa qualitativa, ela possibilita ao entrevistado re-memorar os fatos vividos, falar de suas contradições, suas marcas, enfim, de suas memórias individuais e coletivas (CAIADO, 2003).
Para manter o sigilo dos professores universitários com deficiência entrevistados, foram construídas siglas para identificar cada um: professor universitário com de-ficiência física, cadeirante (PDF1), professor universitário com deficiência físico por talidomida (PDF2), professor universitário com deficiência visual (PDV) e o professor universitário com deficiência auditiva (PDA). Foi utilizada a sigla PDV (pessoa com deficiência) ao longo do texto, sendo o termo correto para a denominação desde o ano de 2010.
Ressalta-se, ainda, que a pesquisa foi autorizada por Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil. Para o entrevistado cego foi feita uma versão em braile do TCLE.
Os resultados práticos da pesquisa, concluída no ano de 2015, foram sistematizados na forma de um Guia de Orientação, contemplando procedimentos para a orien-tação de professores universitários com deficiência no processo inclusivo na IES. Assim, considerando a impor-
tância do III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, com o tema “Novas perspectivas em reabilitação, inclusão e saúde”, oferecemos como contribuição nosso texto con-tendo resultados da pesquisa realizada.
guia de OrientaçãOA seguir serão apresentadas algumas considerações e
orientações que podem ajudar na inclusão de professores universitários com deficiência nas IES. Para fins de sua apresentação no Simpósio, indicaremos os aspectos to-cantes à inclusão.
1) Sobre a inSerção no mercaDo de traBalhO
Tendo em vista o grande contingente de pessoas com deficiência sem emprego no Brasil, os professores com deficiência inseridos na Academia sentem-se privilegia-dos e ressaltam os seus esforços para esta inserção, bem como a importância do reconhecimento da atividade la-boral. Enfatizam também que os seus processos de per-manência no mercado de trabalho foram diferenciados, ou seja, não foi tão facilitado.
Apesar da exigência legal de cotas para trabalhadores com deficiência, a participação deles no mercado de tra-balho, em 2010, ainda era baixa quando comparada à das pessoas sem deficiência. Do total de 86,4 milhões de pes-soas, de 10 anos ou mais, ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência 23,6% do total. Em 2010, havia 44. 073. 377 pessoas com pelo menos uma deficiência em idade ativa, mas 23,7 milhões não estavam ocupadas (CENSO 2010 PESSOA COM DEFICIÊNCIA).
Diante disso, há necessidade de, concretamente:a) Manter-se atualizado sobre a legislação dentro das
IES;b) Buscar capacitação para entrar no mercado de trabalho;c) Exigir os seus direitos trabalhistas, de acordo com a
legislação atual.
2. sOBre a pOssiBilidade de cOnstruçãO de uma nOva expectativa de vida
A atividade laboral envolve muitas dimensões na vida de um indivíduo, possibilita uma nova expectativa de vida e sentimentos. Por exemplo, para o professor universitá-rio com deficiência física, usuário de cadeira de rodas, o trabalho envolve várias relações importantes em sua vida: “Na minha vida diária, o trabalho é importante, no meu caso ele quase é o centro da minha dinâmica de vida, en-tão ele tem uma série de razões importantes, tem a eco-nômica, que ajuda na autonomia, tem as questões de na-tureza psicológicas, porque tu estás ligado com muita gente, tu estás se sentindo útil, exercendo uma profissão que de alguma forma eu me preparei”.
11
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Assim sendo, a PCD ao ter sua inserção no mercado de trabalho pode ter a oportunidade de desenvolver uma nova expectativa de vida.
Por isso, há necessidade de, concretamente:a) Perceber e estimar o trabalho exercido, para melhorar
as dimensões da vida;b) Entender que o trabalho ajuda nas relações diárias,
bem como nas relações psicológicas;c) Compreender que o trabalho promove as relações in-
terpessoais e de livre arbítrio.
3. sOBre estranhamentO, precOnceitO e sentimentOs de pessOas sem deficiência
Atualmente ainda existem pessoas sem deficiência que reagem com estranhamento à inserção de professo-res universitários com deficiência no mercado de traba-lho, por não saberem como lidar com a pessoa com defi-ciência, apresentando dificuldades para a comunicação e acreditando que o deficiente não possui habilidades para as atividades laborais.
O preconceito dá origem a estigmas, marcas sociais de desvantagem, são rótulos que despersonificam o sujei-to de suas características próprias, suas individualidades ficam à margem, perdendo espaço para um rótulo diag-nóstico. (SOUSA, 2014).
A maioria dos professores universitários com deficiên-cia percebe grande dificuldade dos professores, colegas de trabalho, por não saberem como lidar com a diferença, por não tentarem aproximação, e por demonstrarem in-diferença e falta de solidariedade.
Nesta pesquisa, PDA, PDV e PDF1 perceberam que há uma menor dificuldade dos alunos, quando comparados com os professores ao lidar, conviver e também conversar sobre a deficiência.
Segundo Sousa (2014), a sociedade moderna estabe-lece critérios de normalidade, e busca constantemente trazer o estranho para perto dos ditos normais, estabele-cendo relações reducionistas e preconceituosas, também há o apelo de tolerância para com o diferente por não se desenvolver criticidade a respeito desse outro enquanto alteridade.
Havendo estranhamento e/ou preconceito no am-biente de trabalho para com o PCD, mostra-se necessário, concretamente, que se:a) Demonstre para as pessoas que a deficiência não in-
capacita todos os sentidos, que há meios de interação e comunicação;
b) Saiba que todas as pessoas possuem os mesmos direi-tos dentro das IES;
c) Não aceite preconceitos e estranhamentos, encora-jando-se para a sua inclusão;
d) Busque desmistificar a deficiência, principalmente com os professores sem deficiência.
4. sOBre a relaçãO cOm Os alunOsA relação dos alunos com os professores universitá-
rios com deficiência, nem sempre é tranquila, pois exis-tem poucos professores com deficiência.A língua brasileira de sinais com qual que o professor universitário com deficiência auditiva se comunica é reconhecida pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 como meio legal de comunicação e expressão oficial da comunidade surda brasileira e pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta esta lei, determinando, dentre outros aspectos, a inclusão desta língua como disciplina na matriz curricular dos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior, nos cursos de licenciatura e nos cursos de graduação em Fonoaudiologia (NASCIMENTO, 2012).
Para um dos professores com deficiência física, usuá-rio de cadeira de rodas, entrevistados, o primeiro contato com os alunos no início do ano letivo causa estranhamen-to na maioria deles, por não estarem acostumados com professores com deficiência e na cadeira de rodas. PDV, sofreu com uma desconsideração e um evento de desres-peito.
O assédio moral constitui-se no descumprimento de regras de trato social essenciais ao convívio das pessoas em um grupo social. São ações de perseguição repetitiva e que resulta por ferir princípios, valores e direitos indivi-duais, gerando um comportamento ofensivo à moralida-de do ser humano (PAIXÃO, 2013).
Por essas constatações é possível ver-se nelas a possi-bilidade de sistematizar alguns indicativos concretos, ca-bendo:a) Com deficiência auditiva, o professor deve solicitar a
ajuda do intérprete de LIBRAS dentro da Academia;b) Compreender que o primeiro contato com os alunos
dentro da sala de aula pode gerar estranhamento, tendo em vista o número escasso de professores uni-versitários com deficiência inseridos e incluídos na Academia;
c) Ficar atento ao assédio moral e aos cuidados com a saúde física e psíquica.
5. sOBre sentimentOs dO prOfessOr uni-versitáriO cOm deficiência
Existem sentimentos envolvidos na relação de traba-lho de professores universitários com deficiência, que en-volvem relação com a construção da identidade humana e profissional, com a conquista da sua autonomia e prin-cipalmente o reconhecimento e a valorização pelo traba-lho prestado.
De acordo com Silva (2012), sentimentos constituem--se de interpretações subjetivas do que está ocorrendo internamente, construídas por meio do processamento
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
12
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
cognitivo das reações fisiológicas e dos conteúdos da me-mória, cujo conjunto repercute nas expressões faciais, gestuais e verbais de um ser humano.
Alguns professores universitários com deficiência convivem com limitações e estranhamentos dos demais indivíduos e chegam a pensar se não estão inseridos devi-do apenas a lei de cotas.
De acordo com o Censo da Pessoa com Deficiência (2010), uma iniciativa que dá garantias ao trabalhador com deficiência é a Lei de Cotas, criada em 24 de julho de 1991, onde estabelece em seu Artigo 93 que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com pessoas com deficiência e reabilitadas, na seguinte proporção do número total de funcionários: até 200, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; de 1001 e acima, 5%.
Professores universitários com deficiência lidam com sentimentos negativos diante de algumas ações de pesso-as com as quais convivem: pelo medo de não saber como agir, pela fuga para não haver comunicação ou pelo distan-ciamento para evitar constrangimentos, entre outros.
Assim, consciente de que na prática laboral o PCD de-senvolve sentimentos positivos e negativos em relação ao meio em que trabalha, à própria profissão, aos colegas e aos alunos, há a necessidade concreta de que se:a) Busque lidar com os sentimentos vividos dentro da
Instituição de ensino;b) Construa estratégias para não conviver com senti-
mentos negativos, devido ao estranhamento de ou-tras pessoas;
c) Trabalhe para que sua inclusão social seja reconhecida através da atividade laboral.
6. sOBre melhOria das relações interpes-sOais
PDA disse que seria importante aumentar os horários de aula, para que os alunos possam ter mais contato com a língua brasileira de sinais. Para PDF1 seria interessante a Instituição de ensino instruir os funcionários para que todos saibam lidar com a pessoa com deficiência e tam-bém para que haja um consenso com a Academia quanto à organização das horas de trabalho.
Para PDV é necessário dar voz ativa à pessoa com de-ficiência dentro da Instituição para melhor inclusão, com a possibilidade de relatar os problemas e possíveis adap-tações. A conscientização do convívio com a diferença é fundamental para que todos compartilhem espaços, ini-ciem a comunicação, realizem atividades juntos e consi-gam acolher a pessoa com deficiência.
Para Pasquali (2014), satisfação no trabalho pode ser concebida como o sentimento ou atitude, expresso em comportamentos verbais, como opiniões e motores, co-mo condutas de contentamento, que o empregado assu-
me com relação ao seu trabalho na universidade. É impor-tante a relação e a interação com os colegas de trabalho, a fim de trocar ideias, ajudar com alguma atividade curricular, bem como dialogar academicamente. Enten-der e respeitar o colega de trabalho com deficiência pode ser uma forma de compartilhar experiências que enrique-cem as relações humanas, agregam valor e desenvolvem o potencial individual.
A partir dessas considerações com base na pesquisa realizada, é possível concretamente:a) Participar ativamente das questões Institucionais;b) Relatar para a Instituição problemas relacionados
com a sua atividade laboral;c) Manter-se na Instituição por mais tempo, possibilitan-
do um maior contato com os alunos na sala de aula co-mo também com colegas de trabalho e funcionários.
d) Questionar a si mesmo quanto a sua satisfação no tra-balho, em todas as esferas.
7. sOBre a autOnOmiaA autonomia para os professores universitários com
deficiência e livre acesso dentro do ambiente de trabalho facilita a atividade laboral, bem como aumenta as possi-bilidades de inserção e atuações positivas. Para Fernan-des (2010), o trabalho não é apenas de natureza econômi-ca, mas também possui um potencial emancipatório, nos termos da auto realização individual. Nessa perspectiva, em que o trabalho não é reduzido a uma mera categoria instrumental, e quando a instituição oportuniza e disponi-biliza o livre acesso aos indivíduos, a externalização de habilidades e talentos do indivíduo fica facilitada.
Considerando importante a construção e o desenvolvi-mento da autonomia, é possível, conscientemente, que se:a) Busque alternativas para o livre acesso no ambiente
de trabalho;b) Ampare-se na Instituição para buscar os meios de fa-
cilitar o seu trabalho;c) Construa alternativas para uma melhor autonomia
dentro do seu ambiente de trabalho;
8. sOBre a cOlaBOraçãO da pessOa cOm de-ficiência
O professor universitário precisa ser ativo dentro do seu ambiente de trabalho, expondo suas ideias e propos-tas de melhorias para a Instituição, bem como para que as pessoas sem deficiência, que convivem nos mesmos lo-cais, possam expor suas dúvidas e medos, buscando uma melhor forma de convivência e interação.
As pessoas lidam com frustrações advindas do traba-lho, sendo fundamental o apoio psicológico e motivacio-nal dentro da Instituição, frente aos desafios laborais, que muitas vezes são necessários para que o indivíduo mostre as suas potencialidades, incentivando o trabalhador.
13
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Assim, é importante que o próprio professor universi-tário com deficiência aja ativamente na proposição de ideias oriundas das experiências que tem no trabalho, pa-ra que, concretamente, se possa:a) Compreender as limitações das pessoas quanto as
dúvidas frente à pessoa com deficiência;b) Buscar o diálogo sobre a deficiência, com pessoas sem
deficiência dentro da Instituição;c) Procurar apoio psicológico e pedagógico, sentindo
necessidade;d) Observar a repercussão do trabalho na vida quanto à
sua interação social e construção da própria identida-de.
9. sOBre adaptações e mudanças estrutu-rais e de funciOnamentO
9.1 adaptaçõEs na instituição dE EnsinoO apoio para as pessoas com deficiência dentro da Ins-
tituição é necessário para que elas consigam ter suporte ao seu trabalho. Por exemplo, para um cadeirante que se depara com escadas e não existe outro meio de chegar até o andar desejado, é fundamental o apoio de pessoas ca-pacitadas para o auxílio. Quando não há piso podotátil suficiente e o cego perde o seu ponto de referência, não conseguindo encontrar o local para ministrar a sua aula, também é outra situação problemática.
Os professores universitários com deficiência entre-vistados destacaram a necessidade da organização do tempo dentro de casa nas atividades de vida diária e na Instituição frente aos deslocamentos, que, por vezes de-mandam muito tempo se há falta de acessibilidade e tam-bém por não haver ajuda das pessoas. Cabe, assim:a) Exigir acessibilidade arquitetônica dentro da Academia;b) Organizar as suas atividades de vida diária;c) Buscar ajuda e solidariedade de pessoas para possí-
veis contratempos.
9.2. sala dE rEcursosÉ necessário oferecer suporte, com ambiente, recur-
sos didáticos e tecnológicos, pessoas capacitadas e capa-zes de atender às pessoas com deficiência que precisarem de ajuda. PDV, em seu relato destacou a grande importân-cia da Sala de Recursos ao facilitar-lhe as atividades didá-ticas e laborais, mas que ainda há muito a ser explorado.
De acordo com Baptista (2011), dentre as diversas ações que o Ministério da Educação adotou para contem-plar o atendimento educacional especializado para pesso-as com deficiência foi o programa de implantação de Salas de Recursos. Em Porto Alegre, RS, surgiu em 1999, corro-borando com o Projeto Escola Cidadã, uma série de medi-das que visavam eliminar mecanismos de exclusão. Den-tre elas foram criadas as turmas de progressão, os labora-
tórios de aprendizagem e as Salas de Integração e Recursos (SIR). O objetivo da Sala de recursos é criar meios e estraté-gias para que as pessoas com deficiência possam superar as barreiras impostas pelo ensino ou pela instituição. Assim, cabe:a) Buscar a Sala de Recursos da Instituição, afim de receber
suportes didáticos, pedagógicos e de tecnologia.
9.3. suportE tEcnológico / tEcnologia assistivaA tecnologia assistiva ajuda muito nas adaptações diá-
rias das pessoas com deficiência. O professor com deficiên-cia visual, utiliza suas ferramentas, afim de facilitar a sua atividade laboral e poder interagir melhor com os alunos.
Tecnologia assistiva é o termo utilizado para identificar um conjunto de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com algum tipo de deficiência, dentre os recursos de tecno-logia assistiva para cegos, estão os recursos táteis, recursos de voz, thermoform, microcomputador, sintetizador de voz, softwares, impressora em braile, scanner de mesa, apli-cativos de celular e computador, websites, entre outros (SIL-VA, 2012).
Com essas considerações, cabe:a) Utilizar a tecnologia assistiva, afim de facilitar a sua prá-
tica docente.
9.4. Educação a distânciaA Educação a Distância foi normatizada pelo Decreto-
-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A EaD pode facilitar, flexibilizando, a rotina do professor universitário com deficiência, ao possibilitar uma organiza-ção melhor do tempo bem como os deslocamentos até a Instituição. No relato de um professor universitário com de-ficiência física, observou-se a importância desta ferramenta em seu dia a dia, já que necessita de um tempo maior para o deslocamento com a cadeira de rodas, bem como para as atividades de vida diária.
De acordo com Silva (2013), a educação a distância sur-giu nos Estados Unidos no final do século XIX através do de-senvolvimento do estudo por correspondência e evoluiu aos moldes atuais via internet. A modalidade de ensino semi-presencial promove a flexibilidade, montagem dos próprios horários, conciliação com demais atividades e acessibilida-de. O avanço dos meios tecnológicos e o uso deles contri-buem para a inclusão social, profissional e econômica.
Com essas considerações, é possível:a) Solicitar trabalhar na educação a distância, se entender
que essa modalidade de ensino contribui para o desen-volvimento de seu trabalho como professor.
b) Solicitar treinamento e acompanhamento para a moda-lidade EaD.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
14
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
9.5 mudanças arquitEtônicasSegundo um dos professores universitários com defi-
ciência física, ao longo dos anos a estrutura da Instituição na qual ele trabalha, foi modificada. Houve instalação de mais elevadores e a implementação de um piso retilíneo para melhorar o deslocamento com a cadeira de rodas, de acordo com as regras do MEC. Para o professor universi-tário com deficiência visual, antigamente a Instituição ofertava uma acessibilidade precária, devido aos prédios afastados, anexos em ruas diferentes, sem grandes refe-rências para o deslocamento autônomo e ainda a falta de piso podotátil.
A acessibilidade arquitetônica implica a eliminação de barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos. Os exemplos mais comuns de acessibilidade arquitetônica são a presença de rampas, banheiros adaptados, elevadores adaptados, pi-so tátil, entre outros.
De acordo com a Norma Brasil (NR 9050), da Associa-ção Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibili-dade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos, conforme a Portaria (ABNT, 2004), os requisitos de acessibilidade compreendem no mínimo, para a deficiência física, elimi-nar barreiras arquitetônicas para a circulação das pessoas nos espaços de uso coletivo; reservar vagas de estaciona-mento nas proximidades das unidades de serviços, bem como construir rampas com corrimão ou colocar elevado-res; adaptar sanitários, além de instalar lavabos, bebedou-ros e telefones para usuários de cadeiras de rodas.
A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Defici-ência trata do trabalho e emprego em seu Artigo 27, inclu-sive para as pessoas que adquiriram a deficiência no am-biente de trabalho. Assegura, também, condições de acessibilidade que garantam às pessoas com deficiência iguais condições de que goza a população sem deficiência (CENSO 2010 PESSOA COM DEFICIÊNCIA).
Do estudo realizado é possível destacar as seguintes possibilidades de:a) Informar-se quanto aos seus direitos frente a acessibi-
lidade arquitetônica;b) Solicitar para a Instituição possíveis mudanças arqui-
tetônicas, afim de melhorar a acessibilidade.
10. reflexãO necessária: inclusãO e exclusãO
Segundo o professor universitário com deficiência au-ditiva, a inclusão é importante, pois os ouvintes e os sur-dos estarão trabalhando juntos e existe a necessidade de estarem próximos, seja para “bater papo” ou estabelecer trocas.
Para PDV é necessário compartilhar os espaços de au-la, por exemplo; com dois ou mais professores em uma
mesma disciplina, para que um complemente o trabalho e a experiência do outro e também pelo fato de o deficien-te visual ter dificuldade de utilizar os recursos visuais.
No relato do professor universitário com deficiência auditiva, foi explanado que a exclusão já fez parte de sua vida quando o mesmo buscou o desenvolvimento e a co-municação. Para o professor universitário com deficiência física usuário de cadeira de rodas, algumas atividades e planos tiveram que ser modificados ou deixados para trás; relatando que existem aspectos na vida acadêmica que não desenvolveu tanto, como escrever e publicar por não realizar o doutorado, por falta de planejamento e grande demanda de atividades.
PDF2 destacou que sofreu muita discriminação na adolescência pela própria família e que possui dificulda-des dentro da Academia, na organização das aulas devido à malformação no membro superior, apresentando dores crônicas. Para PDV existe insegurança quanto às questões físicas, espaciais e habilidades de dar uma aula com recur-sos visuais que ocasiona uma desigualdade de condições.
Segundo Siqueira (2010), é importante perceber-se que está inaugurado um novo milênio, a era da diversida-de, na qual não cabe mais discriminar e excluir, pois o re-conhecimento e a inclusão de indivíduos com deficiência representam um avanço significativo para a instauração de uma sociedade plenamente democrática.
A partir do ingresso da pessoa com deficiência na Ins-tituição de ensino, pode-se iniciar outras práticas de de-senvolvimento de seu processo inclusivo. O professor uni-versitário com deficiência visual propôs inicialmente am-bientar a pessoa com deficiência na Academia, efetuando o reconhecimento espacial de todos os ambientes por mais de uma vez. Seria interessante efetuar a localização espacial da Instituição através de maquete, pois a organi-zação espaço-temporal não se dá somente pelo movi-mento, mas também pela memorização do tato. Opinou também sobre a necessidade de constituir um espaço pa-ra efetuar as escutas das pessoas com deficiência, desta-cando que são pequenos detalhes que fazem a pessoa com deficiência sentir-se acolhida.
A inclusão não pode ser apenas um ato legal e nem ser confundida somente com inserção. PDV observou em seu relato ser importante a compreensão de que a pessoa com deficiência é humanamente igual a todos os indivíduos, como também se perceber que a deficiência não limita todas as funções dos indivíduos.
O fato de professores com deficiência atuarem no en-sino superior não significa que estejam inclusos, pois, co-mo explica Pereira (2011), incluir implica organizar e im-plementar respostas educativas que facultem a apropria-ção do saber, do saber fazer e da capacidade crítica e re-flexiva que envolve a remoção de barreiras arquitetônicas, mas sobretudo das barreiras atitudinais, que são aquelas
15
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
referentes ao “olhar” das pessoas sem deficiência e desin-formadas, para que se promova a adequação do espaço psicológico e de compartilhamento que será vivenciado por indivíduos muito diferentes entre si.
Existem sentimentos bons e ruins na relação de inclusão.O professor universitário com deficiência auditiva sen-
te-se incluído em seu espaço/ ambiente de trabalho, mas um dos professores universitários com deficiência física diz que inclusão ocorre a partir do ponto de vista, destacando que sente-se incluído em partes, pois deve perceber a sua deficiência, bem como o ritmo de trabalho que possui.
O sentimento do professor universitário com deficiên-cia visual é de inclusão a partir de sua capacidade teórica como professor(a), em termos de pesquisa e em ter uma turma pequena. Outro professor universitário com defici-ência física sente-se incluído e se identifica com a filosofia e identidade da Instituição.
Entende-se, no entanto, que o trabalho não significa apenas exercer uma atividade produtiva, mas também conviver, sentir-se indivíduo e cidadão, cabendo à organi-zação do trabalho preocupar-se inclusive com o mundo social do indivíduo e não somente com o produtivo (DE-JOURS, 1999). O estigma dado aos indivíduos com defici-ência os vê como sujeitos inferiores, cujas marcas da defi-ciência os sinalizam negativamente no contexto social e, principalmente, nesse caso, no contexto do trabalho.
Segundo Nogueira (2012), a inclusão social assegura todo o sistema de proteção institucional da pessoa com deficiência no Brasil, bem como implica a ideia de que há um débito social secular a ser resgatado em face das pes-soas com deficiência, promovendo a remoção de barrei-ras arquitetônicas e atitudinais
Acredito que é dever da sociedade agir, corrigir-se, combinando esforços públicos e privados para a realiza-ção de tal finalidade integradora da totalidade de seus membros.
Com essas considerações é possível indicar a possibi-lidade de:a) Participar de todas as atividades acadêmicas;b) Propor à IES meios de melhorar a sua inclusão no am-
biente de trabalho;c) Conviver e atuar interdisciplinarmente com colegas
de trabalho, ofertando aos alunos oportunidades ino-vadoras dentro da sala de aula;
d) Relatar para a IES sentimentos vividos, afim de não habituar-se com a exclusão no ambiente acadêmico;
f) Buscar a sua efetiva inclusão e não apenas a sua inserção;g) Compreender as suas limitações e efetuar esforços
para expandir as suas habilidades e lidar com as difi-culdades advindas.
cOnsiderações finaisOs dez tópicos, assim sistematizados a partir da pes-
quisa realizada, e apresentados na forma de reflexão/orientação sobre a inclusão de professores universitários com deficiência na Academia, foram organizados para a apresentação neste Simpósio de Reabilitação. No estudo original, que resultou numa dissertação de mestrado, há também os indicativos de procedimentos a serem prati-cados pelas Instituições Universitárias.
A oportunidade de apresentação neste Simpósio, do estudo realizado sobre percepções de professores univer-sitários com deficiência física, deficiência visual ou defici-ência auditiva sobre o processo de inclusão na Academia, constitui-se em mais uma efetiva possibilidade de contri-buir com a reflexão que a sociedade faz sobre a inclusão social.
A Universidade, dada a sua natureza social, tem o compromisso de dar à sociedade retorno das pesquisas que realiza e do ensino e aprendizagem que promove. As-sim, neste intuito, apresentamos nossa contribuição.
referências
ABREU, M. H. et al. a política de “educação permanen-te”: contribuições da ABEPSS. Brasília: CFESS, 2011.
ABNT, 2004. NBR 9050 - norma brasileira - Acessibilida-de a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos ur-banos. Disponível em: http://www.pessoacomdeficien-cia.gov.br/app/sites/defa ult/files/arquivos/%5Bfield_ge-nerico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf . Acesso em: 2 abril. 2015.
ALMEIDA, K. M. et al. O espaço físico como barreira à in-clusão escolar. cadernos de terapia Ocupacional da ufscar, v. 23, n. 1, 2015.
ALMEIDA, L. et al. Democratização do acesso e do suces-so no ensino superior: uma reflexão a partir das realidades de Portugal e do Brasil.revista da avaliação da educação superior, Campinas, v. 17, n. 3, p. 12. nov. 2012.
AMARAL, L. A. Mercado de trabalho e deficiência. revis-ta Brasileira de educação especial, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 27-134, 1994.
ARAÚJO, L. R. S; OLIVEIRA, T.C.A. reformas e ação afir-mativa no ensino superior.IX Seminário nacional de es-tudos e pesquisas: história, sociedade e educação no Bra-sil. Universidade Federal da Paraíba: João Pessoa. 2012.BARDIN, Laurence. análise de conteúdo. Lisboa: Edi-ções 70, 2012.
BRASIL. cartilha do censo 2010 – pessoas com deficiên-cia. 1. ed., 2012.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
16
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabe-lece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Ofi-cial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Dispo-nível em: https://www.planalto.gov.br/leg.asp>. Acesso em: 09 mar. 2012.
______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Es-tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas Educacionais. Coordenação Geral do Cen-so da Educação Superior. Censo da Educação Superior. Brasília-DF. pgs. 3-13. 2014. Disponível em: >http://down-load.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/questionarios_e_manuais/2013/glossario_modulo_ies_censup_2013.pdf>. Acesso em: 3 de abril. 2015.
______. Ministério do Trabalho e Emprego. Coordenação--Geral de Estatísticas.Sistema, v. 7, p. 04, 2008.
CAIADO, K. R. M. aluno deficiente visual na escola: lem-branças e depoimentos. Campinas: Autores Associados, PUC, 2003.
CARLOTTO, S. M. Síndrome de Burnout em professores e fatores associados. rev. psicologia: teoria e pesquisa, [S.l.], v. 27, n. 4, p. 403-410, out./dez. 2011.
COSTA, A. M, G; CORRÊA, R. M. cartilha da inclusão: di-reito das pessoas com deficiência. Minas Gerais: PUC Mi-nas, 2009.
COSTA, G. T. M; CARVALHO, C. L. A educação para o em-preendedorismo como facilitador da inclusão social: um caso no ensino superior. revista lusófona de educação, p. 103-118, 2011.
DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E. itinerário teórico em psi-copatologia do trabalho: psicodinâmica do trabalho. São Paulo: Atlas, 1999.
DIAS SOBRINHO, J. Democratização, qualidade e crise da educação superior: faces da exclusão e limites da inclusão. rev. educação & sociedade,Campinas, v. 31, n. 113, p. 1223-1245, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.un.org/disabilities/documents/reports/e-cn5-2008-6.doc.>. Acessoem: 09 ago. 2012.
DUSEN, G. C. The virtual campus: technology and reform in higher education. eric digest. 2009. Disponível em: <http://bern.library.nenu.edu.cn/upload/soft/0-arti-cle/+024/24173.pdf.>. Acesso em: 02 jun. 2013.
GESSER, M; NUERNBERG, A.H.; TONELI, M.J.F. A contri-buição do modelo social da deficiência à psicologia social. psicologia & sociedade, v. 24, n. 3, p. 557-566, 2012.
HORODYNSKI, M.L.B. Uma reforma universitária: sem doutor e sem pesquisa?. Jornal da Ciência – SBPC. 3p. 14 ago. 2009.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010.
NASCIMENTO, M. V.; BEZERRA, T.C. Dupla docência no ensino de língua brasileira de sinais: interação surdo/ou-vinte em perspectiva dialógico-polifônica. revel, v. 10, n. 19, 2012.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - OMS. 2015. Dis-ponível em: <http://nacoesunidas.org/pessoas-com-defi-ciencia-nao-devem-ser-esquecidas-dos-objetivos-de-de-senvolvimento-sustentaveis-pedem-relatores-da-onu/>. Acesso em: 03 Abril. 2015.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS- OMS. conven-ção da onU sobre os direitos das pessoas com deficiên-cia, 2008.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-OMS. política nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Brasília-DF; 2008. Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_pes-soa_deficiencia.pdf.>. Acesso em: 17 mar. 2013.
PAIXÃO, R.B. et al. Por que ocorre? Como lidar? A percep-ção de professores de graduação em Administração sobre o assédio moral. revista de administração, v. 48, n. 3, p. 516-529, 2013.
ROSSATO, R. Universidade brasileira: novos paradigmas institucionais emergentes. Auniversidade como lugar de formação. Observatório da educação capes/inep, [S.l.],v.2. p. 20-39. 2006.
SANTOS, W. R. Justiça e deficiência: a visão do poder ju-diciário sobre o BPC. sociedade em debate, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 165-186, 2012.
SASSAKI, R. K. inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.
SAVIANI, D. A expansão do ensino superior no Brasil: mu-danças e continuidades. poíesis pedagógica, v. 8, n. 2, p. 4-17, ago./dez. 2010.
SILVA, C. R; GOBBI, B.C; SIMÃO, A. A. O uso da análise de conteúdo como uma ferramenta para a pesquisa qualita-tiva: descrição e aplicação do método. Organizações ru-rais & agroindustriais,[S.l.], v. 7, n. 1, 2011.
17
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
SILVA, J.P. Inclusão de pessoas com deficiência no merca-do de trabalho. revista direito &dialogicidade, v. 4, n. 2, p. 60-75, 2013.
SILVA, N.; TOLFO, S. Trabalho significativo e felicidade humana: explorando aproximações. revista psicologia, v. 12, n. 3, p. 341-354, 2012.
SILVA, R.T.P, et. al. História da educação e os processos sócio-culturais. encontro nacional de educação (ena-ed).[S.l.], v.2, n.1, 2012. Disponível em: <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/enaed2/article/view/901>. Acesso em: 20 mar. 2012.
SIQUEIRA, I. M.; SANTANA, C. S. Propostas de acessibili-dade para a inclusão de pessoas com deficiências no ensi-no superior. rev. Bras. ed. esp., Marília, v.16, n.1, p.127-136, jan.-abr., 2010.
SOUSA C., et. al. Educação inclusiva: dificuldades e pro-gressos. revista interfaces: saúde, humanas e tecnolo-gia, v. 2, n. 4, 2014.
SOUSA, J., et al. Guia Metodológico para o Acesso das Pessoas com Deficiências e Incapacidades ao Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competên-cias-Nível Básico. anQ, Lisboa Scientificandacademi-cliterature, 2009.
SOUZA, M. P. de. percepção de professores universitá-rios com deficiência física, deficiência visual ou defici-ência auditiva sobre o processo de inclusão na acade-mia. 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado) – Centro Univer-sitário Metodita – IPA, Porto Alegre, 2015.
TEIXEIRA, A. C. C; SOUZA, C. H. L; LIMA, P. P. F. Arquitetu-ra da participação no Brasil: uma leitura das representações políticas em espaços participativos nacionais. instituto de pesquisa econômica aplicada, n. 1735, p. 48, 2012.
VIOLANTE, R. R.; LEITE, L. P. A empregabilidade das pes-soas com deficiência: uma análise da inclusão social no mercado de trabalho do município de Bauru, SP. cader-nos de psicologia social do trabalho,[S.l.], v. 14, n. 1, p. 73-91, 2011.
WARBURTON, S. Second life in higher education: assess-ing the potential for and the barriers to deploying virtual worlds in learning and teaching. British Journal of educa-tional technology, [S.l.], v. 40, n. 3, p. 414-426, 2009.
ZILLI, C. J. et. al. utilização das tic’s no processo de en-sino/ aprendizagem no ensino superior no extremo sul catarinense–unesc. Repositório de conteúdo digital.XI Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. 2011. Disponível em:<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/26016.>Acesso em: 13 dez.2012.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
18
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
mulher e traBalhO na pós mOdernidade
cristiana fontoura trindade¹ luciane carniel Wagner²1Psicóloga. Mestranda do Programa de Pós-Gradua-
ção em Reabilitação e Inclusão do Centro Universitário Metodista IPA¹ - [email protected]
2Doutora em Psiquiatria, Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Inclu-são do Centro Universitário Metodista IPA² - [email protected]
resumOA discussão do conceito de gênero é necessária para o
entendimento do impacto que as mudanças que ocorrem sucessivamente no mundo globalizado causam na vida das pessoas, seja privada, seja social. O trabalho perpassa as duas esferas, pois através dele colocamos em movimento a própria identidade. Mas qual é a identidade, ou identida-des, neste mundo Pós-Moderno, que definem com clareza as fronteiras de gênero e de papéis? Com a apresentação do projeto de pesquisa das cavernas às cotas: exclusão, participação e perspectivas das mulheres na relação com o trabalho, apresentamos elementos da literatura, que discutem de que modo os paradigmas em relação às diferenças de gênero, especificamente no universo do tra-balho em empresas, impactam na carreira das mulheres. Será uma pesquisa qualitativa, com entrevistas e análises de conteúdos para entender a percepção de homens e mu-lheres em relação á participação destas no mundo do tra-balho. Por tratar-se de um Projeto de Pesquisa, não conta-mos ainda com os resultados das entrevistas para que pos-samos discutir os dados. Temos a expectativa inicial de que as mesmas revelem opiniões, pensamentos e sentimentos diferentes entre homens e mulheres sobre o esforço ne-cessário que as mulheres precisam fazer para ocupar car-gos de liderança nas organizações.
Descritores: Mulher, Trabalho, Igualdade de Gênero, Pós-Modernidade.
intrOduçãOBeauvoir (1949) discute em seu livro O Segundo Sexo
(Volume 2, capítulo História), como o conceito de gênero foi sendo construído historicamente. Mesmo criticada por alguns historiadores por não dar maior ênfase aos perío-dos da história nos quais as mulheres alcançaram maior transcendência, afastando-se dos aspectos imanentes da existência, dando maior ênfase à dominação masculina. Passados 66 anos da publicação de O Segundo Sexo, ainda não se conhece a narrativa da história sob a perspectiva de gênero.
A frase de abertura do volume dois de O Segundo Se-xo é também a mais famosa de toda a extensa obra de Simone de Beauvoir. Uma frase que, há mais de 60 anos, inspira gerações de mulheres a mergulhar no verdadeiro significado da condição feminina. No livro, Simone de Beauvoir evidenciou, pela primeira vez, que ser mulher não é algo naturalmente dado, mas uma construção social, histórica e cultural. Como Simone de Beauvoir ex-plica ao longo de O Segundo Sexo, foi exatamente assim – sem perceber, sem refletir, sem observar, sem participar – que as mulheres se tornaram “o segundo sexo”.
Aquele que só se define em relação ao primeiro sexo, o masculino. Assim, a história e a cultura construíram das mulheres uma imagem invertida, tal qual um reflexo no espelho. Ao longo dos milênios e séculos, as mulheres só existiram em referência aos homens, como homens ao contrário, a versão fracassada, sem força, impotente e desprovida de poder do masculino.
Partindo da constatação de que o mundo sempre per-tenceu aos machos, Simone de Beauvoir busca nos estu-dos da pré-história e da etnografia dados que pudessem esclarecer o que deu inicio a esta preponderância.
A condição da fêmea humana a excluía da vida produ-tiva por longos e imprevisíveis períodos e mesmo quando a condição de mãe a colocou em um lugar privilegiado, nunca o primeiro lugar foi ocupado: a humanidade não tem o projeto de manter-se como espécie, o que a levaria à estagnação, mas sim o de superar-se, e o trabalho do-méstico levava necessariamente à repetição, não produ-zindo nada de novo. Por isso, mesmo quando a materni-dade passou a ter um lugar de importância, engravidar, parir, amamentar, não deram à mulher um status à altura do homem, pois estas são funções naturais e não ativida-des, não há a presença de um projeto através do quais as mulheres possam afirmar sua existência, sujeitando-se a um destino biológico.
Quando a civilização se assenta em função da agricul-tura, a maternidade assume um local de máxima impor-tância, tornando-se sagrada. Como a terra exige de seus proprietários uma posteridade, as crianças tornam-se muito importantes. Segundo a filosofia existencialista, o homem só se pensa pensando o Outro. Mas a mulher ain-da não é suficientemente importante para ser inteira, mas sim o Outro do homem. Dizer que a mulher era o Outro revela que não havia uma relação de reciprocidade entre os sexos. Por isso, como bem situa Beauvoir, a passagem do matriarcado para o patriarcado não foi, necessaria-mente, o momento histórico de perda para a mulher, pois a mesma já não se encontrava em situação de privilegio, pois em sua existência não era concebida como sujeito.
Na relação com o trabalho, o homem descobre seu poder: o grão semeado pode ou não germinar, ao passo que o metal reage sempre da mesma maneira ao fogo e à
19
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ação mecânica. Estes mundos de utensílios contem o pen-samento racional, ao contrário do mundo da agricultura, feminino, dependente da contingência e do acaso, da es-pera e do mistério, enfim, das forças da natureza que não podiam ser dominadas. O homem faber, ao contrário, é o reinado do tempo que se pode vencer, tal como o projeto da ação e da razão.
Assim, Beauvoir (1949), ao colocar que o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma ação violenta, nos evidencia como a mulher era o Outro do homem, um não sujeito.
Destronada pelo advento da propriedade privada, é a ela que o destino da mulher permanece ligado durante os séculos: em grande parte, sua história confunde-se com a história da herança. Pelo fato de nada possuir, a mulher não é elevada a dignidade de pessoa, pois é parte primei-ramente do patrimônio do pai e depois do marido. Quan-do a família e o patrimônio privado se apresentam sem contestação como bases da sociedade, a mulher perma-nece alienada.
Com as grandes invasões, a situação econômica, so-cial e política é transtornada e isto repercute, é claro, na situação da mulher. O Cristianismo não contribuiu em na-da para a libertação da mulher, oprimindo-a ainda mais. O único regime matrimonial admitido é o regime dotal que torna a mulher incapaz e impotente. A mulher perma-necia sempre sob tutela, mas era estreitamente ligada ao esposo. É essa tradição que perdura durante a Idade Mé-dia: a mulher acha-se na absoluta dependência do pai e do marido. Quando o feudalismo se organiza, a condição da mulher se torna muito incerta, reflexo das mudanças so-ciais e históricas.
Um fato importante é o de que a riqueza continuava a não pertencer á mulher: quando viúva, era obrigada a ca-sar novamente, quantas vezes fossem necessário, para passar a herança para o marido.
Muitos elementos conjugam-se contra a independên-cia da mulher, que nunca se encontram abolidos ao mes-mo tempo: a força física não mais importa, mas a subor-dinação feminina permanece útil à sociedade se ela for casada. Por isso, o poder marital sobrevive ao desapareci-mento do regime feudal.
Todos os códigos europeus foram redigidos de acordo com o direito canônico, o direito romano e o direito ger-mânico, todos desfavoráveis a mulher; todos os países conhecem a propriedade privada e a família e submetem--se às exigências destas instituições.
Beauvoir nos ensina que a revolução burguesa mos-trou-se respeitosa das instituições e valores burgueses, ou seja, foi feita quase que exclusivamente pelo homem. Fo-ram as mulheres da classe operária que conheceram maior independência como sexo. Tinha o direito de pos-suir uma loja de comércio e participava da produção; sua
independência material permitia-lhe grande liberdade de costumes: a mulher do povo pode sair, frequentar taver-nas, dispor do corpo como um homem.
Mas é no campo econômico e não sexual que a mulher continua oprimida. A camponesa participava do trabalho ao lado do marido; poderiam afirmar-se como pessoas e reclamar seus direitos, mas uma tradição de timidez e submissão pesava sobre elas.
Na classe burguesa, as mulheres achavam-se dema-siadas integradas na família para descobrir uma solidarie-dade concreta entre elas, não constituindo uma casta se-parada, suscetível de impor reivindicações.
A mulher reconquista uma importância econômica que perdera desde as épocas pré-históricas, porque esca-pa do lar e tem, com a fábrica, nova participação na pro-dução.
Essa é a grande revolução que no século XIX transforma o destino da mulher e abre para ela uma nova era, mas que acabou se revelando mais um movimento utilitarista do que de transformação do papel da mulher na sociedade.
De acordo com Sina, em sua obra “Mulher e Trabalho” (2005, p.24 et seq) , em 1827, o legislativo aprovou uma lei que aceitava meninas em escolas, mas exclusivamente de nível elementar. Apenas em 1879, em plena época da pro-clamação da Republica, lhes foi concedido o direito de in-gressar nas escolas de nível superior. Na década de 1880 algumas mulheres concluíram o curso de Direito, mas nin-guém lhes deu trabalho. A primeira defesa feita por uma mulher, Myrthes de Campos, no Tribunal de Justiça, só aconteceu em 1899.
O preconceito, segundo a mesma autora, fazia com que grande parte de criminalistas e médicos alertassem para o perigo que a intelectual emancipada representava como mau exemplo para as demais mulheres, pois faria com que pensassem que poderiam se emancipar e sobre-viver sem o auxilio do marido.
Sina destaca que uma importante consequência da inércia das trabalhadoras foram os salários com que tive-ram que se contentar. Várias explicações foram dadas pa-ra o fenômeno. Não basta dizer que as necessidades das mulheres são menores que as dos homens. É no seio de uma sociedade em que subsiste o modelo conjugal que a mulher procura emancipar-se pelo trabalho; ligada ao pai e ao marido, contenta-se em levar para casa um auxilio.
Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram para as fábricas, antes locais proibidos para elas, para executar o serviço dos homens que estavam na guerra. Solteiras, casadas e mães assumiram novos papéis. Não eram mais somente “rainhas do lar”, mas sim dedicadas responsá-veis por itens das linhas de montagem. A dupla jornada se fez presente com toda sua força.
No contexto das grandes mudanças do século XX, Giddens, ao longo da sua obra Modernidade e Identida-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
20
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
de (2002) desenvolve a ideia de que para o bem ou para o mal, somos todos impelidos rumo a uma nova ordem global; as fronteiras entre os países e os passaportes continuam., mas na economia, o que vale é a questão universal.
Essa alteração global não causa apenas mudanças externas, mas também na vida intima de cada um. A au-sência de fronteiras econômicas é um dos maiores desa-fios para as mulheres, que se veem diante da possibilida-de de fazer carreira internacional. Sina (p. 106-111) subli-nha que, para a mulher, este processo é ainda mais difícil, pois, mesmo que as identidades estejam em rápida e contínua modificação, as tentativas da mulher contem-porânea em definir o que parece ser o seu perfil identitá-rio ainda esbarra na hegemonia do discurso do que os homens acreditam ser a identidade da mulher, mesmo que de maneiras pouco perceptíveis. Espera-se que a mulher priorize o conforte e a concordância da família em situações de trabalho que envolva mudança de cida-de, estado ou país. Em relação aos homens, se houver algum sofrimento familiar, este é justificado por tratar--se da carreira, tanto no âmbito pessoal quanto social.
Sina ainda pontua que muitas oportunidades são ne-gadas às mulheres, de empregadas domésticas a executi-vas, pelo simples fato de poderem, um dia, engravidar, sendo culpadas por algo que é da natureza (p 3).
A identidade do sujeito, homem ou mulher, não pode ser vista exclusivamente como a propriedade de um ser centrado e com limites predefinidos pelo gênero, que se revela a si mesmo na história. Ao contrário, ainda segundo Giddens, a identidade é aberta, incompleta e multiforme. Adota traços pessoais, culturais e contextuais que se con-fundem com sua própria história.
O paradigma, porém, nunca deixa de estar presente, variando de intensidade. Os movimentos de avanços e re-trocessos já descritos no inicio deste texto, continuam in-tensamente ao longo da história moderna e pós-moder-na. Após a segunda guerra mundial , quando muitas mu-lheres atuaram em frentes de extrema complexidade, como a espionagem, as mulheres sempre regressavam ao degrau que ocupavam anteriormente, ou seja, às vassou-ras e às panelas.
A americana Betty Friedan, em sua obra A Mística Fe-minina (1963), também referência nos estudos sobre fe-minismo, não poupou as autoridades de seu país por te-rem incentivado as empresas a abrir vagas aos homens tão logo regressaram dos diferentes fronts de guerra jus-tamente para suprir a carência de mão de obra.
Neste momento da história, houve um acirramento da campanha pela igualdade de direitos, marcando o for-talecimento do movimento feminista.
Mas em 1980, a mesma autora que lançou as bases de um feminismo organizado, revisou com olhar corajosa-
mente crítico o que defendeu anteriormente, ou seja, a luta entre os sexos, mas sim a colaboração entre ambos. Betty Freydan lançou. em 1980 O Segundo Estágio, obra que dá inicio a uma nova onda do feminismo, que não ex-clui os homens, mas busca a colaboração entre os sexos, como forma de evolução das relações.
O Brasil não deixou de acompanhar esta nova onda do feminismo. A socióloga Rose Marie Muraro lançou o livro “Os seis meses em que fui homem” (1996), relatando sua vivência ao se candidatar à Assembleia Constituinte.
Não foi eleita, mas a experiência, muito rica levou-a a criar a Editora Rosa dos Ventos, que publicou diversos li-vros com a temática do feminismo, diferença de gênero e direitos iguais para homens e mulheres. Ao longo de sua vida, Rose Marie defendeu amplamente a tese da colabo-ração entre homens e mulheres para a construção de um mundo melhor. A tese da colaboração tem se constituído na principal tese pós-feminismo exacerbado.
A Organização das Nações Unidas criou em o movi-mento HeForShe, em setembro de 2014, em sua sede em Nova Iorque, em solidariedade para a igualdade de gêne-ro que reúne metade da humanidade em apoio a outra metade da humanidade, em benefício de todos, em todos os âmbitos da sociedade, incluindo o do trabalho.
Objetivo geral: Apresentar o projeto de pesquisa in-titulado Das cavernas às cotas: exclusão, participação e perspectivas das mulheres na relação com o trabalho, tra-zendo elementos da literatura que fazem parte da revisão bibliográfica e embasam a pesquisa.
metodologia: Estudo qualitativo, com entrevistas narrativas que serão filmadas e analisadas em seus con-teúdos, para desenvolvimento de documentário e pro-dução de artigo científico. Entrevistaremos três homens e três mulheres, de diferentes áreas de atuação no mer-cado e que atuem em cargos de liderança, desde os ini-ciais até os de direção.
cOnsiderações finaisPor tratar-se de um Projeto de Pesquisa, não conta-
mos ainda com os resultados das entrevistas para que possamos discutir os dados.
Esperamos que as entrevistas possam trazer, em seus conteúdos, opiniões, pensamentos e sentimentos dife-rentes entre homens e mulheres. Pensamos que os ho-mens abordarão o tema de liderança feminina, com a ocu-pação de cargos líderes, como algo mais fácil de ser alcan-çado do que na percepção das mulheres. Talvez, tenham uma dimensão diferente do esforço necessário. Também temos a suposição de que os homens entrevistados trarão a principio, uma visão “politicamente correta” sobre a possibilidade de terem mais mulheres como pares em car-gos de direção, exigindo que as entrevistadoras aprofun-dem a entrevista em busca de percepções mais realistas,
21
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ou seja, que explicitem possíveis conflitos existentes, pro-venientes das diferenças.
Em relação ás mulheres, não pensamos que será um espaço para a queixa; imagina-se que poderão fazer uso da onipotência segundo a qual a mulher é capaz de cum-prir vários papéis ao mesmo tempo, sem que isto traga prejuízos para sí mesma. Também exigirá um esforço das entrevistadoras para que possam trazer de forma realista as dificuldades encontradas e os caminhos possíveis de serem adotados para que a igualdade de direitos entre homens e mulheres nos ambientes organizacionais se tor-ne cada vez mais uma realidade concreta e não discursiva, não interpretando tal posição crítica como uma forma de “não dar conta do recado”, mas de contribuir efetivamen-te para a inclusão nos ambientes de direção.
referênciasBEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. São Paulo:Nova Fronteira, 1949. V. 2
FRIEDAN, Betty. a mística feminina (1963).Estados Unidos.
FRIEDAN, Betty. O segundo estágio (1980). Estados Unidos.
GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade (2002). Jor-ge Zahar Editor. Rio de Janeiro.
MURARO, Rose Marie. Os seis meses em que fui homem (1993). Rosa dos Ventos
Organização das Nações Unidas. HE for SHE MOVEMENT (2014). Estados Unidos.
SINA, Amália. mulher e trabalho. O desafio de conciliar diferentes papéis na sociedade. (2005). Saraiva. Brasil
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
22
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O prOfissiOnal de educaçãO física cOmO agente de inclusãO sOcial nO cenáriO dO paradespOrtO
melissa de godoy lisboa¹; nathan Ono de carvalho²; João francisco pereira neto³.¹Graduada em Educação Física pelo Centro Universi-
tário Metodista – IPA; ²Mestrando em Biociências e Reabilitação no Centro
Universitário Metodista – IPA; ³Mestre em Ciências Sociais. Professor do Centro Uni-
versitário Metodista – IPA.
resumOEste estudo é um recorte de uma pesquisa e teve co-
mo objeto analisar a percepção dos entrevistados em seu papel como agente de inclusão social através do parades-porto. Buscou refletir sobre que bases norteiam a cami-nhada desse profissional, avaliando em parte sua prática e os desafios desse caminho. Considerando que o para-desporto é um campo que atua intimamente com a edu-cação inclusiva e que, portanto, implica em reconhecer, aprender e transformar culturas. O paradesporto exige um profissional que vá além da capacidade técnica, é im-perioso uma visão inclusiva, conhecimentos e valores. As-sim, os profissionais de educação física que atuam em diferentes modalidades do paradesporto necessitam mais que teoria e prática. Necessitam de atualização, aperfeiçoamento constante e auto avaliação dado o con-texto social que atuam. E este é o objetivo desta reflexão. O estudo é de caráter qualitativo e foram aplicadas entre-vistas semiestruturadas com cinco treinadores e técnicos de equipes de modalidades paradesportivas. Através das entrevistas podemos afirmar que os profissionais de edu-cação física percebem-se como agentes de inclusão social quando utilizam o paradesporto como ferramenta para desenvolver a autonomia de seus participantes e promo-ver sua inclusão social.
descritores: Paradesporto, Educação Física, Inclusão Social.
educaçãO paradespOrtO e inclusãO sOcialA prática de atividades físicas por pessoas com
deficiên cias (PCDs) tem levado a adaptações em vários esportes, que são chamados de desporto adaptado que, por sua vez, levam à promoção das condições que favore-cem a ambientação, a adequação de recursos, a viabiliza-ção dos meios, constituindo uma série de elementos que compõe a inclusão dessas pessoas. Inclusão essa que pres-supõe igualdade e, portanto, a busca por excelência des-portiva a todos e que é um dos objetivos de um bom pro-fissional que atue neste contexto.
Além dessa excelência, segundo Rodrigues (2006) a atividade física adaptada tem por objetivos proporcionar alegria e prazer aos seus participantes, pois o mesmo con-sidera a alegria como o elemento básico e fundamental dessas atividades, proporcionando que os participantes se socializem e sintam-se realizados em vencer sua pró-pria deficiência.
Acredita-se que neste contexto, a cooperação entre os profissionais de diversas áreas, deva ser de fundamen-tal importância, neste novo século, para a melhoria do ensino da atividade física adaptada, além, de uma forma-ção básica adequada para todos os profissionais inseridos neste contexto.
A Educação Física, segundo Melhem (2004), pode ser definida como área do conhecimento que introduz e ínte-gra os alunos na cultura corporal do movimento, com fi-nalidades de lazer, de expressão de sentimentos, afetos, emoções, de manutenção e melhoria da saúde.
Tendo em vista que o profissional de educação física tende a usar o esporte como ferramenta de trabalho e no caso do paradesporto, como meio de inclusão e, além dis-so, alguns atletas vêm se destacando em paraolimpíadas e campeonatos, vale ressaltar a complexidade do conhe-cimento desse profissional, não somente no esporte, na adaptação do esporte, mas também na sua atuação dire-ta com o individuo deficiente e sua deficiência, buscando incessante conhecimento para uma atuação responsável, competente e diferenciada.
(...) o conhecimento se da no tempo e não está preso ao tempo, e por ser produto da humanidade não se de-ve ser propriedade nem de classe nem de segmentos sociais isolados. Por isso deve ser socializado ao máxi-mo a todos os indivíduos, ate mesmo para que perce-bam seus limites e contradições (CARMO, 2001, p. 42).
Além disso, é necessário lembrar que o paradesporto para os PCDs vai além da superação de seus próprios de-safios, limites e dificuldades. Dizem tratar-se de uma con-quista, só possível graças a profissionais que possibilitam a participação nessas atividades.
Os profissionais que se envolvem em processos inclu-sivos, e tem o esporte como ferramenta de inclusão tem caráter humanista, uma visão e uma abordagem diferen-te em relação à deficiência, tanto na área de atuação co-mo na sua vida pessoal. Para Pedrinelli (2002, p. 54) “par-ticipar de um processo inclusivo é estar predisposto, so-bretudo, a considerar e respeitar as diferenças individu-ais”. Ele acredita que é criar a possibilidade de aprender sobre si mesmo e sobre cada um dos outros em uma situ-ação de diversidade de idéias, sentimentos e ações.
O profissional de educação física no paradesporto possui uma caracterização que vai ao encontro ao que Ro-
23
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
drigues (1991,) Pedrinelli (1994) e Araújo (2003) afirmam acerca da importância e necessidade de se respeitar às limitações dos PCDs, sem esquecer-se de valorizar e enfa-tizar as potencialidades do educando, possibilitando-lhe oportunidades de superar desafios. Além disso, é neces-sário lembrar que o paradesporto para os PCDs vai além da superação de seus próprios desafios, limites e dificul-dades. Dizem tratar-se de uma conquista, só possível gra-ças a profissionais que possibilitam a participação nessas atividades.
Saviani (1999) e Morin (1996) afirmam que no campo das práticas pedagógicas e educacionais, emerge a neces-sidade da construção de currículos de caráter globaliza-dos, interdisciplinares e continuados. Assim o profissional de educação física que atua no paradesporto tem um per-fil profissional comprometido não somente com o ensino da modalidade e com a inclusão do esporte e ao esporte, mas também tem em suas características uma forma de planejar, adaptar atividades e saber interagir multidisci-plinarmente, pois este mesmo deverá ser capaz de diag-nosticar, avaliar e intervir nas necessidades e deficiências quando necessário, sendo muito importante essa relação do profissional de educação física com seu atleta para o desenvolvimento pessoal e esportivo como afirma SOA-RES et al., (1992, p. 54):
O esporte determina desta forma o conteúdo de ensino da Educação Física, estabelecendo também novas re-lações entre professores e alunos, que passam da rela-ção professor-instrutor e aluno-recruta para professor--treinador e aluno-atleta. Não há diferença entre o pro-fessor e o treinador, pois os professores são contrata-dos pelo seu desempenho na atividade desportiva.
Neste sentido, entende-se que a Educação Física po-derá dar ênfase aos grupos especiais, entendendo a im-portância da área que trata o homem de forma integral, ou seja, aquele que necessita: tratar estresse, sedentaris-mo, obesidade, sensibilidade. Aquele que carece conhe-cer seu corpo, possibilidades e limites, promovendo a cul-tura corporal que é mais que um privilégio, um direito, tendo alguma deficiência ou não.
Esse é um papel muito importante do profissional de educação física, a interação entre professor-aluno-am-biente como se referem os autores Cruz, Pimentel e Basso (2002, p. 39-40) referindo-se as demandas da PNEE:
(...) se o professor não for capaz de organizar um am-biente de aprendizagem que favoreça o seu desenvol-vimento, pode-se deslocar o foco de atenção das “de-ficiências” do aluno para o professor. Para criar um ambiente no qual as necessidades dos alunos venham
a ser atendidos, é de suma importância que a partir das características peculiares dos alunos, inclusive os que apresentam deficiência, o professor esteja devi-damente preparado.
A deficiência física e mental sempre existiu assim como a rejeição e o preconceito. A integração física serve para diminuir o preconceito, elencar novos caminhos contra a exclusão e agregar valores. A educação física tem o papel de inclusão, principalmente em relação aos esportes.
Sabe-se que o movimento e a atividade física além do esporte possuem relação com o desenvolvimento dos seus praticantes em especial no plano motor, mas com influência sobre aspectos cognitivos, emocionais e so-ciais, também dessa forma muitas vezes desenvolve téc-nicas nos aspectos pedagógicos voltados a saúde. Muitas vezes o esporte leva a exigências que por sua vez propor-cionam uma vivencia de emoções e superação, afrontan-do medos e com isso elevando a autoconfiança, desenvol-vendo e assumindo a identidade.
métOdOsEsse estudo é um recorte de uma pesquisa que buscou
analisar o perfil, a motivação e a compreensão em relação a inclusão social dos profissionais de educação física que atua, no paradesporto na cidade de Porto Alegre. Este re-corte tem como objetivo analisar a percepção dos entre-vistados de seu papel como agente de inclusão social atra-vés do paradesporto. Caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa exploratória, que segundo Creswell (2010) apresenta uma abordagem diferente das investigações acadêmicas típicas dos métodos de pesquisa quantitativa. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados entrevistas semi-estruturadas.
Esta pesquisa foi realizada com cinco profissionais de educação física que trabalham com atividades parades-portivas na cidade de Porto Alegre. Os entrevistados tra-balham com diferentes áreas do paradesporto, como: es-grima de cadeira de rodas, futebol de cinco, natação e goalball. O presente estudo respeita as normas éticas de pesquisa e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa através do parecer de aprovação n° 900864. Todos os par-ticipantes assinaram o termo de consentimento livre es-clarecido (TCLE).
análise e discussãO dOs dadOsAs analises foram construídas a partir das percepções
destes profissionais em relação às mudanças que seus alu-nos e atletas obtiveram, assim como, a inclusão social ge-rada através do esporte. Na análise dessa categoria, se observam as influências e mudanças na vida dos envolvi-dos na prática esportiva, não somente dos praticantes, mas também mudanças por parte dos profissionais e a
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
24
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
forma de enxergar a deficiência tornando a inclusão outro tema abordado nas falas, uma forma natural de como se dá esse processo. Neste contexto, o entrevistado 1 relata:
Ai no esporte a competição é muito boa porque o cara consegue vencer a dificuldade dele e os limites dele (Entrevistado 1).
O esporte determina de certa forma um desafio em superar limites, e a competição não é diferente no despor-to adaptado, e através dela se manifesta sentimentos e ações que levam o individuo a conhecer e respeitar suas limitações como afirma os autores Toyoshima Lima e Du-arte (2003) que o esporte não visa somente o lazer e a com-petição, mas tem como atividade fundamental o desen-volvimento, a valorização da auto-estima, a busca da dig-nidade e do respeito pelas limitações e possibilidades do corpo e acima de tudo a busca pela conquista da supera-ção dos limites. Superação esta que podemos identificar em outro relato do mesmo entrevistado:
Esse cara pra nós é uma medalha porque quando che-gou aqui andava com duas muletas e com dificuldade, hoje em dia anda sem muletas, agente vê pessoas que eram empurradas na cadeira o esporte fez com que elas saíssem do casúlo. (Entrevistado2)
Podemos observar no relato acima possibilidade de se desenvolver a autonomia e como o esporte proporciona isso aos atletas-alunos. A autonomia como uma possibili-dade em tomar suas próprias decisões e com isso aumen-tando sua autoconfiança e fazendo com que o indivíduo busque uma melhor maneira de conviver com sua deficiên-cia. Martins (2002) se refere às capacidades dos indivíduos de se governarem e com isso criam uma melhor maneira de se autogerir. E assim tornando a inclusão um processo na-tural. Neste mesmo contexto da autonomia E4 relata:
Tu vê a diferença dos que praticam esportes dos que não praticam, tem uma consciência corporal muito maior e com isso uma autonomia muito maior. (Entre-vistado 4).
A prática de esportes tem relação com o desenvolvi-mento motor e cognitivo, influenciando nos aspectos emocionais e sociais, proporcionando vivências que aca-bam por possibilitar uma prática e até mesmo à produção desta autonomia, que deve ser papel fundamental no pro-cesso de ensino-aprendizado do profissional de educação física. E2 relata sobre a estimulação da autonomia:
Sem o coitadismo lá ensinamos a autonomia para que sejam independentes. (Entrevistado 2).
A mudança de comportamento da sociedade diante da deficiência se torna um dos aspectos primordiais no processo de inclusão social e desenvolvimento da autono-mia, aspectos que são prejudicados pela maneira que o deficiente é tratado como afirma Pimenta (1996). Conse-quentemente, essas pessoas vêm sendo tratadas como objetos da ação e da piedade sociais esse sentimento de piedade acaba por criar barreiras sociais e físicas, pois os deficientes são considerados incapazes e com isso dificul-tam o processo de integração, a ausência deste sentimen-to de piedade esta presente na fala anterior e nas próxi-mas a seguir.
Hoje eu já não enxergo mais a cadeira. (Entrevistado 1).
A adequação ao meio em que se encontram esses pro-fissionais leva a um processo de transformação, de uma maneira diferente em lidar com as diferenças e a própria deficiência, deficiência esta de ambas as partes, deficiên-cia do aluno-atleta e deficiência do próprio profissional na maneira de agir e interagir, esse processo exige respeito a essas diferenças individuais e estratégicas de ensino para que se possa obter uma troca de experiências e a coope-ração. Pedrinelli (2006) observa que tais estratégias per-mitem um novo olhar em relação à deficiência e com isso desfaz mitos e fantasias na medida em que expomos ar-gumentos e compartilhamos experiências, e isso se evi-dencia em outro momento onde o mesmo entrevistado relata também que:
Agente leu que não era legal ficar de pé quando con-versava com eles. (Entrevistado 1).
Com isso acaba por se construir um novo comporta-mento e assim um novo olhar como podemos ver na fala seguinte.
Tu não enxerga mais o mundo igual. (Entrevistado 2).
As formas como os profissionais se envolvem no con-texto da deficiência vai além das experiências e práticas profissionais e acaba por despertar um lado mais huma-no e uma valorização da vida que muitos participantes da pesquisa revelam ter mudado após o convívio com a deficiência. Acredita-se que esse profissional tem em sua essência seu lado humanista e inclusivo mais atenuado e por isso enxergam a deficiência de outra perspectiva, de tal forma que para eles é tão claro à questão do defi-ciente em relação a sua deficiência onde a única diferen-ça e a limitação e que todos são iguais e tão normais quanto os ditos normais.
Podemos inferir isso conforme o relato do E3 ao co-mentar sobre seus atletas e dizer que:
25
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Eles são só cegos (Entrevistado 3).
Esse olhar de que uma deficiência não nos caracteriza normais ou não, mas que na verdade o que temos são di-ferenças e que são de diversos fatores, vai ao encontro com Oliveira quando afirma que: a deficiência é a expres-são de limitações no funcionamento individual dentro de um contexto social. Portanto, “não é fixada nem dicoto-mizada. Ela é fluida, contínua e mutável e, além disso, é possível reduzir a deficiência através de intervenções, ser-viços e apoios” (OLIVEIRA , 2011, p. 12).
E4 confirma essa perspectiva ao afirmar que:
A pessoa que tem deficiência só tem deficiência (En-trevistado 4).
A luta do deficiente vem a ser pela igualdade, como se propõe em uma sociedade com fundamentação cidadã e que atendam a suas necessidades tornando sua participa-ção na sociedade mais digna e sem preconceitos. Assim tal contexto vai ao encontro do pensamento de Vygotsky, (1989, p. 30) que diz não ser o defeito que decide o destino das pessoas, mas sim as consequências sociais desse de-feito. Por isso acredita-se que o pensamento do E2 de que em sua visão:
O esporte foi e é muito importante para o deficiente como para todo mundo. (Entrevistado 2).
O esporte acaba por ser um meio de abranger diversos fatores e, entre eles, a inclusão social. Por isso, a impor-tância de usá-lo como ferramenta. Para Araújo (1998) es-sas questões se expressam na perspectiva em que as pes-soas com deficiência têm o mesmo direito à prática da educação física e dos desportos, na medida idêntica ao direito que possuem as pessoas então consideradas nor-mais. Sobre isso, E5 relata:
Gosto de ver o pessoal crescer, eu tive muita felicidade porque um atleta que trabalhei muitos anos foi para a seleção. (Entrevistado 5).
Todo esse contexto pode ser evidenciado, pois como profissional de educação física tem em suas característi-cas uma diversidade na forma de planejar, adaptar e inte-ragir com isso se torna capaz de diagnosticar, avaliar e intervir em todo o processo de ensino e essa relação e muito importante para o desenvolvimento pessoal e es-portivo do seu atleta. Contudo, aproxima-se de objetivos idênticos a aqueles que desenvolvem com os atletas que trabalha em modalidades não paralímpicas.
cOnsiderações finaisPara concluir, os dados demonstraram que esses pro-
fissionais de Educação Física são agentes de mudanças, desenvolvedores de potencialidades, profissionais que se integram ao cotidiano do aluno e passam a interagir com eles e suas limitações. Através das entrevistas podemos afirmar que os profissionais de educação física percebem--se como agentes de inclusão social quando utilizam o pa-radesporto como ferramenta para desenvolver a autono-mia de seus participantes e promover sua inclusão social.
Com relação a sua compreensão sobre a inclusão so-cial os dados nos levam a concluir que estes profissionais entendem a inclusão social como um processo que se da através de uma mudança no olhar da sociedade quanto ao deficiente e do próprio deficiente a sua deficiência, onde todos devem fazer parte da sociedade, retirando o defi-ciente do isolamento para poder incluir, ainda aponta o esporte como ferramenta da inclusão social e que através dele possibilitam transformações positivas na vida do de-ficiente, desde a conquista da sua autonomia e autocon-fiança até a superação de seus próprios limites.
referências
ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência, 3°edição Brasília 2002
ARAÚJO, Paulo Ferreira. desporto adaptado no Brasil: Origem, Institucionalização e Atualidade. São Paulo: Pu-blicações INDESP, 1998.
CARMO, A. A. do. inclusão escolar e educação física: que movimentos são estes? In: Simpósio Internacional Dança em Cadeira de Rodas, 1. 2001. Campinas. Anais. Campi-nas: Unicamp, Curitiba: Abradecar, 2001.
CRESWELL, John W. projeto de pesquisa: métodos qua-litativos, quantitativos e mistos. 3. ed. Porto Alegre: Art-med, 2010.
CRUZ, G. C.; PIMENTEL, E. S.; BASSO, L. a formação pro-fissional do professor de educação Física diante das ne-cessidades educativas especiais de pessoas portadoras de paralisia cerebral. Revista Integração, Brasília, edição especial, p. 39 – 41, 2002.
DUARTE, Edison; LIMA, Sonia Maria TOYOSHIMA. ativi-dade física para pessoas com necessidades especiais: experiências e intervenções pedagógicas. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 104 p.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
26
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MARTINS, Angela Maria. Autonomia e educação: a traje-tória de um conceito. Caderno de pesquisa n.115, p207-232 2002.
MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo vôlei. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.
MORIN, Edgar. problema epistemológico da complexi-dade. Editora Europa América, 1996.
OLIVEIRA, A. A. S. Aprendizagem escolar e Deficiência In-telectual: a questão da avaliação curricular. In: PLESTCH, M. D. & DAMASCENO, A. (Orgs.). Educação Especial e in-clusão escolar: reflexões sobre o fazer pedagógico desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Rio de Janeiro, Editora Edur, p.10-22. 2011.
PEDRINELLI, V.J. Conceituação e terminologia In: educa-ção física e desporto para pessoas portadoras de defici-ência, Brasília, MEC-SEDES, SESI-DN 1994
PEDRINELLI, V.J. Por uma vida ativa: a deficiência em questão. In: RODRIGUES, D. atividade motora adapta-
da: a alegria do corpo. São Paulo. Artes medicas, 2006 p 215-227.
PEDRINELLI, V.J. possibilidades na diferença: o processo de inclusão, de todos nós. Ministério da Educação. Secre-taria de Educação Especial. Revista Integração. Ano 14 Edição especial, 2002.
PIMENTA, S.G. (ORG) Pedagogia, ciência da educação? São Paulo, Cortez, 1996.
RODRIGUES, David. atividade motora adaptada à ale-gria do corpo. São Paulo: Editora Arte Medica 2006 P.77.
SAVANI. Demerval. histórias das idéias pedagógicas no Brasil. Editora: Autores Associados, 1999.
SOARES, C. L. et al. metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992, P54.
VYGOSTKY, L.S. Concrete Human Psycology, Soviet Psycology, Vxxvii, N.2., 1986,pp.53-77.(tradução para o português de Enid Abreu Dobránszky, 1989).
27
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
treinamentO de fOrça cOm OclusãO vascular parcial
victor garcia da silva1, Kauê Kaleshi carvalho1, leonardo peterson dos santos1,Juliana martins gattringer1, gustavo azambuja rocha1, thiago rozales ramis2, Jerri luiz ribeiro3
1Graduando, Laboratório de Fisiologia do Exercício, Centro de pesquisa, Centro Universitário Metodista-IPA.
2Mestre, Laboratório de Fisiologia do Exercício, Cen-tro de Pesquisa, Centro Universitário Metodista-IPA.
3Doutor, Laboratório de Fisiologia do Exercício, Cen-tro de pesquisa, Centro Universitário Metodista-IPA.
resumOO “Kaatsu training”, método que surgiu no Japão, con-
siste em realizar um treinamento resistido com baixa in-tensidade e restrição do fluxo sanguíneo através de man-guito flexível. A literatura jámostra alguns resultados sig-nificativos em ganhos de força e hipertrofia. Desta forma, poderia beneficiar sujeitos que possuem alguma limitação para o treinamento resistido sem oclusão vascular. O ob-jetivo deste estudode revisão foi investigar na literatura as recomendações para esse tipo de treinamento, compa-rar com o método tradicional, analisar efeitos agudos e crônicos e os mecanismos fisiológicos. Foram seleciona-dos artigos internacionais de 1998 a 2011 nos portais de periódicos Capes e PubMed. O treinamento resistido com oclusão mesmo com intensidade de 15% - 30% de 1RM obtêm ganhos de força e hipertrofia muscular. A frequên-cia de treinamento “ideal”éde 2-3 dias por semana. A ses-são do treino com 3 –5 séries por exercício e sugere-se 30 segundos de descanso entre as séries. As diferentes oclu-sões parecem não influenciar tanto no resultado final (100mmHg–240mmHg). Esse treinamento aponta resul-tados semelhantes com o treinamento tradicional. O “Ka-atsu training”tem uma resposta endócrina significativa e mesmo sendo com baixa intensidade recruta fibras de contração rápida.
descritores: Kaatsu Training, Treinamento resistido com oclusão vascular, Força, Hipertrofia, Treinamento de oclusão
intrOduçãONão énovidade que a qualidade de vida hoje em dia
está associada a alguma atividade física, entre diversas atividades físicas o treinamento de força (TF) tem sua contribuição para a saúde. O Colégio Americano de Me-dicina do Esporte (ACSM, 2009) diz que para o TF gerar
benefícios ainda mais significativos sua intensidade deve ser trabalhada acima de 70% de 1RM com 8 a 12 repeti-ções por série.
O TF tem seus benefícios bem claros, entre eles a hi-pertrofia e força, que dependem de algumas adaptações neurais e hormonais. (LAURENTINO et al, 2008). Sua pra-tica érecomendada para populações com diversos tipos de patologia, hipertensos, pessoas com artrite ouartrose, diabéticos, portadores de HIV e obesos, isto porque seus ganhos também geram melhora na maioria desses qua-dros. (SUGA T et al, 2010)
Mas mesmo sendo uma boa ferramenta para a melho-ra da saúde, não éem todos os momentos que sua aplica-ção éviável, assim como a alta intensidade que se trabalha para acentuar os benefícios. (LOENNEKE et al, 2010). No Japão surgiu um novo método de treino que trabalha com cargas baixas e ganhos relativos de hipertrofia, podendo atender a uma população específica, esse treino chama--se “KAATSU Training”(SATO.Y, 2005).
Estudos recentes mostram que o treinamento de for-ça com oclusão vascular parcial (TFO) gera benefícios sig-nificativos no aumento de massa muscular e força, esses ganhos acontecem até mesmo quando usado intensida-des de 20% - 50% de 1RM. (LOENNEKE et al 2011; KUBO et al 2006; SHINOHARA et al 1998; TAKARADA et al 2000; SUMIDE et al 2009; PATTERSON et al 2010). Com isso, as pessoas com alguma restrição poderiam obter os benefí-cios do aumento da força e hipertrofia realizando uma atividade de baixa intensidade sem ter estresse mecânico ( KUBO et al, 2006).
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo in-vestigar na literatura estudos que elucidem o treinamento resistido com oclusão vascular. Primeiramente serão apresentadas as recomendações para esse tipo de treina-mento e, em seguida, serácomparado o treinamento de força com oclusão vascular com o treinamento de força sem oclusão.
métOdOsA metodologia baseou-se em um estudo de revisão
bibliográfica utilizando artigos científicos que trataram desse assunto assim como livros. Base de dados como Science Direct, Scielo e Pubmed foram utilizadas para a busca de tais artigos científicos, foram utilizados palavras chaves isoladamente ou relacionadas entre si como, Trei-namento de força, Oclusão vascular, treinamento de força com oclusão vascular, Kaatsu training e semelhantes em inglês e português. Os artigos que foram selecionados possuem grande pertinência com o tema, sendo muitos deles importantes para o surgimento e embasamento do treinamento de força com oclusão vascular parcial e trei-namento de força.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
28
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
resultadOs e discussões A comparação entre as duas metodologias de treina-
mento de força é inevitável, visto que, de acordo com Fu-jita et al. (2007), os programas de treinamento resistido com baixa intensidade (20 e 50% de 1 RM) combinado com
uma oclusão parcial do fluxo sanguíneo apresentaram em diversos estudos resultados semelhantes em ganhos de força e hipertrofia comparado com treino tradicional de alta intensidade, porém sem oclusão. A FIGURA 1 mostra o aparelho utilizado para o treinamento com oclusão vas-cular parcial.
FIGURA 1: Aparelho original Kaatsu Training®,
Outro aspecto interessante, observado no estudo de Takarada et al. (2000a) e Fujita et al. (2007), foi que o trei-namento de baixa intensidade com oclusão mostrou de forma aguda um aumento das concentrações de GH maior do que o treinamento de alta intensidade sem oclusão. Sendo assim, podemos observar uma maior resposta en-dócrina no treinamento com oclusão.
É importante observar que nessa nova metodologia de treinamento mesmo em baixas intensidades são recru-tadas fibras de contração rápida. Diferentemente do trei-namento convencional que primeiramente são recruta-das fibras de contração lenta e com o aumento da inten-sidade as fibras de contração rápidas são recrutadas con-forme a necessidade (LOENNEKE JP, WILSON GJ, WIL-SON JM, 2010). Assim, leva-se a crer que o estresse meta-bólico também pode ser um papel importante para o re-crutamento de fibras tipo II ( FUJITA et al, 2007).
Quando comparada as duas metodologias em um mesmo trabalho e na mesma intensidade (40% da contra-ção voluntária máxima CVM), porém um grupo com e ou-tro sem oclusão, percebe-se que o grupo no qual não hou-ve oclusãodurante o treinamento não obteve mudanças significativas após 4 semanas de treinamento (SHINOHA-RA et al, 1998).
Existem diferenças importantes entre as metodolo-gias como mostra o estudo realizado por Takarada et al. (2000a), que não encontrou aumentos significativos em
marcadores de dano muscular e estresse oxidativo; porém houve aumentos na concentrações de IL-6 sugerindo que há microlesões que ocorrem dentro das paredes mais in-timas do vaso e/ou tecido muscular. Desta forma, mesmo que não tenha tido altos danos teciduais pode-se sugerir um estímulo para trombose no treinamento com oclusão.
Para Manini et al. (2012) essa preocupação para trom-bose surgiu por que este tipo de treinamento é realizado com restrição do fluxo venoso e acúmulo de sangue nas extremidades. Contudo os estudo de Madarame et al. (2010) realizado com homens saudáveis não ativou o sis-tema de coagulação após uma sessão aguda de exercício.
Outro aspecto interessante para diferenciar o treina-mento com e sem oclusão foi trazido por Kubo et al. (2006) ao mostrar que houve melhoras na rigidez do complexo tendão-aponeurose no grupo que realizou treinamento de força com alta intensidade. Por outro lado, o grupo treina-mento de baixa intensidade e com oclusão não apresentou diferenças significativas quando a rigidez do complexo ten-dão-aponeurose que foi avaliada pós-treinamento. Com certeza em alguns casos no alto rendimento o aumento de força e hipertrofia sem o aumentar a rigidez do complexo tendão-aponeurose poderia causar lesões graves.
Para compreender melhor os protocolos que estão sendo utilizados no treinamento de força com oclusão vascular a tabela 1 apresenta uma visão geral dos proto-colos utilizados nos estudos.
29
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Tabela 1: Principais autores que abordam as metodologias do Treinamento de força com oclusão vascular parcial.
Certamente, o intuito não é substituir uma metodolo-gia pela outra, mas entender quando é melhor utilizar uma ou outra. Apesar da necessidade de mais estudos em de-terminados grupos como: idosos, atletas ou não em pro-grama de reabilitação, pós cirúrgicos, entre outros.
cOnclusões Este estudo revisou 58 trabalhos (1998 a 2012) a res-
peito da do treinamento de força tradicional e com oclu-são vascular parcial. Cada leitura obteve atenção nos que-sitos principais, com uma leitura dinâmica e incisiva, em prol de um levantamento de dados e informações sobre o assunto, para que o leitor tenha o melhor entendimento possível deste trabalho.
O treinamento resistido de baixa intensidade com oclusão vascular apresenta ganhos significativos de força e hipertrofia muscular. Com isso, pode ser uma ferramen-ta muito importante para pacientes que não podem so-
frem um estresse mecânico que o treinamento resistido provoca e também para os fins de hipertrofia já que foi visto que seus resultados comparados com o treinamento de força tradicional são bem satisfatórios. Entretanto, mais estudos devem ser realizados antes de aplicar essa metodologia na clinica ou academia. Principalmente es-tudos com protocolos de treinamento em longo prazo.
Outra importante ponderação sobre esse método e o enfoque nos possíveis resultados do treinamento de força com oclusão vascular parcial nas funções endoteliais e car-diovasculares, visto que o treinamento de força tradicio-nal possui excelentes resultados nestes quesitos. O trei-namento de força com oclusão vascular parcial por ter resultados bastante parecidos com o tradicional, porém ainda existe esta lacuna, entre muitas outras, para ser es-tudada ao longo do tempo, já que especificamente seus resultados nas funções endoteliais e cardiovasculares ain-da são claros e necessitam de mais estudos.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
30
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
referências AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. .ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. ACSM 2009; 8°ed: 165-171 / 225–271.
FUJITA S, ABE T, et al. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphoryla-tion and muscle protein synthesis. J ApplPhysiol 2007; 103: 903-910.
KUBO K, KOMURO T, ISHIGURO N, TSUNODA N, SATO Y, et al. Effects of low-load resistance training with vascular occlusion on the mechanical properties of muscle and ten-don. Journal of Applied Biomechanics 2006; 22: 112-119
LAURENTINO G, UGRINOWITSCH C, AIHARA AY, et al. Effects of strength training and vascular occlusion.Int J Sports Med 2008; 29:664-667.
LOENNEKE JP, WILSON JM, MARIN PJ, ZOURDOS MC, BEMBEN MG. Low intensity blood flow restriction training: a meta-analysis.Eur J ApplPhysiol 2011; in press.
LOENNEKE JP, KEARNEY ML, THROWER AD, COLLINS S, PUJOL TJ. The acute response of practical occlusion in the knee extensors.J StrengthCond Res 2010; 24(10): 2831-2834.
MADARAME H, KURANO M, TAKANO H, LIDA H, SATO Y, et al.Effects of low-intensity resitance exercise with blood flow restriction on coagulation system in healthy subjects.ClinPhysiolFunct Imaging 2010; 30: 210-213.
MANINI, TM et al. Growth hormone responses to acute re-sistance exercise with vascular restriction in young and old men. Growth Hormone & IGF Research; 2012;
PATTERSON SD, FERGUSON RA. Increase in calf post-occlusive blood flow and strength following short-term re-sistance exercise training with blood flow restriction in young women. Eur J ApplPhysiol 2010: 108: 1025-1033.
SATO Y.The history and future of KAATSU Training.Int J Kaatsu Training Res 2005; 1: 1-5.
SHINOHARA M, KOUZAKI M, YOSHIHISA T, FUKUNAGA T. Efficacy of tourniquet for strength training with low resis-tance. Eur J ApplPhysiol1998; 77: 189-191.
SUGA T, OKITA K, MORITA N, et al. Dose effect on intra-muscular metabolic stress during low-intensity resistance exercise with blood flow restriction. J ApplPhysiol 2010; 108: 1563-1567. SUMIDE T, SAKURABA K, SAWAKI K, et al. Effect of resis-tance exercise training combined with relatively low vascu-lar occlusion. Journal of Science and Medicine in Sport 2009; 12: 107-112
TAKARADA Y, NAKAMURA Y, ARUGA, et al. Rapid in-crease in plasma growth hormone after low-intensity resis-tance exercise with vascular occlusion. J Appl Physiol 2000a; 88: 61-65.
TAKARADA Y, TAKAZAWA H, SATO Y, et al. Effects of re-sistance exercise combined with moderate vascular occlu-sion on muscular function in humans. J ApplPhysiol 2000b; 88: 2097 –2106.
31
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
análise das prOteínas envOlvidas na angiOgênese em desOrdens pOtencialmente malignas e nO carcinOma espinOcelular
carlos alberto nascimento Bernardes (mestre em
Odontologia)1
leonardo francisco diel( graduando em Odontologia)1
alessandra magnusson (farmacêutica)1
lisiane Bernardi (doutora)1
marcelo lazzaron lamers (doutor)1
1Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
resumOO carcinoma espinocelular é responsável por 90% das
lesões orais. Os carcinomas podem se desenvolverde cé-lulas epiteliais normais ou de desordens potencialmente malignas(hiperplasias e displasias). Para que estas lesões se desenvolvam é necessária a formação de novos vasos. Este processo, denominado angiogênese, envolve a regu-lação de diferentes fatores, como Angiopoetina1 e Trom-bospondina1, que podem ser influenciadas pelas células epiteliais ecomponentes do microambiente da lesão. Nosso objetivofoi descrever a expressão de angiopoeti-na1 e trombospondina1 em biópsias de desordens poten-cialmente malignas e em carcinoma espinocelular oral.A amostra composta por biópsias de hiperplasia, displasia e c a r c i n o m a . A s l â m i n a s f o r a m s u b m e t i d a s àimunoistoquímica.Foi analisada da marcaçãoemtecido epitelial econjuntivo. Angiopoetinamarcounas células en-doteliaiscom leve marcação nas células da camada basal do epitélio, sendo observada uma redução da intensidade de marcação com aumento daseveridade, aumentando em células do microambiente tumoral. Trombospondina marcouheterogeneamentenos tecidos, com um aumento da marcação em macrófagos e fibroblastos de acordo com a severidade da lesão. O perfil diferenciadodestes marcadores em células epiteliais modificadas e em células do microambiente celular evidencia a necessidade de mais estudos que explorem a diversidade celular destas lesões, para aprimorar as terapias anti-angiogênicas.
Descritores: Angiopoetina, Trombospondina, Displa-sia, microambiente tumoral.
intrOduçãO
EpidEmiologia do câncErO carcinoma espinocelular é responsável por aproxi-
madamente 90% de todas as lesões malignas na cavidade oral, sendo observada principalmente em regiões de lá-b i o s , l í n g u a , a s s o a l h o d e b o c a , o r o f a r i n g e e gengiva(Marocchio, Lima et al. 2010). AOrganização
Mundial de Saúde (OMS) estimou o carcinoma espinoce-lular oral (CEC oral) como o oitavo tipo de câncer mais co-mum em todo o mundo em 2014(Tsantoulis, Kastrinakis et al. 2007).. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam mais 15.290 novos casos de câncer de boca (11.280 em homens e 4.010 em mulheres) no Brasilno ano de 2014, sendo que, para o estado do Rio Grande do Sul, a previsão foi de 15,49 novos casos entre os homens e 3,4 entre as mulheres para cada 100.000 habitantes.
carcinogênEsEOs CEC orais podem se originar a partir de uma altera-
ção direta das células epiteliais normais em tumorais, ou gradativamente, através das desordens potencialmente malignas. As razões que levam ao desenvolvimento destas lesõessão multifatoriais e envolvem fenômenos químicos, físicos e/ou biológicos, os quais ocasionam inicialmente alterações proliferativas e tardiamente alterações invasi-vas. Um grande número de casos de CEC oral está associa-do ao consumo de tabaco e álcool onde os dois fatores possuem um efeito sinérgico, visto que o álcool atua como agente permeabilizador da mucosa oral permitindo a pe-netração de carcinógenos contidos no cigarro,aumentando em até 7 vezes o risco recorrente(HILLBERTZ, HIRSCH et al. 2012). Esses agentes carcinogênicos do tabaco podem originar adutos no DNA, os quais são adição de substâncias resultantes dadetoxificação celular nas bases que formam o ácido nucléico, alterando estrutura gênica e causando mutações(Loureiro, Di Mascio et al. 2002). Se a mutação resultar em perda da função de gene p53, o qual codificau-ma proteína supressora de tumor,ocorrerá falhas na regu-lação do ciclo celular e na indução da apoptose, resultando em aumentoda atividade proliferativa(Klozar, Tachezy et al. 2010).Pelo menos 75% dos cânceres orais podem ser evitados com diminuição/cessação do uso do tabaco, sen-do que o risco é diminuído proporcionalmente ao tempo de abandono do hábito(Warnakulasuriya, Dietrich et al. 2010).
A exposição à radiação ultravioleta (UV), principal-mente em regiões de lábio, é outro fator envolvido na car-cinogênese, devido ao aumento da taxa de mutações no DNA causado pela transferência de energia para as células durante a duplicação do material genético no ciclo celular(Clydesdale, Dandie et al. 2001). Esta transferência de energia causaa formação de dímeros de pirimidinas, ou seja, duas bases iguais se unem lateralmente durante o processo de duplicação,fazendo com que essa fita se do-bre, alterando a sequência e assim provocando uma mu-tação. Se a mutação não for corrigidapode ocorrer ativa-ção do proto-oncogeneRAS, induzindo a proliferação ce-lular (Clydesdale, Dandie et al. 2001, Klozar, Tachezy et al. 2010). Já entre os fatores biológicos, o papiloma vírus (HPV) é visto como principal desencadeador de câncer em
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
32
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
não fumantes e não alcoolistas (Jerjes, Upile et al. 2012, Rivera and Venegas 2014)Durante o processo de infecção viral, o vírus se utiliza do material genético do hospedeiro integrado ao seu para controlar seu ciclo celular.Quando existe uma infecção persistente, o próprio vírus pode per-der controle sobre a expressão deseus genes e estes co-meçam a produzirproteínas virais que irão degradar a pro-teína p53 e inativar a proteína retinoblastoma, o que leva a uma desregulação do ciclo celular e ao aumento da pro-liferação celular que pode levar à malignidade(Klozar, Ta-chezy et al. 2010, HILLBERTZ, HIRSCH et al. 2012, Sasahi-ra, Kirita et al. 2014).
A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais visto que a taxa de sobrevida de pacientes com carcinomas espinocelulares orais é de apenas 50% após 5 anos(Rivera and Venegas 2014).. O desenvolvimento de estratégias mo-leculares que permitam o diagnóstico precoce e o rastrea-mento de populações com maior risco de desenvolver estas alterações é fundamental do ponto de vista preventivo. Entretanto,os caminhosmolecularesque levam às altera-ções proliferativas e/ou invasivas de um epitélio normal em desordem potencialmente maligna e/ou carcinoma, ainda são pouco conhecidos (Vairaktaris, Yapijakis et al. 2008, Ku-mar, Cascarini et al. 2013) Diversos pesquisadores têm se concentrado em estudos moleculares destas lesões tendo os distúrbios cromossômicos como principal alvo (William Jr 2012). Fatores como alterações na regulação de oncoge-nes e genes supressores de tumor, polimorfismos gênicos, o processo inflamatório e os mecanismos de angiogênese também podem estar relacionados com o desenvolvimen-to e o avanço do câncer oral(Feinberg, Ohlsson et al. 2006). A investigação desses fatores tem sido incentivada, pois pode levar a uma nova perspectiva tanto na prevenção quanto no tratamento destas lesões. Por exemplo, as tera-pias anti-angiogênicas visam a diminuir a vascularização das lesões o que, em teoria, levaria a uma diminuição das lesões orais(Giuliano and Pagès 2013). Entretanto, muitas destas estratégias moleculares têm falhado principalmen-te devido à heterogeneidade celular observada nos diferen-tes estágios da lesão, o que torna necessário o entendimen-to da evolução destes marcadores de acordo com o nível de diferenciação da lesão.
organização do Epitélio normalA cavidade oral é revestida por um epitélio, o qual
écomposto de células justapostasdispostas emmúltiplas camadas eque se comunica entre si através de junções in-tercelulares. Estas células estão separadas do conjuntivo por uma lâmina basal, que tem a função de sustentar este epitélio e permitir a passagem seletiva de moléculas. A nutrição do epitélio é proveniente dos vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo subadjacente. Em condi-ções fisiológicas, as células epiteliais da camada basalse
multiplicam e se diferenciam mantendo a integridade e a funcionalidade do tecido, sendo que a espessura do epi-télio é mantida pelo equilíbrio entre a taxa de proliferação e de perda de células da camada apical(Muthu Rama Krishnan, Shah et al. 2010).Quando esse epitélio sofre agressões, agudas ou crônicas, podeacumular mutações gênicas que levam a um desequilíbrio nesta homeostase proliferativa, podendo se tornar uma desordem poten-cialmente maligna(Tanaka and Ishigamori 2011, Lamouil-le, Xu et al. 2014).
dEsordEns potEncialmEntE malignasDesordens potencialmente malignas orais são lesões
que, se não tratadas e acompanhadas, podem evoluir pa-ra o câncer. Essas lesões são relativamente comuns e vêm sendo investigadas como um possível e importante fator a ser considerado na luta de prevenção e combate ao cân-cer bucal(van der Waal 2014, Carreras-Torras and Gay-Es-coda 2015). Mais de 90% dos CEC orais evoluem de lesões potencialmente malignas ou de condições potencialmen-te cancerizáveis(Liu, Lin et al. 2012). O diagnóstico preco-ce é importante, visto que as taxas de evolução para le-sões malignaspodem alcançar números de 17% (Amaga-sa, Yamashiro et al. 2011), valor que tem aumentado em um período de 7 anos(Carnelio, Rodrigues et al. 2011). Contudo os mecanismos envolvidos nessa transformação ainda não são bem compreendidos(William 2012), o que dificulta o desenvolvimento de estratégias moleculares para diagnóstico precoce e o rastreamento destas lesões em populações de maior risco.
Clinicamente, entre as desordens potencialmente malignas, destacam-se as leucoplasias, as quais são le-sões localizadas na mucosa oral,facilmente detectáveis através de diagnóstico clínico, e que apresentam uma cor predominantemente branca, podendo ter borda definida e um aspecto l iso com fissuras na superfície de queratina(Carnelio, Rodrigues et al. 2011, Yardimci, Kutlu-bay et al. 2014). Algumas lesões mais vascularizadas po-dem apresentar sangramento(Zarei, Chamani et al. 2007).
Histologicamente, essas lesões podem apresentar di-ferentes níveis de alteração epitelial, as quais são classi-ficadas emhiperceratose, hiperplasia edisplasia epiteliais e carcinoma in situ(Zarei, Chamani et al. 2007, Yardimci, Kutlubay et al. 2014). As hiperceratoses e as hiperplasias epiteliais não-displásicas estão entre as ocorrências mais comuns entre os diagnósticos histológicos das leucopla-sias e são caracterizadas por variações na forma, no ta-manho e no númerodas células do tecido epitelial, oca-sionando um espessamento do mesmo(Wenig 2002). Já as displasias epiteliais, que estão mais susceptíveis a se transformar em um câncer oral, são caracterizadas por uma proliferação da camada epitelial seguida por uma subsequente degradação da lâmina basal(Rivera and Ve-
33
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
negas 2014). Devido às taxas de proliferação alteradas, podem ser observadas microscopicamente alterações no epitélio como: estratificação epitelial irregular, hiperpla-sia da camada basal, projeções epiteliais em forma de gota, aumento do número de figuras mitóticas, perda da polaridade das células da camada basal, aumento da ra-zão núcleo-citoplasma, polimorfismo nuclear, hipercro-matismo nuclear, aumento do tamanho dos nucléolos, ceratinização de células isoladas ou em grupos na cama-da celular espinhosa e redução da aderência intercelular. De acordo com a graduação de alterações estruturais e citológicas causadas por esta proliferação descontrola-da, as displasias são classificadas em (i) displasia leve: quando duas características histológicas estão presen-tes; (ii) displasia moderada: quando duas a quatro das características estão presentes; (iii) displasia severa: quando cinco ou mais das características citadas estão presentes (Rivera and Venegas 2014, Dionne, Warnakula-suriya et al. 2015). Nocarcinoma in situ, o epitélio apre-senta todas as características celulares citadas anterior-mente, porém sem o rompimento da lâmina basal e ain-vasão do tecido conjuntivo subjacente(Wenig 2002).
carcinoma EspinocElularO carcinoma espinocelular é caracterizado micros-
copicamente pela presença de todas as características histopatológicas citadas nas desordens potencialmente malignas, porém acompanhadas de uma invasão do te-cido conjuntivo pelas células tumorais, a qual pode ocor-rer sob a forma de lençóis, ninhos e/ou cordões celulares. A presença de eventos microscópicos como, por exem-plo, as pérolas de queratina, são usadas para determinar o grau de diferenciação do tumor, sendo considerados o s t u m o r e s m a i s d i f e r e n c i a d o s c o m o m e n o s agressivos(Bryne, Koppang et al. 1992, Sawazaki-Calo-ne, Rangel et al. 2015).Os carcinomas são graduados em 4 níveis, sendo o parâmetro mais usual a graduação do fronte de invasão. De acordo com os critérios de Bryne,estabelecidos em 1992(Bryne, Koppang et al. 1992) o carcinoma degrau I ou bem diferenciado contém menos de 20 % de células indiferenciadas;grau II ou mo-deradamente diferenciado com menos de 50% das célu-las indiferenciadas;grau III ou pouco diferenciado com menos de 75% das células indiferenciadas e;grau IV ou p l e o m ó r f i c o c o m m a i s d e 7 5 % d e c é l u l a s indiferenciadas(Akhter, Hossain et al. 2011).Também é utilizado o sistema TNM onde são levados em conta o tamanho do tumor (T), se existe ou não metástase nos linfonodos (N) e metástase a distancia (M). A partir do cruzamentodestes parâmetros, origina-se a graduação dos carcinomas espinocelulares orais e desenha-se um possível prognóstico do paciente(Patel and Shah 2005).
microambiEntE tumoralDurante muito tempo o câncer foi considerado como
um processo em que células autônomas, com uma série de alterações genéticas e epigenéticas, se desenvolvem e progridem independentes do meioem que estão inseridas(Li, Zhang et al. 2015).Contudo evidências mos-tram que o tumor se utiliza de todo o microambiente em que está inserido, onde além das células tumorais outros grupos celulares interagem formando o denominado mi-croambiente tumoral(Koontongkaew 2013).As principais células que irão formar esse microambiente tumoral são: fibroblastos; fibroblastos associados ao tumor; miofibro-blastos, células de musculo liso; células endoteliais; peri-cítos; macrófagos entre outras células do sistema imune(Rivera and Venegas 2014). O tumor explora seu ambiente tumoral fazendo com que ele libere citocinas que irão regular outras funções necessárias ao tumor (Weis and Cheresh 2011). Alterações no microambiente podem ser observadas desde estágios iniciais das desor-dens potencialmente malignas e incluem um aumento da formação dos vasos sanguíneos, o qual é denominado angiogênese(Weis and Cheresh 2011).
angiogênEsEPara um tecido sadio crescer são necessárias algumas
condições favoráveis, entre elas demandas metabólicas como suprimento de oxigênio e suporte nutricional que são disponibilizados através de vasos sanguíneos(Bridges and Harris 2011).O crescimento desses vasos é denomina-do angiogênese que é um termo comumente chamado para o processo que se refere ao crescimento de vasos ou a ramificação a partir de pré-existentes(Weis and Cheresh 2011, El-Kenawi and El-Remessy 2013, Gacche and Meshram 2013). Em casos de lesões malignas, a angiogê-nese não só favorece o crescimento e a progressão do te-cido tumoral, como também contribui para a invasão e metástase, sendo considerada como um importante indi-cador de prognóstico(Weis and Cheresh 2011, Kaur and Bajwa 2014).Durante a progressão de tumores malignos, entre eles o CEC oral, ocorre um aumento significativo da densidade microvascular e do perfil de maturação de vasos(Li, Sun et al. 2013). A densidade de microvasos pode ser relacionada como um fator de expressão angiogênico, de crescimento tumoral e de ocorrência de metástase.A angiogênese tem papel muito importante, tanto no de-senvolvimento do câncer, quanto na metástase (Carme-liet 2005), assim como o aumento da microvascularização está relacionado com uma diminuição do tempo de vida livre de doença e de sobrevida global(Koh 2013).
A angiogênese ou fenótipo angiogênico é o resultado do equilíbrio alterado entre os reguladores positivos e ne-gativos gerando uma nova vascularização(Anisimov, Tvo-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
34
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
rogov et al. 2013). Quando existe um estímulo angiogêni-co, ocorre um destacamento dos pericítos, seguido pela proliferação das células endoteliais e a formação de uma “tip-cell”, a qual é uma célula endotelial que desenvolve projeções de membrana (lamelipódios) e começa a migrar em direção ao estímulo angiogênico. A tipcell, através de junções célula-célula, traciona as células endoteliais re-manescentes levando à formação de tubos (stalkelonga-tion) contendo um lúmen central que pode sofrer ramifi-cações. Durante este processo, os pericítos e as células musculares lisas são recrutados para envolver esse novo vaso e estabilizá-lo(Carmeliet 2005, Adams and Alitalo 2007, Potente, Gerhardt et al. 2011, Welti, Loges et al. 2013, DE LIMA, JORGE et al. 2014).
Assim que o tumor atinge poucos milímetros de tama-nho, a concentração de oxigênio disponível diminui, le-vando a ativação do fator induzido por hipóxia(Weis and Cheresh 2011). Após este estímulo, as células tumorais secretam diferentes fatores reguladores como VEGF(fator de crescimento do endotélio vascular), FGF(fator de cres-cimento de fibroblasto), TGFβ-1(fator de crescimento transformante), PDGF(fator crescimento derivado de pla-quetas), PIGF(fator de crescimento placentário), ANG-1(angiopoetina 1), TSP-1(trombosbondina 1) e as MMPs (metaloproteases), que controlam as diferentes etapas da angiogênese. Dentre os fatores citados anteriormente o VEGF é o mais pesquisado em diversos tipos de tumor(Hoff and Machado 2012, Welti, Loges et al. 2013).
A apl icação exper imental de terapias ant i--angiogênicas,têm trazido grandes esclarecimentos so-bre a biologia celular e molecular da angiogênese, levan-do a descobertas sobre o potencial anti-angiogênico dos seus componentes(Yoo and Kwon 2013).A principal ideia por trás das terapias anti-angiogênicas é deter o cresci-mento da neovascularização e promover a destruição o tumor por hipóxia(Zulato, Curtarello et al. 2012, Giuliano and Pagès 2013). O principal foco das investigações sobre terapias anti-angiogênicasfoi fator de crescimento endo-telial (VEGF), por este exercer um papel essencial entre a angiogênese fisiológica e patológica(Shojaei 2012, Giulia-no and Pagès 2013).Entretanto, outros fatores regulató-rios desempenham papel importante neste processo, co-mo as moléculas angiopoetinas e trombospondinas(Yao, Zhao et al. 2000, Monk, Poveda et al. 2014).
angiopoEtinasAs angiopoetinassãocitocinas que atuam como fato-
res de crescimento endotelial específico, secretadas por células perivasculares, como pericítos e células de múscu-lo liso(De Palma and Naldini 2011), porém seu papel na angiogênese ainda é pouco descrito. Expressas em muitos tecidos adultos e durante o desenvolvimento, acredita-se que as angiopoetinas atuam na maturação vascular. A An-
giopoetina 1 (Ang1) é um dos membros mais descritos desta família. A Ang1 atua nas células endoteliais através de interação com um receptor Tie 2(Loughna and Sato 2001, Brunckhorst, Xu et al. 2014).É responsável pela sobrevivência, proliferação a maturação e formação do lúmen dos novos vasos e a quiescência das células endoteliais(Fagiani and Christofori 2013, Alfieri, Ong et al. 2014).Os receptores Tie são expressos em células endoteliais, sanguíneas e linfáticas bem como em deter-minados macrófagos e fibroblastos(Fagiani and Christo-fori 2013, Brunckhorst, Xu et al. 2014). Sua expressão au-menta durante a resposta inflamatória(Khan, Sandhya et al. 2014) e na vascularização provocadapelo processo de angiogênese tumoral, o que sugere a sua participação na neovascularização deste tecido(Roodink and Leenders 2010). Na presença da Ang1, os receptores Tie-2se deslo-cam para as junções célula-célula, onde regulam comple-xos proteicos que atuam na sobrevivência, estabilidade e funções anti-inflamatórias promovidas pelas células endoteliais(Eklund and Saharinen 2013).
trombospondinaA trombospondina foi o primeiro inibidor endógeno
de angiogênese descoberto(Rosca, Koskimaki et al. 2011).É uma glicoproteína multifuncional sintetizada por plaquetas, macrófagos, monócitos, células de músculo liso, endoteliais ou tumorais(Bonnefoy, Moura et al. 2008) e pode interagir com diversas estruturas, dentre elas ou-tras proteínas e componentes da matriz extracelular, re-ceptores de células, fatores de crescimento, citocinas e proteases(Resovi, Pinessi et al. 2014).As trombospondi-nas do tipo 1são potenciais inibidoras da angiogênese por atuarem de maneira diretana sobrevivência e apoptose de células endoteliais e como antagonista do VEGF(Lawler and Lawler 2012). A TSP-1 contém muitos domínios fun-cionais e, devido a sua capacidade de ligação com várias estruturas, entre elas, proteínas de matriz e células de su-perfície, essas glicoproteínas participam de diversos pro-cessos biológicos, tais como: proliferação, crescimento e mobilidade celular, organização do citoesqueleto, cicatri-zação, desenvolvimento e diferenciação celular.Entretan-to, desempenha um papel contraditório no desenvolvi-mento e na progressão do câncer(Yao, Zhao et al. 2000, Lawler and Lawler 2012). A TSP-1 inibe a proliferação e migração das células endoteliais contribuindo para a quiescência vascular evitando o crescimento de uma neo-vasculatura e sua expressão está inversamente ligada à malignidade(Detmar 2000).Entretanto, também pode es-tar associada à progressão e invasão de determinados tu-mores, pois ativa TGF-beta, que leva há um aumento na transição epitélio-mesênquima e em consequência a mi-gração celular(Jayachandran, Anaka et al. 2014).
Uma vez que: 1- o processo de angiogênese envolve
35
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
uma vasta gamade moléculas estimulatórias (ex.: ANG1) e inibitórias (ex.: TSP1) as quais são secretadas por dife-rentes tipos celulares e; 2- durante o desenvolvimento tumoral ocorre uma maior demanda de nutrientes e oxi-gênio, é possível que as células tumorais e/ou do micro-ambiente tumoral adquiram características angiogênicas diferenciadas, cuja expressão varia de acordo com a agressividade da lesão.
objEtivo gEralAnalisar a expressão das proteínas envolvidas na an-
giogêneseem lesões potencialmente cancerizáveis e no carcinoma espinocelular.
objEtivo EspEcíficoDescrevero perfil de expressão da molécula Angiopo-
etina 1 em amostras de hiperplasia, displasia leve, displa-sia severa e carcinoma espinocelular de grau I/II e III/IV.
Descrever o perfil de expressão da molécula Trombos-pondina 1 em amostras de hiperplasia, displasia leve, dis-plasia severa e carcinoma espinocelular de grau I/II e III/IV.
materiais e métOdOs
amostraO protocolo de pesquisa está de acordo com a resolu-
ção 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP) para pesquisa em seres humanos e foi aprovado no comi-tê de ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob o númeroCAE 32321514.5.0000.5347.
A amostra foi composta de 54 pacientes que buscaram a t e n d i m e n t o n o C e n t r o d e E s p e c i a l i d a d e e m Odontologia(CEO) da Faculdade de Odontologia da UFR-GS, entre os anos de 1979 e 2009. Foram obtidas dos pron-tuários desses pacientes informações como: sexo, idade, etnia e localização da lesão. Os diagnósticosforam confir-mados por dois patologistas experientes e quando houve divergência um terceiro realizou a avaliação. A classificação das desordens potencialmente malignas utilizou os crité-rios de Barnes et al (2005)(Barnes, Organization et al. 2005), enquanto que os carcinomas espinocelulares orais foram classificados de acordoBryne et al 1992. (Bryne 1992).
imunoistoquímica Os cortes parafinados de 3mm de espessura foram
colocados em estufa (1h, 60ºC) e, em temperatura am-biente (TA), imersos em xilol (2x 10 min), álcool (2x 5 min)
e reidratados com PBS. Em seguida foi realizado o blo-queio da peroxidase endógena com metanol+H2O2 (9/1, 10 min) e lavado em PBS + triton X100 0,1% (3x5min) (PBST). O corte foi submetido a bloqueio dos sítios ines-pecíficos com soro de cabra (1:10, 1h), lavados em PBST e incubados com anticorpo primário, overnight na geladeira diluído em PBST (anticorpos anti-Angiopoetina e anticor-pos anti-Trombospondina, diluição 1:100, R&D System, Minneapolis, US). Após incubação, os cortes foram lava-dos em PBST (3x5 min), incubados com anticorpo secun-dário biotinilado (1:200, 2h, TA), novamente lavados (PBST, 3x5min) e tratados com o complexo estreptavidi-na- peroxidase (Jackson Labs) por 1 h a TA. A atividade da peroxidasefoi revelada usando Diaminobenzidina (DAB) 0,05% (Dako) diluído em Tris-HCl50mM (pH 7,4) por 5 min. A amostra foi desidratada (etanol, 3x10min, xilol 3x10min) e montada em resina.
análisE das rEaçõEs dE imunoistoquímicaFoi considerada a marcação da expressão da Angiopo-
etina 1 e da Trombospondina1 em células endoteliais, te-cidos epitelial e conjuntivo e em outros grupos celulares, como fibroblastos e células inflamatórias. De cada lâmina, foram obtidas 10 fotos, sendo 5 correspondentes à região de epitélio e 5 do conjuntivo adjacente. Todas as imagens foram obtidas com um aumento de 400x com uma câme-ra de 5megapixels(CMOSBioptika) eo software IScapture 3.6.7e posteriormente passaram por uma edição linear de contraste e brilho com o auxílio do programa ImageJ para uma melhor análise da marcação dos anticorpos.A partir das imagens foram realizados painéis para cada lesão, os quais serviram como base para adescrição do perfil de marcação de cada anticorpo.
resultadOs
dEscrição da amostraA maioria dos pacientes foi do sexo masculino, com
idade entre 30 e 60 anos e de cor branca,sendo o sítio mais atingido foi a língua seguida pelo assoalho de língua e pa-lato para todas as lesões analisadas. Os dados de consumo de álcool e hábito de fumar não foram informados na maioria dos prontuários. A amostra foi dividida de acordo com o tipo de lesão, como descrito na tabela 1.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
36
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
tabela 1: Dados epidemiológicos dos pacientes participantes da pesquisa
Displasia Carcinoma
Hiperplasian= 6
Leven=7
Moderada ou severan= 15
Grau I/IIn= 13
Grau III/IVn= 13
Sexo
M - 5 7 9 10
F 6 2 7 4 3
NI - - 1 - -
Idade
< 30 1 0 2 0 0
>30 <60 3 5 9 7 7
>60 2 2 2 5 4
N.I. - - - 1 1
Etnia
branca 4 6 10 10 9
negra 2 - 3 2 1
N.I - 1 2 1 3
parda
Álcool
Sim 1 2 1
Não 2
N.I. 6 6 15 11 10
Fumo
Sim 1 3 3
Não - - - 2
N.I 6 7 15 10 8
Sítio da lesão
Língua 3 2 10 2 6
M.jugal 1 0 0 0 0
Gengiva 1 1 4 4 3
Palato - 1 1 2 2
Outros 1 3 0 5 2N.I = não informado; M = mucosa
angiopoEtina 1
Nas amostras de mucosa normal, foi observada leve marcação na camada basal do epitélio e em vasos sanguí-neos. Nas lâminas de hiperplasia (n=8) pode-se observar uma marcação intensa da proteína angiopoetina1 em 5 casos (60%). A marcação para a proteína foi observada principalmente em células endoteliais e com uma distri-buição difusa na camada basal do tecido epitelial (Figura 1B). Não foi observada marcação significativa, no tecido conjuntivo (Figura 1H)subjacente nem em outros tipos ce-lulares em todas as lâminas analisadas.
Na amostra de displasia leve (n= 4),observou-se mar-cação principalmenteem células endoteliais e na camada basal do epitélio(Figura1C). Entretanto não houve marca-ção no tecido conjuntivo(Figura 1I)nem em outros grupos celulares.
Nas lâminas com o diagnóstico de displasia moderado--severa houve uma marcação irregular na amostra (n=13). Foi observada marcação intensano endotélio e na camada basal do epitélio(Figura 1D)em seis casos (46%), enquanto que dois casos (15%) apresentaram leve marcação nestes tecidos. Em5 casos(39%) foi observada marcação fraca nas células endoteliais, epiteliais, a qual foi acompanhada por uma marcação difusa no tecido conjuntivo, mais precisa-mente, em alguns nos fibroblastos(Figura 1J).
Nos casos de carcinoma de grau I/II (n=9), foi observa-da uma marcação intensa no tecido endotelial e no epité-lio (Figura1E)em 3 casos (33%), porém sem envolvimento do tecido conjuntivo (Figura 1K). Nas demais lâminas (6 casos,( 66%)marcação fraca nas células do tecido endote-lial, epitelial. Destescasos com baixa intensidade de sinal, em 57% foi observado marcação em células inflamatórias presentes no microambiente tumoral.
37
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Nas lâminas de carcinoma grau III/IV (n=6), em 3 casos foi observada marcação fraca em células endoteliais e epi-teliais (Figura 1F) porém sem expressão em tecido conjun-tivo (Figura 1L) nem em outros grupos celulares. Nas de-mais lâminas (3), foi observada uma marcação forte nas células endoteliais, no entanto 33% marcaram forte na ca-mada basal do epitélioadjacente ao tumor e em 67 % isso não ocorreu. No conjuntivo, mais precisamente no centro do tumorencontramos marcação em células inflamatórias.
De acordo com os resultados, a distribuição da prote-ína angiopoetina 1 esteve concentrada principalmente nas células endoteliais e com leve marcação nas células da camada basal do epitélio. Nas células endoteliais, obser-vou-se uma redução da intensidade de marcação de acor-do com o grau de severidade da desordem epitelial. Em uma das situações (carcinoma grau I/II), foi observada marcação de células inflamatórias.
trombospondina 1Nas amostras de mucosa normal, não foi observada
marcação de trombospondina na camada basal, mas este-ve presente em algumas células endoteliais. Nos casos de hiperplasia (n=5) foi observada uma marcação intensaem 4 casos (80%), sendo que estava espalhada pelas camadas do epitélio e no núcleo. No tecido conjuntivo ocorreu uma marcação em 60 % das amostra (3 lâminas), sendoobser-vada principalmente em fibroblastos e macrófagos.
Nas lâminas de lesões epiteliais com displasia leve (n=7), foi observada marcação em epitélio em 100% da amostra, sendo mais intensa na camada basal. Já o en-dotélio apresentou marcação fraca em 6 casos (85%). A análise do tecido conjuntivo foi positiva para 4 casos (57%), sendo observada tanto em fibroblastos quanto em macrófagos.
Nos casos de displasia severa (n=7) tivemos marcação no tecido epitelial em 5 casos (70%), principalmente na camada basal. O endotélio e o tecido conjuntivo apresen-tou marcação em 3 casos (43%), sendo detectado em fi-broblastos e macrófagos.
Na amostra referente aos casos de carcinomas de tipo I e II (n=13) a expressão de trombospondina foi detectada no tecido epitelial e conjuntivo em 100% dos casos, sendo a marcação mais fraca no conjuntivo que no epitélio. No tecido endotelial a expressão da proteína ocorreu apenas em 4 casos (30%). Os tipos celulares mais frequentes fo-ram macrófagos (10 casos ou 77 %) e fibroblastos (46%).
A amostra de carcinomas tipo III/IV (n=11) a expressão da proteína no tecido epitelial foi detectada em 10 casos (91%), sendo que 1 caso (10%) apresentou marcação fraca; em 7 casos (70 %) apresentou marcação difusa em todo o tecido porém com mais intensidade na camada basal; e em 2 casos (20%)observou-se marcação homogênea intensa em todo o epitélio. No tecido conjuntivo, a marcação foi
observada principalmente em macrófagos (39%), fibro-blastos (30%) e outrascélulas inflamatórias (23%).
De acordo com os resultados, trombospondina apre-sentou marcação evidente em células epiteliais com leve marcação em endotélio. Com o aumento da malignidade da lesão, observou-se marcação para trombospondina 1tanto em fibroblastos quanto em macrófagos.
discussãOO carcinoma espinocelular oralpode ser considerado
um problema de saúde pública devido à alta incidência na população(Tsantoulis, Kastrinakis et al. 2007). Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam mais de 15.290 novos casos de câncer de boca no Brasilno ano de 2014, com uma predominância de casos em indivíduos do sexo masculino com idade entre 30 e 60 anos sendo o sítio mais atingido a língua. Já as desordens potencialmente malignas, seguem o mesmo perfil, com a diferençade a mucosa jugal ser considerada o sitio anatômico mais co-mum. Em nosso estudo, foi observado que as desordens potencialmente malignas são mais recorrentes em indiví-duos do sexo feminino e de etnia branca, tendo a língua como principal sítio, porém quando observamos apenas os carcinomas esse perfil muda, ondea maioria das lesões ocorreno sexo masculino. Em relação à faixa etária, a grande maioria dos pacientes tem entre 30 e 60 anos, tan-to para as desordens potencialmente malignas quanto o carcinoma espinocelular, o que segue os padrões mundiais(Johnson, Jayasekara et al. 2011).O sítio mais afetado foi a língua, sendo o rebordo o local com mais incidência e em seguida o palato e o assoalho de boca, o mesmo demonstrado porAmagasa et al (2011),entretan-to o segundo sítio mais comum foi o assoalho de boca(Amagasa, Yamashiro et al. 2011) e não o palato.
O desenvolvimento do processo de carcinogênese es-tá relacionado a fatores físicos, químicos e biológicos, sendo o fator etiológico mais comum o cigarro. Entretan-to, os dados sobre tabagismo e consumo de álcool não foram considerados neste estudo, pois poucos prontuá-rios tinham essas informações, o que evidencia a necessi-dade de um maior cuidado por parte dos profissionais no momento da anamnese dos pacientes.
Além dos fatores etiológicos, alterações no microam-biente em que as células se encontram, podem propiciar a indução e a propagação das alterações celulares obser-vadas durante a carcinogênese. O microambiente tumo-ral é um processo controlado pelas células tumorais onde ele recruta uma série de outros grupos celulares para criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, dentre essas células endoteliais, fibroblastos e do sistema imune, principalmente macrófagos(Rivera and Venegas 2014). Os fibroblastos associados ao tumor (CaFs, siglas em inglês) são as células mais abundantes no estroma tumoral e pro-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
38
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
figura 1. Marcação de imunoistoquímica para Angiopoetina1. Figuras A-F tecido epitelial; Figuras G-l tecido conjuntivo.Biópsias de mucosa normal (A e G),hiperplasia (B e H), displasia leve (C e I), displasia moderada/severa (D e J), carcinoma espinocelulargrauI/II (E e K) e III/IV (F e L). Aumento = 400x.
39
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
figura 2. Marcação de imunoistoquímica para Trombospondina1. Figuras A-F tecido epitelial; Figuras G-l tecido conjun-tivo. Biópsias de mucosa normal (A e G), hiperplasia (B e H), displasia leve (C e I), displasia moderada/severa (D e J), car-cinoma espinocelular grau I/II (E e K) e III/IV (F e L). Aumento = 400x.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
40
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
movem a progressão do câncer por estimulação de cres-cimento, migração e invasão de células epiteliais e da re-modelação da matriz extracelular (Rivera and Venegas 2014, Li, Zhang et al. 2015). Já os macrófagos podem ter papéis distintos no microambiente tumoral, por apresen-tar duas variantes, o macrófago do tipo 1 (M1) que possui perfil pro-inflamatório, ou seja antitumoral e o macrófago tipo 2 (M2) que tem perfil anti-inflamatório e pró--tumoral(Hao, Lü et al. 2012). Estudos já demonstraram que a angiopoetina tem a capacidade de regular a diferen-ciação de macrófagos(Seok, Heo et al. 2013).No nosso es-tudo encontramos um aumento de células do sistema imune, mais precisamente macrófagos e também defi-broblastos à medida que as lesões aumentavam sua ma-lignidade, como o que foi demonstrado por Joyce ePollard em 2009(Joyce and Pollard 2009). É possível que a predominância de um destes subtipos celulares possa in-teragir e alterar o comportamento das células epiteliais e/ou tumorais, o que mostra a necessidade de mais estudos para caracterização do perfil imunológico das células pre-sentes neste microambiente.
Uma possível ação deste microambiente tumoral se-ria a indução da angiogênese.O processo de formação de vasos ocorre naturalmente no desenvolvimento embrio-nário do ser humano, onde recebe o nome de vasculogê-nese. Quando o desenvolvimento destes neovasos acon-tece a partir de vasos pré-existentes recebe o nome de angiogênese(Carmeliet 2005). Para que o tumor possa se desenvolver ele necessita de uma demanda de oxigênio e nutrientes, e consequentemente de vasos sanguíneos pa-ra ter acesso a essa demanda. Diante desse quadro o tu-mor com o auxílio do microambiente estabelecido por ele, estimula a angiogênese(Weis and Cheresh 2011).
Para que ocorre a formação de novos vasos, as células tumorais secretam uma série de fatores angiogênicos, dentre elas as angiopoetinas que se ligam em receptores Tie2 que estão presentes nas células endoteliais e tam-bém em fibroblastos(Brunckhorst, Xu et al. 2014).Segun-do Chienet al. (2008), a marcação de angiopoetina em carcinomas espinocelularesorais se apresenta de maneira intensa em células epiteliais o que vem de encontro aos nossos resultados(Chien, Su et al. 2008). Podemos obser-var no nosso estudo que asangiopoetinas estão presentes no endotélio das lesões mais iniciais do processo carcinogênico e isso acontece em outros tipos de tumor como glioblastomas, câncer de pulmão, carcinoma hepa-tocelular e gástrico, sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, neuroblastoma e tumor de tireóide(Metheny-Barlow and Li 2003). Essa marcação se torna menos evidente na me-dida em que as lesões se tornam mais graves, isso se deve provavelmente ao fato de angiopoetina atuar nos mo-mentosiniciais daangiogênese. No início do processo de-malignização, quando analisados outros grupos celulares,
como macrófagos e fibroblastos, temos uma crescente evidência dessa expressão, provavelmente relacionada com o papel da angiopoetina na manutenção do micro-ambiente tumoral (Patel, Smith et al. 2013, Brunckhorst, Xu et al. 2014).
As terapias anti-angiogênicas tem como objetivo di-minuir ou até eliminar o suprimento de nutrientes e oxi-gênio do tumor para que ele regrida seu desenvolvimento (Vasudev and Reynolds 2014).Trombospondina foi o pri-meiro fator anti-angiogênico descoberto, por ser um an-tagonista de VEGF(Qin, Qian et al. 2014), porém existeme-vidências de que pequenas quantidades podem resultar em um perfil pró-angiogênico(Szabo 2015). Adicional-mente, trombospondinapode ajudar na progressão e in-vasão tumoral por ativar a transição epitélio-mesênquima em melanomas(Jayachandran, Anaka et al. 2014). Em nosso estudo observamos uma forte marcação nas células da camada basal do epitélio o que poderia indicar um iní-cio de transição epitélio-mesênquima.Também foi obser-vada marcação em fibroblastos em muitos dos casos dos pacientes com carcinoma o que indica que as células des-se tipo de câncer induzem fibroblastos a produzir trom-bospondina, o que poderia promover um aumento na ma-lignidade do tumor (Hayashido, Nakashima et al. 2003).Pacientes com câncer de pulmão, mama e colón apresen-tam grande quantidade de trombospondina em seu estro-ma, inclusive pacientes de câncer de cabeça e pescoço (Wang, Qian et al. 1995). Os macrófagos, os quais são um dos principais componentes do microambiente tumoral, também apresentarammarcação paratrombospondina, o que vai de encontro com o que já foi demonstrado em ou-tros tumores (Gacche and Meshram 2013, Emeus, Bonsquenaud et al. 2015). Contudo, o aparente papel an-tagônico desta proteína considerada anti-angiogênicafi-ca mais evidenciada, pois está envolvida na ativação do fator de crescimento TGFβ, o qual está relacionado com a proliferação e a migração celular(Lopez-Dee, Pidcock et al. 2011). Portanto, existem evidências que trombospon-dina pode ter um papel antagônico no processo de carci-nogênese, influenciada principalmente pelo microam-biente tumoral.
O processo de angiogênese, em condições fisiológicas é complexo e envolve a ação coordenada de diferentes fatores os quais são secretados por uma grande quantida-de de células(Carmeliet 2005, Adams and Alitalo 2007, Po-tente, Gerhardt et al. 2011). No processo de carcinogêne-se, este processo apresenta uma regulação alternativa. É possível que aangiopoetina(Figura 3 A) tenha um papel mais complexo no processo de carcinogênese do que pre-viamente reportado. Ficou evidente que além de seu pa-pel principal, que é o envolvimento com a angiogênese, essas proteínas também podem estar envolvidas em ou-tros eventos do desenvolvimento tumoral, ente eles a for-
41
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
mação e a manutenção do microambiente tumoral.Também fica evidente a relação da trombospondina (Figura 3B) com células do sistema imune, principalmente, tendo sua expressão aumentada proporcionalmente à malignidade da lesão. Entretanto, mais estudos são necessários para definir o papel destes reguladores de angiogênese na carcinogênese oral.
figura 3 – Modelo proposto para o perfil de distribuição de Angiopoetina 1(A) e Trombospondina1 (B) em amostras de mucosa normal, desordens potencialmente malignas e carcinoma espinocelular oral. Observamos a mucosa normal e as estruturas presentes no conjuntivo. A partir das hiperplasias observamos o que apresentou marcação no epitélio e no conjuntivo.
cOnclusãOA Angiopoetina1 é observada em endotélio e em cama-
da basal do epitélio. De acordo com o aumento da maligni-dade de lesão, ocorre um aumento de expressão pelas cé-lulas de origem epitelial, bem como por células do micro-ambiente tumoral, como fibroblastos e macrófagos.
A Trombospondina1 é expressa principalmente em te-cido epitelial com leve intensidade em endotélio e em fi-broblastos. Com o aumento da malignidade da lesão, torna-se menosevidenciada no endotélio, porém mais in-tensa em células do microambiente tumoral.
referências
Adams, R. H. and K. Alitalo (2007). “Molecular regulation of angiogenesis and lymphangiogenesis.” Nat Rev Mol Cell Biol8(6): 464-478.
Akhter, M., S. Hossain, Q. B. Rahman and M. R. Molla (2011). “A study on histological grading of oral squamous cell carcinoma and its co-relationship with regional me-tastasis.” Journal of Oral and Maxillofacial Pathology : JOMFP15(2): 168-176.
Alfieri, A., A. C. M. Ong, R. A. Kammerer, T. Solanky, S. Bate, M. Tasab, N. J. Brown and Z. L. Brookes (2014). “An-giopoietin-1 regulates microvascular reactivity and pro-tects the microcirculation during acute endothelial dys-function: Role of eNOS and VE-cadherin.” Pharmacologi-cal Research80: 43-51.
Amagasa, T., M. Yamashiro and N. Uzawa (2011). “Oral premalignant lesions: from a clinical perspective.” Inter-national Journal of Clinical Oncology 16(1): 5-14.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
42
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Anisimov, A., D. Tvorogov, A. Alitalo, V.-M. Leppänen, Y. An, E. C. Han, F. Orsenigo, E. I. Gaál, T. Holopainen, Y. J. Koh, T. Tammela, P. Korpisalo, S. Keskitalo, M. Jeltsch, S. Ylä-Herttuala, E.
Dejana, G. Y. Koh, C. Choi, P. Saharinen and K. Alitalo (2013). “Vascular Endothelial Growth Factor-Angiopoietin Chimera With Improved Properties for Therapeutic Angio-genesis.” Circulation127(4): 424-434.
Barnes, L., W. H. Organization and I. A. f. R. o. Cancer (2005). Pathology and Genetics of Head and Neck Tu-mours, IARC Press.
Bonnefoy, A., R. Moura and M. F. Hoylaerts (2008). “Thrombospondins: from structure to therapeutics.” Cellular and Molecular Life Sciences65(5): 713-727.
Bridges, E. M. and A. L. Harris (2011). “The angiogenic pro-cess as a therapeutic target in cancer.” Biochemical Phar-macology81(10): 1183-1191.
Brunckhorst, M. K., Y. Xu, R. Lu and Q. Yu (2014). “Angio-poietins Promote Ovarian Cancer Progression by Esta-blishing a Procancer Microenvironment.” The American Journal of Pathology 184(8): 2285-2296.
Bryne, M., H. S. Koppang, R. Lilleng and A. Kjaerheim (1992). “Malignancy grading of the deep invasive margins of oral squamous cell carcinomas has high prognostic va-lue.” Journal of Pathology166(4): 375-381.
Bryne, M., Koppang, HS,Lilleng R,Kjerheim A (1992). “MALIGNANCY GRADING OF THE DEEP INVASIVE MAR-GINS OF ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMAS HAS HIGH PROGNOSTICVALUE.” JOURNAL OF PATHOLOGYvol 166: 375-381.Carmeliet, P. (2005). “Angiogenesis in life, disease and medicine.” Nature 438(7070): 932-936.Carnelio, S., G. S. Rodrigues, R. Shenoy and D. Fernandes (2011). “A Brief Review of Common Oral Premalignant Le-sions with Emphasis on Their Management and Cancer Prevention.” The Indian Journal of Surgery73(4): 256-261.
Carreras-Torras, C. and C. Gay-Escoda (2015). “Techniques for early diagnosis of oral squamous cell carcinoma: Sys-tematic review.” Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal 20(3): e305-e315.
Chien, C.-Y., C.-Y. Su, H.-C. Chuang, F.-M. Fang, H.-Y. Huang, C.-M. Chen, C.-H. Chen and C.-C. Huang (2008). “Angiopoietin-1 and -2 expression in recurrent squamous cell carcinoma of the oral cavity.” Journal of Surgical On-
cology97(3): 273-277.
Clydesdale, G. J., G. W. Dandie and H. K. Muller (2001). “Ultraviolet light induced injury: Immunological and in-flammatory effects.”Immunol Cell Biol79(6): 547-568.DE LIMA, P. O., C. C. JORGE, D. T. OLIVEIRA and M. C. PEREIRA (2014). “Hypoxic Condition and Prognosis in Oral Squamous Cell Carcinoma.” Anticancer Research 34(2): 605-612.De Palma, M. and L. Naldini (2011). “Angiopoietin-2 TIEs Up Macrophages in Tumor Angiogenesis.” Clinical Cancer Research 17(16): 5226-5232.
Detmar, M. (2000). “Tumor Angiogenesis.” J Investig Der-matol Symp Proc 5(1): 20-23.Dionne, K. R., S. Warnakulasuriya, R. Binti Zain and S. C. Cheong (2015). “Potentially malignant disorders of the oral cavity: Current practice and future directions in the clinic and laboratory.” International Journal of Can-cer136(3): 503-515.
Eklund, L. and P. Saharinen (2013). “Angiopoietin signaling in the vasculature.” Experimental Cell Research319(9): 1271-1280.
El-Kenawi, A. E. and A. B. El-Remessy (2013). “Angiogene-sis inhibitors in cancer therapy: mechanistic perspective on classification and treatment rationales.” British Journal of Pharmacology 170(4): 712-729.
Emeus, I., M. Bonsquenaud, B. Lenoir, Y. Devaux and D. R. Wagner (2015). “Adenosine stimulates angiogenesis by up-regulating production of thrombospondin-1 by macro-phages.” Journal of Leukocyte Biology 97(1): 9-18.
Fagiani, E. and G. Christofori (2013). “Angiopoietins in an-giogenesis.” Cancer Letters 328(1): 18-26.
Feinberg, A. P., R. Ohlsson and S. Henikoff (2006). “The epigenetic progenitor origin of human cancer.” Nat Rev Genet 7(1): 21-33.
Gacche, R. N. and R. J. Meshram (2013). “Targeting tumor micro-environment for design and development of novel anti-angiogenic agents arresting tumor growth.” Pro-gress in Biophysics and Molecular Biology113(2): 333-354.
Giuliano, S. and G. Pagès (2013). “Mechanisms of resistan-ce to anti-angiogenesis therapies.” Biochimie 95(6): 1110-1119.
Hao, N.-B., M.-H. Lü, Y.-H. Fan, Y.-L. Cao, Z.-R. Zhang and S.-M. Yang (2012). “Macrophages in Tumor Microenviron-
43
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ments and the Progression of Tumors.” Clinical and Deve-lopmental Immunology2012: 948098.Hayashido, Y., M. Nakashima, K. Urabe, H. Yoshioka, Y. Yoshioka, T. Hamana, H. Kitano, K. Koizumi and T. Okamo-to (2003). “Role of stromal thrombospondin-1 in motility and proteolytic activity of oral squamous cell carcinoma cells.” International journal of molecular medicine 12(4): 447-452.
HILLBERTZ, N. S., J.-M. HIRSCH, J. JALOULI, M. M. JA-LOULI and L. SAND (2012). “Viral and Molecular Aspects of Oral Cancer.” Anticancer Research32(10): 4201-4212.
Hoff, P. M. and K. K. Machado (2012). “Role of angiogene-sis in the pathogenesis of cancer.” Cancer Treatment Re-views38(7): 825-833.
Jayachandran, A., M. Anaka, P. Prithviraj, C. Hudson, S. J. McKeown, P.-H. Lo, L. J. Vella, C. R. Goding, J. Cebon and A. Behren (2014). “Thrombospondin 1 promotes an ag-gressive phenotype through epithelial-to-mesenchymal transition in human melanoma.” Oncotarget 5(14): 5782-5797.
Jerjes, W., T. Upile, H. Radhi, A. Petrie, J. Abiola, A. Adams, P. Kafas, J. Callear, R. Carbiner, K. Rajaram and C. Hopper (2012). “The effect of tobacco and alcohol and their reduc-tion/cessation on mortality in oral cancer patients: short communication.” Head & Neck Oncology4: 6-6.
Johnson, N. W., P. Jayasekara and A. A. H. K. Amarasinghe (2011). “Squamous cell carcinoma and precursor lesions of the oral cavity: epidemiology and aetiology.” Periodonto-logy 200057(1): 19-37.
Joyce, J. A. and J. W. Pollard (2009). “Microenvironmental regulation of metastasis.” Nat Rev Cancer9(4): 239-252.
Kaur, S. and P. Bajwa (2014). “A ‘tête-à tête’ between can-cer stem cells and endothelial progenitor cells in tumor angiogenesis.” Clinical and Translational Oncology16(2): 115-121.
Khan, A. A., V. K. Sandhya, P. Singh, D. Parthasarathy, A. Kumar, J. Advani, R. Gattu, D. V. Ranjit, R. Vaidyanathan, P. P. Mathur, T. S. K. Prasad, F. Mac Gabhann, A. Pandey, R. Raju and H. Gowda (2014). “Signaling Network Map of Endothelial TEK Tyrosine Kinase.” Journal of SignalTrans-duction 2014: 173026.
Klozar, J., R. Tachezy, E. Rotnáglová, E. Košlabová, M. Sa-láková and E. Hamšíková (2010). “Human papillomavirus in head and neck tumors: epidemiological, molecular and
clinical aspects.” Wiener Medizinische Wochens-chrift160(11-12): 305-309.
Koh, G. Y. (2013). “Orchestral actions of angiopoietin-1 in vascular regeneration.” Trends in Molecular Medici-ne19(1): 31-39.
Koontongkaew, S. (2013). “The Tumor Microenvironment Contribution to Development, Growth, Invasion and Me-tastasis of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas.” Journal of Cancer4(1): 66-83.
Kumar, A., L. Cascarini, J. A. McCaul, C. J. Kerawala, D. Coombes, D. Godden and P. A. Brennan (2013). “How should we manage oral leukoplakia?” British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 51(5): 377-383.
Lamouille, S., J. Xu and R. Derynck (2014). “Molecular me-chanisms of epithelial–mesenchymal transition.” Nat Rev Mol Cell Biol15(3): 178-196.
Lawler, P. R. and J. Lawler (2012). “Molecular Basis for the Regulation of Angiogenesis by Thrombospondin-1 and -2.” Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine2(5): a006627.
Li, C., C.-j. Sun, J.-c. Fan, N. Geng, C.-h. Li, J. Liao, K. Mi, G.-q. Zhu, H. Ma, Y.-f. Song, Y.-l. Tang and Y. Chen (2013). “Angiopoietin-2 expression is correlated with angiogene-sis and overall survival in oral squamous cell carcinoma.” Medical Oncology30(2): 1-10.
Li, H., J. Zhang, S.-W. Chen, L.-l. Liu, L. Li, F. Gao, S.-M. Zhuang, L.-p. Wang, Y. Li and M. Song (2015). “Cancer--associated fibroblasts provide a suitable microenviron-ment for tumor development and progression in oral ton-gue squamous cancer.” Journal of Translational Medici-ne13: 198.
Liu, Y.-T., L.-W. Lin, C.-Y. Chen, C.-P. Wang, H.-P. Liu, J.-Y. Houng, F.-M. Chung and T.-Y. Shieh (2012). “Polymor-phism of angiotensin I-converting enzyme gene is related to oral cancer and lymph node metastasis in male betel quid chewers.” Oral Oncology48(12): 1257-1262.
Lopez-Dee, Z., K. Pidcock and L. S. Gutierrez (2011). “Thrombospondin-1: Multiple Paths to Inflammation.” Mediators of Inflammation2011: 296069.
Loughna, S. and T. N. Sato (2001). “Angiopoietin and Tie signaling pathways in vascular development.” Matrix Bio-logy20(5–6): 319-325.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
44
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Loureiro, A. P. M., P. Di Mascio and M. H. G. Medeiros (2002). “Exocyclic DNA adducts: Implications in mutage-nesis and carcinogenesis.” Quimica Nova25(5): 777-793.
Marocchio, L. S., J. Lima, F. F. Sperandio, L. Corrêa and S. O. M. de Sousa (2010). “Oral squamous cell carcinoma: an analysis of 1,564 cases showing advances in early detec-tion.” Journal of Oral Science 52(2): 267-273.
Metheny-Barlow, L. J. and L. Y. Li (2003). “The enigmatic role of angiopoietin-1 in tumor angiogenesis.” Cell Res 13(5): 309-317.
Monk, B. J., A. Poveda, I. Vergote, F. Raspagliesi, K. Fujiwa-ra, D.-S. Bae, A. Oaknin, I. Ray-Coquard, D. M. Provencher, B. Y. Karlan, C. Lhommé, G. Richardson, D. G. Rincón, R. L. Coleman, T. J. Herzog, C. Marth, A. Brize, M. Fabbro, A. Redondo, A. Bamias, M. Tassoudji, L.
Navale, D. J. Warner and A. M. Oza (2014). “Anti-angio-poietin therapy with trebananib for recurrent ovarian can-cer (TRINOVA-1): a randomised, multicentre, double--blind, placebo-controlled phase 3 trial.” The Lancet On-cology15(8): 799-808.
Muthu Rama Krishnan, M., P. Shah, M. Pal, C. Chakrabor-ty, R. R. Paul, J. Chatterjee and A. K. Ray (2010). “Structu-ral markers for normal oral mucosa and oral sub-mucous fibrosis.” Micron 41(4): 312-320.
Patel, A. S., A. Smith, S. Nucera, D. Biziato, P. Saha, R. Q. Attia, J. Humphries, K. Mattock, S. P. Grover, O. T. Lyons, L. G. Guidotti, R. Siow, A. Ivetic, S. Egginton, M. Waltham, L. Naldini, M. De Palma and B. Modarai (2013). “TIE2-ex-pressing monocytes/macrophages regulate revasculari-zation of the ischemic limb.” EMBO Molecular Medicine 5(6): 858-869.
Patel, S. G. and J. P. Shah (2005). “TNM Staging of Cancers of the Head and Neck: Striving for Uniformity Among Di-versity.” CA: A Cancer Journal for Clinicians55(4): 242-258.Potente, M., H. Gerhardt and P. Carmeliet (2011). “Basic and Therapeutic Aspects of Angiogenesis.” Cell146(6): 873-887.
Qin, Q., J. Qian, L. Ge, L. Shen, J. Jia, J. Jin and J. Ge (2014). “Effect and Mechanism of Thrombospondin-1 on the An-giogenesis Potential in Human Endothelial Progenitor Cells: An In Vitro Study.” PLoS ONE9(2): e88213.
Resovi, A., D. Pinessi, G. Chiorino and G. Taraboletti (2014). “Current understanding of the thrombospondin-1 interac-tome.” Matrix Biology 37: 83-91.
Rivera, C. and B. Venegas (2014). “Histological and mole-cular aspects of oral squamous cell carcinoma (Review).” Oncology Letters8(1): 7-11.
Roodink, I. and W. P. J. Leenders (2010). “Targeted thera-pies of cancer: Angiogenesis inhibition seems not enou-gh.” Cancer Letters299(1): 1-10.
Rosca, E. V., J. E. Koskimaki, C. G. Rivera, N. B. Pandey, A. P. Tamiz and A. S. Popel (2011). “Anti-angiogenic peptides for cancer therapeutics.” Current pharmaceutical biotech-nology 12(8): 1101-1116.
Sasahira, T., T. Kirita and H. Kuniyasu (2014). “Update of molecular pathobiology in oral cancer: a review.” Interna-tional Journal of Clinical Oncology19(3): 431-436.
Sawazaki-Calone, I., A. Rangel, A. G. Bueno, C. F. Morais, H. M. Nagai, R. P. Kunz, R. L. Souza, L. Rutkauskis, T. Salo, A. Almangush and R. D. Coletta (2015). “The prognostic value of histopathological grading systems in oral squa-mous cell carcinomas.” Oral Diseases21(6): 755-761.
Seok, S. H., J. I. Heo, J. H. Hwang, Y. R. Na, J. H. Yun, E. H. Lee, J. W. Park and C. H. Cho (2013). “Angiopoietin-1 elicits pro-inflammatory responses in monocytes and differen-tiating macrophages.” Molecules and cells35(6): 550-556.
Shojaei, F. (2012). “Anti-angiogenesis therapy in cancer: Current challenges and future perspectives.” Cancer Let-ters320(2): 130-137.
Szabo, C. (2015). “Editorial: Old dog, new tricks: proan-giogenic effect of adenosine via stimulation of throm-bospondin-1 in macrophages.” Journal of Leukocyte Bio-logy97(1): 3-5.
Tanaka, T. and R. Ishigamori (2011). “Understanding Car-cinogenesis for Fighting Oral Cancer.” Journal of Oncolo-gy2011: 603740.
Tsantoulis, P. K., N. G. Kastrinakis, A. D. Tourvas, G. Laska-ris and V. G. Gorgoulis (2007). “Advances in the biology of oral cancer.” Oral Oncology43(6): 523-534.
Vairaktaris, E., C. Yapijakis, A. Vylliotis, S. Derka, S. Vassi-liou, E. Nkenke, Z. Serefoglou, V. Ragos, E. Critselis, D. Avgoustidis, F. Neukam and E. Patsouris (2008). “Angio-tensinogen polymorphism is associated with risk for ma-lignancy but not for oral cancer.” Anticancer Research28(3 A): 1675-1679.
45
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
van der Waal, I. (2014). “Oral potentially malignant disor-ders: Is malignant transformation predictable and preven-table?” Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal19(4): e386-e390.
Vasudev, N. and A. Reynolds (2014). “Anti-angiogenic the-rapy for cancer: current progress, unresolved questions and future directions.” Angiogenesis17(3): 471-494.
Wang, T. N., X.-h. Qian, M. S. Granick, M. P. Solomon, V. L. Rothman and G. P. Tuszynski (1995). “The effect of throm-bospondin on oral squamous carcinoma cell invasion of collagen.” The American Journal of Surgery 170(5): 502-505.
Warnakulasuriya, S., T. Dietrich, M. M. Bornstein, E. C. Pei-dró, P. M. Preshaw, C. Walter, J. L. Wennström and J. Ber-gström (2010). “Oral health risks of tobacco use and effects of cessation.” International Dental Journal60(1): 7-30.
Weis, S. M. and D. A. Cheresh (2011). “Tumor angiogene-sis: molecular pathways and therapeutic targets.” Nat Med 17(11): 1359-1370.
Welti, J., S. Loges, S. Dimmeler and P. Carmeliet (2013). “Recent molecular discoveries in angiogenesis and an-tiangiogenic therapies in cancer.” The Journal of Clinical Investigation123(8): 3190-3200.
Wenig, B. M. (2002). “Squamous Cell Carcinoma of the Upper Aerodigestive Tract: Precursors and Problematic Variants.” Mod Pathol 15(3): 229-254.
William Jr, W. N. (2012). “Oral premalignant lesions: Any progress with systemic therapies?” Current Opinion in On-cology24(3): 205-210.
William, W. N. J. (2012). “Oral premalignant lesions: any progress with systemic therapies?” Current Opinion in On-cology24(3): 205-210.
Yao, L., Y.-L. Zhao, S. Itoh, S. Wada, L. Yue and I. Furuta (2000). “Thrombospondin-1 expression in oral squamous cell carcinomas: correlations with tumor vascularity, clini-copathological features and survival.” Oral Oncolo-gy36(6): 539-544.
Yardimci, G., Z. Kutlubay, B. Engin and Y. Tuzun (2014). “Precancerous lesions of oral mucosa.” World Journal of Clinical Cases : WJCC2(12): 866-872.
Yoo, S. Y. and S. M. Kwon (2013). “Angiogenesis and Its Therapeutic Opportunities.” Mediators of Inflamma-tion2013: 127170.
Zarei, M. R., G. Chamani and S. Amanpoor (2007). “Reac-tive hyperplasia of the oral cavity in Kerman province, Iran: A review of 172 cases.” British Journal of Oral and Ma-xillofacial Surgery45(4): 288-292.
Zulato, E., M. Curtarello, G. Nardo and S. Indraccolo (2012). “Metabolic effects of anti-angiogenic therapy in tumors.” Biochimie94(4): 925-931.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
46
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
cOrrida de rua e metaBOlismO ósseO
laura luna martins1, viviane elsner2, maristela padilha2.Mestranda em Biociências e Reabilitação¹. Programa
de Pós-Graduação Mestrado em Biociências e Reabilita-ção². Centro Universitário Metodista – IPA1,2, Porto Alegre, RS, Brasil.
resumOIntrodução: O processo de envelhecimento está asso-
ciado a uma série de alterações biológicas que podem comprometer a qualidade de vida do ser humano. Nesta fase, em especial nas mulheres,ocorrem alterações hor-monais importantes que interferem significativamente no metabolismo ósseo. Estas alterações podem acarretar a diminuição da Densidade Mineral Óssea (DMO) que é denominada de osteopenia e se não tratada pode evoluir para a osteoporose. Dentro deste contexto, a literatura sistematicamente tem apontado o exercício físico como um importante aliado tanto na prevenção como na tera-pêutica de disfunções do metabolismo óssea. Atualmen-te, a corrida de rua é uma prática desportiva amplamente difundida, principalmente em função de seu baixo custo e de seus benefícios relacionados a saúde e bem-estar. Ob-jetivo: Esta revisão tem como objetivo avaliar a influência da prática de corrida de rua nas alterações do metabolis-mo ósseo em mulheres na menopausa. Métodos: Foi usa-da a base de dados scielo e pumed onde foram revisados artigos a partir do ano de 2003. Utilizando os seguintes descritores osteopenia, densidade mineral óssea, meno-pausa, mulheres, corrida de rua e seus respectivos análo-gos em língua inglesa. Conclusão: A corrida de rua pode influenciar na manutenção ou no aumento da DMO, mini-mizando os efeitos da menopausa onde ocorrem signifi-cativas alterações hormonais.
Descritores: Osteopenia, Densidade mineral óssea, Menopausa, Mulheres, Corrida de rua.
intrOduçãOO processo de envelhecimento está associado a uma
série de alterações biológicas que podem comprometer a qualidade de vida do ser humano. Nesta fase, com o sur-gimento da menopausa, as mulheres apresentam altera-ções hormonais as quais interferem no metabolismo ós-seo, ou seja, pode ocorrer a diminuição da DMO. Esta perda óssea é denominada de osteopenia que pode evo-luir para osteoporose se não tratada (CADORE, BRENTA-NO e KRUEL, 2005).
A literatura descreve que o exercício físico é uma das estratégias de prevenção para a perda óssea, pois a carga imposta pelo exercício gera um estímulo osteogênico.
Neste sentido, mulheres que adotam a prática de exercí-cios físicos podem minimizar as alterações do metabolis-mo ósseo que surgem durante o processo de envelheci-mento (LIXANDRÃO et al., 2012; CADORE, BRENTANO e KRUEL, 2005).
Neste contexto, a corrida de rua é uma excelente op-ção de exercício físico que pode influenciar positivamente na DMO. Desta forma, a corrida de rua torna-se uma es-tratégia para melhorar a qualidade de vida e a saúde das mulheres.
A corrida de rua surgiu na Inglaterra no século XVIII depois se expandiu para o restante da Europa e EUA (SAL-GADO e CHACON-MIKAHIL, 2006). Assim, esta modali-dade vem se expandindo ao longo dos anos, pois não de-pende de gênero, nível econômico ou tipo físico (SALGA-DO e CHACON-MIKAHIL, 2006; DALLARI, 2009). Já a participação das mulheres no esporte tem origem na Gré-cia Antiga e a sua proibição, nas competições esportivas, constava no primeiro item do regulamento olímpico. A participação feminina no universo da corrida é recente, o marco foi na maratona de Boston em 1967, onde uma americana correu disfarçada de homem (SCALCO, 2010).
Esta revisão tem como objetivo avaliar a influência da prática de corrida de rua nas alterações do metabolismo ósseo em mulheres na menopausa
métOdOsCom o objetivo de verificar a importância da DMO na
saúde das mulheres esta revisão se propõe em mostrar que o exercício físico, mais especificamente a corrida de rua, pode ser uma estratégia para minimizar e prevenir a redução da DMO. Para isso foi usado a base de dados scie-lo e pumed onde foram revisados artigos a partir de 2003. Os seguintes descritores foram usados: osteopenia, den-sidade mineral óssea, menopausa, mulheres, corrida de rua e os respectivos análogos da língua inglesa.
mEtabolismo óssEoÉ de extrema importância entender as alterações hor-
monais femininas as quais interferem no metabolismo ósseo. O osso é depositado pelo osteoblasto e absorvido pelo osteoclasto. Os osteoblastos são encontrados na su-perfície externa dos ossos bem como nas cavidades ósse-as. Já os osteoclastos se consistem em células fagocíticas derivadas dos monócitos ou de células semelhantes a mo-nócitos (formados na medula óssea).Normalmente a de-posição e a absorção óssea são iguais entre si de modo que a massa óssea permanece constante. No entanto, na me-nopausa com a diminuição de secreção de estrogênio ocorre a diminuição de atividade dos osteoblastos que gera desequilíbrio entre a produção óssea e a absorção óssea. Isto resulta em diminuição de DMO podendo gerar osteopenia ou osteoporose (LEITE, 2014).
47
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Ainda com relação ao metabolismo ósseo, as mulhe-res atingem o pico de massa óssea no final da adolescên-cia e início da juventude onde se observa que as que pra-ticam exercício físico desde a infância apresentam maior massa magra ao atingir a menopausa. Esta massa magra beneficia a massa óssea que está sujeita a maiores cargas geradas pela contração muscular (REBELLO e PINTO, 2011; BURROWS et al., 2003).
Neste contexto, ao avaliar a prática de atividade física desde a infância em mulheres de 35 à 76 anos, foi visto que a DMO da lombar das mulheres que praticaram atividade física na infância era maior quando comparadas com as que não praticaram. Em contrapartida, a prática atual de atividade física não parece ser muito eficaz sobre a DMO, ou seja, a perda óssea não é menor entre as mulheres que praticam atividade física atualmente do que entre as que não praticam (MOSER, MELO e SANTOS, 2004). Isto re-força que o aumento da massa óssea é na infância e ado-lescência e mostra o papel preventivo da atividade física e/ou exercício físico.
ExErcício físico E saúdE da mulhErEnfatizando a importância do exercício físico na saúde
da mulher, diversos estudos recomendam esta prática pa-ra prevenir e minimizar os efeitos da menopausa (LIXAN-DRÃO et al., 2012; BARBAT-ARTIGAS et al., 2010; MO-SER, MELO e SANTOS, 2004) além de melhorar os aspec-tos gerais de saúde, a interação social e a qualidade de vida (BALBINOTTI et al., 2015).
Na menopausa a redução dos hormônios femininos, pode levar ao aumento de peso, ganho de massa gorda que pode ser acompanhada pela perda de massa muscular e pela redução da DMO (MARIANO et al., 2013, NEVILL et al., 2003; CADORE, BRENTANO e KRUEL, 2005). A ativi-dade física é indicada na pós-menopausa, inclusive para pessoas com a redução de massa óssea, pois aumenta o tônus muscular, diminui os riscos de queda e melhora au-toestima. Há evidências que mulheres na pré e pós-meno-pausa que iniciaram programas de exercício aeróbio mo-derado podem aumentar a DMO (MOSER, MELO e SAN-TOS, 2004).
O estudo de Penha, Piçarro e Neto, (2012) mostrou a melhora na resistência aeróbia e na DMO em mulheres de 50 a 79 anos, após 12 meses de prática de exercícios (re-sistência aeróbia, equilíbrio, alongamento e flexibilidade). Istoenfatiza, mais uma vez, a importância do exercício fí-sico na prevenção da osteopenia e/ou osteoporose. Exer-cícios com sustentação do peso do próprio corpo são indi-cados para aumentar a massa óssea, alguns exemplos: andar de bicicleta, caminhada, corrida, esportes, pular
corda, brincadeiras, educação física escolar e serviços do-mésticos (MOSER, MELO e SANTOS, 2004). Assim, o pro-cesso de envelhecimento feminino vem acompanhado de alterações hormonais onde o exercício físico desempenha um papel importante, minimizando sintomas e melhoran-do a saúde e a qualidade de vida das mulheres.
corrida dE ruaA literatura apresentaestudos que mostram altera-
ções na DMO em mulheres praticantes de corrida de rua. Isso pode ser constatado no estudo de Nevill e colabora-dores (2003) que avaliaram a DMO da lombar, quadril, per-nas, pelves, coluna torácica, costelas e braços em mulhe-res praticantes de corrida. A faixa etária era entre 18-44 anos com volume de treinamento de 32±17km/semana. Foi visto o aumento da DMO na coluna lombar e no qua-dril, corroborando que a corrida melhora a DMO nesses locais, pois o benefício do exercício é no local onde há a maior carga. Ainda se evidenciou que este aumento da DMO foi nas mulheres que corriam as maiores distâncias. No entanto, foi visto que correr por muitos anos pode di-ficultar a aquisição de massa óssea em outras partes do corpo como braços, costelas, coluna torácica e pelve.
Com relação a faixa etária, Burrows e colaboradores (2003) avaliando mulheres de mesma idade do estudo ci-tado acima, demonstraram que o aumento da DMO da coluna lombar estava relacionado com o aumento da ida-de. Estes mesmos autores, também descrevem que a DMO da coluna lombar estava associada à massa corporal e não a massa gorda, sugerindo que o componente de massa magra pode estar associado ao aumento da DMO da coluna lombar.
Em contrapartida, a distância percorrida pelas corre-doras estava negativamente associada à DMO da coluna lombar e do colo do fêmur, pois as mulheres que corriam maiores distâncias apresentaram decréscimo da DMO nestes locais. E ainda, houve a diminuição da DMO do co-lo do fêmur conforme o aumento a idade. Dentro deste contexto, é importante observar, nesses treinamentos de longa distância, as calorias ingeridas, pois, em algum mo-mento, o déficit calórico pode afetar a massa magra. Mas, neste estudo não houve correlação significativa entre as calorias ingeridas e a distância percorrida por semana (BURROWS et al. 2003).
cOnclusõesEsta revisão sugere que a prática de exercício físico,
mais especificamente, a corrida de rua pode influenciar na manutenção ou no aumento da DMO, minimizando os efeitos da menopausa onde ocorrem significativas altera-ções hormonais.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
48
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
referênciasBALBINOTI, M; GONÇALVES, G; KLERING, R. et al.Perfis motivacionais de corredores de rua comdiferentes tem-pos de prática.revista Brasileira de ciências do espor-te. v.37, n.1, p.65-73. 2015.
BARBAT-ARTIGAS, S; DUPONTGAND, S; FEX, A. et.al. Relationship between dynapeniaand cardiorespiratory functions in healthy postmenopausal women: novel cli-nical criteria. menopause. v.18, n. 4, 2010.
BURROWS, M; NEVILL, A; BIRD, S. et al. Physiological factors associated with low bone mineral density in fe-male endurance runners. Br J sports med. v.37, p.61-67. 2003.
CADORE, E; BRENTANO, M; KRUEL, L. Efeitos da ativi-dade física na densidade mineral óssea e na remodela-ção do tecido ósseo. revista brasileira de medicina do esporte. v.11, n.6, p.373-379. 2005.
DALLARI, M. corrida de rua: um fenômeno sociocultu-ral contemporâneo. 2009. 129 p. Tese (Doutorado) - Fa-culdade de Educação, Universidade São Paulo. 2009.
LEITE, G. avaliação do risco de fratura por desminera-lização óssea. 2014. 106 p. Dissertação (mestrado)- Ins-tituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Tec-nologia e Gestão.
LIXANDRÃO, M; BONGANHA, V; CONCEIÇÃO, M. et al. Efeito do treinamento concorrente sobre a força e hiper-trofia muscular de mulheres na pós-menopausa. revista
Brasileira de atividade física e saúde, v. 17, n. 4, p. 247-251. Ago/2012.
MARIANO, E; NAVARRO, F; SAUIAIA, B. et al. Força muscular e qualidade de vida em idosas. revista Brasi-leira de geriatria e gerontologia. v.16, n.4, p.805-811. 2013.
MOSER, D; MELO, S; SANTOS, S.Influência da atividade física sobre a massa óssea demulheres. revista brasilei-ra de cineantropometria e desempenho humano. v.6, n.1, p.46-53. 2004.
NEVILL, A; BURROWS, M; ROGER L; HOLDER, R. et al. does lower-body bmd develop at the expense of upper-body BMD in female runners? official Journal of the american college of sports medicine. p.1733-1739. 2003.
PENHA, J; PIÇARRO, I; NETO, T. Evolução da aptidão fí-sica e capacidade funcional de mulheres ativas acima de 50 anos de idade de acordo com a idade cronológica, na cidade de santos. ciência e saúde coletiva. v.17. n.1, p. 245-253. 2012.
SALGADO, J; CHACON-MIKAHIL, M. Corrida de rua: análise do crescimento do número de provas e de prati-cantes. conexões, revista da faculdade de educação fí-sica da unicamp. v. 4, n. 1, p.90-99. 2006.
SCALCO, M. Por isso corro demais... Notas etnográficas de uma corredora iniciante. RBSE 9 (25): 312-355, Abril de 2010.
49
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
efeitOs BiOlógicOs da lEpidium mEyEnii (maca): reviSão
deise prettomilene v. panazzolamilene santana pinto marcello ávila mascarenhasvalesca veiga cardosoLaboratório de Mutagênese e Toxicologia, Centro Uni-
versitário Metodista - IPA. E-mail: [email protected]
resumOA planta Lepidiummeyenii é nativa na Região dos An-
des, no Peru, mas pode ser encontrada na Bolívia, Colôm-bia, Chile e Argentina. Entretanto, a espécie Lepidium-meyeniiWalp. é a única domesticada e primariamente cultivada nas altas montanhas dos Andes Centrais Perua-no em torno de 2000 a.c., em altitudes entre 3.500 a 4.800 metros. As raizes de Lepidiummeyenii têm sido usados há séculos, principalmente como planta alimentar e medici-nal. Na medicina tradicional peruana a Lepidiummeyenii é utilizada para aumentar vitalidade, no estresse, para pro-mover libido, aumentar a fertilidade e o desempenho se-xual em homens e mulheres. Este resumo tem como ob-jetivo apresentar uma revisão dos uso edos efeitos bioló-gicos e toxicológicos desta planta.
Descritores: Efeito biológico, Toxidade, Lepidium-meyenii
intrOduçãOA utilização de plantas com fins medicinais, para tra-
tamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade (VEI-GA JÚNIOR et al., 2005). No Brasil, esta prática é ampla-mente difundida e na maioria dos casos, a escolha de uma terapia baseada em plantas medicinais é sempre sem orientação médica. Um dos principais problemas da utili-zação destes produtos é a crença de que produtos de ori-gem vegetal são isentos de reações adversas e efeitos tóxicos (GALLO & KOREN, 2001). O uso milenar de plantas medicinais mostrou ao longo dos anos, que determinadas plantas apresentam substâncias potencialmente perigo-sas. Do ponto de vista científico, algumas pesquisas mos-traram que muitas dessas plantas possuem substâncias agressivas e por essa razão devem ser utilizadas com cui-dado, respeitando seus riscos toxicológicos (VEIGA JÚ-NIOR et al., 2005).
A planta Lepidiummeyenii é nativa na Região dos An-des, no Peru, mas pode ser encontrada na Bolívia, Colôm-bia, Chile e Argentina. Entretanto, a espécie Lepidium-meyeniiWalp. é a única domesticada e primariamente cultivada nas altas montanhas dos Andes Centrais Perua-
no em torno de 2000 a.c., em altitudes entre 3.500 a 4.800 metros (CÁRDENAS, 2005). Lepidiummeyenii WALP. = Lepidiumperuvianum CHACON sp. Nov. popular e comer-cialmente conhecida como “MACA” é uma planta da famí-lia Brassicaceae (COBO, 1956).
Tradicionalmente os hipocótilos (raiz tuberosa; parte comestível) da Lepidiummeyeniitêm sido usados há sécu-los, principalmente como planta alimentar e medicinal. Na medicina tradicional peruana a Lepidiummeyenii é uti-lizada para aumentar vitalidade, no stress, para promover libido, aumentar a fertilidade e o desempenho sexual em homens e mulheres (MacKAY, 2004; TAYLOR, 2005; GON-ZALES et al., 2006; BUSSMANN & SHARON, 2006).
metOdOlOgiaO procedimento metodológico a ser utilizado consti-
tuiu-se em três etapas, compostas por: definição do tema abordado, material para a pesquisa e a junção dos traba-lhos para a adequação das informações adquiridas. Estu-dos abordando o uso de Lepidiummeyeniie seus efeitos biológicos e toxicológicos, de maneira geral, são escassos na literatura. Sites de consulta como Pubmed e Scielo en-tre outros foram consultados utilizando as palavras chave descritas no texto como Lepidiummeyenii, efeitos bioló-gicos, toxidade. Para uma maior abordagem e otimização da pesquisa, as palavras chaves serão consultadas tam-bém em outros idiomas além do português.
resultadOs e discussâOA primeira descrição taxonômica da espécie Lepi-
diummeyeniiWalp. foi dado pelo biólogo alemão Wilhelm Gerhard Walpers, em 1843, baseado no espécime coleta-do em um lugarejo chamado Meyeni, do Departamento de Puno, Peru. Em 1990, a bióloga peruana Glória Chácon de Popovici propôs a classificação de uma nova espécime exclusiva do território peruano: LepidiumperuvianumChá-con. Contudo, este nome não está oficializado na Interna-tionalAssociation for PlantTaxonomy. Cientificamente Lepidiumperuvianum é considerada apenas uma sinoní-mia de LepidiummeyeniiWalp. (CHÁCON DE POPOVICI, 1990).Pode ser encontrada na Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina, entretanto a espécie Lepidiummeyenii é a única do gênero que é domesticada e primeiramente cultivada nas altas montanhas dos Andes Centrais Peruano, região inóspita com altitudes de 3.500 a 4.800 metros acima do nível do mar e temperaturas extremas ( variam de 18°C até -10°C num mesmo dia), com geadas, ventos violentos, oxigenação rarefeita, solo pobre, rochoso e íngreme (ZUNK et al., 1993; CÁRDENAS, 1999; MUMMENHOFF et al., 2001; OCHOA, 2001; LEE et al., 2002; BIANCHI, 2003; MUMMENHOFF et al., 2004; GONZALES et al., 2006; BUSSMANN & SHARON, 2006; ALONSO, 2007; RADU-LOVIC et al.,2008).
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
50
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O habitat preferente de muitas espécies do gênero Lepidium são os andes sul-americanos. Referindo-se a maca, o cronista do século XVI Padre Cobo disse: “Esta planta cresce numa zona hostil e das mais frias dos Andes onde nenhuma outra planta cultivada cresce como ali-mento” (COBO, 1956).
A expansão do seu cultivo no habitat Alto Andino teria sido realizada pelas culturas Yaru e Ayarmarca, os quais deram bastante importância a seu cultivo como alimento, sabemos que nesta região não existem muitas possibili-dades de alimentos muito menos cultiváveis (ROSTORO-WSKI, 1978).
Nos anos 60, surgiram as primeiras investigações científicas sobre o efeito desta espécie na área da fertili-dade. Em 1981, Johns estudou a relação entre as proprie-dades químicas da Maca e seus efeitos sobre a reprodu-ção. A partir dos anos 90, estes estudos foram reforçados pelos ensaios toxicológicos, pré-clínicos e clínicos.
Alguns pesquisadores têm relacionado os efeitos da Maca na função sexual com sua alta concentração de pro-teínas e nutrientes. Entretanto, foi isolado o composto p--metoxibenzilisotiocianato, que é conhecido por suas pro-priedades afrodisíacas. Desde então, a planta medicinal Lepidiummeyenii tem ganhado notoriedade na comunida-de científica mundial e seus usos (alimentar e medicinal) tem sido motivo de pesquisas antropológicas,etnofarmacológicas, fitoquímicas, nutricionais, ensaios in vitro, es-tudos com animais e seres humanos e revisões da litera-tura (CICERO et al., 2001; BIANCHI,2003; MEISSNER et al., 2005; VALERIO & GONZALES, 2005; VALENTOVÁet al., 2006; BUSSMANN & SHARON, 2006).
São encontrados na Maca: alcaloides; fitoesteróides; compostos fenólicos; flavonoides; taninos; glicosídeos; saponinas; aminas secundárias alifáticas; aminas terciá-rias; antocianidinas; dextrinas; glucosinolatos. Os gluco-sinolatos são provenientes do metabolismo dos aminoá-cidos valina, alanina, leucina, isoleucina, fenilanina, tirosi-na e triptofano. As enzimas que hidrolisam os glucosino-latos são as mirosinases (BIANCHI, 2003; VALENTOVA et al., 2006; ALONSO, 2007).
Quando avaliados os pesos e as características ma-croscópicas de órgãos como coração, pulmão, fígado, pâncreas, testículos e vesículas seminais, não foram acha-das alterações, descartando-se assim qualquer efeito tó-xico. Estudos in vitro em hepatócitos demonstraram que a maca não apresenta hepatotoxicidade, pelo contrário, possui um leve efeito citoprotetor (VALENTOVA K. et al. 2006). Da mesma forma, o extrato aquoso da Maca em doses de 1g de maca liofilizada kg/maca em ratos não al-tera o desenvolvimento normal dos embriões pré-implan-tação (D’ARRIGO & BENAVIDES, 2004). Em ratos, as dife-rentes variedades de Maca não mostram toxicidade águ-da em doses ≤ 17g de hipocotilos de Maca seca/kg. De
modo semelhante, as células tratadas durante 84 dias com a Maca, não apresentam efeitos adversos em doses de 1g/Kg de peso do corpo, e a histologia do fígado foi semelhante ao dogrupo controle (GASCO et al., 2007).
No entanto, em doentes com síndrome metabólica, a administração de Maca, a uma dose de 0,6g/dia durante 90 dias, tem um aumento moderado do aspartatoamino-transferase (AST) e pressão arterial diastólica (VALENTO-VÁ et al., 2008). Isso não poderia ser confirmado em ou-tros estudos, em vez disso, mostram que maca reduz a pressão arterial sistólica e diastólica (GONZALES et al.,2012; GONZALES, 2006; GONZALES, 2010; RANILLA et al. 2010). Isto pode ser devido ao elevado teor de potás-sio (VALÉRIO & GONZALES, 2005) ou a atividade inibido-ra de enzima conversora da angiotensina descritos in vitro (RANILLA et al. 2010). Da mesma forma, estudos experi-mentais em animais hipercolesterolêmicos, a Maca não é tóxica, mas protege melhor contra danos no fígado hiper-colesterolemia que a atorvastatina (ORÉ et al., 2004).
cOnclusãOAlgumas pesquisas mostraram que muitas das plan-
tas de uso medicinal possuem substâncias tóxicas e agressivas e por isso devem ser usadas com cuidado. (Vei-ga Júnior et al., 2005). A planta medicinal Lepidiummeyenii (maca) tem ganhado notoriedade na comunidade cientí-fica e seus usos (alimentar e medicinal) tem sido ampla-mente divulgado alem disso ainda não foram encontrados efeitos adversos e toxicológicos em ensaios experimen-tais desta raiz.
referências ALBERTS, B. et al. Fundamentos da Biologia Celular. Edi-tora Artmed. Edição Universitária, 2ª reimpressão. Porto Alegre (RS): 2002.
ALONSO, JORGE. Tratado De Fitofármacos Y Nutracéuti-cos. ISBN 978-950-9030-46-6. 2ª Ed. Pp. 1150. 2007.
ALZAMORA. L.; SOLIS, H.; ROJAS, M.; CALDERÓN, M.; FAJARDO, N.; QUISPE, J.; ALVAREZ, E.; COLONA, E,; TORRES, D. Leishmanicidalactivityofmethanolicextrac-tfrom four escotypesofLeipidiumperuvianum, Chácon (Brassicaceae). Revista Peruana de Biologia – ISSN 1727-9933, v. 13, n. 3, p. 211-214, 2007.
BIANCHI, A. MACA Lepidiummeyenii. BoletínLatinoame-ricano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas de La SociedadLatinoamericana de Fitoquímica, v. 2, n. 003, pp. 30-36, 2003.
BUSSMANN, R.W.; SHARON, D. Traditional medicinal plant use in Northern Peru: tracking twothousand years of
51
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
healing culture. Journal of Ethnobiology and Ethnomedi-cine, v. 2, n. 47, p. 1-18, 2006.
CÁRDENAS, R.A. Guia Para el Cultivo, Aprovechamiento y Conservación de La Maca (LepidiumMeyeniiWalpers). Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999 (82) 50p. SÉRIE: SECAB, Ciencia y Tecnología (Colombia). ISBN 958-698-005-7.
CÁRDENAS, S. E. Recuperación de productos nativos de los Andes: kiwicha y maca. Revista de Antropologia Facul-tad de CienciasSociales. E.A.P. de Antropologia (ISSN: 1811-380x), v. 8, n. 3, p. 193-201, 2005.
CHACÓN DE POPOVICI, G. LA MACA (Lepidiumperuvia-numChacón sp. nov.) y Su Habitat. Revista Peruana de Biologia, v. 3, n. 2, p. 169-272, 1990.
CICERO, A.F.G.; BANDIERI, E.; ARLETTI, R. Lepidium-meyeniiWalp. Improves sexual behaviour in male rats inde-pendently from its action on spontaneous locomotor activ-ity. JournalofEthnopharmacology,v. 75, p. 225-229, 2001.
COBO, B: Historia delNuevo Mundo. Biblioteca de Auto-res Españoles v.81 p. 430. 1956.
DINI, A.; MIGLIUOLO, G.; RASTRELLI, L.; SATURNINOC, P.; SCHETTINO, O. Chemical Composition of Lepidium-meyenii. Food Chemistry, v.49, n.4, p. 347-349,1994.
GASCO M., AGUILAR J., GONZALES G.F. Effect of chron-ic treatment with three varieties of Lepidiummeyenii (Ma-ca) on reproductive parameters and DNA quantification in adult male rats. Andrologia. 2007;39(4):151-8.
GONZALES, G.F.; MIRANDA S.; NIETO J.; FERNANDEZ G.; YUCRA, S.; RUBIO, J.; et al. Red Maca (Lepidiummeye-nii) reduced prostate size in rats. ReprodBiolEndocrinol. 2005;3(1):5
GONZALES, G.F. Maca de laTradición a laCiencia. Lima: Universidad Peruana CayetanoHeredia; 2006.
GONZALES, G.F.; NIETO, J.; RUBIO, J.; GASCO, M. Effect of Black Maca (Lepidiummeyenii) on One Spermatogenic Cycle in Rats. Andrologia BlackwellPublishingLtd, v.38, n.5, p.166-172, 2006.
GONZALES, G.F. Maca: Del alimento perdido de los Incas al milagro de los Andes: Estudio de seguridad alimentaria y nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional, Campi-nas. 2010;17(1):16-36.
INSTITUTO DE NUTRICION DEL PERU Y INCAP. Compo-sición química de los alimentos, consumidos enel Peru. Ministerio de Salud.1981.
LEE, J.-Y.; MUMMENHOFF, K.;BOWMAN, J.L. Allopoly-ploidizations and evolution of species with reduced floral structures in Lepidium L. (Brassicaceae). PNAS-Proceed-ings of the National Academy of Sciences of the United States of America,v. 99, p.16835-16840, 2002.
LENS, S.L.F. Estudo Galenico de Formas Plásticas (Gel e Cre-me) do Extrato Bruto de Maca, LepidiumperuvianumChá-con sp. nov. Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
MacKAY, D.J. Nutrients and Botanicals for Erectile Dys-function: Examining the Evidence. Alternative Medicine Review,v. 9, n.1, p.04-16, 2004.
MEISSNER, H.O.; KAPCZYNSKI, W.; MSCISZ, A.; LUTOM-SKI, J. Use of Gelatinized Maca (Lepidiumperuvianum) in Early Postmenopausal Women — a Pilot Study. Interna-tional Journal of Biomedical Science (ISSN: 1555-2810), v.1, n. 1, p.33-45, 2005.
MUMMENHOFF, K.; LINDER, P.; FRIESEN, N.; BOWMAN, J.L.; JI-YOUNG LEE;FRANZKE, A. Molecular evidence for bicontinentalhybridogenous genomic constitution in Lepidiumsensustricto (Brassicaceae) species from Austra-lia and New Zealand. American Journal of Botany, v.91, n. 2, p. 254-261,2004.
OCHOA, C. MACA (LepidiummeyeniiWalp.;Brassicace-ae): a nutritious root crop of the Central Andes. Economy-Botanic, v. 55, n. 3, p. 334-345, 2001.
OLIVEIRA, Jonaina Costa de. Abordagem farmacológica e terapêutica da LepidiummeyeniiWalp. (MACA): uma revi-são de literatura. 114 f. 2011. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal do Ceará. Faculda-de de Medicina, Fortaleza, 2011.
ORÉ, R.; MAYORCA, J.R.; VALDIVIESO, R.; RONCEROS, G.; RÁEZ, E.; DURAND, J.; et al. Efectos adversos de la maca y atorvastatina enhígado de ratas hipercolesterolé-micas. RevSoc Quim Peru, 2004;70(1):9-17.
RADULOVIĆ, N.; ZLATKOVIĆ, B.; SKROPETA, D.; PALIĆ, R. Chemotaxonomy of the peppergrass Lepidiumcorono-pus (L.) Al-Shehbaz (syn. Coronopussquamatus) Basedon its Volatile Glucosinolate Autolysis Products. Biochemical Systematics and Ecology, v.36, n. 10, p. 807-811, 2008.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
52
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
RANILLA, L.G., KWON Y.I., APOSTOLIDIS E., SHETTY, K. Phenolic compounds, antioxidant activity and in vitro in-hibitory potential against key enzymes relevant for hyper-glycemia and hypertension of commonly used medicinal plants, herbs and spices in Latin America. BioresourTech-nol. 2010;101(12):4676-89.
ROSTOROWSKI, M. Señoríos Indígenas de Lima y Canta. Instituto de Estudios Peruanos. Primeraedición. IEP Edi-ciones. Lima-Perú. p.161, 1978.
SUAREZ, S.; ORÉ, R.; ARNAO, I.; ROJAS, L.; TRABUCCO, J. AquousLepidiummeyeniiWalp( maca) extractand its role as na adaptagen, in na endurance animal model. Anales de La Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (ISSN 1609-9419), v. 70; n. 3. P. 181-185, 2009.
TAYLOR, L.G. The healing power of rainforest herbs:a guide to understanding and using herbal medicinal.519 pp. Garden City Park, NY: Square One Publishers. ISBN 0-7570-0144-0.2005.
TELLO, J., HERMANN, M., CALDERÓN, A. La maca (Lepi-diummeyenii WALP): cultivo alimenticio potencial para las zonas alto andinas. Boletín de Lima , n.81, p. 59-66, 1992.
TOLEDO, J.; DEHHAL, P.; JARRIN, F.; HU, J.; HERMANN, M.; AL-SHEHBAZ, I.; QUIROS, C.F. Genetoc Variability of Lepidiummeyenii and other Andean Leipidium Species (Brassicaceae) Assessed by Molecular Markers. Annals of Botany, v.82, p. 523-530, 1998.
VALENTOVÁ, K.; BUCKIOVÁ, D.; KREN, V.; PEKNICOVÁ, J.; ULRICHOVÁ, J.; SIMÁNEK, V. The in vitro biological ac-tivity of Lepidiummeyenii extracts. Cell Biology and Toxi-cology, v. 22, n. 2, p. 91-99, 2006.
VALENTOVÁ K., STEJSKAL D., BARTEK J., DVORÁCKOVÁ S., KREN V,, ULRICHOVÁ J., et al. Maca (Lepidiummeye-nii) and yacon ( Smallanthussonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assess-ment. Food ChemToxicol. 2008;46(3):1006-13.
VALERIO, L.G.; GONZALES, G.F. Toxicological aspects of the south American herbs cat’s claw (Uncariatomentosa) and maca (Lepidiummeyenii): a critical synopsis. Toxico-logicalReviews, v. 24, n. 11, p. 11-35, 2005.
VEIGA JÚNIOR, V.F.; PINTO, A.C.; MACIEL, M.A.M. Plan-tas medicinais: cura segura? Química Nova, v.28, n.3, p.519- 28, 2005.
53
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
efeitOs de um prOgrama de empregO apOiadO na funçãO inflamatória de pessOas cOm transtOrnOs mentais
daiana mello alves¹Jerri luiz ribeiro ²Jéssica nunes da silva ³Jordana lectzow de Oliveira 4
luciane carniel Wagner5
¹Acadêmica de Psicologia do Centro Universitário Metodista do IPA e Membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Inclusão.
²Doutor em Ciências do Movimento Humano, Profes-sor e Pesquisador no Centro Universitário Metodista IPA.
³Acadêmica de Psicologia do Centro Universitário Metodista do IPA, bolsista de Iniciação Científica da FA-PERGS e Membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Inclusão.
4Bacharel e Licenciada Plena em Enfermagem e Obs-tetrícia, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mes-tranda em Biociências e Reabilitação do Centro Universi-tário Metodista do IPA e bolsista do Programa CAPES/PROSUP. Membro do Núcleo de Estudos em Saúde Men-tal e Inclusão.
5Mestre e Doutora em Psiquiatria, Pesquisadora e Pro-fessora do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista do IPA. Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Inclusão em Saúde Mental.
resumOIntrodução: A esquizofrenia é uma doença heterogê-
nea, caracterizando-se por um conjunto de manifesta-ções clínicas e psicológicas. Vem-se estudando desequilí-brios no sistema imune de pacientes esquizofrênicos e nota-se ostatus pró-inflamatório que pode estar envolvi-do na fisiopatologiadesta doença mental. O emprego apoiado busca a equiparação de oportunidades, o Projeto Capacitar dedica-se a este processo. Objetivo: Avaliar o impacto de um programa de emprego apoiado na reação inflamatória de pessoas com esquizofrenia. Metódos: Es-tudo quantitativo que acompanha 21 sujeitos esquizofrê-nicos no processo de emprego apoiado. Foram avaliados ao ingressar e realizarão nova avaliação após um ano. Se-rá realizada dosagem sérica de citocinas, especificamente as IL-1β (Interleucina Um Beta) e TNF-α (Fator de Necrose Tumoral Alfa).Os dados serão analisados com o auxílio de SPSS. Resultados: O estudo está em andamento, mas já foi identificada uma população com comorbidades clíni-cas; a maioria dos sujeitos é do sexo masculino 60%, com média de 34 anos ; 90% não possui relacionamento con-jugal e 78% depende financeiramente da família. Conclu-
sões: O perfil sociodemográficoaproxima-se àquele des-crito na literatura. Fica a expectativa quanto à compara-ção proposta no estudo, na hipótese de que o trabalho apoiado reduza a resposta inflamatória dos sujeitos.
Descritores: esquizofrenia, emprego apoiado, citoci-nas.
intrOduçãOA esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena,
caracterizada pela perda do contato com a realidade. A pessoa pode ter alucinações e delírios ouvindo vozes que ninguém mais escuta.É um grave transtorno psíquico que pode acometer pessoas das mais variadas idades, culturas e extratos sociais. Os subtipos da esquizofrenia são defi-nidos com base na sintomatologia predominante e se ca-racterizam como: paranoide, hebefrênica e catatônica, além das formas atípicas da doença. O processo de desen-volvimento da esquizofrenia pode ser gradual, lento, que nem mesmo o paciente e a família deste, toma conheci-mento da evolução do caso. O período entre a normalida-de e a doença desencadeada pode levar meses. No entan-to, existem pacientes que desenvolvem rapidamente a esquizofrenia, e em questão de dias ou semanas já apre-sentam alguma sintomatologia. É um transtorno mental bastante frequente (acometendo cerca de 1% da popula-ção mundial).
Apesar desta alta predominância, pessoasportadoras de esquizofrenia participam pouco da vida social. Devido aos sintomas e do estigma, o mais comum é que mante-nham um padrão de isolamento e pobreza no funciona-mento social¹. O sedentarismo, portanto, é uma realidade quase inevitável para estes sujeitos, que, junto ao uso de medicamentos antipsicóticos, costuma resultar em dis-túrbios metabólicos que podem reduzir e comprometer sua qualidade de vida. Vemos o quão é desafiador para essas pessoas com o transtorno a participação da vida em sociedade, pois a esquizofrenia causa muito sofrimento ao paciente e as pessoas a sua volta.
A reinserção social no mercado de trabalho é um re-curso utilizado para a promoção da saúde mentale com isso, o emprego apoiado busca o acesso e a equiparação de oportunidades, de modo que qualquer indivíduo te-nha possibilidade de participar do mercado de trabalho², melhorando a saúde dessas, ajudando-os a produzir sua autonomia. O Projeto Capacitar se dedica à inclusão de pessoas com transtornos mentais graves e de longa evo-lução no mercado de trabalho. Como existe a lei de cotas para pessoas com deficiência, esses sujeitos são incluí-dos nas empresas, entendendo-se que possuem defici-ência “psicossocial”. O projeto tem sua divulgação nos meios de comunicação e começa com a seleção dos su-jeitos, que mais tarde são capacitados para o trabalho; após, realizam um estágio, ao final do qual podem ou
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
54
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
não ser contratados em definitivo pela empresa. Em to-das as etapas há remuneração.
Acreditamos assim, que a inserção no mercado de tra-balho pode beneficiar a melhora da saúde promovendo a autonomia de pessoas com esquizofrenia, além de trazer benefícios relacionados à saúde física. A prática laboral geraria benefícios similares ao da atividade física ou do exercício físico para a função pró-inflamatória. Em espe-cial, o presente estudo se interessa pelos efeitos que o trabalho pode exercer na reação inflamatória do cérebro dessas pessoas com esquizofrenia. Ao longo dos últimos 20 anos, um grande número de estudos apontou para de-sequilíbrios no sistema imune de pacientes que sofrem dessa doença. Também, tem-se mostrado que a psicose e a disfunção cognitiva associadas com a esquizofrenia es-tão ligadas a doenças autoimunes. O status pró-inflama-tório do sistema imune dispõe esses sintomas e pode es-tar envolvido na fisiopatologia dessa doença mental. Em se tratando de esquizofrenia, tem-se observado um cres-cente número de dados que mostram modificações do sistema imune em pacientes com essa doença. Entretan-to, antes de abordar as mudanças do sistema imune em relação à esquizofrenia, é importante conhecer, em linhas gerais, os componentes principais desse sistema no corpo humano. A defesa do corpo ante os microrganismos en-volve a participação de componentes celulares e humo-rais. Nesse aspecto, existem as defesas inatas e as adap-tativas. A defesa inata, que é a primeira linha de defesa, compreende monócitos/ macrófagos, granulócitos, célu-las natural killers, proteínas de fase aguda e sistema do complemento. Já a defesa adaptativa compreende linfó-citos T e B e os produtos destes últimos, os anticorpos. Também fazem parte da defesa adaptativa os linfócitos T auxiliares Th1 e Th2, que estão diretamente relacionados com a produção de interleucinas (IL-2, IL-4, IL-6 e IL- 10), fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e interferon-γ.
Notou-se um aumento do sistema imune de IL-1β no fluido cerebral de pacientes em primeiro episódio de esqui-zofrenia.. O desenvolvimento cerebral é também conheci-do por ser regulado por agentes pró-inflamatórios. A es-quizofrenia parece estar relacionada com um desequilíbrio nos níveis de citocinas, provocando supressão de alguns fatores e ativação de outros. Atualmente, pesquisas abor-dando o papel da neuroinflamação na esquizofrenia estão ganhando muita evidência. Considera-se neuroinflamação a ativação de células da micróglia, as células inflamatórias residentes no cérebro, podendo também envolver outras células linfoides que se infiltrem no cérebro.
métOdOsEstudo longitudinal, quantitativo e comparativo, que
acompanha um grupo de sujeitos com esquizofrenia (de longa evolução) em seu processo de inclusão no ambiente
laboral, na cidade de Porto Alegre/RS. Participam da pes-quisa, 21 sujeitos que no ano de 2015 ingressaram no Pro-jeto Capacitar.
Para participar do estudo, foram estabelecidos alguns critérios: os sujeitos devem ser portadores de um transtor-no mental grave e de longa evolução; devem ter acima de 18 anos; estar em tratamento médico e medicamentoso regular para o seu transtorno mental (comprovado através de atestado fornecido por seu médico); não estar em crise psicótica; não estar fazendo uso de álcool e outras drogas; não estar aposentado por invalidez ou auxílio-doença; re-conhecer-se e aceitar-se como portador de transtorno mental e, manifestar o desejo/ter projeto pessoal de incluir--se pela via do trabalho. Foram excluídos do estudo aqueles que desistiram de participar ou, que em algum momento, apresentaram sintomas da patologia que os atrapalhasse no seguimento no contexto do Projeto Capacitar.
Os sujeitos foram avaliados no momento um (M1), ao ingressar no Projeto (março do presente ano), e realizarão nova avaliação no momento dois (M2), um ano após, quando terão concluído um período de capacitação e es-tágio em uma empresa conveniada e habilitada para par-ticipar do Projeto. A avaliação que pretende atingir o ob-jetivo do estudo, inclui a análise da função pró-inflamató-ria desses sujeitos, através da coleta de sangue para do-sagem sérica de citocinas, especificamente as IL-1β (Inter-leucina Um Beta) e TNF-α (Fator de Necrose Tumoral Al-fa). Para todos os testes será estabelecido nível de signi-ficância de 5% (p<0,05). Os dados serão analisados com o auxílio do software SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) versão 17.0 para Windows.
resultadOsOs resultados apresentados são parciais, pois a pes-
quisa está sendo desenvolvida. Os dados da avaliação ini-cial (M1) permitiram identificar uma população previa-mente sedentária e com sobrepeso. São sujeitos predo-minantemente do gênero masculino (60%), adultos jo-vens (média de 34 anos de idade); 90% não possui relacio-namento conjugal e 78% depende financeiramente da família, sendo os demais, recebedores de uma bolsa auxí-lio governamental.
discussãOO contato inicial com os participantes revela que o
grupo é motivado para o trabalho e com grandes expec-tativas relacionadas à atividade laboral. O perfil sociode-mográfico se aproxima àquele descrito na literatura para sujeitos com este transtorno. Fica a expectativa quanto à comparação proposta no estudo, inclusive relacionada às repercussões que a inclusão laboral trará para a vida pes-soal e social dos sujeitos, e principalmente, em sua função endotelial.
55
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
referênciasWAGNER, L.C. et al. Existential questions in schizophre-nia: perception of patients andcaregivers. Journal of pu-blic health, v. 45, n.2, p. 401-408, 2011.
Scielo. níveis séricos de iL-6, iL-10 e TnF-α em pacien-tes com transtorno bipolar e esquizofrenia: diferenças no equilíbrio pró e anti-inflamatório. Revista Brasileira
de Psiquiatria, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516--44462011000300010&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Aces-so em 17/09/2015.
Scielo. esquizofrenia: uma doença inflamatória?2010. Disponível em: www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v59n1/v59n1a08.pdf. Acesso em 18/10/2015.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
56
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
sucO de uva BrancO: uma alternativa aO BenefíciO da saúde humana
Elenara Simoni Kovaleski¹Luciana Kneib Gonçalves¹Marina Frusciante¹Aimée Souto Ferreira¹Luana Barboza¹Amanda Silva¹Claudia Funchal¹Caroline Dani¹.1Laboratório de Bioquímica, Centro de Pesquisa, Cen-
tro Universitário Metodista, do IPA, Porto Alegre, RS, Bra-sil. Endereço para correspondência: Elenara Simoni Kova-leski. E-mail: [email protected]
resumOIntrodução: A viticultura foi introduzida no Brasil atra-
vés dos primeiros imigrantes europeus.O Rio Grande do Sul é o estado responsável por grande parte da produção brasileira. Existem dois tipos de produção de videiras, a chamada orgânica e convencional. A orgânica denomina--se pela não utilização de agrotóxicos, enquanto que a convencional é caracterizada pelo cultivo com aplicação destes. As principais variedades de suco de uva originam--se a partir de uvas Vitis labrusca, como das variedades Rose (Goethe), Bordô, Isabel e Concord (tintas), Niagara branca e Moscato (brancas).Objetivos: O objetivo deste trabalho foi revisar os principais benefícios descritos na literatura do suco de uva branco à saúde.Métodos: Foi re-alizado estudo de revisão bibliográfica mediante busca de artigos científicos e a consulta baseou-se em bases de banco de dados de artigos científicos como Science Di-rect, Scielo e Pubmed. Resultados:O suco de uvas brancas e tintas, cultivada sem a presença de agrotóxicos, apre-sentou uma concentração significativamente maior de compostos fenólicos em sua composição, caracterizando um elevado potencial antioxidante. Em estudoin vitro, observou-seque o sucos de uva branca são capazes de me-lhorar o dano oxidativo causado pela indução de estresse oxidativo com azida sódica em córtex cerebral de ratos. Já com otetracloreto de carbono (CCl4), ocorreu a inibição-da atividade da enzima creatina quinase (CQ) no hipocam-po e no córtex cerebral, não alterando a atividade desta enzima no cerebelo. Conclusão:Podemos concluir que o suco de uva branco possui propriedades benéficas ao ser humano, por ser rico em polifenois e compostos antioxi-dantes. A sua ingesta diária pode contribuir na redução do risco de desenvolvimento de doenças por exercerem um efeito protetor sobre danos oxidativos induzidos por radi-cais livres presentes em tecidos e células.
Descritores: Suco de uva branco, Estresse oxidativo.
intrOduçãOA viticultura, nomenclatura dada a produção de uvas,
foi introduzida no Brasil por volta de 1532, através dos pri-meiros imigrantes europeus. As primeiras mudas de videi-ras como o cultivares de Vitis vinifera foram trazidas ao Brasil pelo imigrante Martim Afonso de Souza e plantada em locais onde o clima mais se parecia com a região de origem. Anos depois, a viticultura expandiu-se para outras regiões, sempre com cultivares de Vitis vinifera proceden-tes de Portugal e da Espanha. (EMBRAPA, 2001).Atual-mente, a viticultura no Brasil ocupa uma área de 81 mil hectares desde a região sul até a região nordeste. O Rio Grande do Sul é o estado responsável pela produção de cerca de 777 milhões de quilos de uva anualmente. Produ-zindo em média 330 milhões de litros de vinho, mais espe-cificamente na Serra Gaúcha, região que possui um solo propício para o cultivo de algumas variedades devido seu teor de acidez elevado. Outras regiões vêm se destacando na viticultura, uma delas é a região do Vale de São Fran-cisco, em Pernambuco,sendo responsável por 95% das exportações de uva no Brasil. A exportação da uva produ-zida no Brasil se dá em maioria para os Estados Unidos e para União Européia, correspondendorespectivamen-tea75% e 12% da produção total. (MINISTÉRIO DA AGRI-CULTURA, 2015).
No Brasil, existem dois tipos de produção de videiras, a chamada orgânica e convencional. A orgânica denomi-na-se pela ausência de agrotóxicos, enquanto que a con-vencional é caracterizada pelo cultivo com aplicação de agrotóxicos. (DANI et al., 2007; IBRAVIM, 2015). As princi-pais variedades de suco de uva existentes na produção Brasileira originam-se de uvas conhecidas como america-nas e híbridas, a partir de uvas Vitis labrusca, como das variedades Rose (Goethe), Bordô e Concord (tintas), Nia-gara branca e Moscato (brancas), estas relacionadas a produção de vinho e suco de uva branco. (DANI et al., 2007; IBRAVIN, 2015).Essa variedade foi introduzida na produção devido sua resistência a algumas doenças fún-gicas que se predominava em outras espécies como as videiras do cultivar Vitis vinífera, passando assim a formar a base da produção vitícula brasileira. (ABE et al.,2007; IBRAVIN, 2010).
O Brasil é um dos países que mais se destaca no cultivo dessas espécies de uva em escala comercial. Atualmente, há três principais tipos de sucos de uva sendo produzidos e comercializados, o tinto, rose e o branco. (IBRAVIN, 2015).A variedade Bordô pertencente a espécie Vitis la-brusca L. é a mais utilizada na produção de vinhos e suco de uva por apresentar elevado teor de matéria corante em sua casca. (PACHECO, 1999). A variedade de uva Niágara Branca, conhecida popularmente como uva branca, che-gou ao Brasil por volta de 1894, e se expandiu ganhando escala comercial nos estados de Minas Gerais, Santa Cata-
57
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
rina e o Rio Grande do Sul. Pertencente a variedade Vitis labrusca, é muito resistente a doenças fungicas, por isso, é facilmente encontradas no cultivo doméstico. O suco é produzido através do aquecimento dos grãos da fruta, sem adição de outros ingredientes, garantindo um suco total-mente natural e de alto valor nutritivo. (IBRAVIN, 2015).
O consumo da uva e seus derivados, incluindo o vinho tinto e suco de uva tinto pode auxiliar no combate da agre-gação plaquetária, inibindo-a. (STEIN et al., 1999). Com-parado com o vinho, o suco de uva torna-se melhor alter-nativa de consumo de compostos fenólicos, pela ausência de alcooól, permitindo o consumo por crianças, idosos e gestantes. (ROMERO-PÉREZ et al., 1999; MCPHEE; GA-NONG, 2007).Dentre as alternativas de consumo de com-postos fenólicos está o suco de uva branco,estudos com sucos de uvavem mostrando que uma dieta rica em poli-fenóis vêm contribuir para prevenção risco de doenças cardiovasculares, neurodegerativas, câncer e diabetes devido aos polifenóis que exercem um efeito protetor so-bre danos oxidativos induzidos pelos radicais livres que estão presentes nas células e nos tecidos. (SANTOS et al., 2013; ONGARATTI et al., 2014; GIACOPPO et al., 2015). O objetivo deste trabalho foi revisar os principais benefícios descritos na literatura do suco de uva branco à saúde.
métOdOsFoi realizado um estudo de revisão bibliográfica me-
diante busca de artigos científicos e a consulta baseou-se em bases de banco de dados de artigos científicos como Science Direct, Scielo e Pubmed, buscando através das se-guintes palavras-chaves, isoladamente ou relacionadas en-tre si: suco de uva branco, estresse oxidativo e seus respec-tivos termos em inglês. Também foram utilizados livros e sites especializados e a busca de dados foi limitada na lín-gua inglesa e portuguesa e os artigos analisados foram se-lecionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
resultadOs e discussãOO suco de uva possui propriedades benéficas ao ser
humano, por ser rico em polifenois e compostos antioxi-dantes. Estas substâncias são encontradas nos diferentes tipos de uva e podem ser classificados em flavonoides (ca-tequina, quercetina, antocianinas, procianidinas e epica-tequinas) e os não-flavonoides (ácidos fenólicos, que são os derivados de ácidos cinâmico e benzoico), e os estilbe-nos, dentre estes o resveratrol, que possui ação antioxi-dante, anticancerígena, antiaterogênica e apoptótica. (SOLEAS; DIAMANDIS; GOLDBERG, 1997; ANGELO; JORGE, 2007).
Conforme estudosidentificaram que o suco de uva or-gânico de uvas brancas e tintas da espécie Vitis labrusca, cultivada sem a presença de agrotóxicos ou outro agente químico, apresentou uma concentração significativamen-
te maior de compostos fenólicos em sua composição, ca-racterizando um elevado potencial antioxidante. (DANI et al., 2007; TOALDO et al., 2015).
Corroborando isso, estudos vêm comprovando os be-nefícios do suco de uva branco a saúde. De acordo com o estudo deSantos e colaboradores (2013), no suco de uva branco orgânico foram encontrados um percentual signi-ficamente maior de compostos fenólicos totais em rela-ção ao suco de uva convencional. Em consequência disso, o suco de uva orgânico é mais eficaz na proteção de danos em tecidos. Estas lesões causadas pelo estresse oxidativo aumentam os níveis da enzima lactato desidrogenase (LDH), presente em organismos e suco de uva orgânico preveniu o aumento desta enzima no grupo que sofreu estresse oxidativo através da azida sódica.
Resultados semelhantes foram encontrados em estu-do realizadoin vitro, quando foi apresentado que o sucos de uva branca tanto orgânico ou convencional são capa-zes de melhorar o dano oxidativo causado pela indução de estresse oxidativo com azida sódica em córtex cerebral de ratos. Observou-se que as propriedades antioxidantes presentes na uva são responsáveis pela eliminação de ra-dicais livresin vitro, gerando um efeito fisiológicobenéfico aos seres humanos. (ONGARATTI et al., 2014). O tetracloreto de carbono (CCl4), potente droga hepato-tóxica, inibiu a atividade da enzima creatina quinase (CQ) no hipocampo e no córtex cerebral de ratos, não alterando a atividade desta enzima no cerebelo. Porém, os sucos de uvas brancos tanto orgânico como convencional, são ca-pazes de prevenir a diminuição da atividade desta enzima no hipocampo e córtex cerebral de ratos. (GABARDO et al., 2015).
Dani e colaboradores (2012) avaliaram os minerais (Mg, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Si, S, Cl) do suco de uvatinto (Bor-do) e branco (Niagara), relacionando sua atividade antio-xidante e propriedades mutâgenica ou antimutâgenica-dos sucos na levedura Saccharomyces cerevisiae. A con-centração de minerais nas duas variedades foi semelhan-te, com exceção do cálcio e cobre, a variedade roxatinha mais concentração de cálcio, enquanto que a variedade branca mais concentração de cobre. As duas variedades de suco, roxo e branco, apresentaram atividade antioxi-dante e antimutâgenica em S. Cerevisiae, impedindo o dano oxidativo induzido por peróxido de hidrogênio.
O estudo de Andreucci e colaboradores (2015) avaliou o efeito do suco de uva branca da variedade Vitis vinifera(WGJe)no túbulo proximal renal humano. A nefro-toxidade induzida é considerado um problema clínico im-portante, resultando em 12% dos casos de lesão renal aguda adquiridos em hospitais. As células foram tratadas com contraste radiológico (RCM) diatrizoato de sódio.O tratamento de células HK-2 com diatrizoato de sódio cau-sou uma drástica diminuição na viabilidade celular. Po-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
58
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
rém, o pré-tratamento comWGJe e diatrizoato melhorou significamente a viabilidade celular. Por isso, WGJe pode aliviar a toxicidade ocasionada pela indução de RCM atra-vés da modulação das moléculas de sinalização, respon-sáveis pela sobrevivência e morte celular.
cOnclusãOPodemos concluir que o suco de uva orgânico branco
e tinto possuem um percentual significamente maior de compostos fenólicos totais em relação ao suco de uva con-vencional, por ser mais efetivo na proteção do dano oxi-dativo em tecidos. Isto se deve,devido ao modo de culti-voda uva orgânica, fazendo com que possua maior quan-tidade de compostos fenólicos em sua composição e con-sequentemente uma maior capacidade antioxidante.Posteriormente, a ingestão diária de suco de uva branco pode contribuir na redução do risco de desenvolvimento de doenças por exercerem um efeito protetor sobre danos oxidativos induzidos por radicais livres presentes em teci-dos e células.
referênciasABE, L.T.; DA MOTA, R.V.; LAJOLO, F.M.; GENOVESE, M.I. Compostos fenólicos e capacidade antioxidante de culti-vares de uvas Vitis labrusca L. e Vitis vinifera L. food scien-ce and technology, Campinas, v. 27, n. 2, p.394-400, 2007.
ANDREUCCI, M, et al. Reversal of radiocontrast medium toxicity in human renal proximal tubular cells by white grape juice extract. chemico-Biological interactions, n. 229, p. 17-25, 2015.
ANGELO, P.M.; JORGE, N. Compostos fenólicos em ali-mentos – Uma breve revisão. rev. inst. adolfo lutz, 66(1): 1-9, 2007.
DANI, C.; OLIBONI, L.S; BONATTO, D.; VANDERLINDE, R.; SALVADOR, M; HENRIQUES, J.A. Phenolic content and antioxidant activities of white and purple juices man-ufactured with organically-produced grapes. food and chemical toxicology, v.45, n.12, p. 2574-2580, 2007.
DANI, C, et al. Mineral content is related to antioxidant and antimutagenic properties of grape juice. genetics and molecular research. v. 11, n.3, 3154-3163, 2012.
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pequisa Agropecuária. A vitivinicultura brasileira: realidade e perspectivas (2001) Disponível em: <http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/artigos/vitivinicultura> Acessado em: 15 de se-tembro de 2015.
GABARDO, T. et al. Assessment of changes in energy me-tabolism parametersprovoked by carbon tetrachloride in Wistar rats and theprotective effect of white grape juice. toxicology reports, n.2, p.645-653, 2015.
GIACOPPO, S. et al. Neuroprotective effects of a polyphe-nolic white grape juice extract in a mouse model of ex-perimental autoimmune encephalomyelitis. fitoterapia. n. 103 p.171–186, 2015.
IBRAVIN. Instituto Brasileiro de Vinho. Regiões Produtoras (2010). Disponível em: <http://www.ibravin.org.br/regioes-produtoras.php > Acesso em: 02 de outubro de 2015.
IBRAVIN. Instituto Brasileiro de Vinho.100% Suco de Uva do Brasil. Disponível em: <http://www. sucodeuvadobra-sil.com.br/variedades > Acessado em: 02 de outubro de 2015.
MCPHEE, J.S.; GANONG, W. F. fisiopatologia da doença: uma introdução à medicina clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGram-Hill, 2007.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Culturas – uva (2015). Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/uva> Acesso em: 02 de outubro de 2015.
ONGARATTI, B.R; et al. Antioxidant and Neuroprotective Effect of Organic and Conventional White Grape Juices on Oxidative Stress Induced by Sodium Azide in Cerebral Cor-tex of Rats. european Journal of nutrition & food safe-ty, 4(4): p. 592-603, 2014.
PACHECO, A.O. introdução à enologia. 2. ed. São Paulo: Senac, 1999.
ROMERO-PÉREZ, A.I.; IBERN-GÓMES, M.; LAMUELA-RAVENTÓS, R.M.; TORRE- BORONAT, M.C. Piceid, the major resveratrol derivative in grape juice. Journal of agricultural and food chemistry, v. 47, p. 1533-1536, 1999.
SANTOS, T.O; MEDEIROS, N; DANI, C; FUNCHAL, C. Efei-to Neuroprotetor do suco de uva branco sobre a viabilida-de celular do córtex cerebral de ratos. resBcal, São Paulo, v.2 n.3, pg. 176-184, 2013.
SOLEAS, G.J, DIAMANDIS, E.P, GOLDBERG, D.M. Resve-ratrol: a molecule whose time has come? And gone? clin. Biochem. 30, p. 91–113, 1997.
STEIN, J.H.; KEEVIL, J.G.; WIEBE, D.A.; AESCHLIMANN, S.; FOLTS, J.D. Purple grape juice improves endothelial function and reduces the susceptibility of LDL cholesterol to oxidation in patients with coronary artery disease. cir-culation, v. 100, p. 1050-1055, 1999.
TOALDO, I.M. et al.Bioactive potential of vitis labrusca l. grape juices from the southern region of brazil: phenolic and elemental composition and effect on lipid peroxida-tion in healthy subjects. food chemistry. v. 173 p. 527-535, 2015.
59
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
carBOnilas: uma BOa técnica para medir OxidaçãO de prOteínas?
Marina Rocha Frusciante¹Paula Moretto¹Luciana Kneib Gonçalves¹Aimée Souto Ferreira¹Elenara Kowaleski¹Manuela Santos¹Tatiane Gabardo¹Alexandre Mello¹Jéssica Pereira Marinho¹Caroline Dani¹Claudia Funchal¹
1Laboratório de Bioquímica, Centro de Pesquisa, Cen-tro Universitário Metodista - IPA, Porto Alegre, RS, Brasil. Autor correspondente: [email protected].
resumOO estresse oxidativo é definido como a situação na
qual a formação de espécies reativas excede significativa-mente a capacidade de defesa antioxidante e de reparo do organismo, tendo como consequência o aumento de danos a biomoléculas como ácidos nucléicos, lipídios e proteínas. Existem vários biomarcadores para o estudo do estresse oxidativo como carbonilas protéicas, nitro-tirosi-na, produtos de peroxidação lipídica e bases de ácido de-soxirribonucleico (DNA) oxidadas. O conteúdo de carbo-nilas de uma proteína é amplamente utilizado como mar-cador de dano oxidativo em proteínas, sob condições de estresse oxidativo. Todos os aminoácidos são susceptíveis à oxidação, principalmente os aromáticos, que são os al-vos preferidos de ataque. Existem, portanto, muitos me-canismos para oxidação de proteínas e, ao mesmo tempo, muitas substâncias passíveis de tal modificação, sendo que a oxidação direta de lisina, arginina, prolina e treonina fornece derivados carbonílicos.
Descritores: Radicais livres; Proteínas, Estresse oxida-tivo, Técnicas.
intrOduçãOO estresse oxidativo é considerado o desequilíbrio en-
tre oxidantes e antioxidantes, podendo causar danos celu-lares (SIES, 1993). É causado tanto por uma superprodução de pró-oxidantes quanto por uma deficiência no sistema de antioxidante, que pode causar prejuízos a lipídeos, proteí-nas e ácidos nucléicos (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000; HALLIWELL, 2009). Com este desequilíbrio pode ocorrer uma aceleração na velocidade de produção de espécies re-
ativas e radicais livres e desequilíbrio na atividade das enzi-mas antioxidantes (HALLIWELL, 2009;SIES, 1993).
Diversos fatores são capazes de causar danos oxidati-vos às células, desde alterações enzimáticas até mesmo hábitos alimentares, sedentarismo, entre outros fatores(PAWLAK et. al, 1998; AMES; SHIGENAGA; HA-GEN,1993).Além disso, estudos demonstram que altera-ções oxidativas nas células estão relacionadas com doen-ças degenerativas, problemas pulmonares, doenças car-diovasculares e também diversos tipos de câncer (WITZ-UM, 1994; ROY; KULKARNI, 1996; STAHL; SIES, 1997; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000).
Por outro lado, as espécies reativas e radicais livres apresentam importante papel no sistema imunológico, apresentando ação bactericida e fungicida (VALKO et al., 2007). Portanto, o equilíbrio entre efeitos nocivos e bené-ficos das espécies reativas e radicais livres é um aspecto importante a ser estudado devido ao fato destas molécu-las estarem implicadas em um grande número de doenças em seres humanos. Este equilíbrio é feito através de me-canismos chamados de regulação redox, que protegem o organismo do estresse oxidativo e mantém a homeostase redox (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; DROGE, 2002).
Entende-se como radical livre uma estrutura que pos-sui elétrons não emparelhados nas suas últimas camadas, fazendo com que estes sejam altamente reativos e com meia vida curta (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). Estas estruturas são formadas a partir de uma reação de óxido--redução, doando um elétron solitário, desta forma oxi-dando-se ou recebendo um elétron e reduzindo-se. Esta configuração faz dos radicais livres moléculas muito rea-tivas, instáveis e com meia-vida curta. Reagem de forma rápida e inespecífica, podendo danificar o ácido desoxirri-bonucleico (DNA), proteínas, carboidratos e lipídeos (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; SHAMI; MOREIRA, 2004; SIES, 1993).
As organelas citoplasmáticas que metabolizam o oxi-gênio, o nitrogênio e o cloro são a principal fonte de radicais livres e espécies reativas. Do ponto de vista biológico, os espécies reativas mais importantes são as derivadas do oxi-gênio, chamados de espécies reativas de oxigênio (ERO) e as derivadas de nitrogênio, chamadas de espécies reativas do nitrogênio (ERN) (COHEN, 1989; ANDERSON, 1996; SHAMI; MOREIRA, 2004; VASCONCELOS et al., 2007).
Estas espécies reativas são bastante conhecidas por sua dupla atuação, uma vez que podem ser nocivas ou be-néficas para os sistemas vivos (VALKO et al., 2007). Os efeitos benéficos das ERO ocorrem em algumas funções fisiológicas como respostas celulares, como por exemplo, na defesa de algum agente infeccioso ou sinalização celu-lar em diversos sistemas. O efeito nocivo destas espécies reativas é bastante conhecido por estes causarem danos biológicos de alto potencial em diversos sistemas, sendo
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
60
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
assim o efeito nocivo causado por elas é denominado co-mo estresse oxidativo (VALKO et al., 2007).
Existem diversas formas de ERO, mas a principal e que se encontra em maior abundância nas células é o radical ânion superóxido (●O2
-), que possui uma baixa capacidade de oxidação. Outras formas de ERO muito importantes são: radical hidroxila (●OH-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), que não é considerado uma radical livre, mas este tem capacidade de atravessar a membrana e atingir o nú-cleo, danificando por meio de reações enzimáticas a mo-lécula de DNA (ANDERSON, 1996). Dentre as principais ERN estão o óxido nítrico (NO●-), óxido nitroso (N2O3), áci-do nitroso (HNO2) os nitritos e nitratos (NO2
- e NO3-) e os
peroxinitritos (●ONOO-) (BARREIROS et al., 2006; DRÖ-GE, 2002).
Devido a grande quantidade de espécies reativas pro-duzidas durante os processos metabólicos existem meca-nismos de defesa antioxidantes importantes para a prote-ção e a redução das lesões causadas por estes nas células (SIES, 1993). Portanto, define-se como um antioxidante, qualquer substância que atrasa, impede ou elimina os da-nos oxidativos para uma molécula-alvo (GUTTERIDGE; HALIWELL, 2010).Estas ações dos antioxidantes podem ser alcançadas através de diversos mecanismos, como, por exemplo, impedimento de formação de espécies rea-tivas ou radicais livres, ou reparando estruturas biológicas que sofreram lesões, como um sistema de reparo (KOU-RY; DONANGELO, 2003; CLARKSON, 2000).
Dentre os principais antioxidantes enzimáticos estão as enzimas superóxido dismutase (SOD), glutationapero-xidase (GPx), glutationaredutase (GR), glutationatransfe-rase (GT) e catalase (CAT). Os antioxidantes não enzimáti-cos dividem-se em dois grupos: os hidrossolúveis, repre-sentados por GSH, melatonina, metalotioneínas e ácido ascórbico (vitamina C), e os lipossolúveis, representados por alfa-tocoferol (vitamina E), tocotrienois, ubiquinonas e carotenoides (MEISTER,1993; BABIOR, 1997; HALLI-WELL; GUTTERIDGE, 2007; PUNCHARD; KELLY, 1996).
Para avaliação de danos causados pelo estresse oxida-tivo existem algumas técnicas específicas para cada dano celular. Assim, este trabalho tem como objetivo revisar uma técnica de estresse oxidativo muito utilizada em la-boratórios para medir asproteínas modificadas oxidativa-mente, carbonilas proteicas.
métOdOsFoi realizado um estudo de revisão bibliográfica me-
diante busca de artigos científicos e a consulta baseou-se em bases de banco de dados de artigos científicos como Science Direct, Scielo e Pubmed, buscando através das seguintes palavras-chaves, isoladamente ou relacionadas entre si: carbonilas proteicas, danos oxidativos, estresse oxidativo e proteínas e seus respectivos em inglês. Tam-
bém foram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os artigos analisados fo-ram selecionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
resultadOs e discussãOPara avaliação do nível de peroxidação lipídica empre-
ga-se a técnica a qual utiliza as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA-RS) entretanto, para medir os níveis de proteínas modificadas oxidativamente, comu-mente utiliza-se a técnica de carbonilas proteicas, a qual se baseia na reação com a dinitrofenilidrazina (DNPH)(LE-VINE et al., 1990). Além destas, para análise de danos a porção antioxidante não enzimática, se utiliza a técnica de sulfidrilas totais, a qual fornece uma ideia do nível de ata-que oxidativo a proteínas, sendo o teor de grupamentos sulfidrilas inversamente relacionado ao dano às proteínas. Outras medidas de dano oxidativo muito empregadas em diversos laboratórios são as medidas de espécies reativas específicas e NO.
Quando se utilizam biomarcadores do dano oxidativo à proteínas, os grupos carbonilasse destacam, pois são os de maior relevância(VINCENT; INNES; VINCENT, 2007). A origem destes, se dá a partir da ação das espécies reativas sobre as cadeias laterais dos aminoácidos, ou mediante a ligação de glicose e aldeídos. Sendo assim, os grupos car-bonilas não são biomarcadores específicos do dano oxida-tivo das proteínas (LEVINE, 2002; DALLE-DONNE et al., 2003; HALLIWELL; WHITEMAN, 2004). Por meio da oxi-dação ou das ligações, os grupos carbonilas são introdu-zidos à estrutura da proteína, tendo como resultado a per-da de sua função biológica (ZITNANOVA et al., 2007).
O dano oxidativo das proteínas constitui um processo complexo, pois se tratam de 20 aminoácidos diferentes que podem ser oxidados, de diferentes formas, por dife-rentes espécies reativas. Em relação aos biomarcadores de danos oxidativos das proteínas, os grupos carbonilas consistem o de maior relevância(VINCENT; INNES; VIN-CENT, 2007; BUSS et al., 1997; MAYNE, 2003; HALLI-WELL; WHITEMAN, 2004). Em química orgânica, carbo-nila é um grupo funcional constituído de um átomo de carbono e um de oxigênio, ligados por ligação dupla, que entra na composição de aldeídos, cetonas, ácidos carbo-xílicos, ésteres, haletos ácidos e amidas. Os grupamentos carbonilas serão formados a partir da oxidação dos resí-duos de proteínas que contenham os aminoácidos: lisina, arginina, prolina e treonina. Diferentemente dos grupa-mentos sulfidrilas, que vão medir a oxidação dos resíduos de cisteína(AKAIKE, 2000; SCHACTER, 2000; BERLETT; STADTMAN, 1997).
Dentre as técnicas de aferição dos grupos carbonilas, as colorimétricas se destacam como as mais convencio-nais. Esta técnica tem como fundamento, mensurar o da-
61
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
no oxidativo às proteínas, pela determinação dos grupos carbonil e é baseado na reação com a DNPH, de acordo com Levine e colaboradores (1990). A DNPH reage com as carbonilas de proteínas para formar hidrazonas produzin-do cor avermelhada que pode ser medida espectrofoto-metricamente. Entretanto, a DNPH identifica carbonila não distinguindo se é aldeído ou cetona. Porém, as técni-cas colorimétricas se demonstram dispendiosas, visto que seu emprego requer utilização de grandes quantidades de solventes e proteínas, às vezes mais do que está disponível nas amostras biológicas. Além disso, são demoradas e re-querem bastante habilidade do técnico e, possuem outra limitação, seus resultados possuem grande variabilidade (BUSS et al., 1997; MARANGON; DEVARAJ; JIALAL, 1999).
Diante das desvantagens e limitações descritas, uma alternativa é o emprego de imunoensaios enzimáticos (ELISA). Tal técnica é mais sensível e tem maior poder dis-criminatório, além de poupar tempo e material, porém seu custo é maior. Na técnica de ELISA, procede-se à rea-ção dos grupos carbonilas com o DNPH, sendo os com-postos resultantes (hidrazonas), detectados por anticor-po específico (anti-DNPH) e quantificados pela compara-ção com a curva padrão de albumina bovina sérica oxida-da. A quantificação de grupos carbonilas no padrão de albumina bovina sérica oxidada se dá por meio de colori-metria ou espectrofotometria (BUSS et al., 1997; DAVIES et al., 2001;MARANGON; DEVARAJ; JIALAL, 1999).Além do ELISA, outra técnica de alta sensibilidade é a HPLC. Tal técnica procederia à separação dos compostos hidrazona, resultantes da reação entre os grupos carbonila e o DNPH, seguido da sua quantificação por um detector espectrofo-tométrico acoplado (ZITNANOVA et al., 2007).
cOnclusãOAs substâncias envolvidas no ambiente redox biológi-
co podem ser quantificadas associando às técnicas bioquí-micas tradicionais, técnicas cromatográficas, espectrofo-tométricas e eletroanalíticas, selecionadas pela observa-ção de critérios de sensibilidade, especificidade, facilida-de de manipulação, rapidez, tipo de amostra, preço, repe-tibilidade, eficiência, entre outros. A determinação dessas substâncias revela-se de grande importância, com pers-pectivas de aplicação clínica para diagnóstico de doenças e do estado geral de saúde do indivíduo. Portanto, obser-vando de modo geral, todas a técnicas descritas, podemos concluir que mesmo a técnica colorimétrica das carbonilas protéicas tendo suas limitações e desvantagens, ainda é a técnica mais utilizada, por ser uma técnica relativamente simples e de baixo custo.
referências AKAIKE, T. Mechanismsofbiological S-nitrosationand its measurement. FreeRadic Res,v.33, n.5, p. 461-469, 2000.
AMES, B.N., SHIGENAGA, M.K., HAGEN, T.M. Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging. procnatlacadsci u s a, v.90, n.17, p.7915-7922, 1993.
ANDERSON, D. Antioxidantdefencesagainstreactiveoxy-genspeciescausinggeneticandotherdamage. mutat res, v. 350, p.103-108, 1996.
BABIOR, B. M. Superoxide: a two-edgedsword. Braz. J. med. Biol, v. 30, p.141-155, 1997.
BERLETT, B. S.; STADTMAN, E. R. E.ProteinOxidation in Aging, Disease, andOxidative Stress. J. Biol.Chem., v.272, p. 20313-20316, 1997.
BARREIROS, A. L. B. S.; DAVID, J. M.; DAVID, J. P.; Estres-se oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. química nova, v.29, n.1, p.113-123, 2006.
BUSS, H.; CHAN, T. P.; SLUIS, K. B.; DOMIGAN, N. M.; WINTERBOURN, C. C. Proteincarbonylmeasurementby a sensitive ELISA method. freeradic. Biol. med., v. 23, n. 3, p. 361-366, 1997.
CLARKSON, P.M, Thompson HS. Antioxidants: what role do they play in physical activity and health? am J clinnu-tr , 2000; 72(2): 637-46.
COHEN M.V. Free radicals in ischemic and reperfusion myocardial injury: is this time for clinical trials? ann in-ternmed,1989; 111: 918-31.
DALLE-DONNE, I.; GIUSTARINI, D.; COLOMBO, R.; ROS-SI, R.; MILZANI, A. Proteincarbonylation in humandi-seases. trends mol. med., v. 9, n. 4, p. 169-176, 2003.
DAVIES, S. M.; POLJAK, A.; DUNCAN, M. W.; SMYTHE, G. A.; MURPHY, M. P. Measurementsofproteincarbonyls, or-tho- and meta-tyrosineandoxidativephosphorylation-complexactivity in mitochondriafromyoungandoldrats. freeradic. Biol. med., v. 31, n. 2, p. 181-190, 2001.
DRÖGE, W. Free radicals in the physiological control of cell function. physiolrev, v.82, p.47-95, 2002.
GUTTERIDGE, J. M. C.; HALLIWELL, B. Antioxidants: Mol-ecules, medicines, andmyths.Biochem. cellBiol, v. 393, p. 561-564, 2010.
HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J. M. C.; freeradicBio-lmed, 4th ed.; Oxford University Press: Oxford, 2007.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
62
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
HALLIWELL, B. Freeradicalsandantioxidants: a per-sonalview. nutr ver., v. 52, p. 253-265, 2009.
HALLIWELL, B.; WHITEMAN, M. Measuringreactives-peciesandoxidativedamage in vivo and in cellculture: howshouldyou do it andwhat do theresultsmean? Br. J. pharmacol., v. 142, n. 2, p. 231-255, 2004.
KOURY, J. C.; DONANGELO, C. M. Zinco, estresse oxida-tivo e atividade física. rev nutr. v.16, n.4, p.433-41, 2003.
LEVINE, R.L., et al. Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins. methods enzymol. v. 186, p. 464– 478, 1990
LEVINE, R. L. Carbonylmodifiedproteins in cellularregula-tion, aging, anddisease. freeradic. Biol. med., v. 32, n. 9, p. 790-796, 2002.
MARKESBERY, W.R., CARNEY, J.M. Oxidativealterations in Alzheimer’sdisease. BrainPathol., p. 133-146, 1999.
MARANGON, K.; DEVARAJ, S.; JIALAL, I. Measuremen-tofproteincarbonyls in plasma ofsmokersand in oxidized LDL byan ELISA. clin.chem., v. 45, n. 4, p. 577-578, 1999.
MAYNE, S. T. Antioxidantnutrientsandchronicdisease: use ofbiomarkersofexposureandoxidative stress status in epidemiologicresearch. J. nutr., v. 133, p. 933S-940S, 2003. Supplement 3.
MEISTER, A.; ANDERSON, M.E. Glutathione. Annu. rev. Biochem. 52: 711-60, 1983.
GOSTNER, J.M.; BECKER, K.; FUCHS, D.; SUCHER R. Red-ox regulationoftheimmune response. redox rep. v.18, p 88-94, 2013.
shacter, E. Quantificationandsignificanceofproteinox-idation in biologicalsamples. DrugMetab. Res., v.32, p. 307-326, 2000.
SHAMI, N. J. I. E.; MOREIRA, E. A. M. Licopeno como agente antioxidante. revnutr, v.17, p. 227-36, 2004.
SIES, H. Strategies of antioxidant defence. Review. eur J Biochem. v.215, n.2, p.213-219, 1993.
SIES, H.; STAHL, W. Vitamins E and C, β-carotene, and other carotenoids as antioxidants. am j clinnutr. v.62, n.6, p.1315-1321, 1995.
PAWLAK, W.; KEDZIORA, J.; ZOLYNSKI, K.; KEDZIORA - KONATOWSKA, K.; BLASZCZYK, J.; WITKOWSKI, P. Free radicals generation by granulocytes from men during bed rest. J gravitphysiol, n.5, p. 131-132, 1998.
PUNCHARD, N.A ; KELLY, F.J; Free Radicals: A Practical Approach. Oup, 1996.VALKO, M.; LEIBFRITZ, D.; MON-COL, J.; CRONIM, M. T.; MAZUR, M.; TELSER, J.Freeradi-calsandantioxidants in normal physiologicalfunction-sandhumandisease. int. J. Biochem, v. 39, p.44-84, 2007.
VASCONCELOS, S. M. L.; GOULART, M. O. F.; MOURA, J. B. F.; BENFATO, M. S.; MANFREDINI, V.; KUBOTA, L. T. Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, antioxidan-tes e marcadores de dano oxidativo em sangue humano: Principais métodosanalíticos para sua determinação. química nova, v. 30, p. 1323-1338, 2007.
VINCENT, H. K.; INNES, K. E.; VINCENT, K.R. Oxidative stress andpotentialinterventionstoreduceoxidative stress in overweightandobesity. diabetes Obes. metab., v. 9, n. 6,p. 813-839, 2007.
ZITNANOVA, I.; SUMEGOVA, K.; SIMKO, M.; MARUNIA-KOVA, A.; CHOVANOVA, Z.; CHAVKO,M.; DURACKOVA, Z. Proteincarbonyls as a biomarkeroffoetal-neonatal hyp-oxic stress. clin.Biochem., v. 40, n. 8, p. 567-570, 2007.
63
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
assOciaçãO da creatina aO treinamentO de fOrça
marcele ramires policarpo¹*rafaela liberali²marcello mascarenhas³
¹Mestranda CAPES - Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista -IPA
² Mestre/Educadora Física Universidade do Estado de Santa Catarina.
³Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Bio-ciências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista -IPA
*Centro Universitário Metodista – IPA. Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 - Rio Branco, Porto Alegre - RS, Brasil, CEP 90420-060. Contato: (51) 96206966. Ende-reço de e-mail: [email protected]
resumOO uso da creatina vem crescendo largamente nos úl-
timos anospor apresentar efeito ergogênico. Para otimi-zar o desempenho esportivo, retardando o início da sen-sação de fadiga, é indicada a suplementação de creatina em exercícios de alta intensidade e curta duração.O obje-tivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos ergogênicos da suplementação de creatina no treinamento de força. No processo meto-dológico, foram realizadas buscas em bases de indexação de artigos, a partir de descritores em português, espanhol e inglês. Após o processo de seleção e eliminação automá-tica, ficaram 166 estudos. No processo de seleção e elimi-nação manual, foram selecionados 12 estudos que aten-diam rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão. A creatina é um dos suplementos que vem demonstrando eficácia no desenvolvimento de aptidões físicas como o ganho de força e potência muscular. Embora haja contro-vérsias, a suplementação de creatina vem apresentando resultados no que diz respeito ao aumento da força máxi-ma, ganho de massa muscular, diminuição de fadiga e melhora no desempenho físico dos atletas.
Descritores: Creatina, Suplementação de creatina, Treinamento de força.
intrOduçãOO uso da creatina vem crescendo largamente nos últi-
mos anos. A creatina é utilizada em exercícios anaeróbicos, justamente por apresentar efeito ergogênico (NABHOLZ, 2007). Por ano, são vendidos nos Estados Unidos 100 mi-lhões de dólares em creatina (AOKI, 2004). Essa amina ab-sorvida na ingestão de alimentos (principalmente carnes)
e suplementos alimentares é também sintetizada pelo or-ganismo humano, sendo os estoques totais da creatina de 120g (WILLIAMS, KREIDER, BRANCH, 2000).
A creatina,em sua forma fosforilada, fornece para a cé-lula muscular uma reserva de energia para rápida regene-ração do trifosfato em adenosina (ATP) (PERALTA, AMAN-CIO, 2002). A suplementação dessa amina torna acelerado e eficiente o processo de ressíntese de ATP. Nos primeiros 10 segundos de exercício físico intenso a creatina é a prin-cipal molécula de ressíntese de ATP (INÁCIO et al., 2008).
Para otimizar o desempenho esportivo, retardando o início da sensação de fadiga, é indicada a suplementação de creatina em exercícios de alta intensidade e curta du-ração (MENDES, TIRAPEGUI, 2002). O aumento do volu-me de água intracelular decorrente da suplementação aguda com creatina pode rapidamente elevar o ganho de força e de massa muscular. Esses efeitos geralmente es-tão associados a melhorias no desempenho físico (CRU-ZAT et al., 2007).
Como não apresenta efeito no aumento de massa gor-da, a suplementação de creatina pode induzir ganho de peso pelo aumento de massa magra (ARAÚJO, MELLO, 2009). Por ter sua eficácia conhecida em exercícios de alta intensidade e curta duração, indivíduos fisicamente ativos e atletas fazem o uso oral dessa amina (ALTIMARI, 2009). Sabendo que a energia proveniente da nossa alimentação é armanezada nas moléculas de ATP (reservatório de energia) é importante ressaltar que a creatina é responsá-vel pelo efeito tampão, evitando a fadiga em treinamen-tos de força (ROSSI, TIRAPEGUI, 1999).
O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sis-temática sobre os efeitos ergogênicos da suplementação de creatina no treinamento de força.
prOcedimentOs metOdOlógicOsUtilizou-se como metodologia a revisão sistemática
da literatura, que identifica, seleciona e avalia criticamen-te pesqui sas consideradas relevantes, para dar suporte teórico-prático para a classificação e análise da pesquisa bibliográfica (LIBERALI, 2011).
O âmbito da pesquisa se deu nas bases de indexação U.S. National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual em saúde (Bireme), National Library of Medicine (PubMed - base multidisciplinary norte-americana), Literatura Lati-no-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).
Selecionaram-se trabalhos pelo título, resumo e sua pertinência ao objetivo da pesquisa, sem restrição ao tipo de estudo, forma de apresentação e idioma. Dessa forma selecionou-seproduções científicas que abordassem al-gum elementodo uso da creatina no treinamento de força,estudos publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanholaentre os anos de 2004 a 2014.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
64
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Dentre os166 estudos identificados nas fontes de pesquisa, foram eliminados60por não atenderem aos critérios de inclusão. A leitura na íntegra dos estudos revelou que a utilização dos descritores“exercício aeróbico”, “crianças”abordou como população estudada, praticantes de exercício físico aeróbico e crianças.Assim, após leitura na íntegra e análise do total de trabalhos pré-selecionados,12 estudos constituíram a amostra final dessa revisão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados dos estudos que investigaram os possíveis efeitos ergogênicos da suplementação de creatina no trei-
namento de força estão descritos abaixo e sintetizados na Tabela 1.
tabela 1. Características dos 12 estudos incluídos na revisão sobre creatina no treinamento de força
Estudo Sujeito (N)/Idade (anos)
Grupos(G)
MetodologiaResultados
Aoki,2004
21 homens/ 20-35 anos
GI: grupo controleGII: grupo suple-mentado com crea-tina
GI: 20 g de maltodextrina du-rante 5 dias. Após, 2 g de car-boidrato por dia durante 7 dias.GII: 20 g de creatina, durante 5 dias. Após = 2g de creatina por dia.
GII: ↑ na capacidade máxima com intervalo superior a 60 segundos.
Altimari et al., 2006
26 homens/ 18- 30 anos
GI: grupo controleGII: grupo suple-mentado com crea-tina
GI: 20 g de maltodextrina. Após, 3 g de carboidrato por dia.GII: 20 g de creatina, durante 5 dias. Após = 3g de creatina por dia associado a 250 mL de bebidas carboidratadas
GII: melhor desempenho fí-sico em esforços repetidos de alta intensidade e curta duração.
Cribb e Hayes 2006
23 homens/21-24 anos
GI: Consumo de ptn /creatina/ glico-seimediatamente antes e depoisdo exercício resistido.GII: mesmo consu-mo manhã e noite.
GI: 1g/kg/peso contendo proteína /creatina/ glicosei-mediatamente antes e depoi-sexercício resistido.GII: mesma dosedo suple-mentode manhãe à noite.
GI: ↑ massa corporal total ↑massa magra ↑1RM aga-chamento ↑1RM supino ↑1RM levantamento terra
Batista et al.,2007
20 homens/ 20-30 anos
GE: grupo experi-mental (creatina)GC: grupo controle (placebo)
GE: 20 g de creatina durante 6 dias. Após = 5g de creatina por 2 semanas GC: Não suplementou
GE: ↑ massa corporal, peri-metria do braço direito e tó-rax ↓ % de gordura (signifi-cativo) GC: ↑ perímetros ↓ % de gordura(não significativo)GE e GC: ↑ na força máximaGE: + eficiente
Cribb, Williams e Hayes 2007
31 homens/±25 anos
GI: proteína. GII: proteína e car-boidrato. GIII: pro-teína, carboidrato e creatina.
GI: 1,5g/PTN (whey iso)/kgGII: 1,5g/kg 50% whey iso + 50% glucoseGIII: 1,5g/kg 50% whey iso + 50% glucose + creatina mono
GII e GIII ↑ ganhos de massa corporal; GIII: ↑ ganho de secção transversa fibras Tipo II e força e massa magra.
65
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Donatto et al., 2007
10 homens/ 18 - 25 anos
Pré e Pós suple-mentação aguda de creatina
4 doses de 5g de creatina com uma fonte de carboidra-tos, durante 5 dias.
↑ não significantes estatisti-camente: peso e massa muscular. ↓Porcentagem de gordura e massa de gordura sem diferenças estatistica-mente significantes.
Souza et al.,2007
18 homens/ 19- 25 anos
GA: grupo suple-mentado com crea-tina GB: grupo controle
GA: 30 g de creatina mono, durante 7 dias. Após = 5g de creatina por 4 semanas GB: 30 g de maltodextrina. Após, 5 g de carboidrato.
GA e GB: alterações signifi-cantes em todos os exercí-cios GA: ↑ massa magra e delta de força
Cooke et al.,2009
14 homens/±22 anos
GI: creatina e car-boidrato GII : carboidrato
GI:1ºs 5dias: 1,5g/kg do suple-mento (0,3g de creatina/kg) Após o exercício 0,5g/kg do suplemento e recuperação 14 dias: 0,1g/kg de creatina GII: mesmas doses com glu-cose.
GI: ↑ forçade extensão do jo-elhodurante a recuperação da lesão muscular induzida pelo exercício.
Hunger et al. 2009
27 homens/±22,6 anos
GI: placebo GII: creatina sem saturação GIII: creatina com saturação
GI: 20g de amido nos 1ºs 5 dias; após: 5g.GII: 5g de creatina + 15g de amido nos 1ºs 5dias; após :5g de creatina. GIII: 20g de creatina nos 1ºs 5 dias; após: 5g de creatina.
GII e GIII: ↑ na força máxima, na massa corporal e massa magra.
Molina, Rocco e Fontana 2009
20 homens/ 18 -34 anos
GI: grupo experi-mental (creatina)GII: grupo controle (placebo)
GI: 0,3g/kg de creatina 3x ao dia em 250mL de bebida car-boidrataGII: 0,3g/kg de placebo 3x ao dia em 250mL de bebida car-boidrata
GI: ↑ Potência anaeróbia pi-co e instante da potência pi-co ↓ índice de fadiga GII: não apresentou diferenças signi-ficantes.
Medeiros et al., 2010
27mulheres/20 - 27 anos
GI: grupo creatinaGII: grupo placebo
GI: 20g de creatina, adminis-tradas em 04 partes iguais (5g) a cada 04h pelo período de 6 dias;GII: 20g de maltodextrina ad-ministradas em 04 partes iguais (5g) a cada 04h pelo período de 6 dias;
GI: ↑ significativo na força;GII: não demonstrou altera-ções significativas em seus valores.
Silveiraet al., 2014
32 homens/ 18 - 30 anos
GI: grupo creatinaGII: grupo glutaminaGIII: grupo placebo
GI: 1ª semana: 0,3g de creati-na/kg/peso; 12 semanas se-guintes: 0,03 g/kg;GII: 1ª semana: 0,3g de gluta-mina/ kg/peso; 12 semanas seguintes: 0,03 g/kg;GI: 1ª semana: 0,3g de amido de milho/ kg/peso; 12 sema-nas seguintes: 0,03 g/kg
Não foram encontrados efeitos ergogênicos com a suplementação por 03 me-ses de creatina e glutamina em policiais militares sobre as seguintes variáveis: capa-cidade aeróbia, capacidade anaeróbia, força muscular nos membros superiores e inferiores, flexibilidade e re-sistência muscular local.
Estudo Sujeito (N)/Idade (anos)
Grupos(G)
MetodologiaResultados
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
66
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
treinamentO de fOrça, creatina e rela-çãO cOm Os estudOs de campO
Dos estudos analisados, 100% classificavam-se como experimentais. Todos os estudos apresentaram popula-ção adulta e amostra da maioria fisicamente ativa (AOKI, 2004; SOUZA et al., 2004; BATISTA et al., 2007; HUGNER et al., 2009; DONATTO et al., 2007; CRIBB, WILLIAMS, HAYES, 2007; CRIBB e HAYES, 2006; MOLINA, ROCCO, FONTANA, 2009; MEDEIROS et al., 2010; SILVEIRA et al., 2014), sendo apenas dois estudos com população seden-tária (ALTIMARI et al., 2006; COOKE et a.l, 2009). A faixa etária média dos 10 estudos foi de 18 a 35 anos (AOKI, 2004; ALTIMARI et al., 2006; SOUZA et al., 2007; BATISTA et al., 2007; HUGNER et al., 2009; DONATTO et al., 2007; CRIBB, WILLIAMS, HAYES, 2007; CRIBB e HAYES, 2006; MOLINA, ROCCO, FONTANA, 2009; COOKE et a.l, 2009; MEDEIROS et al., 2010; SILVEIRA et al., 2014).
Quanto aos objetivos destes estudos, podem ser as-sim resumidos: avaliar a duração do intervalo de recupe-ração durante o exercício de força (AOKI, 2004); investi-gar o efeito de 08 semanas de suplementação com cre-atina em esforços intermitentes no cicloergômetro (AL-TIMARI et al., 2006); examinaros efeitos do tempo da suplementação, em comparação com a suplementação-nas horasnão perto do treinona fibra muscular hipertro-fiada, força e composição corporaldurante um programa deexercício resistido. (CRIBB, HAYES, 2006); avaliar o efeito da suplementação de creatina nas variáveis antro-pométricas e na resultante força máxima (BATISTA et al., 2007); examinaros efeitos da creatina monoidratada contendo suplementação de proteína e carboidrato em comparação comsuplemento contendoquantidade si-milar deenergiasobre a composição corporal, força mus-cular e hipertrofia (CRIBB, WILLIAMS, HAYES, 2007); analisar os efeitos da suplementação aguda de creatina sobre a composição corporal e sua influência no ganho de força (DONATTO et al., 2007); analisar as alterações através da suplementação de creatina nas variáveis an-tropométricas e força máxima dinâmica (SOUZA et al., 2007); investigar osefeitos da suplementação decreati-nana recuperação de danosinduzido pelo exercícioque leva areduções na forçamuscular apóslesão (COOKE et a.l, 2009); investigar osefeitos da suplementação de cre-atina com ou sem saturação e treinamento de força so-bre a composição corporal e força máxima (HUGNER et al., 2009); investigar os efeitos da suplementação aguda com creatina no desempenho da potência anaeróbia de atletas de elite do mountain bike (MOLINA, ROCCO, FONTANA, 2009); analisar os efeitos da suplementação de creatina sobre a força isométrica máxima de mulhe-res fisicamente ativas, fazendo uso do eletromiograma como uma estratégia para a confirmação das mudanças de desempenho observadas (MEDEIROS et al., 2010);
analisar o efeito da suplementação com creatina e glu-tamina sobre a aptidão física de policiais militares (SILVEIRA et al., 2014).
Dos doze estudos analisados, quatro aplicaram ques-tionários aos participantes (AOKI, 2004; ALTIMARI et al., 2006; CRIBB, WILLIAMS, HAYES, 2007; MEDEIROS et al., 2010). Dois estudos avaliaram o peso corporal e o valor de 1-RM (AOKI, 2004; COOKE et al., 2009); Dois estudos ava-liaram o peso corporal em balança de plataforma digital e estatura por estadiômetro de madeira (ALTIMARI et al., 2006; MOLINA, ROCCO, FONTANA, 2009); Dois estudos avaliaram o peso corporal em balança mecânica, estatura por estadiômetro, dobras cutâneas por adipômetro, cir-cunferência por fita métrica (SOUZA et al., 2007; DONAT-TO et al., 2007); Um estudo avaliou o peso corporal em balança eletrônica, estatura por fita métrica, dobras cutâ-neas por adipômetro, circunferência por fita métrica (BA-TISTA et al., 2007); Um estudo avaliou o peso corporal em balança mecânica e dobras cutâneas por adipômetro (HUGNER et al., 2009); Um estudo avaliou o peso corporal em balança digital, estatura por estadiômetro e dobras cutâneas por adipômetro (MEDEIROS et al., 2010); Dois estudos avaliaram a composição corporal por DEXA, bióp-sia e o valor de 1-RM (CRIBB, WILLIAMS, HAYES, 2007; CRIBB, HAYES, 2006); Um estudo avaliou o desempenho físico, através da capacidade aeróbica avaliado pelo do teste de Cooper, capacidade anaeróbia, avaliado através do shuttle run, força muscular de membros superiores avaliada por flexões,força muscular de membros inferio-res avaliada por salto horizontal e flexibilidade pelo teste de sentar e alcançar(SILVEIRA et al., 2014).
Dos doze estudos, onze apresentaram aspectos posi-tivos ou neutros como: aumento de massa muscular, re-dução do percentual de gordura corporal e aumento de força máxima. O efeito dos programas de exercícios fo-ram positivos, mostrando-se eficiente para o aumento de massa muscular e aumento de força máxima. Em um es-tudo não foram encontrados efeitos ergogênicos com a suplementação de creatina sobre força muscular nos membros superiores e inferiores, flexibilidade e resistên-cia muscular local.
A suplementação com creatina promoveu alterações fisiológicas e bioquímicas positivas no organismo, propi-ciando melhoras no rendimento físico e desportivo. Essas alterações são encontradas nas variáveis antropométri-cas (IMC e Massa Corporal) e no aumento da resultante de força máxima. (SOUZA JUNIOR et al., 2007). Segundo COOKE et al., (2009), a retomada mais rápidada força após lesão se dá pela suplementação decreatina antes e durante a recuperaçãodo treino, permitindo umamaior carga detreinamento nas sessões de treinamentosubse-qüentes, resultando emmaiores ganhosde massae força.
67
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
cOnclusãODe acordo com os artigos analisados, a suplementa-
ção de creatinamelhora o desempenho físico e aumen-taa força em exercícios de curta duração e alta intensi-dade, por conta do seu efeito ergogênico.Observou-se, além disso, que o aumento nos estoques de creatina in-tramusculares faz com que a suplementação deste tri-peptídeo se torne uma boa estratégia para a melhora no desempenho físico, uma vez que se pode potencializar a rápida regeneração do ATP e consequente produção de energia. Os artigos revisados apontam que a suplemen-tação de creatina tem um efeito positivo na recuperação de lesões, aumento de massa magra e aumento de força. Sugere-se que em estudos futuros sejam avaliados pos-síveis efeitos colaterais do uso dessa amina.
referências ALTIMARI, L. et al. Efeito de oito semanas de suplemen-tação com creatina monoidratada sobre o trabalho total relativo em esforços intermitentes máximos no cicloergô-metro de homens treinados. rev. Bras. de ciência far-macêuticas, São Paulo, Vol. 42 Num. 2. abr./jun., 2006.
AOKI, M. Suplementação de creatina e treinamento de for-ça: efeito do tempo de recuperação entre as séries. rev. Bras. ci. e mov. ,Brasília, v.12, n.4, p.39-44, dez. 2004.
ARAÚJO, M.; MELLO, M.; Exercício, estresse oxidativo e suplementação com creatina. rev. Bras. de nutrição es-portiva, São Paulo, v.3, n.15, p. 264 – 272, mai./jun.,2009.
BATISTA, J. et al.Suplementação de creatina e treinamen-to de força: alterações antropométricas e na resultante força máxima. rev. ele. saúde e ciência, Goiânia v.12, n.5, jun./jul. 2007.
COOKE, M. et al. Creatine supplementation enhances muscle force recovery after eccentrically-induced muscle damage in healthy individuals. Journal of the interna-tional society of sports nutrition, Melbourne, 2009.
CRIBB, P.; HAYES, A.; Effects of Supplement Timing and Resistance Exercise on Skeletal Muscle Hypertrophy, med-icine & science in sports & exercise, Melbourne, 2006.
CRIBB, P.; WILLIAMS, A.; HAYES, A. A creatine-protein-carboydrate supplement anhances responses to resis-tance training, medicine & science in sports & exercise, Melboune, 2007.
CRUZAT, V. et al.Aspectos atuais sobre estresse oxidativo, exercícios físicos e suplementação. rev. Bras. med. es-porte, São Paulo, v.13, n.5, set./out. 2007.
DONATTO, F. et al. Efeito da suplementação aguda de cre-atina sobre os parâmetros de força e composição corporal de praticantes de musculação. rev. Bras. de nutrição es-portiva, São Paulo v. 1, n. 2, p. 38-44, Mar/Abril, 2007.
HUNGER, M. et al. Efeitos de diferentes doses de suple-mentação de creatina sobre a composição corporal e for-ça máxima dinâmica. rev. da educação física, Maringá, v. 20, n. 2, p. 251-258, 2. trim. 2009
INÁCIO, F. et al. Levantamento do uso de anabolizantes e suplementos nutricionais em academias de musculação. movimento e percepção, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, v.9, n.13, Jul./Dez.2008.
MEDES, R.; TIRAPEGUI, J. Creatina: o suplemento nutri-cional para a atividade física – Conceitos atuais. archivos latinoamericanos de nutricón, Caracas, v.52, n.2, su-pl.2, jun. 2002.
MEDEIROS, R. et al. Efeitos da Suplementação de Creati-na na Força Máxima e na Amplitude do Eletromiograma de Mulheres Fisicamente Ativas.rev. Brasileira de medi-cina do esporte. Niterói. Vol. 16. Num. 5. 2010. p. 353- 357.
MOLINA, G. et al, Desempenho da potência anaeróbia em atletas de elite do mountain bike submetidos à suplemen-tação aguda com creatina. rev. Brasileira de medicina do esporte, Niterói, Vol. 15. Num. 5. Set/Out, 2009.
NABHOLZ, T. nutrição esportiva: aspectos relaciona-dos à suplementação nutricional. 1ª edição. São Paulo: Sarvier, 2007.
PERALTA, J.; AMANCIO, O. A creatina como suplemento ergogênico para atletas. rev. nutr., Campinas, v.15, n.1, p.83-93, jan./abr. 2002.
ROSSI, L.; TIRAPEGUI, J. Aspectos atuais sobre exercício físico, fadiga e nutrição. rev. paul. educ. fís., São Paulo, v. 13, n.1, p. 67-82, jan./jun. 1999.
SOUZA JUNIOR, T. et al.,Suplementação de creatina e treinamento de força: alterações na resultante de força máxima dinâmica e variáveis antropométricas em univer-sitários submetidos a oito semanas de treinamento de força (hipertrofia). rev. Bras. med. esporte, São Paulo, v.13, n.5, set./out. 2007.
SILVEIRA, C. et al., Is long term creatine and glutamine supplementation effective in enhancing physical perfor-mance of military police officers? Journal of human Ki-netics, v.43, p.131-138. 2014.
WILLIAMS, M.; KREIDER, R.; BRANCH, J. creatina. 1ª edi-ção. São Paulo: Manole, 2000. 258p.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
68
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O usO de BiOindicadOres para avaliar Os impactOs nO ecOssistema aquáticO: uma revisãO
Juliana davello Oliveira lima1
thiago souza de noronha1
thaiane gomes1 milene v. panazzola1
emerson andré casali2
marcello ávila mascarenhas1
valesca veiga cardoso1
1Laboratório de Mutagênese e Toxicologia, Centro Universitário Metodista - IPA, Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado 80, CEP 90420-060, Bairro Rio Branco, Porto Ale-gre, RS
2Laboratório de Estudos Sobre as Alterações Celulares e Teciduais, Departamento de Ciências Morfológicas, ICBS, UFRGS, Rua Sarmento Leite 500, CEP 90050-170, Bairro Farroupilha, Porto Alegre, RS, Brazil. E-mail: [email protected]
resumOAtualmente o uso de bioindicadores tem se mostrado
de extrema importância para realizar o monitoramento do ecossistema aquático marinho frente as causas polui-doras mais comuns. Como é um método bastante utiliza-do o monitoramento ambiental nos mostra uma análise muito confiável que tem enorme importância, pois nos permite ver indicativos dos impactos gerados aos ecossis-temas. Este resumo tem como objetivo apresentar uma análise de alguns bioindicadores utilizados para avaliação do impacto ambiental em recursos hídricos. Foi realizada uma pesquisa para relatar o uso de diferentes espécies mostrando sua eficácia no monitoramento de diversos agentes poluidores, como resultado foram encontrados diversos estudos que utilizaram espécies animais como bioindicadores, concluindo assim que a utilização dos mesmos mostrou eficácia ao realizar o monitoramento do ecossistema e qualidade e preservação das espécies.
Descritores: Monitoramento ambiental, Ecossistema aquático, Bioindicadores.
intrOduçãOO desenvolvimento tecnológico e o crescimento po-
pulacional têm causado nos ecossistemas aquáticos em todo mundo alterações em diferentes graus e formas em consequência das intensas atividades antrópicas (DORN-FELD et al., 2004).
A década de 70 foi marcada pelo início da maioria das primeiras leis de controle a poluição e das leis ambientais, estas leis postulam que uma substância é considerada po-
luente se apresenta qualquer efeito adverso à saúde hu-mana. Logo após, nasceu também o interesse pela con-servação e sustentabilidade dos ecossistemas. No Brasil os primeiros testes de toxicidade ligados ao ambiente iniciaram nos meados da década de 80 (VALENT, 1998). As toxicidades de agentes poluentes no meio hídrico são avaliadas por meio de ensaios toxicológicos com organis-mos representativos da coluna d’água ou dos sedimentos de ambientes hídricos (SILVA, et al, 2003; ZAGATTO; BERTLETTI, 2006).
As populações humanas necessitam para sua sobrevi-vência dos recursos hídricos, quer seja para lazer ou extra-ção de recursos através de plataformas de pesca. Para a atividade de pesca que tem uma suma importância sócio-econômica para diversas famílias o ecossistema marinho necessita ser um ambiente ausente de contaminantes que possam causar prejuízos à saúde da população. Como é um método bastante utilizado o monitoramento ambien-tal nos mostra uma análise muito confiável que tem enor-me importância, pois nos permite ver indicativos dos im-pactos gerados aos ecossistemas.
Bioindicadores caracterizam-se espécies, comunida-des biológicas ou grupos de espécies onde sua presença ajuda no monitoramento ambiental de um ecossistema aquático (CALLISTO; GONCALVES, 2002). Muitos orga-nismos têm um grande potencial para bioconcentrar ní-veis elevados de metais a partir de seu ambiente. Nos úl-timos anos monitorar ambientes aquáticos com bioindi-cadores tem tido um enorme interesse nos monitoramen-tos ambientais (HODA et al, 2007).
O nível de compostos xenobióticos no ecossistema ma-rinho vem aumentando significativamente nos últimos anos, resultado de atividades antropogênica sobre o meio.
Figura 1: Degradação ambientalAdaptado: GOULART; CALLISTO, 2013
metOdOlOgiaO procedimento metodológico utilizado constituiu-se
de três etapas, compostas por: definição do tema aborda-do, material para a pesquisa e a junção dos trabalhos para a adequação das informações adquiridas. Estudos abor-
69
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
dando o uso de bioindicadores para o monitoramento aquático, de maneira geral, são abundantes na literatura. O estudo foi baseado em teses de mestrado, monogra-fias, periódicos científicos nacionais e internacionais. Si-tes de consulta como Pubmed e Scielo entre outros foram consultados utilizando as palavras chave descritas no tex-to como bioindicadores, monitoramento e ecossistema aquático. Para uma maior abordagem e otimização dos resultados da pesquisa, as palavras-chave foram consul-tadas também em outros idiomas além do português.
resultadOs e discussãOApesar do uso de indicadores biológicos ainda ser in-
cipiente, o Brasil apresenta um de crescimento e consoli-dação no desenvolvimento de novos métodos e análises biológicos utilizando indicadores biológicos para o moni-toramento ambiental (BUSS, et al 2007; FONSECA, 1991).
De todos os ambientes, os ecossistemas aquáticos são considerados como receptáculos finais de poluentes. A avaliação ambiental do meio hídrico tem recebido muita atenção devido a sua grande importância para a manuten-ção da vida. Existem três tipos de comunidades em am-bientes hídricos, o Plâncton, organismos flutuantes como o fitoplâncton, crustáceos, ctenóforos, medusas, entre outros; o Bento, neste grupo encontramos as algas incrus-tantes como as coralíneas e as calcárias e vários outros ti-pos de invertebrados que vivem em fundos hídricos e no substrato (vermes, equinodermos, crustáceos, moluscos, entre outros) e por fim a comunidade dos Néctons, peixes e os mamíferos marinhos, e alguns tipos de aves e répteis (CALLISTO et al., 2001;). Sendo assim, algumas espécies de peixes têm sido utilizadas como modelos experimentais na detecção dos efeitos de poluentes ambientais em ver-tebrados (KENNEDY, et al., 1995; BERNET, et al., 1999; KIME, 1999; PALHARES; GRISOLIA, 2002). Muitos autores citam graus diferenciados de acúmulo metálico em dife-rentes vísceras. Muitos órgãos, como brânquias, fígado, pele e rins são alvos eleitos para pesquisa de reações histo-patológicas em peixes expostos a poluentes (BERNET, et al., 1999). Repula e colaboradores (2012) demonstraram a eficácia do uso de bioindicadores no monitoramento de metais em peixes de água doce, o estudo mostrou que através da utilização de peixes foi possível monitorar os elementos Cr+ e Pb+ nas águas doces. A espécie de peixe mais utilizada no Brasil em testes de toxicidade é o Danio-rerio, o qual é vulgarmente conhecido como peixe paulisti-nha ou peixe zebra (ABNT, 2004). Em outro estudo Arias e colaboradores estudaram a contaminação do Rio Paraíba do Sul por resíduos agrícolas, utilizando peixes como bio-indicadores (acarás e tilápias).
Cardoso e colaboradores em 2015, avaliando o balanço REDOX em mexilhões Perna perna(Linneus 1758) nas plata-formas de pesca do litoral norte no Rio Grande do Sul, evi-
denciou diferenças entre as pressões ambientais presentes de cada ponto de coleta (Cidreira, Atlântida e Tramandaí) observando também diferenças sazonais, possivelmente ligadas ao aumento populacional durante os meses de ve-rão nestas regiões. Estes estudos ainda são preliminares e mais dados da fisiologia destes animais são necessários pa-ra elucidar a ação antropogênica nestas áreas.
O crustáceos de água doce da ordem Cladocera e do gênero Daphnia, é outro organismo muito usado como indicador já que são abundantes no meio aquático e exer-cem funções importantes na cadeia alimentar. Ocupam diferentes níveis tróficos e, quando cultivadas em labora-tório, apresentam sensibilidade definida às substâncias de referência. É uma das espécies mais usada no mundo para teste de toxicidade devido sua sensibilidade a po-luentes, e por apresentar ciclo curto de vida por se repro-duzir por partenogêneses, sendo de fácil manejo no labo-ratório (ALMEIDA, 1987; MACHADO NETO, et al, 2005; Costa et al, 2008).
As algas são também utilizadas como importantes in-dicadores biológicos pois como são produtores primários, elas estão na base da cadeia alimentar sendo que peque-nas alteração na dinâmica destes organismos podem afe-tar os níveis tróficos superiores do ecossistema aquático. O ciclo de vida relativamente curto e sua ampla sensibili-dade às alterações no meio ambiente são relacionadas como as vantagens em se utilizar estes organismos no monitoramento ambiental possibilitando a observação de efeitos em várias gerações (Cleuvers e Weyers, 2003; Costa et al, 2008).
cOnclusãOEste trabalho apresentou informações importantes
sobre os bioindicadores no meio aquático, demonstrando também a importância da preservação das espécies no ecossistema aquático. Espécies bioindicadoras são im-pactadas por atividades antrópicas, como poluição da água, compactação do solo, mineração, entre outros, e apresentam resposta de forma a permitir a avaliação do impacto causado por essas alterações.
referências ARIAS ARL, BUSS DF, ALBUQUERQUE C, INÁCIO AF, FREIRE MM, EGLER M, et al.(2007) Utilização de bioindi-cadores na avaliação de impacto e no monitoramento da contaminação de rios e córregos por agrotóxicos. ciencs-aude coletiva.12(1):61-72
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Norma Técnica NBR15088, ecotoxicologia aquática - Toxicidade aguda - Método de ensaio com peixes, 2ª. ed., Rio de Ja-neiro, 2004.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
70
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
BERNET, D.; et al.. Histopathology in fish: proposal for a protocol to assess aquatic polution. Journal fish diseases, v. 22, p.25-34, 1999.
CALLISTO, M. & GONÇALVES, J.F.Jr. (2002). A vida nas águas das montanhas. ciência hoje 31 (182): 68-71.
CALLISTO, M., MORETTI, M., GOULART, M. D. C. Ma-croinvertebrados bentônicos como ferramenta para ava-liar a saúde de riachos. revista Brasileira de recursos hídricos, v. 6, n.1, p.71-82. 2001.
CARDOSO,V.C et al. 5º congresso Brasileiro de Biologia molecular marinha, Ipojuca-PE, p. 154, 2015.
CARLA REGINA COSTA; PAULO OLIVII, CLARICE M. R. BOTTAII; EVALDO L. G. ESPINDOLAII. A toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação, química nova vol.31 no.7 São Paulo 2008.
CLEUVERS, M.; WEYERS, A.; Water res. 2003, 37, 2718.DORNFELD, C.B.; PAMPLIN, P.A.Z.; ESPÍNDOLA, E.L.G.; ALVES, R.G.; ROCHA, O. (2004). Composição, distribuição e mudanças temporais da fauna de invertebrados bentô-nicos do reservatório de Salto Grande (Americana, SP). In: Evaldo Luiz Gaeta Espíndola; Maurício Augusto Leite; Ca-rolina BusoDornfeld. (Org.). Reservatório de Salto Grande (Americana, SP): Caracterização, Impactos e Propostas de Manejo. rima. São Carlos. v.1, 221-238pp.
FONSECA, A. L. A biologia das espécies DaphnialaevisCe-riodaphnia silvestres (Crustácea, Cladocera) e Poeciliare-ticulata (Pisces, Poecilidae) o comportamento destes em
testes de toxicidade aquática com efluentes industriais. São Carlos, 1991. 210 p.(Dissertação) Mestrado em Ener-gia e Recursos Naturais, universidade federal de são carlos.
HODA, H. H.; AHDY, A. M.; ALY, A.; FATHY T. T.; EGYPT. journal. aquat. Res. 2007, 33, 85.
KENNEDY, J. H. et al. Model aquatic ecosystems in eco-toxicological research: considerations of design, imple-mentation and analysis. In: Hoffman, D. J.; Rattner, B. A.; Burton, G. A.; Cairns, J (Eds.). Handbook of ecotoxicology. Boca raton : LEWIS, cap.7, 1995.
KIME, D. E. A strategy for assessing the effects of xenobi-otics on fish reproduction. the science of the total en-vironment, 225, p.3-11, 1999.
PALHARES, D.; GRISOLIA, C.K. Comparison between the micronucleus frequencies of kidney and gill erythrocytes in tilapia fish, following mitomicin C treatment. genetic molecular Biology, v. 25 n.3, p.281-284, 2002.
REPULA, C.M.M, CAMPOS, B.K, GANZAROLLI, E.M, LO-PES, M.C, QUINÁIA, S.P (2012) Biomonitoramento de Cr e Pb em peixes de água doce quim.nova vol.35 no.5 São Paulo.
SILVA, J; ERDTMANN, B.; HENRIQUES, F. genética toxi-cológica, Editora Alcance, Porto Alegre/RS, p. 422, 2003.
VALENT, G.U. Histórico da importância e utilização dos testes de genotoxicidade no Brasil. In: congresso de eco-toxicologia. Itajaí-SC, 1998.
71
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
marcadOres BiOlógicOs na dOença pulmOnar OBstrutiva crônica: uma revisãO integrativa
camilla fernanda evaldt da silva1
césar alencar1
mariane Borba monteiro1,2
¹Centro Universitário Metodista-IPA, Porto Alegre.2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre (UFCSPA).
resumOINTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC) é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo, sendo sua gravidadedeterminada pelo volume expirató-rio forçado no primeiro segundo (VEF1). No entanto, exis-tem limitações na utilização de VEF1 para avaliar a condi-ção e progressão da doença, pois a DPOC está associada a manifestações extrapulmonares importantes.Por isto, identificar marcadores para DPOC torna-se importante. OBJETIVO: Verificarquais biomarcadores estão sendo uti-lizados para avaliação da DPOC em fase estável. MÉTO-DO: Foi realizada uma revisão integrativa com seleção de artigos científicos feita por dois pesquisadores, de forma independente e cegada. Os dados relativos aos estudos foram sintetizados na forma de um quadro. RESULTA-DOS: Ao todo, foram selecionados 10 estudos:uma revi-são sistemática e nove estudos observacionais. Os bio-marcadores mais encontrados foram os inflamatórios (n=9), seguido de estresse oxidativo e imunológicos. Os marcadores mais utilizados foram proteína C reativa (PCR) em seis estudos, interleucina-6 (IL-6) e interleuci-na-8 (IL-8) em quatro estudos. Verificou-se resultados discrepantes em relação ao comportamento dos marca-dores na doença. CONCLUSÃO: Os biomarcadores infla-matórios foram os mais investigados.
Descritores: COPD, Stable, biological marker.
intrOduçãOA doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma
doença caracterizada pela destruição do parênquima pul-monar quase irreversível que resulta na limitação do fluxo de aéreo (RABE, KF; 2007). A gravidade da doença é de-terminada de acordo com o grau de limitação do fluxo de aéreo, o qual é mensurado através volume expiratório for-çado no primeiro segundo (VEF1). No entanto, existem várias limitações na utilização de VEF1 para avaliar a con-dição e progressão da doença.Primeiro, a sensibilidade do VEF1 na avaliação da condição diária não é alta. Em segun-do lugar,a exacerbação e a hiperresponsividade brônqui-ca estão associadas com rápido declínio do VEF1, que nem sempre reflete essas condições. Em terceiro lugar, as ma-
nifestações clínicas e os achados radiológicos são variá-veis entre os pacientes com DPOC, mesmo quando o grau de limitação do fluxo aéreo é o mesmo(AGUSTI, A et al.; 2010). Assim, novos biomarcadores para a DPOC podem ser úteis para classificar esses pacientes e auxiliar no prognóstico(TAKAHASHI, H e KUBO, H;2014).
A DPOC está associada a manifestações extrapulmo-nares importantes, incluindo perda de peso, disfunção da musculatura esquelética, doenças cardiovasculares, de-pressão, osteoporose, redução da tolerância ao exercício e mau estado geral de saúde. Embora a patobiologia da DPOC não tenha sido totalmente determinada, a inflama-ção sistêmica tem sido implicada na patogênese da maio-ria destes efeitos sistêmicos a tal ponto que alguns auto-res sugerem que a DPOC é uma parte de uma síndrome inflamatória sistêmica crônica (GARCIA-RIO, F etal., 2010). Entretanto ainda é controverso se a inflamação sis-têmica está presente na DPOC estável, e seé total ou par-cialmente responsável por essas associações(WQ, GAN et al.; 2004). É importante salientar que a DPOC é uma do-ença complexa com envolvimentos de outros marcado-res, como aqueles relacionados ao estresse oxidativo e aspectos imunológicos.
Assim, buscamos realizar uma revisão integrativa com o objetivo de verificar quais biomarcadores estão sendo utilizados para avaliação na DPOC em fase estável.
metOdOlOgiaTrata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre
a utilização de marcadores biológicos na DPOC em fase estável (MENDES, K et al.; 2008).
A questão norteadora adotada para este estudo foi: quais os marcadores biológicos que estão sendo utilizados com o objetivo avaliar na DPOC em fase estável? A seleção dos artigos foi realizada por dois pesquisadores, de forma independente e cegada. Foram usadas as palavras-chave: “COPD, stable e biological marker”, utilizando a conjunção “AND” entre os descritores respectivamente, junto às bases de dados MEDLINE, PUBMED e COCHRANE.
Os estudos incluídos na presente revisão obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: resumo disponível nas bases de dados acima descritas; idioma de publicação por-tuguês, inglês ou espanhol; período de publicação abran-gente entre os anos de 2010 e 2015, revisões sistemáticas de múltiplos estudos clínicos randomizados controlados (padrão Cochrane), pesquisas com delineamento experi-mental, quase-experimental e observacionais, além de temática pertinente à utilização de marcadores biológicos na DPOC, em fase estável. Foram excluídos estudos que se relacionavam com intervenções terapêuticas medica-mentosas ou cujo principal objetivo fosse investigar mar-cadores biológicos de doenças ou comorbidades associa-das à DPOC.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
72
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Os dados relativos aos estudos foram sintetizados na forma de um quadro, contendo: título, autores, delinea-mento do estudo, marcadores biológicos, critériosde in-clusão e exclusão, perfil da amostra, intervenção/ avalia-ção, resultados e conclusões, com a finalidade de propor-cionar uma análise comparativa. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, procedendo-se à categori-zação dos dados extraídos dos estudos selecionados em grupos temáticos, a partir da identificação de variáveis de interesse e conceitos-chave, conforme proposto em lite-
ratura específica acerca de revisão integrativa de literatura(BROOME, 2000).
resultadOsA partir da busca online, foram localizados 197 estu-
dos.Desse total, foram descartados 187 estudos que não atendiam aos critérios de inclusão/exclusão previamente estabelecidos. Ao final foram selecionados 10 estudos (PUBMED -06, COCHRANE- 01 e MEDLINE-03),conforme descrito na figura 1.
Figura 1: Seleção dos artigos
Quanto ao tipo de delineamento dos estudos avalia-dos, evidenciou-se na amostra uma revisão sistemática e nove estudos observacionais.
Foram encontrados os seguintes tipos de biomarca-dores: inflamatório (n=9), imunológico (n=3), toxicidade (n=1), estresse oxidativo (n=3), genético (n=2), hormonal (n=1) e coagulação (n=1).
Os marcadores biológicos investigados nos estudos selecionados foram proteína C reativa (PCR) em seis estu-dos, interleucina-6 (IL-6) em quatro estudos, interleuci-na-8 (IL-8) em quatro estudos, fibrinogênio em três estu-dos, fator de necrose tumoral- alfa (TNFα) em dois estu-
dos, leucócitos em dois estudos, mieloperoxidose em dois estudos,taxa de sedimentação de eritrócitos em um estu-do, sulfeto de hidrogênio (H2S) em um estudo, Glutatio-na-S-Transferase (GST) em um estudo, lipocalina-1 em um estudo, lipocalina-2 em um estudo, leucotrienos B4 em um estudo, macrófagos em um estudo e neutrófilos em um estudo, peptídeo natriurético (NT-proBNP) em um estudo, N- (carboximetil) lisina em um estudo, receptor de produtos finais de glicação avançada (sRAGE)em um estudo, marcador de elastase do neutrófilo (Aα-Val360) em um estudo, alfa1-antitripsina em um estudo.
Os estudos selecionados encontram-se sumarizados no quadro 1.
Quadro 1: Estudos analisados
AUTOR(S) MARCADORES BIOLÓGICOSPERFIL DA AMOSTRA
RESULTADOS
VESTBO et al 2014.
FibrinogênioIL-6IL-8LeucócitosPCRTNFα
2164 DPOC estáveis,337 fumantes e 245 não-fumantes
Heterogeneidade entre os pacientes com DPOC, com correlações pobres entre VEF1, sintomas, qualidade de vida, resultados fun-cionais e biomarcadores.
WANG et al, 2014
IL-6IL-8lipocalinas 1 e 2 ( LCN 1 e 2)PCRTNF-α
58 DPOC estáveis e 29 controles saudáveis
LCN 1 e 2 aumentadas na DPOC e seus níveis se correlacionam comQuestionário de disp-neia modificado do Conselho de Pesquisa Médica Britânica
ZUNTAR et al. 2014
Glutationa S-transferase (GST)
30 DPOC estável e 60 controles saudáveis (19 não-fumantes, 16 ex-fumantes e 25 fumantes atuais)
A DPOC não teve impacto sobre o nível sérico de GST,não houve diferença estatisticamente significativa entre os subgrupos de sujeitos saudáveis.
73
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ZHU et al,2014 Myeloperoxidase (MPO) 24 estudos
Nível maior de MPO no escarro dos pacientes com DPOC em comparação com indivíduos controles, especialmente durante as exacerbações.
FATTOUH e ALKADY, 2014.
FibrinogênioLeucócitos PCR
98 DPOC e 30 indivíduos saudáveis
Leucócitos, PCR e fibrinogênio com aumento significativo empacientes em exacerbação. Aumento dos leucócitos, PCR e fibrinogênio em comparação aos pacientes em exacerbação ao grupo controle.
CARTER et al,2013.
Aα-Val360,
IL-8 Leucotrieno B4 Mieloperoxidase (MPO)PCRα1АТ
38 indivíduos saudáveis e 81 portadores de DPOC
Maior nível de concentração de Aα-Val360 no ínicio da exarcebação comparada ao estado estável, sendo maior no grupo de pacientes com secreção purulenta.Maior∙ concentração de IL-8, α1АТ no grupo escarro purulento.
SAITO et al, 2014
IL-6IL-8Sulfeto de hidrogênio (H2S)Taxa de macrófagos em escarro,Taxa de Neurófilos em escarro
64 DPOC estável, 29 DPOC exacerbados, 14 fumantes e 21 não fumantes.
Níveis de H₂S em escarro na DPOC exacerbada foi maior. Os níveis séricos H₂S em DPOC exacerbado foram menores do que os de DPOC em fase estável.A taxa de H₂S foi positivamente correlacionada com a pontuação do questionário St. George Respiratory, índice de neutrófilos, IL-6 e IL-8 na expectoração e no soro, mas inversamente correlacionada com os macrófagos em escarro.
CHI YOUNG et al,2012.
NT-proBNP
61 DPOC (21 em estágio II, 33 em estágio III e 07 em estágio IV).
Os níveis de NT-proBNP foram significativamente menores nos pacientes de estadiamento II em comparação aos de estadiamento III e IV.Correlação entre NT-proBNP com aumento da pressão arterial pulmonar sistêmica, e com aumento da PaCO2 e diminuição da PaO2.
GOPAL et al,2012
FibrinogênioIL-6, N(carboximetil)lisina (CML)PCRsRage plasmático
146 DPOC (I, II, III e IV) e 81 indivíduos saudáveis.
Os níveis de sRAGE foram menores na DPOC, em relação aos indivíduos saudáveis, especialmente em uso de oxigenoterapia prolongada.Os sRAGE não se correlacionaram com os marcadores inflamatórios.CML foi negativamente correlacionada com fibrinogênio
CORSONELLO et al, 2011
PCRTaxa de sedimentação de eritrócitos (TSE)
223 DPOC estáveis
PCR e a TSE mostraram fraca correlação com a DPOC, enquanto anemia e hipoalbuminemia são os principais correlatos no aumento da TSE. PCR e TSE não se mostraram como marcadores confiáveis na gravidade da DPOC.
Legendas: DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; TSE: taxa de sedimentação de eritrócitos; PCR: Proteína C Rea-tiva; TNFα: Fator de Necrose Tumoral-Alfa; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; LCN: Lipocaína; GST: Glutationa S-transferase; MPO: Myeloperoxidase; Aα-Val360: marcador de elastase do neutrófilo; α1АТ: alfa1-antitripsina; H2S: Sulfeto de hidrogênio; IL-6: Interleucina 6; IL-8: Interleucina 8; NT-proBNP: peptídeo natriurético; PaCo2: pressão arterial de gás carbônico; PaO2: pressão arterial de oxigênio; CML: N(carboximetil) lisina; sRAGE: receptor de produtos finais de glicação avançada.
AUTOR(S) MARCADORES BIOLÓGICOSPERFIL DA AMOSTRA
RESULTADOS
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
74
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
discussãOAtravés dessa revisão, observamos que os principais
marcadores utilizados nas pesquisas são biomarcadores inflamatórios, mas com conclusões heterogêneas.
Segundo VESTIBO et al. (2014), existe heterogeneida-de entre os pacientes com DPOC, com correlações pobres entre VEF1, sintomas, qualidade de vida, resultados fun-cionais e os biomarcadores estudados (IL-6, IL-8, TNFα, Fibrinogênio, Leucócitos e PCR). Os autores relatam que nem todos os pacientes com DPOC apresentam níveis ele-vados de marcadores sistêmicos de inflamação, sendo que cerca de um terço deles não apresentam evidências de inflamação sistêmica durante seguimento da doença. Este achado corrobora com o estudo de CORSONELLO (2011), o qual conclui que a PCR e TSE não se mostraram marcadores confiáveis na gravidade da DPOC.
FATTOUH e ALKADY (2014) e WANG et al.(2014), en-contram de forma significativa menores taxas de PCR e leucócitos em pacientes com DPOC estável, comparados aos com fase aguda. Para WANG et al.(2014)as lipocainas 1 e 2, TNFα, IL-6 e IL-8 estão aumentadas em pacientes com DPOC estável comparados a indivíduos saudáveis. CARTER et al. (2013)relatam que o maior índice de IL-8 está associado a pacientes com DPOC em fase aguda, com escarro purulento. Mas, segundo VESTIBO et al.(2014)e SAITO et al. (2014), as citocinas, IL-8 e TNFα, pa-recem ser melhores marcadores de hábito tabágico, em vez de DPOC.
Quanto a MPO, ZHU et al.(2014),através de uma revi-são sistemática de 24 estudos, concluíram que a mesma está aumentada em pacientes com DPOC, comparado a indivíduos saudáveis, porém com maiores taxas na fase de exacerbação. Embora o estudo de CARTER et al.(2013) te-nha incluído a MPO como variável de seu estudo não en-contramos informações sobre a mesma em relação ao estado da doença.
Os neutrófilos de pacientes com DPOC apresentam respostas quimiotáticas anormais em comparação a indi-víduos saudáveis (RODDAM et al., 2008). Em virtude dis-so, o marcador de elastase de neutrófilos (Aα-Val360,) foi estudado por CARTER et al.(2013),que encontram maior concentração de AαVal-360 em indivíduos com enfisema em comparação aos sem enfisema pulmonar. Também foi encontrado maior nível de concentração da mesma, no início da exacerbação comparada ao estado estável.
É cada vez mais reconhecido que a DPOC é uma do-ença inflamatória e, portanto, um número de biomarca-dores inflamatórios potenciais maior foram estudados em indivíduos com DPOC. Entretanto os resultados ainda são inconclusivos com correlações muitas vezes fracas com marcadores clínicos da DPOC, o que reforça a existências de outros mecanismos envolvidos. Por exemplo, embora a PCR, um marcador inespecífico de inflamação, correla-
ciona-se com a mortalidade em pessoas com DPOC de leve a moderada, níveis elevados deste marcador não con-seguem prever um declínio apurado do VEF1 (FOGARTY, 2007).Portanto, faz-se necessária a realização de ensaios clínicos randomizados com indivíduos portadores de DPOC em fase estável envolvendo biomarcadores e ou-tras variáveis da doença, para que futuramente possa en-contrar um marcador que otimize a avaliação e a definição do prognóstico da DPOC.
cOnclusãODiante do exposto, concluímos que os biomarcadores
inflamatórios foram os mais investigados, e na sequência os de estresse oxidativo e imunológicos. Porém, necessi-tam-se mais estudos sobre esses marcadores na DPOC em fase estável, pois esta revisão integrativa apresentou estudos com variabilidade de delineamento, amostra e biomarcadores investigados e perfil de amostra.
referênciasAGUSTI, A; CALVERLEY PM; et al. Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) investigators Characterisation of COPD het-erogeneity in the ECLIPSE cohort. Respir Res. v.11, ed: 01,2010.
BROOME, ME. integrative literature reviews for the de-velopment of concepts. in: rodgers bL, Knafl Ka. con-cept development in nursing: foundations, techniques, and applications. Philadelphia, editora: Saunders, ed:02,2000.
CARTER, R; et al. Aα-Val360: um marcador de elastase de neutrófilos e a actividade da doença DPOC. Eur Respir J, v. 41, pag: 31-38, 2013.
CHI YOUNG, S; et al. plasma n-terminal pro-brain na-triuretic peptide: a prognostic marker in patients with chronic Obstructive pulmonary disease. Lung, v. 190, pag: 271-276, 2012.
CORSONELLO, A; et al. c-reactive protein (crp) and erythrocyte sedimentation rate (eSr) as inflammation markers in elderly patients with stable chronic obstruc-tive pulmonary disease (cOpd). Archives of Gerontology and Geriatrics, v. 53, pag: 190-195, 2011.
FATTOUH, M; ALKADY, O. inflamatory biomarkers in chronic obstrutive pulmonary disease.Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, v. 63, pag: 799-804, 2014.
75
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
FOGARTY AW, et al. Systemic inflammation and decline in lung function in a general population: a prospective study. Thorax, v. 62, pag:515–520,2007.
GARCIA-RIO, F; MIRAVITTLES, M et al. - Systemic inflam-mation in chronic obstructive pulmonary disease: a popu-lation-based study.Respir Res. v.11, ed:6, pag:. 63-78, 2010.
GOPAL, P; et al. decreased plasma srage levels in cO-pd: influence of oxygen therapy.European Journal of Clinical Investigation, V. 42, pag: 807-814, 2012.
MENDES, K; SILVEIRA, R e GALVÃO, C. revisão integra-tiva: método de pesquisa para a incorporação de evi-dências na saúde e na enfermagem. texto contexto enferm. v.17, ed: 4, pag: 758-64, 2008.
RODDAM AW, et al. insulin-like growth factors, their binding proteins, and prostate cancer risk: analysis of individual patient data from 12 prospective studies. Ann Intern Med, v. 149, pag:461–471,2008.
RABE, KF; HUDE, S et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pul-monary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. v.176, ed.06, pag: 532-55, 2007.
SAITO, J; MACKAY AJ; et al. sputum-to-serum hydrogen sulfide ratio in coPD. Thorax BMJ, v.69, pag: 01-06, 2014.TAKAHASHI, H e KUBO, H. The role of microparticles in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obs-truct Pulmon Dis. v. 9, pag: 303–14, 2014.
VESTBO, J; et al. should We view chronic Obstructive pulmonary disease differently after eclipse? Am J Respir Crit Care Med, v. 189, pag: 1023-1028, 2014.
WANG, X; et al. increased serum levels of lipocalin-1 and -2 in patients with stable chronic obstructive pulmona-ry disease. International Journal of COPD, v. 9, pag: 543-549, 2014.
W GAN; MAN, S; et al.Association between chronic obs-tructive pulmonary disease and systemic inflammation: a systematic review and a meta-analysis.Thorax. v. 59, ed.07, pag: 574–58,2004.
ZUNTAR, I; et al. gstp1, gstm1 and gstt1 genetic polymorphisms and total serum gst concentration in stable male cOpd. Acta Pharm, v. 64, pag: 117-129, 2014.
ZHU, A; et al. sputum myeloperoxidase in chronic obs-tructive pulmonary disease. Eur J Med Res, v.19, pag: 01-08, 2014.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
76
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
mOdelOs experimentais utiliZadOs nO estudO da fisiOpatOlOgia da dOença de parKinsOn
aimée souto ferreira1
marina frusciante1
luciana Kneib gonçalves1
elenara Kowaleski1
gabriel nunes1
roberta rayn1
caroline dani1
cláudia funchal1
1Laboratório de Bioquímica, Centro de Pesquisas, Centro Universitário Metodista – IPA, Porto Alegre, RS, Brasil. Endereço eletrônico para correspondência: [email protected]
resumOA Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neuro-
degenerativa e incapacitante a longo prazo que causa ma-lefícios não somente para o paciente, mas também para a família. O tratamento da DP tem apenas efeitos sinto-máticos que não podem interferir na progressão da doen-ça. Portanto, surge a necessidade de desenvolver terapias alternativas para impedir o avanço ou prevenir o surgi-mento da doença. Sendo assim, o uso de modelos experi-mentais para o estudo da DP é uma importante ferramen-ta para compreender a fisiopatologia desta doença e a pesquisa em animais pode também contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento de importantes es-tratégias terapêuticas para as doenças neurodegenerati-vas, as quais se tornam um importante problema de saúde pública, sendo as principais causas de tratamentos com-plexos e prolongados, gerando maior custo com interna-ções e uso de medicamentos.
Descritores: Doenças Neurodegenerativas,Doença de Parkinson, animais.
intrOduçãOCom o aumento da expectativa de vida o envelheci-
mento populacional se tornou um fenômenodemográfico mundial e aparentemente irreversível. Há um aumento do número de idosos e das doenças neurodegenerativas co-mo a Doença de Alzheimer (DA)e a Doença de Parkinson (DP), as quais se tornaram um problema de saúde pública (GARCIA et al, 2014; ONU, 2009). Sendo a DPa segunda doença neurodegenerativa crônica mais comum, após a DA (TIEU, 2011).
Neste contexto, aDP é uma patologia neurodegene-rativa, crônica e progressiva caracterizada pela contínua perda de neurônios dopaminérgicos da substância nigra.
A deficiência de neurônios em tal região resulta na deple-ção de dopamina na via nigroestriatal (PAIXÃO et al., 2013; SOUZA et al., 2014; PAIXÃO et al., 2013). Trata-se de uma neurodegeneração progressiva motora e não motora e manifesta-se diante de alguns sinais, sendo os mais co-muns os tremores. Os sintomas secundários são dificulda-de de movimento, dificuldade de fala, distúrbio de voz e deglutição e mudanças gastrointestinais, entre outros. Sintomas motores somente se manifestarão quando 50% dos neurônios dopaminérgicos sofrerem neurodegenera-ção (SOUZA et al., 2014; JANKOVIC, 2008).
Alcançamos, no entanto, um momento científico e tecnológico até pouco tempo impensável e muito deste avanço deve-se ao uso de animais em pesquisa. O uso de modelos experimentais para pesquisa é o que podemos chamar de privilégio, uma vez que a vida destes animais nos ajuda a desvendar mistérios maiores do que pensa-mos. E por este motivo e por respeitarmos a vida em pri-meiro lugar, devemos cuidar deles para que os resultados sejam confiáveis. Sendo uma preocupação constante que existam preceitos éticos quanto ao manuseio destes ani-mais. Trata-se, portanto, de um dever do pesquisador que o animal tenha um ambiente favorável a fim de evitar es-tresse, dever que está além do direito do animal e esbarra no parâmetro ético e científico, tendo em vista que a mini-mização de fatores de estresse e sofrimento trarão resul-tados mais confiáveis a pesquisa (GERSON; ANDRADES, 2014). Sendo assim, o uso de animais foi e continua sendo fundamental para a obtenção de bons resultados, assim como para o conhecimento científico no geral dos últimos dois séculos e ainda trata-se do melhor análogo para se estudar as condições humanas (ANDERSEN et al., 2004).
Para elucidar a patogenia, mecanismos de morte ce-lular e avaliar estratégias terapêuticas na DP vários mode-los animais tem sido desenvolvidos. Compreender os pon-tos fortes e limitações destes modelos pode ter impacto significativo na escolha do modelo, design experimental e interpretação dos dados (TIEU, 2011). Portanto, este tra-balho tem como objetivo revisar os principais modelos experimentais utilizados para indução da DP.
métOdONo presente estudo foi realizada uma revisão biblio-
gráfica em bases de dados de artigos científicos como Pubmed, ScienceDirect, Scielo e Google Scholar, buscan-do através das seguintes palavras-chave, isoladamente ou relacionadas entre si: Doença de Parkinson, modelos animais, reserpina,6-hidroxidopamina, 1-metil-4-fe-nil-1,2-3,6-tetrahidropirina e seus respectivos termos em inglês. Também foram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os artigos analisados foram selecionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
77
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
resultadOs e discussãOUm modelo ideal de DPdeve consistir de característi-
cas patológicas e clínicas da DP que envolvam tanto os sistemas dopaminérgicos como não-dopaminérgico e o sistema nervoso central e o periférico além de sintomas motores e não motores (TIEU, 2011). Sendo assim, a lite-ratura descreve alguns modelos experimentais para os estudos da DP (CURTIS et al. 1974;JONSSON 1983; CO-HEN; WERNER 1994; BLUM et al. 2001; DAUER ; PRZED-BORSK 2003; RAPPOLD; TIEU2010; BEZARD; IMBERT; GROSS 1998; BROOKSet al. 1999; MCCOMARCK et al. 2002; THIRUCHELVAM et al.2003).
Um dos principais modelos traz a indução da doença pela administração da droga reserpina. Trata-se de um modelo farmacológico que tem como ponto positivo a se-melhança bioquímica, tendo em vista que a reserpina di-minui os níveis de dopamina na fenda sináptica (ABILIO et al., 2004; BURGER et al., 2004; NAIDU et al., 2004; BILSKA et al., 2007). O que ocorre neste modelo é a apresentação de sintomas semelhantes aos apresentados pelos pacien-tes com DP, pelos animais, como a acinesia e a rigidez. Ainda existem pontos negativos neste modelo, como o irreversível bloqueio do transporte de monoaminas (GAR-CIA et al., 2014; SANTOS et al., 2013).
Outro modelo bastante utilizado envolvendo a DP é o modelo da neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA), substância análoga da dopamina e um dos primeiros agentes para gerar um modelo da DP (JONSSON 1983; BEZARD et al. 1998; BEZARD; PRZEDBORSKI 2011). Foi em 1968 quando foi demonstrado que com a injeção de tal substância no sistema nervoso central se conseguia depletar o conteúdo da dopamina. A 6-OHDA é encontra-da no cérebro de pacientes com DP e pelo fato de não cruzar a barreira hematoencefálica deve ser diretamente injetada no SNC. Como resultado, a toxina destrói os sis-temas catecolaminérgicos e promove perda dos neurô-nios dopaminérgicos, o que começa imediatamente após a injeção e se estabiliza após duas semanas. Devido a len-ta progressão dos sintomas, é o modelo dito ideal para estudos de estratégias terapêuticas. Como desvantagem, seu uso não forma corpos de Lewy e, a administração bi-lateral compromete o animal, enquanto a administração unilateral provoca sintomas apenas unilaterais o que se difere do paciente (TORRÃO et al. 2012; GARCIA et al. 2014; SANTOS et al. 2013).
Modelos envolvendo pesticidas como a rotenona e o paraquat também são utilizados, uma vez que a adminis-tração de rotenona leva a um dano nas células dopaminér-gicas nigroestriatais pela geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e disfunção mitocondrial. Ocorre a for-mação de corpos de Lewy e há diminuição da atividade locomotora dos animais (BROOKS et al. 1999; MCCO-MARCK et al. 2002; THIRUCHELVAM et al., 2003). Trata-se
de um bom modelo para estudo de agentes neuroprote-tores, uma vez que há uma boa resposta aos medicamen-tos utilizados na DP. Como desvantagem, pode ocasionar toxicidade sistêmica e, muitos animais acabam desenvol-vendo resistência a droga. O paraquat age da mesma ma-neira e os animais demonstram alterações comportamen-tais. O modelo do paraquat apresenta como desvantagem a alta mortalidade dos animais (GARCIA et al., 2014, SAN-TOS et al, 2013).
Outro modelo consiste na administração intranigral de lipopolissacarídeo (LPS) de E.coli., o que gera inflama-ção na substância nigra e a morte de neurônios dopami-nérgicos. É semelhante ao modelo da indução por reser-pina e sua principal desvantagem é a via de administração, além dos sintomas se apresentarem unilateralmente (GARCIA et al., 2014).
Por fim, existe o modelo induzido por 1-metil-4-fe-nil-1,2-3,6-tetrahidropirina (MPTP), substância análoga da meperidina, subproduto da síntese da heroína. Tal compo-sto é neurotóxico e foi primeiramente identificado em usu-ários de heroína que apresentavam sintomas da DP. O MP-TP ocasiona morte de neurônios dopaminérgicos seletiva-mente e reproduz sintomas motores. Como desvantagem, não háformação dos corpos de Lewy (LANGSTON; BA-LLARD; IRWIN1983;BEZARD; IMBERT; GROSS 1998; PRZEDBORSKIET al. 2001;SANTOS et al. 2013).
cOnclusõesMuitos modelos animais da DP foram desenvolvidos
e eles buscam principalmente melhorar a patologia e os fenótipos relacionados com a doença. Portanto, estes modelos têm contribuído para o desenvolvimento de al-guns dos alvos terapêuticos que atualmente estão sendo utilizados em pacientes com DP.
referências ABÍLIO, V. C.; SILVA, R. H.; CARVALHO, R. C.; GRASSL, C.; CALZAVARA, M. B.; REGISTRO, S.; D’ALMEIDA, V.; RIBEI-RO, R. A.; FRUSSA-FILHO, R. Important role ofstriatalca-talase in agin- andreserpine-induced oral dyskinesia. neuropharmacology, v. 47, p. 263-272, 2004.
ANDERSEN, M. L.; D’ALMEIDA, V.; KO, G. M.; KAWAKA-MI, R.; MARTINS, P. J. F.; MAGALHÃES, L. E.; TUFIK, S. Ética na Experimentação Animal in Princípios Éticos e Prá-ticos do Uso de Animais de Experimentação. UNIFESP, 1. ed., p. 1-15, 2004.
ANDRADES, M.; GERSON, S.Legislação referente à pes-quisa com animais in: FUNCHAL, C.; DANI, C. Neurociên-cias: Modelos experimentais em animais. EDIPUCRS e EditoraMetodista IPA. 1. ed., p. 17-19, 2014.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
78
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
BEZARD, E.; IMBERT, C.; GROSS, C. E. Experimental mod-els of Parkinson’s disease: From the static to the dynamic. reviews neuroscience, v. 9, p. 71-90, 1998.
BEZARD, E.; PRZEDBORSKI, S.; A tale on animal models of Parkinson’s disease. movement disorders, v. 26, p. 993-1002, 2011.
BILSKA, A.; DUBIEL, M.; SOKOLOWSKA-JEZEWICS, M.; LORENC-KOCI, E.; WLODEK, L. Alpha-lipoic acid differ-ently affects the reserpine-induced oxidative stress in the striatum and prefrontal cortex of rat brain. neuroscience, v. 8, p. 1758, 1771, 2007.
BLUM, D.; TORCH, S.; LAMBENG, N.; NISSOU, M.; BENA-BID, A. L.; SADOUL, R.; VERNA, J. M. Molecular pathways involved in the neurotoxicity of 6-OHDA, dopamine and MPTP: Contribuiton to the apoptotic theory in Parkinson’s disease. progress neurobiol. v. 65, p. 135-172, 2001.
BROOKS, A. I.; CHADWICK, C. A.; GELBARD, H. A.; CORY-SLECHTA, D. A.; FEDEROFF, H. J. Paraquat elicited neu-robehavioral syndrome caused by dopaminergic neuron loss. Brain research, v. 823, p. 1-10, 1999.
BURGER, M. E.; FACHINETTO, R.; CALEGARI, L.; PAIXÃO M. W.; BRAGA, A. L.; ROCHA, J. B. T. Effects on age on orofacial dyskinesia reserpine-induced and possible pro-tection of diphenyl-diselenide. Brain research Bull, v. 64, p. 339-345, 2004.
COHEN, G.; WERNER, P.; Free radicals, oxidative stress, and neurodegenerationin: CALNE, D. B. Neurodegenera-tive diseases. Saunders, Philadelphia., p. 139-161, 1994.
CURTIS, H. C.; WOLFENSBERGER, M.; STEINMANN, B.; REDWEIK, U.; SIEGFRIED, J.; Mas fragmentography of dopamine and 6-hidroxydopamine. Application to the de-termination of domapine in human brain biopsies from the caudate nucleus. Journal of chromatography a. v. 99, p. 529-540, 1974.
DAUER, W.; PRZEDBORSKI, S. Parkinson’s disease: mechanisms and models. neuron. v. 39, p. 889-909, 2003.
GARCIA, L. P.; CASTRO, A. L.; ANDRADE, R. B.; FUNCHAL, C. Doenças Neurodegenerativasin: FUNCHAL, C.; DANI, C. Neurociências: Modelos experimentais em animais. EDI-PUCRS e EditoraMetodista IPA. 1. ed., p. 175-191, 2014.
JANKOVIC, J. Parkinson’sdisease: clinicalfeaturesan-ddiagnosis. Journal of neurology, neurosurgery & psy-chiatry v. 79, p. 368-376, 2008.
JONSSON, G. Chemical lesioning techniques: Mono-amine neurotoxins in: BJÖRKLUND, A.; HÖKFELT, T. Hand-book of chemical neuro-anatomy. Elsevier, Amsterdam., p.- 463-507, 1983.
LANGSTON, J. W.; BALLARD, P.; IRWIN, I. Chronic parkin-sonism in humans due to a product of meperidine-analog synthesis. science, v. 219, p. 979-980, 1983.
MCCOMARCK, A. L.; THIRUCHELVAM, M.; MANNING-BOG, A. B.; THIFFAULT, C.; LANGSTON, J. W.; CORY-SLECHTA, D. A.; DI MONTE, D. A. Environmental risk fac-tors and Parkinson’s disease: Selective degenerative of nigral dopaminergic neurons caused by the herbicide paraquat. neurobiology of disease, v. 10, p. 119-127, 2002.
NAIDU, P. S.; SINGH, A.; KILKARNI, S. K. Reversal of re-serpine-induced orofacial dyskinesia and cognitive dys-function by quercetin. pharmacology, v. 70, p. 59-67, 2004.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). pro-grammeonageing: The AgeingoftheWorld’sPopulation 2009. New York: United Nations, 2009.
PAIXÃO, A. O.; DE JESUS, A. V. F.; SILVA, F. S.; MESSIAS, G. M. S.; NUNES, T. L. G. M.; NUNES, T. L. G. M.; SANTOS, T. B.; GOMES, M. Z.; CORREIA, M. G, S. Doença de Parkin-son: Uma desordem neurodegenerativa. cadernos de graduação – ciencias Biológicas e da saúde v.1. p. 57-65, 2013.
PRZEDBORSKI, S.; JACKSON-LEWIS, V.; NAINI, A.; JA-KOWEC, M.; PETZINGER, G.; MILLER, R.; AKRAM, M. The parkinsoniantoxi 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,5-tetrahydro-pyridine (MPTP): A technical review of its utility and safe-ty. Journal of neurochemistry, v. 76, p. 1265- 1274, 2001/.
RAPPOLD, P. M.; TIEU, K. Astrocytes and therapeutics for Parkinson’s disease. neurotherapeutics, v. 7, p. 413-423, 2010.
SANTOS, J. R.; CUNHA, J. A. S.; DIERSCHNABEL, A. L.; CAMPÊLO, C. L. C.; LEÃO, A. H. F. F.; SILVA, A. F.; ENGEL-BERTH, R. C. G. J.; IZÍDIO, G. S.; CAVALCANTE, J. S.; ABÍ-LIO, V. C.; RIBEIRO, A. M.; SILVA, R. H. Cognitive, motor andtyrosinehydroxylase temporal impairment in a mode-lo f parkinsonisminducedbyreserpine. Behavioural Brain research, v. 253, p.68-77, 2013
SOUZA, J. M.; BARBOSA, A. C.; DA SILVA, A. L. F.; DE CAMPOS JÚNIOR, A. P. Doença de Parkinson: Atribuição
79
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
de enfermagem na interação família-doente. interdisci-plinar: revista eletrônica da univar v. 1, p. 96-101, 2014.
THIRUCHELVAM, M.; MCCOMARCK, A.; RICHFIELD, E. K.; BAGGS, R. B.; TANK, A. W.; DI MONTE, D. A.; CORY-SLECHTA, D. A. Age-related irreversible progressive ni-grostriatal dopaminergic neurotoxicity in the paraquat and maneb model of the Parkinson’s disease phenotype. european Journal of neuroscience, v. 18, p. 589-600, 2003.
TIEU, K.. A guide to neurotoxic animal models in Parlkin-son’s disease. cold spring harbor perspectives in medi-cine. doi: 10.1101/cshperspect.a009316, 2011.
TORRÃO, A. S.; CAFÉ-MENDES, C. C.; REAL, C. C.; HERNANDES, M. S.; FERREIRA, A. F. B.; SANTOS, T. O.; CHAVES-KIRSTEN, G. O.; MAZUCANTI, C. H. Y.; FERRO, E. S.; SCAVONE, C.; BRITTO, L. R. G. Abordagens diferen-tes, um único objetivo: compreender os mecanismos ce-lulares das doenças de Parkinson e de Alzheimer. revista Brasileira de psiquiatria v. 34, p. 194-218, 2012.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
80
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
estresse OxidativO: O exercíciO pOde ser cOnsideradO um mecanismO de mOdulaçãO?
Kauê Kaleshi carvalho1
matheus heindner cassales Banca2
thiago rozales ramis2
victor garcia da silva3
nathan Ono de carvalho2
gustavo azambuja rocha1
Juliana martins gartringer3
Jerri luiz ribeiro4
1Gradução Educação Física licenciatura Centro Uni-versitário Metodista – IPA.
2Mestrado biociências e reabilitação Centro universi-tário metodista – IPA.
3Graduação Educação Física Bacharelado Centro Uni-versitário Metodista – IPA.
4Doutorado Ciencias do movimento humano Univer-sidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail:[email protected]
resumOO estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilí-
brio das espécies reativas comparado às defesas antioxi-dantes. Pode ocorrer pelo aumento do primeiro ou dimi-nuição das defesas do organismo. Através do exercício físico pode haver uma redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes. O objetivo deste estudo foi verificar na literatura a influência do exer-cício sobre o estresse oxidativo. Foi realizada umarevisão bibliográfica mediante busca de artigos científicos e a consulta em bases de dados como Science Direct, Scielo e Pubmed. Também foram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os ar-tigos analisados foram selecionados por apresentarem grande pertinência ao tema. A atividade física já é conhe-cida por promover o bem-estar e a saúde nos indivíduos praticantes, entretanto, o exercício físico também é res-ponsável por aumentar a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) pelo acréscimo do consumo de oxigê-nio mitocondrial nos tecidos. Dessa forma o desequilíbrio entre a produção de EROs e as defesas antioxidantes dos tecidos pode provocar danos oxidativo a proteínas, lipí-dios e DNA.O exercício de forma regular promove adap-tações dos sistemas de defesa enzimáticos em resposta ao treinamento, limitando assim os danos teciduais.
Descritores: Exercício físico, Espécies reativas, Estres-se oxidativo.
intrOduçãOO sistema oxidativo é a base de fornecimento de ener-
gia para trabalho aeróbio e neste sentido, a mitocôndria desempenha um papel fundamental. Neste sistema, o metabolismo além de gerar energia, pode dar origem a radicais livres centrados no oxigênio, também conhecidos como espécies reativas de oxigênio (EROs). Apesar destas moléculas possuírem um papel fundamental no sistema imune, podem em determinadas situações causarem da-nos a lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos celulares. (HALLIWELL ; GUTTERIDGE, 1999). Uma vez que as EROs são produzidas durante processos oxidativos de geração de energia, o aumento da intensidade do exercício é um dos fatores que provoca um aumento na produção de EROS, e para evitar possíveis danos, nosso organismo possui um sistema de defesa antioxidante (enzimático e não enzimático). As enzimas antioxidantes podem res-ponder de forma adaptativa ao treinamento físico, au-mentando sua linha de ação (Yu, 1994).
As espécies reativas podem ser definidas como molé-culas orgânicas, inorgânicas ou átomos, que contém (ou não), um ou mais elétrons não pareados com existência independente, podendo ter denominações diferentes conforme a sua origem como, por exemplo, ânion supe-róxido (O2-), ânion radical hidroxila (OH·), hidroperóxido (HO2·), peróxido de hidrogênio (H
2O2), dióxido de nitro-gênio (NO2·), óxido nítrico (NO•) e peroxinitrito (ONOO-) (VALKO et al., 2007). Estão presentes no nosso organismo em diversos momentos importantes, tais como: na pro-dução de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes, como na defesa contra a infecção quando os neutrófilos são estimulados pelas bactérias a produzirem espécies reativas para destruírem micro-or-ganismos (HALLIWELL, 2007).
Contudo, o aumento exagerado das espécies reativas pode ocasionar danos oxidativos em lipídios, proteínas e DNA (HALLIWELL, 2007; HUDSON et al., 2008). A peroxi-dação lipídica promove uma interferência no transporte ativo e passivo da membrana celular, causando perda da fluidez ou até mesmo apoptose celular (BARREIROS; DA-VID; DAVID, 2006; FERREIRA; MATSUBARA, 1997; SCAN-DALIOS, 2005; VASCONCELOS et al., 2007).No DNA, o estresse oxidativo pode causar mutação e apoptose, atra-vés da quebra da cadeia de DNA e das modificações de suas bases, que pode desencadear a oncogênese (BAR-REIROS et al., 2006; MIGLIORE; COPPEDE, 2002; SCAN-DALIOS, 2005; VASCONCELOS et al., 2007). Por fim, o aumento do estresse oxidativo pode acarretar modifica-ções especificas de aminoácidos, fragmentação da cadeia peptídica, proteólise, entre outros (SCANDALIOS, 2005).
O estresse oxidativo é caracterizado pelo aumento de espécies reativas comparado às defesas antioxidantes.
81
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; JONES, 2006). Indiví-duos que apresentam aumento do estresse oxidativo de forma aguda ou crônica podem estar sujeitos a danos oxi-dativos em lipídios, proteínas e ácido desoxirribonucleico (DNA) (HUDSON et al., 2008). Através do exercício físico pode haver uma redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes (JI, 1999).
As defesas antioxidantes podem ser classificadas de duas formas: enzimáticas e não enzimáticas. As defesas antioxidantes enzimáticas incluem as enzimas Superóxi-do dismutase (SOD), Glutationa peroxidase (GPx) e Cata-lase (CAT). O sistema de defesa não enzimático é compos-to por Vitamina C (Ascorbic acid), Vitamina E (-tocophe-rol), Glutationa (GSH), carotenoides, flavonoides e outros antioxidantes. Em condições normais existe um equilíbrio entre as atividades e os níveis intracelulares desses antio-xidantes (VALKO et al., 2007). Elas neutralizam as espé-cies que são altamente reativas a fim de reduzir os efeitos causados pelo estresse oxidativo (HALLIWELL e GUTTE-RIDGE, 2007).
Desta forma o objetivo foi verificar na literatura a in-fluência do exercício sobre o estresse oxidativo.
métOdOsFoi realizado um estudo de revisão bibliográfica me-
diante busca de artigos científicos. A consulta baseou-se em bases de dados de artigos científicos como Science Di-rect, Scielo e Pubmed, buscando através das seguintes palavras-chaves, isoladamente ou relacionadas entre si: estresse oxidativo, espécies reativas, peroxidação lipídica e exercícios fisicos e seus respectivos em inglês. Também fo-ram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na lín-gua inglesa e portuguesa. Os artigos analisados foram se-lecionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
resultadOs e discussãODe acordo com Halliwell e Gutteridge (1999), aproxi-
madamente 85 a 90% do oxigênio (O2) que respiramos é metabolizado em nosso organismo pela mitocôndria e em torno de 95 a 98% desse oxigênio forma água pela redu-ção tetravalente do oxigênio na mitocôndria. Os restantes metabolizados em torno de 2 a 5% são reduzidos univa-lente em espécies reativas de oxigênio. O exercício au-mentaria a geração de espécies reativas em função do alto consumo de oxigênio pelo organismo (BARBOSA et al., 2010; CAZZOLA et al., 2003). Além disso, o aumento da liberação de catecolaminas durante exercício pode ser o papel chave para geração de espécies reativas de oxigê-nio (COOPER et al., 2002). Uma revisão realizada por Po-
wers e Jackson (2008) apontou que o principal mecanismo de produção de espécies reativas de oxigênio ocorre pela contração muscular. O músculo esquelético possui dife-rentes mecanismos responsáveis pelo aumento da forma-ção espécies reativas de oxigênio em resposta ao exercí-cio. Entre elas inclui-se: respiração mitocondrial, forma-ção de superóxido via NADPH oxidase, Xantina oxidase e reações relacionadas ao ferro (NIESS; SIMON, 2007).
A excessiva produção de EROs pode derivar de uma grande variedade de causas, entre elas o exercício físico (HALLIWELL, 1991; VOLLAARD, 2005). Um dos estudos precursores que demonstrou os efeitos oxidativos de uma carga aguda de exercício aeróbico foi publicado em 1978 (DILLARD, 1978). Desde então, outros estudos evidencia-ram que exercícios físicos de grande magnitude com du-ração e intensidade suficientes para aumentar a produção de EROs podem ter como consequência a oxidação de lí-pides, proteínas e ácidos nucléicos. As implicações à saú-de destes métodos ainda são motivo de estudos e contro-vérsias (NIESS, 2007; VOLLAARD, 2005). A produção de EROs em resposta a exercícios agudos pode ocorrer por diversas vias metabólicas. Entre elas, a respiração mito-condrial (transferência de elétrons na cadeia de transpor-te e subsequente produção do radical superóxido), meta-bolismo prostanóide, auto-oxidação de catecolaminas e atividade enzimática oxidativa (NADPH oxidase, xantina oxidase). Além disso, a produção de EROs ainda depende do metabolismo aeróbico ou anaeróbico e da intensidade e duração do exercício, pois os vários tipos de exercícios diferem nos requerimentos energéticos, níveis de consu-mo de O2 e estresse mecânico imposto aos tecidos (JA-CKSON, 2000).
Nos últimos anos, o conhecimento científico relacio-nado aos efeitos biológicos e estresse oxidativo induzido pelo exercício aumentou consideravelmente. Enquanto elevados níveis de radicais livres causam danos a compo-nentes celulares, níveis moderados a baixos exercem múl-tiplas ações regulatórias nas células, tais como o controle da expressão gênica, regulação de respostas celulares e inclusive modulação da força muscular esquelética (DRO-GE, 2002; GALLE, 2000). Esportes de longa duração, as-sim como a maratona induzem a formação de elevadas concentrações de radicais livres no organismo do indiví-duo. Apesar da biologia humana ter um complexo e efi-ciente sistema antioxidante, a defesa pode não ser sufi-ciente para o combate eficaz aos danos oxidativos duran-te e após estes exercícios.
O quadro 1 apresenta estudos relacionando exercício físico e estresse oxidativo.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
82
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Quadro 1. Visão geral dos protocolos experimentais
autor nº mod. experim. método achados
S. Falone et al.
33 corredores amadores homens e 25 homens Sedentários
HumanosCorrida em esteira método de Bruce Modificado
sedentários ↑ TBARS pós ex.
↓Carbonilas
treinados ↓TBARS pós exercício
↑TEAC (cap, antioxidante)
↑Carbonilas
Tom K. Tong et al.
10 corredores homens Humanos
Colheita de sangue pré meia maratona (21km) e pós 4 hrs término da prova. Acompanhamento de 1 ano
pré 1 ano ↓ TBARS pós exerc.
↓XO pós
↓GSH pós
↓ CAT pós
↓ SOD pós
↑TEAC (cap.antioxidante)
pós 1 ano: ↓ TBARS pós exerc.
↑XO pós
igual GSH pré/ pós
↑ CAT pós
↓ SOD pós
↑TEAC (cap.antioxidante)
Humdi pepe et al.
8 Homens e 9 Mulheres (média de idade 21 anos)
Humanos
Corrida com Distância de: 800, 1500 e 3000 metros com velocidade de 10km/h
distâncias resultados pós exercício:
LPO: 800m↓ , 1500↓, 3000↓
CAT: 800m↓ , 1500↓, 3000↓
SOD: 800m↓ , 1500↑, 3000↓
GR: 800m↓ , 1500↑, 3000↑
LDH: 800m↓ , 1500↑, 3000↓
Mustafa Kelle et. Al 10 Homens Jovens Humanos
Colheita de sangue 5 min. pré meia maratona (21km) e pós 5min. término da prova.
GSH total:↓pós
CAT: ↓pós
SOD: ↓pós
CK: ↑ pós
GSSG:↑ pós GSH:↓pós TBARS: ↑ pós
Elke Hessel et al.
18 Homens Maratonistas Humanos
Colheita de sangue feita antes e imediatamente pós maratona
LPO:↑pós
SOD: ↓pós
GSSG:↑ pós
GSSG/ GSH:↑pós
TBARS: ↑ pós
GSH-px: ↓pós
Antoni Suredo et al.
9 Ciclistas profissionais Humanos
Colheita de sangue feita antes e após 3 hrs da prova
CAT:↓ pós
GPx: ↓pós
Takayo Inayam et al.
7 estudantes jovens treinados moderadamente
Humanos Colheita de sangue feita antes da competição, imediatamente pós e pós 24 e 48hrs
Sulfidrilas:
↓ imediatamente após maratona
83
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
A atividade física já é conhecida por promover o bem--estar e a saúde nos indivíduos praticantes, entretanto, o exercício físico também é responsável por aumentar a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) pelo acréscimo do consumo de oxigênio mitocondrial nos teci-dos. Estudos como o de Strobel et al. (2011) demonstram que os aumentos das EROs provocam danos a lipoproteí-nas, lipídeos, DNA e proteínas. Assim o estresse oxidativo induz modificações destas moléculas ocasionando inú-meras doenças. O estresse oxidativo, por exemplo, de-sempenha um papel muito significativo no início e na pro-gressão da aterosclerose (STROBEL et al., 2011).
Sabe-se que a destruição oxidativa dos ácidos graxos poli-insaturados, é bastante lesiva por ser uma reação de auto propagação na membrana (HALLIWELL, GUTERID-GE, 1989). As controvérsias sobre os efeitos do exercício sobre a peroxidação lipídica são inúmeras, provavelmente devido às diferentes intensidades e durações dos proto-colos de exercício (ALESSIO, GOLDFARB, 1988).
Mas, através do exercício físico continuo pode haver redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes (GOMES et al., 2012; JI, 1999). Portanto há a possibilidade de que com a prática de exer-cício regular ocorra aumento adaptativo dos mecanis-mos do musculo esquelético capas de proteger contra as lesões das EROs
cOnclusãOConforme a revisão feita podemos concluir que o
exercício físico de forma aguda pode causar aumento de radicais livres e espécies reativas por causa do alto consu-mo de oxigênio, liberação de catecolaminas. Um dos prin-cipais mecanismos de produção de EROS é a contração muscular. O exercício de forma regular promove adapta-ções dos sistemas de defesa enzimáticos em resposta ao treinamento, limitando assim os danos teciduais.
Como sugestão, novos estudos devem ser feitos. Se-ria interessante a utilização de protocolos de longa dura-ção e/ou extenuantes juntamente à dieta rica em antioxi-dantes de enzimas sobre o estresse oxidativo induzido pelo exercício, assim como o estudo da expressão gênica das enzimas antioxidantes, oxidação de proteinas e DNA.
referênciasALESSIO HM, GOLDFARB AH. Lipid peroxidation and scavenger enzymes during exercise: adaptative response to training. J appl physiol; 1988; 64:1333-6.
BARBOSA, K. B. F. et al. Estresse oxidativo: conceito, im-plicações e fatores modulatórios. revista de nutrição, v. 23, p. 629-643, 2010.
BARREIROS, A. L. B. S.; DAVID, J. M.; DAVID, J. P. Estres-se oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. química nova, v. 29, p. 113-123, 2006.
CAZZOLA, R. et al. Biochemical assessments of oxidative stress, erythrocyte membrane fluidity and antioxidant status in professional soccer players and sedentary con-trols. eur J clin invest, v. 33, n. 10, p. 924-30, 2003.
COOPER, C. E. et al. Exercise, free radicals and oxidative stress. Biochem soc trans, v. 30, n. 2, p. 280-5, 2002.
DILLARD CJ, LITOV RE, SAVIN WM, DUMELIN EE, TAP-PEL AL: Effects of exercise, vitamin E, and ozone on pul-monary function and lipid peroxidation. J appl physiol. 1978;45(6):927-932.
FERREIRA, A. L. A.; MATSUBARA, L. S. Radicais livres: conceitos, doenças relacionadas, sistema de defesa e es-tresse oxidativo. revista da associação médica Brasilei-ra, v. 43, p. 61-68, 1997.
DROGE W. Free radicals in the physiological control of cell function. physiol rev. 2002;82:47–95.
HALLIWELL B; GUTTERIDGE J M C. Free radicals in biol-ogy and medicine. Oxford: clarendon press/Oxford uni-versity press, 1999.
HALLIWELL, B. G., J.M.C. free radicals in Biology and medicine 4º edition. Oxford university press, 2007.
HALLIWELL B: Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry, and role in human disease. am J med. 1991;91(3C):14S- 22S.
HUDSON, M. B. et al. The effect of resistance exercise on humoral markers of oxidative stress. med sci sports ex-erc, v. 40, n. 3, p. 542-8, 2008.
JACKSON M. Exercise and oxygen radical production by muscle. In: Sen Ck, Packer L, Hanninen O. Handbook of oxidants and antioxidants in exercise. Basel: elsevier sci-ence; 2000. p.57-68.
JI, L. L. Antioxidants and oxidative stress in exercise. proc soc exp Biol med, v. 222, n. 3, p. 283-92, 1999.
JONES, D. P. Disruption of mitochondrial redox circuitry in oxidative stress. chem Biol interact, v. 163, n. 1-2, p. 38-53, 2006.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
84
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MCARDLE, W. D., KATCH, F.I., KATCH V.L. Fisiologia do Exercício energia, nutrição e desempenho humano. 5º Ed-ição. guanabara Koogan, 2003 p.161-178.
NIESS, A. M.; SIMON, P. Response and adaptation of skel-etal muscle to exercise--the role of reactive oxygen spe-cies. front Biosci, v. 12, p. 4826-38, 2007.
SCANDALIOS, J. G. Oxidative stress: molecular percep-tion and transduction of signals triggering antioxidant gene defenses. Brazilian Journal of medical and Biolog-ical research, v. 38, p. 995-1014, 2005.
STROBEL NA, FASSETT RG, MARSH SA, COOMBES JS. Oxidative stress biomarkers as predictors of cardiovascu-lar disease. int J cardiol. 2011; 147: 191–201.
SOUZA JR TP, OLIVEIRA PR, PEREIRA B. Exercício físico e estresse oxidativo. rev Bras med esporte. 2005; 11(1): 91-6.
VASCONCELOS, S. M. L. et al. Espécies reativas de oxi-gênio e de nitrogênio, antioxidantes e marcadores de da-no oxidativo em sangue humano: principais métodos ana-líticos para sua determinação. química nova, v. 30, p. 1323-1338, 2007.
VALKO, M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. int J Biochem cell Biol, v. 39, n. 1, p. 44-84, 2007.
VOLLAARD NB, Shearman JP, Cooper CE: Exercise-in-duced oxidative stress:myths, realities and physiological relevance. sports med. 2005;35(12):1045-62.
YU, P.B. Cellular defense against damage from reactive oxygen species. physiol. rev. vol. 74. No. 1: p.139-162, 1994.
85
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
a interface entre a maquinaria epigenética nO paciente cOm dpOc e em respOsta aO exercíciO físicO: uma revisãO da literatura
1andreia luciana Bard 2cintia laura pereira de araújo1gustavo reinaldo 3ivy reichert vital da silva 4pedro dal lago3viviane elsner
1 Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Metodista -IPA
2Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde UFCSPA
3 Programa de Pós Graduação em Biociências e Reabi-litação IPA
4Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabili-tação UFCSPA
Correspondência: [email protected]
resumOIntrodução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) é uma condição progressiva caracterizada pela li-mitação do fluxo aéreo e inflamação sistêmica.Sintomas como tosse e dispnéia estão diretamente associados ao tabagismo e a exposição à gases tóxicos e partículas nocivas,os quais,são importantes indicativos para seu diag-nóstico. Apesar de ser uma doença respiratória,a sua mani-festação é sistêmica,sendo que os pacientes podem apre-sentar diminuição da massa muscular,o que contribui para um estilo de vida sedentário.Evidências apontam que o desequilíbrio de marcadores epigenéticos está associado com a fisiopatologia da doença.A epigenética consiste na transcrição de genes específicos em resposta a estímulos externos e/ou ambientais sem que haja alteração na se-quência primária do DNA.Objetivo: Abordar os dados pre-sentes na literatura sobre marcadores epigenéticos e DPOC.Materiais e Métodos: pesquisa bibliográfica consti-tuída por 42 artigos científicos procurados na base de dados PUBMED,utilizando-se os descritores DPOC e epigenética. Resultados: Pacientes com DPOC apresentam um desequi-líbrio destes marcadores quando comparado à grupos con-troles.Específicamente,observa-se um aumento dos níveis de metilação do DNA e redução dos níveis de acetilação de histonas em diversos tecidos e observou-se ainda que o tabagismo também altera estes marcadores. Conclusão: O conhecimento acerca da modulação epigenética na DPOC poderá contribuir para as descobertas de novas estratégias preventivas e terapêuticas para esta população.
Descritores: DPOC, Epigenética, Exercício físico, Me-tilação de DNA, Acetilação de histonas, Tabagismo.
intrOduçãOA doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) conti-
nua sendo um grande problema de saúde pública, além de ter se tornado uma doença global apresentando uma pre-valência de mais de 10% no mundo todo . Conforme dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de três milhões de pessoas no mundo morrem em consequência da DPOC a cada ano e, com isso, representa uma das principais cau-sas de mortalidade e morbidade atualmente. O tabaco continua sendo o principal fator associado ao desenvolvi-mento desta patologia, porém, outros fatores de risco são causas importantes e preveníveis na DPOC (Diaz-Guzman et al 2014).
Devido a estas questões se faz necessário entender os mecanismos endógenos e exógenos envolvidos com esta patologia, como a maquinaria epigenética.Estes co-nhecimentos poderão contribuir para a descoberta de no-vas estratégias preventivas e terapêuticas para esta popu-lação. Dentre estas estratégias destacamos a cessação ao tabagismo e a prática de exercício físico, fatores ambien-tais que modulam a maquinaria epigenética.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca da temática DPOC x epi-genética, epigenética x tabagismo e epigenética x exercí-cio físico.
metOdOlOgiaPara esta revisão da literatura foi feita uma pesquisa
bibliográfica constituída por 42 artigos científicos procu-rados na base de dados PUBMED, utilizando-se os descri-tores DPOC e epigenética, epigenética e tabagismo e epi-genética e exercício físico.
resultadOs
EpigEnéticaA epigenética significa “acima do genoma” e consiste
no estudo das alterações na expressão de genes específi-cos que independem de mudanças na sequência primária do DNA.O que ocorre são modificações estruturais na cro-matina decorrentes da interação do indivíduo com o ambiente,o que pode ter efeito transgeracional(Bird 2007).
A estrutura da cromatina consiste em uma unidade de DNA dividida em duas espirais, as quais se enrolam em torno de um octâmero protéico formado por quatro pares de histonas: H2A, H2B, H3 e H4 (Kouzarides 2007; Strahl e Allis 2000). Assim, as modificações epigenéticas ocor-rem tanto em histonas, quanto na molécula de DNA. O DNA é suscetível a uma única modificação: a metilação. As modificações mais frequentes em histonas são a aceti-lação e metilação (Hagood 2014).
A metilação de histonas é catalisada por enzimas de-nominadas histona metiltransferases (HTMs), e seu efeito
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
86
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
na maquinaria transcricional depende de pelo menos 3 fatores: a histona e a lisina onde ocorreu a adição do gru-po metil e o grau de metilação (mono, di ou tri-metilação).Tem sido descrito que a mono-metilação da histona H3 na lisina 9 (H3-K9) resulta em ativação transcricional, en-quanto que a di e tri-metilação da H3-K9 estão associadas à repressão e ao silenciamento gênico. Inversamente, no caso da histona H3 na lisina 4 (H3-K4), a di e a tri- metila-ção induzem o relaxamento da estrutura da cromatina contribuindo para a ativação do processo transcricional (Gupta et al 2010).
A metilação do DNA é catalisada por enzimas deno-minadas DNA metiltransferases (DNMTs) (Reik et al, 1999) as quais transferem o grupo metil da molécula do-adora S-adenosilmetionina (SAM) para a posição 5’do anel piramidal da citosina formando 5-metil desoxicitidina e S-adenosil homocisteína (SAH). Este processo resulta na redução da transcrição gênica e ocorrem nas ilhas CpG (Wu et al 2012). Existem 2 famílias de DNMTs: as DNMTs de manutenção: responsáveis por manter os padrões de metilação durante o processo de replicação celular, in-cluindo as DNMT1 que utilizam como substrato DNA he-mi-metilado e as DNMTs com função de metilação pro-priamente dita dos genes (mecanismo denominado como de novo metilação). Estas, são divididas em DNMT3a e DNMT3b e estão envolvidas na transferência de grupos metil para sítios previamente não metilados (Lei et al., 1996; Reik et al., 1999).
Dois grupos de enzimas, as histonas acetiltransfera-ses (HAT) e as histonas desacetilases (HDAC) são respec-tivamente responsáveis pela acetilação e desacetilação de histonas. A HAT catalisa a adição do grupo acetil da molécula doadora Acetil-coenzima A (acetil-CoA) na cau-da N-terminal das histonas, o que neutraliza a carga posi-tiva das extremidades destas proteínas e consequente-mente enfraquece as interações eletrostáticas com o DNA, carregado o negativamente. Este processo gera o relaxamento da estrutura da cromatina facilitando a ação de fatores transcricionais podendo aumentar a expressão de genes específicos (McCarthy et al 2009). Já a HDAC promove a desacetilação de histonas ligando-a fortemen-te ao DNA. Isto torna a estrutura da cromatina mais com-pacta, contribuindo para o silenciamento gênico. As HDACs são divididas em quatro classes: I (HDAC1, 2, 3 e 8), II (HDAC4, 5, 6, 7, 9, e 10), III (Sirt1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e) e IV (HDAC11). Há evidências de que estas diferentes HDACs são alvos de padrões distintos de acetilação, os quais, re-gulam genes específicos (De Ruijter et al 2003).
O desequilíbrio de marcadores epigenéticos está for-temente associado a fisiopatologia de diversas doenças, dentre elas, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), conforme será descrito a seguir.
doEnça pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição progressiva prevenível e tratável caracterizada pela limitação do fluxo aéreo associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões (Fabbri et al, 2007). Es-ta consiste em uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo (Buist et al 2007).
O tabagismo é a principal causa da DPOC. A fisiopa-tologia da doença envolve destruição gradual dos septos alveolares e destruição do leito capilar pulmonar, levando a um crescimento da incapacidade de oxigenar o sangue. Há também uma diminuição do débito cardíaco e hiper-ventilação compensatória o que resulta em um fluxo san-guíneo limitado em um pulmão superventilado. Devido à diminuição do débito cardíaco, o resto do corpo pode so-frer de hipoxemia tecidual e caquexia respiratória.
Esta manifestação sistêmica contribui para que esses pacientes desenvolvam diminuição da massa muscular e perda de peso corporal (Tarantino 1997) contribuindo pa-ra adotarem um estilo de vida sedentário (O‘Byrne, 2007).
Observa-se nestes pacientes a ativação de células in-flamatórias e aumento dos níveis séricos de citocinas in-flamatórias, alteração dos níveis do fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) e de cortisol, bem como mo-dulação de marcadores epigenéticos. Estes efeitos geram disfunção muscular devido aos mediadores inflamatórios que são liberados afetando a regulação da síntese muscu-lar e comprometendo a função muscular deste individuo (Van Der Vlist; Janssen, 2010).
Os sintomas de tosse e dispnéia, associados à fatores como tabagismo e exposição à gases tóxicos e partículas nocivas são importantes indicativos para seu diagnóstico (Tarantino 1997).
Um dos principais objetivos do tratamento adequado do paciente com DPOC é prevenir e tratar suas exacerba-ções, que é um evento no curso natural da doença carac-terizada por uma mudança na intensidade dos sintomas respiratórios do paciente, que vai além da variação normal diária, e principalmente precipitada por uma inflamação sistêmica infecciosa do tracto respiratório superior e a re-gião traqueobrônquica (Schuetz et al 2008).
O tratamento farmacológico da DPOC pode impactar de duas formas na função pulmonar. A primeira é atenu-ando a obstrução ou o aprisionamento aéreo presentes nessa condição. O segundo efeito é a redução da perda progressiva de função pulmonar (Menezes et al 2011). Apesar destes efeitos benéficos, deve-se considerar que o uso de fármacos apresenta efeitos colaterais.
A Reabilitação Pulmonar (RP), cujo elemento central é o exercício físico, é considerada essencial no tratamento de pacientes com DPOC. Independentemente do estágio da doença, têm se demonstrado o benefício de programas
87
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
de exercícios, resultando em melhor desempenho funcio-nal e do estado de saúde geral dos pacientes com DPOC. Inúmeras evidências reportam os benefícios da atividade física sobre a auto-estima, depressão, memória, (Khaza-eepool et al 2014) a dispneia e fadiga, a melhora da per-cepção da qualidade de vida, aumento da capacidade de exercício e da força muscular(Lacasse et al 2006).
Apesar destes achados, as bases moleculares envolvi-das com os efeitos benéficos do exercício em pacientes com DPOC ainda não estão elucidados.
modulação EpigEnética na dpocPacientes com DPOC apresentam um desequilíbrio de
marcadores epigenéticos quando comparado a grupos controles. Específicamente, observa-se um aumento dos níveis de metilação do DNA e redução dos níveis de aceti-lação de histonas em diversos tecidos, conforme será abordado abaixo.
Em Epitélio brônquico E tEcido pulmonar:Foi constatada baixa atividade de HDAC nos macrófa-
gos alveolares dos pulmões de tabagistas portadores de DPOC em comparação com indivíduos saudáveis não fu-mantes (Ito et al 2005). Estes achados sugerem um au-mento da transcrição de genes específicos.
Corroborando esta idéia, foi demonstrado que macró-fagos alveolares de fumantes apresentam uma redução na atividade de HDAC e na expressão de HDAC2, o que estava correlacionado com um aumento na liberação das citocinas inflamatórias TNF-α e IL-8 (Marwick et al 2004).
Também foi constatado que indivíduos com DPOC e pacientes com asma leve tiveram uma boa correlação en-tre a produção de citocinas e atividade da HDAC em ma-crófagos alveolares de fumantes e não-fumantes (Ito et al 2004). Assim, a atividade reduzida da HDAC pode ser um fator chave no desenvolvimento da inflamação na doença obstrutiva das vias respiratórias.
Modificações epigenéticas em genes específicos têm sido também associados ao estado de saúde em pacientes com DPOC. Um exemplo é o GATA 4, um gene associado com a função e desenvolvimento cardiopulmonar. Foi descrito que camundongos com deficiência deste gene morrem no útero devido à anormalidades significativas na formação do coração (kuo et al 1997). Em humanos, já foi descrito que o GATA 4 é fundamental para o desenvolvi-mento dos lóbulos pulmonares (Ackerman 2007), enquan-to que a mutação deste gene está associado com defeitos cardíacos congênitos e insuficiência nas valvas cardíacas (kuo et al 1997). Um recente estudo mostrou que pacien-tes com DPOC apresentam metilação do gene GATA 4, o que indica redução na sua transcrição e expressão quando comparado ao grupo controle. Os autores sugerem que o estado de metilação do gene GATA 4 pode ser um predi-
tivo para avaliar o estado de saúde de pacientes com DPOC. (Meek et al, 2015).
Um recente estudo mostrou ainda que em células epi-teliais das vias aéreas de nove pacientes ex-fumantes com DPOC, centenas de genes foram encontrados predomi-nantemente hipermetilados, o que foi associado com a função pulmonar diminuída (Vucic et al 2014).
Em músculo EsquElético:Conforme já mencionado, a disfunção do músculo es-
quelético é uma manifestação sistêmica predominante em pacientes com DPOC, especialmente em estágios avançados da doença. Vários mecanismos epige ocorrer em resposta a imobilização, desuso, descondicionamen-to, ou perda de massa muscular. Em um recente estudo foi mostrado um aumento significativo nos níveis da HDAC4 no músculo vasto lateral de pacientes com DPOC (Barreiro et al 2015).
Em sanguE pEriférico:Uma análise em grande escala em sangue periférico
de indivíduos com DPOC constatou que a metilação do DNA pode ser um biomarcador da doença (Qiu et al 2012). Em mais um estudo, comparou-se a atividade da HDAC em células monucleares de sangue periférico em pacien-tes com DPOC e indivíduos controles saudáveis não fu-mantes. Todos os indivíduos com DPOC eram fumantes habituais. A atividade da HDAC foi significativamente di-minuída em 40% quando comparada com a de saudáveis não-fumantes. O estudo também mostrou que a ativida-de da HDAC em células mononucleares de sangue perifé-rico estava significativamente associada com a exposição ao cigarro (Chen et al 2012).
Schamberger e colegas (2014) sugerem que o aumen-to da expressão de citocinas pró-inflamatórias em pacien-tes com DPOC parecem ser decorrentes do aumento nos níveis de acetilação de histonas. Corroborando a idéia, foi demonstrado um aumento da atividade da enzima HDAC em sangue periférico e macrófagos alveolares em biopsia de vias áreas de pacientes com DPOC (Chen et al 2012; Szulakowski et al 2006). O estudo de Chen demonstrou que a redução da HDAC estava correlacionada ao aumen-to do conteúdo de uma interleucina pró-inflamatória. De forma conjunta, estes dados sugerem que o desequilíbrio nos níveis de acetilação e desacetilação de histonas pode contribuir para o aumento da expressão de genes pró-in-flamatórios envolvidos com a patogênese da DPOC.
Considerando esta interface entre a maquinaria epi-genética e a DPOC, estratégias que modulem estes mar-cadores devem ser consideradas no intuito de atuarem como co-adjuvantes no manejo destes pacientes. Neste contexto, destaca-se o exercício físico, o qual tem de-monstrado alterar mecanismos epigenéticos tanto em
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
88
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
estudos experimentais, quanto clínicos (Abel et al., 2013; Gomez-Pinilla et al., 2011; Elsner et al., 2011; Elsner et al., 2013; Spindler et al., 2014; lovatel et al 2013; ansley et al. 2014; Zimmer et al 2015;Kraniou et al 2000; mcgee et al 2009; santella et al 2011; Zhang et al 2015). contu-do, estudos que avaliem a relação entre exercício e epiegnética em pacientes com dpOc ainda não exis-tem na literatura.
epigenética e exercíciO físicO
Estudos ExpErimEntaisEstudos experimentais têm demonstrado que o exer-
cício físico constitui um importante estímulo ambiental capaz de induzir alterações epigenéticas.
Foi observado que após sete dias de exercício em cor-rida de roda houve um aumento da acetilação global de histonas em cerebelo e hipocampo de camundongos ado-lescentes, um indicativo de aumento da atividade trasn-cricional (Abel et al 2013).
O exercício físico modulou o estado de acetilação de histonas no estudo que avaliou os efeitos de um protoco-lo neuroprotetor de corrida em esteira ergométrica adap-tada sobre a atividade das enzimas (HAT) e (HDAC) em hipocampo de ratos adultos jovens. Especificamente ob-servou-se aumento da atividade da enzima hat e con-comitantemente diminuiução da atividade da enzima hdacs (Elsner et al 2011).
Estes achados sugerem aumento nos níveis de aceti-lação de histonas e da atividade transcricional, o que induz a expressão de genes específicos.
Em suporte a esta idéia, Gomez-Pinilla e colegas (2011) observaram que um protocolo de exercício volun-tário aumentou os níveis hipocampais de acetilação da histona H3, o que estava relacionado com um aumento na expressão do gene do fator neurotrófico derivado do en-céfalo (BDNF) em ratos da mesma idade. Desta forma, pode-se hipotetizar que os efeitos positivos do exercício sobre a função cognitiva de ratos adultos pode estar rela-cionada, pelo menos em parte, com o aumento da expres-são de genes específicos, como o BDNF, por meio da mo-dulação dos níveis de acetilação de histonas.
em um recente estudo foi identificado que o exercí-cio físico moderado em esteira ergométrica também pode modular parâmetros de acetilação de histonas em córtex frontal de ratos Wistar adultos jovens. especifi-camente, a sessão única de exercício alterou significa-tivamente a atividade da hat no córtex frontal dos ra-tos. O grupo exercitado apresentou maior atividade da enzima hat 1 hora após treinamento, quando compa-rado ao grupo sedentário. em contrapartida, a sessão única não alterou a atividade da hdac nesta região en-cefálica. por outro lado, este mesmo autor observou
que o protocolo crônico não alterou a atividade da hat, mas reduziu significativamente a atividade da HDac cortical no grupo exercitado imediatamente e 1 hora após a última sessão de treino. com base nestes acha-dos podemos inferir que a modulação da atividade das enzimas hat e hdac depende do protocolo de exercí-cio utilizado, bem como apresenta um perfil tecido-de-pendente (spindler et al 2014).
O exercício físico moderado em esteira ergométrica também foi capaz de induzir alterações epigenéticas re-lacionadas com a metilação de histonas e metilação de dna em hipocampo de ratos Wistar envelhecidos (els-ner et al 2013). foi observado também que um protoco-lo crônico de exercício forçado (corrida em esteira ergo-métrica de 20 minutos por dia durante 2 semanas), re-verteu a redução nos níveis hipocampais de acetilação da histona H4 e os déficits de memória aversiva obser-vados em ratos Wistar envelhecidos (lovatel et al 2013).
Estudos clínicos pesquisas conduzidas com seres humanos envol-
vendo os efeitos do exercício físico sobre marcadores epigenéticos são raros e estão em recente investigação.
um estudo observou que após completarem 120 minutos de exercício extenuante em esteira, homens adultos saudáveis treinados não sofreram alteração nos níveis de metilação global de dna em células mo-nonucleadas. porém, os níveis plasmáticos de il-6 es-tavam significativamente relacionados com estado de metilação de dna de 11 genes (ansley et al 2014).
Observou-se um perfil de hiperacetilação da histona H3 induzido pelo exercício em tecido musculoesquelético, após uma sequência de 60 minutos de bicicleta. Ainda, observou-se que uma única sessão de exercício foi capaz de diminuir a concentração de HDAC nuclear (HDAC5) e aumento na expressão de GLUT-4, associado um aumen-to transitório na acetilação de histonas em quadríceps (Kraniou et al 2000; McGee et al 2009).
Em pacientes oncológicos, o exercício físico também parece modular marcadores epigenéticos. Foi demons-trado em recente estudo que uma sessão de exercício de bicicleta ergométrica com duração de 30 minutos em in-tensidade moderada levou a um aumento na produção de IL-6 e linfócitos T +CD8 e a um aumento nos níveis de ace-tilação de histonas em células mononucleares de indivídu-os com linfoma de Hodgkin contribuindo de forma positi-va para o tratamento dos mesmos. (Zimmer et al 2015).
Foi investigado também por Santella e colaborado-res o efeito de diferentes protocolos de exercício físico sobre os níveis de metilação do DNA em leucócitos de 161 participantes saudáveis com idades entre 45-75 anos. Os resultados demonstraram um maior nível de metilação do DNA global entre indivíduos que pratica-
89
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
vam atividade física 26-30 min/dia em comparação com aqueles que praticavam ≤10 min/dia, sugerindo que a in-tensidade e o tempo do exercício modula de forma dife-rente este parâmetro epigenéticos (Santella et al 2011).
Foi avaliado em outro estudo os benefícios sobre a saúde de indíviduos que praticavam treinamento interva-lado, relacionando mecanismos epigenéticos e inflamató-rios. Os autores observaram alterações nos níveis de me-tilação de DNA em 40 genes (hipo ou hipermetilação). Assim, o treino intervalado pode ser apontado como um modalidade de exercício físico que melhora a susceptibi-lidade à inflamação via modulação de mecanismos epige-néticos (Zhang et al 2015).
Estes dados refletem que o exercício físico podem mo-dular a maquinaria epigenética em diferentes tecidos, tais como músculo esquelético, sangue periférico e encéfalo.
cOnclusãOPacientes com DPOC apresentam um desequilíbrio de
marcadores epigenéticos quando comparado à grupos controles. Específicamente, observa-se um aumento dos níveis de metilação do DNA e redução dos níveis de ace-tilação de histonas em diversos tecidos tais como sangue periférico, músculo esquelético e epitélio brônquico. Es-tas modificações têm sido associadas com o aumento da transcrição de genes pró inflamatórios, progressão da do-ença e pior estado de saúde dos pacientes. Ainda, obser-vou-se que o tabagismo também altera estes marcadores.
O conhecimento acerca da modulação epigenética na DPOC poderá contribuir para a descobertas de novas es-tratégias preventivas e terapêuticas para esta população. Dentre estas, destacamos desde já a cessação ao tabagis-mo e a prática de exercício físico, fatores ambientais que modulam a maquinaria epigenética.
referências ABEL JL et al (2013), Running-induced epigenetic and ge-ne expression changes in the adolescent brain. int. J. dev. neurosci., [S.l.], v. 31, n. 6, p. 382–390.
ACKERMAN KG et al (2007), Gata4 is necessary for normal pulmonary lobar development; american Journal of res-piratory cell and molecular Biology, v.36, p. 391–397.
ANSLEY JA et al (2014), Dynamic changes in DNA me-thylation status in peripheral blood mononuclear cells following an acute bout of exercise: potential impact of exercise-induced elevations in Interleukin-6 concentra-tion; Journal of Biological regulators & homeostatic agents, [S.l.], v. 28, n. 3.
BARREIRO E et al (2015), Epigenetics and muscle dysfunc-tion in chronic obstructive pulmonary disease. translatio-
nal research v.165, n.1, p.61-73. doi: 10.1016/j.tr-sl.2014.04.006. Epub 2014 Apr 5.
BIRD A et al (2007), Perceptions of epigenetics; nature. v.447, p.396–398.
BUIST A et al (2007) International variation in the preva-lence of COPD (the BOLD Study): a population-based pre-valence study. respiration. v. 79, p. 160-174.
CHEN Y et al (2012),Histone deacetylase activity is decre-ased in peripheral blood monocytes in patients with CO-PD; Journal of inflammation. v. 9, p. 1 .
DE RUIJTER AJ et al (2003), Histone deacetylases (HDACs): characterization of the classical HDAC family; Biochem J. v.370,p.737-749.
DIAZ-GUZMAN et al (2014), Epidemiology and prevalen-ce of chronic obstructive pulmonary disease. clinics in chest medicine, v. 35, n. 1, p. 7-16.
ELSNER VR et al (2011), Effect of different exercise proto-cols on histone acetyltransferases and histone deacetyla-ses activities in rat hippocampus; neuroscience. v.29, n.192, p.580-7.
ELSNER VR et al (2013), Exercise induces age-dependent changes on epigenetic parameters in rat hippocampus: a preliminary study; exp gerontol. v.48, n.2, p.136-9. doi: 10.1016/j.exger.2012.11.011. Epub 2012 Nov 30.
FABBRI LM et al (2007), From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? lancet . v.370, p.797-799.
GARCIA-AYMERICH J et al (2006), Regular physical activi-ty reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population based co-hort study; thorax v.61, n.9, p.772-778.
GUPTA S et al (2010) Histone methylation regulates me-mory formation; the Journal of neuroscience, [S.l.], v. 30, n. 10, p. 3589-3599, 2010.
HAGOOD JS et al (2014), Beyond the genome: epigenetic mechanisms in lung remodeling; physiology (Bethesda). v.29, n.3, p.177-85.
ITO K et al (2004), Oxidative stress reduces histone dea-cetylase 2 activity and enhances IL-8 gene expression: ro-le of tyrosine nitration; Biochem Biophys res commun. v.27, n.15, p. 240-5.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
90
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ITO K et al (2005), Decreased histone deacetylase activity in chronic obstructive pulmonary disease. n engl J med. v.352, p.1967-1976.
KHAZAEEPOOL M et al (2014), Effects of physical exer-cise programme on happiness among older people. Jour-nal of psychiatric and mental health nursing. v. 21, n.8, p.746-54.
KOUZARIDES T (2007), Chromatin modifications and their function. cell v.4, p. 693–705.
KRANIOU Y et al (2000), Effects of exercise on GLUT-4 and glycogenin gene expression in human skeletal mus-cle.Journal applied physiology, v.88, p. 794–796.
KUO CT et al (1997) GATA4 transcription factor is required for ventral morphogenesis and heart tube formation; ge-nes & development, v. 11, p.1048–1060.
LACASSE Y et al (2006), Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. the cochrane database os systematic reviews, v. 18, n. 4.
LEI H et al (1996), De novo DNA cytosine methyltransfe-rase activities in mouse embryonic stem cells. develop v.122, p. 3195-3205.
LOVATEL G et a(2013), Treadmill exercise induces age-rela-ted changes in aversive memory, neuroinflammatory and epigenetic processes in the rat hippocampus. neurobiolo-gy of learning and memory, [S.l.], v. 101, p. 94-102, 2013.
MARWICK JA et al (2004),Cigarette smoke alters chroma-tin remodeling and induces proinflammatory genes in rat lungs; am J mol Biol respir celular. v.31, p. 633-642.
MCCARTHY MM et al (2009), The Epigenetics of Sex Di-fferences in the Brain. the Journal of neuroscience, [s.l.], v. 29, n. 41, p. 12815-12823.
MCGEE et al (2009)Exercise-induced histone modifications in human skeletal muscle. the Journal of physiology, v, 587, n.24, p. 5951-5958, dec. 2009.
MEEK PM et al (2014), Epigenetic change (GATA-4 gene methylation) is associated with health status in chronic obstructive pulmonary disease. Biol res nurs. V.17, n.2, p.191-8.
MENEZES AMB (2011) and SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Grupo de Trabalho et
al.Tratamento farmacológico da DPOC. J. bras. pneumol. v.37, n.4, p. 527-543. ISSN 1806-3713.
QIU W et al (2012),Variable DNA methylation is associated with chronic obstructive pulmonary disease and lung function; am J respir crit care med.v.15, v. 185(4), p 373-81. doi: 10.1164/rccm.201108-1382OC.
REIK W et al (1999), Dissecting de novo methylation. nat genet. v.23, p. 380-382.
SANTELLA RM et al (2011), Physical activity and global genomic DNA methylation in a cancer-free population.epigenetics, v.6(3), p.293-9.
SCHAMBERGER AC et al (2014), Epigenetic mechanisms in COPD: implications for pathogenesis and drug discovery. expert Opin drug discov, n.9, v.6, p.609-28, 2014.
SCHUETZ P et al (2008), Effect of a 14-day course of sys-temic corticosteroids on the hypothalamic-pituitary-ad-renal-axis in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Bmc pulmonary medi-cine, v. 8, n. 1.
STRAHL BD et al (2000), The language of covalent histone modifications. nature v.403, p.41–45.
SPINDLER C et al (2014), Treadmill exercise alters histone acetyltransferases and histone deacetylases activities in frontal cortices from Wistar rats. cell mol neurobiol. v.34, n.8, p.1097-101. doi: 10.1007/s10571-014-0096-z. Epub 2014 Aug 24.
SZULAKOWSKI P et al (2006), Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. molecular mechanisms (part II). Wiad Lek, n.59, v.3-4, p.250-4, 2006.
TARANTINO AB ; SOBREIRO MC Doença Pulmonar Obs-trutiva Crônica. In: TARANTINO, AB doenças pulmona-res. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997, cap.22, p. 509-551.
VANDER VLIST et al (2010), The Potential Anti-Inflamma-tory Effect of Exercise in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. respiration, v. 79, p. 160-174.
VUCIC E A et al (2014), DNA methylation is globally dis-rupted and associated with expression changes in chronic obstructive pulmonary disease small airways; am J respir cell mol Biol . v. 50, n.5, p.912-22.
91
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
WU H et al (2012), Regulation and function of mammalian DNA methylation patterns: a genomic perspective; Ad-vance Access publication date 7 March 2012 Oxford Jour-nals, Science & mathematics briefings Functional Ge-nomics. v.11, n. 3, p. 240-250.
ZHANG Y et al (2015), FκB2 Gene as a Novel Candidate that Epigenetically Responds to Interval Walking Training.
international Journal of sports medicine (genetics & molecular Biology).
ZIMMER, Philipp et al. Impact of exercise on pro inflammatory cytokine levels and epigenetic modulations of tumor-competitive lymphocytes in Non-Hodgkin-Lym-phoma patients-randomized controlled trial. european Journal of haematology, v. 93, n.6, p.527-32, jun, 2014.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
92
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
estresse OxidativO: O exercíciO pOde ser cOnsideradO um mecanismO de mOdulaçãO?
Kauê Kaleshi carvalho1
matheus heindner cassales Banca2
thiago rozales ramis2
victor garcia da silva3
nathan Ono de carvalho2
gustavo azambuja rocha1
Juliana martins gartringer3
Jerri luiz ribeiro4
1Gradução Educação Física licenciatura Centro Uni-versitário Metodista – IPA.
2Mestrado biociências e reabilitação Centro universi-tário metodista – IPA.
3Graduação Educação Física Bacharelado Centro Uni-versitário Metodista – IPA.
4Doutorado Ciencias do movimento humano Univer-sidade Federal do Rio Grande do Sul.
resumOO estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilí-
brio das espécies reativas comparado às defesas antioxi-dantes. Pode ocorrer pelo aumento do primeiro ou dimi-nuição das defesas do organismo. Através do exercício físico pode haver uma redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes. O objetivo deste estudo foi verificar na literatura a influência do exer-cício sobre o estresse oxidativo. Foi realizada umarevisão bibliográfica mediante busca de artigos científicos e a consulta em bases de dados como Science Direct, Scielo e Pubmed. Também foram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os ar-tigos analisados foram selecionados por apresentarem grande pertinência ao tema. A atividade física já é conhe-cida por promover o bem-estar e a saúde nos indivíduos praticantes, entretanto, o exercício físico também é res-ponsável por aumentar a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) pelo acréscimo do consumo de oxigê-nio mitocondrial nos tecidos. Dessa forma o desequilíbrio entre a produção de EROs e as defesas antioxidantes dos tecidos pode provocar danos oxidativo a proteínas, lipí-dios e DNA.O exercício de forma regular promove adap-tações dos sistemas de defesa enzimáticos em resposta ao treinamento, limitando assim os danos teciduais.
Descritores: Exercício físico, Espécies reativas, Estres-se oxidativo.
intrOduçãOO sistema oxidativo é a base de fornecimento de ener-
gia para trabalho aeróbio e neste sentido, a mitocôndria desempenha um papel fundamental. Neste sistema, o metabolismo além de gerar energia, pode dar origem a radicais livres centrados no oxigênio, também conhecidos como espécies reativas de oxigênio (EROs). Apesar destas moléculas possuírem um papel fundamental no sistema imune, podem em determinadas situações causarem da-nos a lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos celulares. (HALLIWELL ; GUTTERIDGE, 1999). Uma vez que as EROs são produzidas durante processos oxidativos de geração de energia, o aumento da intensidade do exercício é um dos fatores que provoca um aumento na produção de EROS, e para evitar possíveis danos, nosso organismo possui um sistema de defesa antioxidante (enzimático e não enzimático). As enzimas antioxidantes podem res-ponder de forma adaptativa ao treinamento físico, au-mentando sua linha de ação (Yu, 1994).
As espécies reativas podem ser definidas como molé-culas orgânicas, inorgânicas ou átomos, que contém (ou não), um ou mais elétrons não pareados com existência independente, podendo ter denominações diferentes conforme a sua origem como, por exemplo, ânion supe-róxido (O2-), ânion radical hidroxila (OH·), hidroperóxido (HO2·), peróxido de hidrogênio (H
2O2), dióxido de nitro-gênio (NO2·), óxido nítrico (NO•) e peroxinitrito (ONOO-) (VALKO et al., 2007). Estão presentes no nosso organismo em diversos momentos importantes, tais como: na pro-dução de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes, como na defesa contra a infecção quando os neutrófilos são estimulados pelas bactérias a produzirem espécies reativas para destruírem micro-or-ganismos (HALLIWELL, 2007).
Contudo, o aumento exagerado das espécies reativas pode ocasionar danos oxidativos em lipídios, proteínas e DNA (HALLIWELL, 2007; HUDSON et al., 2008). A peroxi-dação lipídica promove uma interferência no transporte ativo e passivo da membrana celular, causando perda da fluidez ou até mesmo apoptose celular (BARREIROS; DA-VID; DAVID, 2006; FERREIRA; MATSUBARA, 1997; SCAN-DALIOS, 2005; VASCONCELOS et al., 2007).No DNA, o estresse oxidativo pode causar mutação e apoptose, atra-vés da quebra da cadeia de DNA e das modificações de suas bases, que pode desencadear a oncogênese (BAR-REIROS et al., 2006; MIGLIORE; COPPEDE, 2002; SCAN-DALIOS, 2005; VASCONCELOS et al., 2007). Por fim, o aumento do estresse oxidativo pode acarretar modifica-ções especificas de aminoácidos, fragmentação da cadeia peptídica, proteólise, entre outros (SCANDALIOS, 2005).
O estresse oxidativo é caracterizado pelo aumento de espécies reativas comparado às defesas antioxidantes.
93
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; JONES, 2006). Indiví-duos que apresentam aumento do estresse oxidativo de forma aguda ou crônica podem estar sujeitos a danos oxi-dativos em lipídios, proteínas e ácido desoxirribonucleico (DNA) (HUDSON et al., 2008). Através do exercício físico pode haver uma redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes (JI, 1999).
As defesas antioxidantes podem ser classificadas de duas formas: enzimáticas e não enzimáticas. As defesas antioxidantes enzimáticas incluem as enzimas Superóxi-do dismutase (SOD), Glutationa peroxidase (GPx) e Cata-lase (CAT). O sistema de defesa não enzimático é compos-to por Vitamina C (Ascorbic acid), Vitamina E (-tocophe-rol), Glutationa (GSH), carotenoides, flavonoides e outros antioxidantes. Em condições normais existe um equilíbrio entre as atividades e os níveis intracelulares desses antio-xidantes (VALKO et al., 2007). Elas neutralizam as espé-cies que são altamente reativas a fim de reduzir os efeitos causados pelo estresse oxidativo (HALLIWELL e GUTTE-RIDGE, 2007).
Desta forma o objetivo foi verificar na literatura a in-fluência do exercício sobre o estresse oxidativo.
métOdOsFoi realizado um estudo de revisão bibliográfica me-
diante busca de artigos científicos. A consulta baseou-se em bases de dados de artigos científicos como Science Di-rect, Scielo e Pubmed, buscando através das seguintes palavras-chaves, isoladamente ou relacionadas entre si: estresse oxidativo, espécies reativas, peroxidação lipídica e exercícios fisicos e seus respectivos em inglês. Também fo-ram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na lín-gua inglesa e portuguesa. Os artigos analisados foram se-lecionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
resultadOs e discussãODe acordo com Halliwell e Gutteridge (1999), aproxi-
madamente 85 a 90% do oxigênio (O2) que respiramos é metabolizado em nosso organismo pela mitocôndria e em torno de 95 a 98% desse oxigênio forma água pela redu-ção tetravalente do oxigênio na mitocôndria. Os restantes metabolizados em torno de 2 a 5% são reduzidos univa-lente em espécies reativas de oxigênio. O exercício au-mentaria a geração de espécies reativas em função do alto consumo de oxigênio pelo organismo (BARBOSA et al., 2010; CAZZOLA et al., 2003). Além disso, o aumento da liberação de catecolaminas durante exercício pode ser o papel chave para geração de espécies reativas de oxigê-nio (COOPER et al., 2002). Uma revisão realizada por Po-
wers e Jackson (2008) apontou que o principal mecanismo de produção de espécies reativas de oxigênio ocorre pela contração muscular. O músculo esquelético possui dife-rentes mecanismos responsáveis pelo aumento da forma-ção espécies reativas de oxigênio em resposta ao exercí-cio. Entre elas inclui-se: respiração mitocondrial, forma-ção de superóxido via NADPH oxidase, Xantina oxidase e reações relacionadas ao ferro (NIESS; SIMON, 2007).
A excessiva produção de EROs pode derivar de uma grande variedade de causas, entre elas o exercício físico (HALLIWELL, 1991; VOLLAARD, 2005). Um dos estudos precursores que demonstrou os efeitos oxidativos de uma carga aguda de exercício aeróbico foi publicado em 1978 (DILLARD, 1978). Desde então, outros estudos evidencia-ram que exercícios físicos de grande magnitude com du-ração e intensidade suficientes para aumentar a produção de EROs podem ter como consequência a oxidação de lí-pides, proteínas e ácidos nucléicos. As implicações à saú-de destes métodos ainda são motivo de estudos e contro-vérsias (NIESS, 2007; VOLLAARD, 2005). A produção de EROs em resposta a exercícios agudos pode ocorrer por diversas vias metabólicas. Entre elas, a respiração mito-condrial (transferência de elétrons na cadeia de transpor-te e subsequente produção do radical superóxido), meta-bolismo prostanóide, auto-oxidação de catecolaminas e atividade enzimática oxidativa (NADPH oxidase, xantina oxidase). Além disso, a produção de EROs ainda depende do metabolismo aeróbico ou anaeróbico e da intensidade e duração do exercício, pois os vários tipos de exercícios diferem nos requerimentos energéticos, níveis de consu-mo de O2 e estresse mecânico imposto aos tecidos (JA-CKSON, 2000).
Nos últimos anos, o conhecimento científico relacio-nado aos efeitos biológicos e estresse oxidativo induzido pelo exercício aumentou consideravelmente. Enquanto elevados níveis de radicais livres causam danos a compo-nentes celulares, níveis moderados a baixos exercem múl-tiplas ações regulatórias nas células, tais como o controle da expressão gênica, regulação de respostas celulares e inclusive modulação da força muscular esquelética (DRO-GE, 2002; GALLE, 2000). Esportes de longa duração, as-sim como a maratona induzem a formação de elevadas concentrações de radicais livres no organismo do indiví-duo. Apesar da biologia humana ter um complexo e efi-ciente sistema antioxidante, a defesa pode não ser sufi-ciente para o combate eficaz aos danos oxidativos duran-te e após estes exercícios.
O quadro 1 apresenta estudos relacionando exercício físico e estresse oxidativo.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
94
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Quadro 1. Visão geral dos protocolos experimentais
Autor NMod. Expe-rim.
Método Achados
S. Falone et al.33 corredores amado-res homens e 25 ho-mens Sedentários
HumanosCorrida em esteira método de Bruce Modificado
sedentários ↑ TBARS pós ex.
↓Carbonilas
treinados ↓TBARS pós exercício
↑TEAC (cap, antioxidante)
↑Carbonilas
Tom K. Tong et al.10 corredores ho-mens
Humanos
Colheita de sangue pré meia maratona (21km) e pós 4 hrs término da prova. Acompa-nhamento de 1 ano
pré 1 ano ↓ TBARS pós exerc.
↓XO pós
↓GSH pós
↓ CAT pós
↓ SOD pós
↑TEAC (cap.antioxidante)
pós 1 ano: ↓ TBARS pós exerc.
↑XO pós
igual GSH pré/ pós
↑ CAT pós
↓ SOD pós
↑TEAC (cap.antioxidante)
Humdi pepe et al.8 Homens e 9 Mulhe-res (média de idade 21 anos)
HumanosCorrida com Distância de: 800, 1500 e 3000 metros com velocidade de 10km/h
distâncias resultados pós exercício:
LPO: 800m↓ , 1500↓, 3000↓
CAT: 800m↓ , 1500↓, 3000↓
SOD: 800m↓ , 1500↑, 3000↓
GR: 800m↓ , 1500↑, 3000↑
LDH: 800m↓ , 1500↑, 3000↓
Mustafa Kelle et. Al 10 Homens Jovens HumanosColheita de sangue 5 min. pré meia maratona (21km) e pós 5min. término da prova.
GSH total:↓pós
CAT: ↓pós
SOD: ↓pós
CK: ↑ pós
GSSG:↑ pós GSH:↓pós TBARS: ↑ pós
Elke Hessel et al.18 Homens Marato-nistas
HumanosColheita de sangue feita an-tes e imediatamente pós maratona
LPO:↑pós
SOD: ↓pós
GSSG:↑ pós
GSSG/ GSH:↑pós
TBARS: ↑ pós
GSH-px: ↓pós
Antoni Suredo et al.9 Ciclistas profissio-nais
HumanosColheita de sangue feita an-tes e após 3 hrs da prova
CAT:↓ pós
GPx: ↓pós
Takayo Inayam et al.
7 estudantes jovens treinados moderada-mente
HumanosColheita de sangue feita an-tes da competição, imediata-mente pós e pós 24 e 48hrs
Sulfidrilas:
↓ imediatamente após maratona
95
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
A atividade física já é conhecida por promover o bem--estar e a saúde nos indivíduos praticantes, entretanto, o exercício físico também é responsável por aumentar a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) pelo acréscimo do consumo de oxigênio mitocondrial nos teci-dos. Estudos como o de Strobel et al. (2011) demonstram que os aumentos das EROs provocam danos a lipoproteí-nas, lipídeos, DNA e proteínas. Assim o estresse oxidativo induz modificações destas moléculas ocasionando inú-meras doenças. O estresse oxidativo, por exemplo, de-sempenha um papel muito significativo no início e na pro-gressão da aterosclerose (STROBEL et al., 2011).
Sabe-se que a destruição oxidativa dos ácidos graxos poli-insaturados, é bastante lesiva por ser uma reação de auto propagação na membrana (HALLIWELL, GUTERID-GE, 1989). As controvérsias sobre os efeitos do exercício sobre a peroxidação lipídica são inúmeras, provavelmente devido às diferentes intensidades e durações dos proto-colos de exercício (ALESSIO, GOLDFARB, 1988).
Mas, através do exercício físico continuo pode haver redução do estresse oxidativo por meio do aumento das defesas antioxidantes (GOMES et al., 2012; JI, 1999). Por-tanto há a possibilidade de que com a prática de exercício regular ocorra aumento adaptativo dos mecanismos do musculo esquelético capas de proteger contra as lesões das EROs
cOnclusãOConforme a revisão feita podemos concluir que o
exercício físico de forma aguda pode causar aumento de radicais livres e espécies reativas por causa do alto consu-mo de oxigênio, liberação de catecolaminas. Um dos prin-cipais mecanismos de produção de EROS é a contração muscular. O exercício de forma regular promove adapta-ções dos sistemas de defesa enzimáticos em resposta ao treinamento, limitando assim os danos teciduais.
Como sugestão, novos estudos devem ser feitos. Se-ria interessante a utilização de protocolos de longa dura-ção e/ou extenuantes juntamente à dieta rica em antioxi-dantes de enzimas sobre o estresse oxidativo induzido pelo exercício, assim como o estudo da expressão gênica das enzimas antioxidantes, oxidação de proteinas e DNA.
referênciasALESSIO HM, GOLDFARB AH. Lipid peroxidation and scavenger enzymes during exercise: adaptative response to training. J appl physiol; 1988; 64:1333-6.
BARBOSA, K. B. F. et al. Estresse oxidativo: conceito, im-plicações e fatores modulatórios. revista de nutrição, v. 23, p. 629-643, 2010.
BARREIROS, A. L. B. S.; DAVID, J. M.; DAVID, J. P. Estres-se oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. química nova, v. 29, p. 113-123, 2006.
CAZZOLA, R. et al. Biochemical assessments of oxidative stress, erythrocyte membrane fluidity and antioxidant status in professional soccer players and sedentary con-trols. eur J clin invest, v. 33, n. 10, p. 924-30, 2003.
COOPER, C. E. et al. Exercise, free radicals and oxidative stress. Biochem soc trans, v. 30, n. 2, p. 280-5, 2002.
DILLARD CJ, LITOV RE, SAVIN WM, DUMELIN EE, TAP-PEL AL: Effects of exercise, vitamin E, and ozone on pul-monary function and lipid peroxidation. J appl physiol. 1978;45(6):927-932.
DROGE W. Free radicals in the physiological control of cell function. physiol rev. 2002;82:47–95.
FERREIRA, A. L. A.; MATSUBARA, L. S. Radicais livres: conceitos, doenças relacionadas, sistema de defesa e es-tresse oxidativo. revista da associação médica Brasilei-ra, v. 43, p. 61-68, 1997.
HALLIWELL B; GUTTERIDGE J M C. Free radicals in biol-ogy and medicine. Oxford: clarendon press/Oxford uni-versity press, 1999.
HALLIWELL, B. G., J.M.C. free radicals in Biology and medicine 4º edition. Oxford university press, 2007.
HALLIWELL B: Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry, and role in human disease. am J med. 1991;91(3C):14S- 22S.
HUDSON, M. B. et al. The effect of resistance exercise on humoral markers of oxidative stress. med sci sports ex-erc, v. 40, n. 3, p. 542-8, 2008.
JACKSON M. Exercise and oxygen radical production by muscle. In: Sen Ck, Packer L, Hanninen O. Handbook of oxidants and antioxidants in exercise. Basel: elsevier sci-ence; 2000. p.57-68.
JONES, D. P. Disruption of mitochondrial redox circuitry in oxidative stress. chem Biol interact, v. 163, n. 1-2, p. 38-53, 2006.
JI, L. L. Antioxidants and oxidative stress in exercise. proc soc exp Biol med, v. 222, n. 3, p. 283-92, 1999.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
96
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MCARDLE, W. D., KATCH, F.I., KATCH V.L. Fisiologia do Exercício energia, nutrição e desempenho humano. 5º Edição. guanabara Koogan, 2003 p.161-178.
NIESS, A. M.; SIMON, P. Response and adaptation of skel-etal muscle to exercise--the role of reactive oxygen spe-cies. front Biosci, v. 12, p. 4826-38, 2007.
SCANDALIOS, J. G. Oxidative stress: molecular percep-tion and transduction of signals triggering antioxidant gene defenses. Brazilian Journal of medical and Biolog-ical research, v. 38, p. 995-1014, 2005.
VALKO, M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. int J Biochem cell Biol, v. 39, n. 1, p. 44-84, 2007.
VASCONCELOS, S. M. L. et al. Espécies reativas de oxi-gênio e de nitrogênio, antioxidantes e marcadores de da-
no oxidativo em sangue humano: principais métodos ana-líticos para sua determinação. química nova, v. 30, p. 1323-1338, 2007.
STROBEL NA, FASSETT RG, MARSH SA, COOMBES JS. Oxidative stress biomarkers as predictors of cardiovascu-lar disease. int J cardiol. 2011; 147: 191–201.
SOUZA JR TP, OLIVEIRA PR, PEREIRA B. Exercício físico e estresse oxidativo. rev Bras med esporte. 2005; 11(1): 91-6.
VOLLAARD NB, Shearman JP, Cooper CE: Exercise-in-duced oxidative stress:myths, realities and physiological relevance. sports med. 2005;35(12):1045-62.
YU, P.B. Cellular defense against damage from reactive oxygen species. physiol. rev. vol. 74. No. 1: p.139-162, 1994.
97
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
dOenças cardiOvasculares e alterações epigenéticas: uma revisãO de literatura
1gustavo pereira reinaldo2pedro dal lago3viviane rostirolla elsner
1Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Metodista - IPA, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: [email protected]
2Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabili-tação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS, Brasil.
3Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabi-litação do Centro Universitário Metodista - IPA, Porto Ale-gre, RS, Brasil.
resumOIntrodução: A incidência de doenças cardiovasculares
vem apresentado aumento nos últimos anos, e tem-se es-tudado o envolvimento de alterações na modulação epi-genética no desenvolvimento.Objetivo:Abordar os acha-dos na literatura relacionados entre epigenética e doen-ças cardiovasculares.Métodos: Foram incluídos 45 estu-dos publicados a partir de 1997, com pelo menos um dos seguintes descritores para a busca: doenças cardíacas, doenças cardiovasculares e epigenética, e seus respecti-vos termos em inglês. Resultados:Ocorre desregulação na maquinaria epigenética e consequente alteração da ex-pressão de genes específicos nas mais diversas doenças cardiovasculares. Conclusões: Sugere-se que a compreen-são dos mecanismos epigenéticos, suas interações e alte-rações em humanos pode ser um importante contribuinte para a melhor compreensão da fisiopatologia de doenças cardiovasculares. Pode-se, assim, direcionar abordagens preventivas e terapêuticas para esta população.
Descritores: Acetilação de histonas, Metilação de DNA, Arritmia cardíaca, Hipertrofia cardíaca, Insuficiência cardíaca.
intrOduçãOAs doenças cardiovasculares (DCVs) são consideradas
a principal causa de morte em todos os países (Murray e Lopez, 1997), apesar das disparidades significativas em relação aos estratos sócio-econômico e de gênero (The Lancet, 2013). Durante o século passado, tem havido um progresso importante no diagnóstico, prevenção e trata-mento destas patologias (Nabel;Braunwald, 2012; Po-lonsky, 2012), que por sua vez reduziu globalmente a mor-talidade devido a causa (Nichols et al., 2013).
No entanto, o conhecimento científico atual não expli-ca completamente a complexa fisiopatologia subjacente
das DCVs, o que torna premetente a busca pelas vias que levam a estas doenças. Recentemente, o desequilíbrio da maquinaria epigenética tem sido apontado como um im-portante fator envolvido com a fisiopatologia das DCVs.
Durante a última década, a epigenética iniciou uma no-va era ao ser capaz de dar uma abordagem diferente para a doença humana (Feinberg, 2010; Portela; Esteller, 2010). Algumas iniciativas internacionais, incluindo o Human Pro-ject Epigenome (HEP) e o International Human Epigenome Consortium (IHEC) foram lançadas para catalogar o epige-noma humano e correlacionar sua relação com a fisiopato-logia de diversas doenças (Abbott, 2010). Epigenética em doença cardíaca é o foco desta revisão de literatura.
O termoepigenéticarefere-se atodas as mudançashe-reditárias naregulação da expressão gênica, sem alterar sequência primária de DNA(Rodenhiser;Mann, 2006; Bird, 2007). O que ocorre são modificações no estado di-nâmico da cromatina, tornando-a mais frouxa ou mais densa, o que facilita a transcrição gênica e induz o silen-ciamento gênico, respectivamente (Tang; Ho, 2007; Kou-zarides, 2007). Estas alterações são decorrentes da inte-ração do invidíduo com o ambiente, ou seja, fatores exter-nos como alimentação, a poluição, os fármacos e o exer-cício físico podem modular a maquinaria epigenética (Muller; Prado, 2008).
A herança epigenéticaé um mecanismo essencialque-permite a propagaçãoestável deestados de atividadede genesde uma geraçãode célulaspara a próxima(Kelsey; Feil, 2013). Os marcadores epigenéticos constituem tam-bém umamemória celularestávelparaoestado de diferen-ciaçãodeumapopulação de células (Khalil, 2014). As prin-cipais alteraçõesepigenéticasdecélulas humanasincluem-metilaçãodo DNA e modificações pós-traducionaisde histonas, como a acetilação e a metilação.
O presente estudo apresenta como objetivo abordar os achados na literatura relacionados entre epigenética e DCVs.
materiais e métOdOsFoi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de
dados Scielo e Pubmed, utilizandoos seguintesdescrito-res para a busca: doenças cardíacas, doenças cardiovas-culares e epigenética, e seus respectivostermos em inglês: cardiac disease, cardiovascular disease e epigenetics. Fo-ram incluídos artigos que datassem a partir de 1997, com no mínimo um dos três descritores, resultando em 45 ar-tigos incluídos.
resultadOs e discussãO
mEtilação dE dnaA molécula de DNA é suscetível a uma única modifica-
ção epigenética, a metilação, reação catalisada por enzi-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
98
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
mas denominadas DNA metiltransferases (DNMTs). Estas enzimas transferem o grupo metil da molécula doadora S-adenosilmetionina (SAM) para a posição 5’do anel pira-midal da citosina formando 5-metil desoxicitidina e S-ade-nosil homocisteína (SAH), processo que resulta na redução da transcrição gênica. Este processo ocorre nas ilhas CpG (Schroeder et al., 2007) e resulta na redução da transcrição gênica. Existem duas famílias de DNMTs, as DNMTs de manutenção, responsáveis por manter os padrões de me-tilação durante o processo de replicação celular, incluindo as DNMT1; e as DNMTs com função de metilação, incluin-do as DNMT3a e DNMT3b (Okano et al., 1999).
Isso acontece principalmente em locais dinucleotidi-cos específicos ao longo do genoma ou em locais onde os grupos metil ligam-se a bases de citosina seguido por gua-nina (sítios CPG). Outras modificações químicas podem ocorrer concomitantemente, entretanto seu impacto na metilação não é completamente compreendido (Iurlaro et al., 2013). De fato, 40% dos genes contêm sítios ricos em CpG e até 70% de todos os dinucleótidos CpG no ge-noma são metilados (Bird, 2002; Wilson, 2008). Sítios CpG metilados atuam, como locais de ancoragem para prote-ínas de ligação metil que tem a capacidade de oligomeri-zar através do DNA, a fim de recrutar complexos de remo-delação da cromatina que, por sua vez, causam a conden-sação da cromatina e a inativação e silenciamento gênico (Nikitina et al., 2007; Suzuki; Bird, 2008). Sítios não-CpG metilados também têm sido relatados como influencia-dores nas interações proteína-DNA, expressão de genes e a estrutura da cromatina e da sua estabilidade (Fouse; Nagarajan; Costello, 2010). Metilação de sítios não-CpG foramobservados recentemente como prevalentes em células estaminais embrionárias humanas (Lister et al., 2009) e nos neurônios (Guo et al., 2013).
Alteraçõesno padrão demetilação do DNAtêm sido ob-servadas como estando associadas àdoenças cardiovascu-lares, à inflamação, a doençasautoimunes, a infecções e aocâncer(Bierne; Hamon; Cossart,2012;Danget al., 2013).
modificaçõEs nas histonasO DNA eucariótico está envolto em torno de um octâ-
mero proteico do núcleo de 4 pares de histonas: H2A, H2B, H3 e H4, constituindo assim a unidade fundamental da cromatina, o nucleossomo (Berger, 2007). Estas histo-nas são instáveis e mudam rapidamente em resposta a quaisquer estímulos externos, e quaisquer alterações per-manentes para o DNA podem conduzir ao desenvolvi-mento de órgãos defeituosos ou o desenvolvimento de uma doença. As histonas são submetidas a uma variedade de modificações pós-traducionais, destacando-se os resí-duos de aminoácidos das caudas N-terminais que se pro-jetam a partir da fibra de cromatina (Natsume-Kitatani; Shiga; Mamitsuka, 2011).
Entre as diferentes modificações, a acetilação, a me-tilação e a fosforilação são as mais relevantes e têm sido associadas com transcrição e expressão de genes (Li; Ca-rey; Workman, 2007). Modificações pós-traducionais de histonas incluem a sua ligação a proteínas específicas, chamadas de leitores secundários, que interferem com a função da cromatina e medeiam processos tais como a expressão do gene, a apoptose, e reparação de danos no DNA (Jenuwein; Allis, 2001).
O estado dinâmico de acetilação e desacetilação de histonas é regulado por dois grupos de enzimas, as histo-nas acetiltransferases (HATs) e as histonas desacetilases (HDACs). A HDAC remove um grupo acetil da cauda N--terminal tornando a estrutura da cromatina mais densa, processo associado ao silenciamento gênico (redução da transcrição). Já a HAT adiciona um grupo acetil na cauda N-terminal e resíduos de lisina enfraquecendo a carga elé-trica entre as histonas e o DNA. Este processo induz um relaxamento da cromatina; o que facilita a ação de fatores transcricionais, contribuindo para o aumento da expres-são de genes específicos (Mccarthy et al., 2009). A HAT e a HDAC são duas famílias de enzimas que regulam a es-trutura da cromatina e a expressão de genes inflamatórios (Okano et al., 1999).
EpigEnética nas dcvsA epigenética foi inicialmente estudada em pacientes
com doenças cardíacas devido ao seu papel importante na regulação da inflamação e envolvimento vascular (Castro et al., 2003; Stenvinkel et al., 2007). Além disso, estudos envolvendo marcadores epigenéticos em doenças cardí-acas revelou um significativo número de modificações que afetam o desenvolvimento e progressão de doenças cardiovasculares. Pode-se ressaltar que marcadores epi-genéticos também estão envolvidos em fatores de risco cardiovascular como tabagismo (Breitling et al., 2011; 2012; Buro-Auriemma et al., 2013), diabetes, hipertensão (Rivière et al., 2011) e idade (Fuke et al., 2004).
A seguir, serão descritas algumas DCVs caracterizadas por apresentarem modificações epigenéticas.
hipErtrofia cardíacaEm modelos experimentais, a hipertrofia cardíaca
tem sido associada com a acetilação das histonas. Especi-ficamente, observa-se umaumento da atividade da HATe diminuição da HDACem tecido cardíaco, indicativo de au-mento da atividade transcricional e expressão de genes específicos (Khalil, 2014).
A hipertrofia cardíaca também tem sido associada com a metilação das histonas, em particular em H3K9 (Zhang et al., 2011) e H3K4 (Bingham et al., 2007; Stein et al., 2011), em modelos animais.
99
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
insuficiência cardíacaA insuficiência cardíaca (IC) resulta de uma predispo-
sição genética complexa e vários fatores ambientais. Em uma série de pacientes com IC, Movassagh e colaborado-res (2010) relataram que três genes relacionados com a angiogênese foram diferencialmente metilados, inde-pendentemente da etiologia: o gene angiomotin-like 2 (AMOTL2) foi hipometilado enquanto que a região 5’ do gene da molécula de adesão celular endotelial plaquetária (PECAM1) e o corpo do gene Rho GTPase activating protein 24 (ARHGAP24) foram hipermetilados. Os marcadores epigenéticos alterados dos três genes em estágio final de IC podem refletir as vias epigenéticas comuns de remode-lação cardíaca e vascular (Movassagh et al., 2011).
Modificações nas histonas também estão envolvidos em IC. Ao avaliar a metilação de histonas de todo o genoma de tecidos do coração, Kaneda e colaboradores (2009) re-lataram a existência de tri-metilação das histonas H3H4 e H3K9 em ratos com IC, sugerindo um aumento da expres-são de genes que favorecem o surgimento desta patologia.
arritmias cardíacas A contribuição da epigenética para perturbações do
ritmo cardíaco foi recentemente destaque na patologias comuns. A fibrilação atrial é a arritmia mais prevalente no envelhecimento da população.
Em camundongos transgênicos programados para desenvolver hipertrofia cardíaca, Liu e colaborado-res(2008) mostraram que uma injeção de um inibidor de HDAC específico inverte a fibrose atrial e diminui a vulne-rabilidade da fibrilação atrial após uma estimulação elé-trica. Em outros modelos de roedores, a supressão de am-bas as enzimas HDAC1 e HDAC2 no miocárdio resultou em morte fetal precoce por arritmia (Montgomery et al., 2007). Quanto ao à causa genética da síndrome do QT lon-go, pensa-se que uma mutação interrompendo a metila-ção no sítio CpG impediria o silenciamento do alelo pater-no do gene KCNQ1 em tecido cardíaco (Bokil et al., 2010).
cOnclusãOA modulação epigenética se encontra envolvida nos
principais eventos cardiovasculares. Até o momento, não há relatos significativos de contribuição epigenética na prática clínica ou terapêutica em doenças cardiovas-culares, enquanto que no câncer, os inibidores da meti-lação do DNA, inibidores da metilação de histonas e ini-bidores da histona deacetilase tem sido bem referencia-dos até agora (Gal-Yam et al., 2008). Compreender os mecanismos epigenéticos, suas interações e alterações utilizando abordagens de pesquisa translacional ou grandes grupos humanos pode ser sugerida como um importante contribuinte para a melhor compreensão da fisiopatologia de doenças cardiovasculares. Estes acha-
dos podem direcionar abordagens preventivas e tera-pêuticas para esta população.
referênciasABBOTT, A. Project set to map marks on genome. natu-re, v. 463, p. 596–597, 2010.
BARRICK, C. et al. Reduced EGFR causes abnormal valvu-lar differentiation leading to calcific aortic stenosis and left ventricular hypertrophy in C57BL/6J but not 129S1/SvImJ mice. am J physiol heart circ physio, v. 297, p. H65–H75, 2009.
BERGER, S. The complex language of chromatin regula-tion during transcription.nature, v. 447, p. 407–412, 2007.BIERNE, H.; HAMON, M.; COSSART, P. Epigenetics and bacterial infections. cold spring harbor perspect med 2,v. a010272, 2012.
BIRD, A. DNA methylation patterns and epigenetic me-mory. genes dev, v. 16, p. 6–21, 2002.
BIRD, A. Perceptions of epigenetics. nature, v. 447,p. 396–398, 2007.
BOKIL, N. et al.Molecular genetics of long QT syndro-me. mol genet metab, v. 101,p. 1–8, 2010.
BREITLING, L. et al. Smoking, F2RL3 methylation, and prognosis in stable coronary heart disease. eur heart J, v. 33, p. 2841–2848, 2012.
BREITLING, L. et al. Tobacco-smoking-related differential DNA methylation: 27K discovery and replication. am J hum genet, v. 88, p. 450–457, 2011.
BURO-AURIEMMA, L. et al. Cigarette smoking induces small airway epithelial epigenetic changes with corres-ponding modulation of gene expression. hum mol genet, v. 22, p. 4726–4738, 2013.
CASTRO, R. et al. Increased homocysteine and S-ade-nosylhomocysteine concentrations and DNA hypome-thylation in vascular disease. clin chem, v. 49, p. 1292–1296, 2003.
DANG, M.; BUZZETTI, R.; POZZILLI, P. Epigenetics in au-toimmune diseases with focus on type 1 diabetes. diabe-tes metab res rev, v. 29, p. 8–18, 2013.
EGGER, G. et al. Epigenetics in human disease and pros-pects for epigenetic therapy. nature, v. 429, p. 457–463, 2004.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
100
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
FEINBERG, A. Epigenomics reveals a functional genome anatomy and a new approach to common disease. nat Biotechnol, v. 28,p. 1049–1052, 2010.
FOUSE, S.; NAGARAJAN, R.; COSTELLO, J. Genome-sca-le DNA methylation analysis.epigenomics, v. 2, p. 105–117, 2010.
FUKE, C. et al. Age related changes in 5-methylcytosine content in human peripheral leukocytes and placentas: an HPLC-based study. ann hum genet, v. 68, p. 196–204, 2004.
GAL-YAM, E. et al. Cancer epigenetics: modifications, screening, and therapy. annu rev med, v. 59, p. 267–280, 2008.
GUO, J. et al. Distribution, recognition and regulation of non-CpG methylation in the adult mammalian brain. nat neurosci, 17, p. 215–222, 2013.
IURLARO, M. et al. A screen for hydroxymethylcytosine and formylcytosine binding proteins suggests functions in transcription and chromatin regulation. genome Biol, v. 14, p. R119, 2013.
JENUWEIN, T.;ALLIS, C. Translating the histone co-de. science, v. 293, p. 1074–1080, 2001.
KHALIL, C.A. The emerging role of epigenetics in cardio-vascular disease. ther adv chronic dis, v.5, n. 4, p. 178–187, 2014.
KANEDA, R. et al. Genome-wide histone methylation pro-file for heart failure. genes cells, v. 14, p. 69–77, 2009.
KELSEY, G.; FEIL, R. New insights into establishment and maintenance of DNA methylation imprints in mam-mals. philos trans r soc lond B, v. 368, n. 1609, p. 20110336, 2013.
KOUZARIDES, T. Chromatin modifications and their func-tion. cell, v. 4, p. 693–705, 2007.
LI, B.; CAREY, M.; WORKMAN, J. The role of chromatin during transcription. cell, v. 128, p. 707–719, 2007.
LISTER, R. et al. Human DNA methylomes at base resolu-tion show widespread epigenomic differences. nature, v. 462, p. 315–322, 2009.
LIU, F. et al. Histone-deacetylase inhibition reverses atrial arrhythmia inducibility and fibrosis in cardiac hypertrophy
independent of angiotensin. J mol cell cardiol, v. 45,p. 715–723, 2008.
MCCARTHY, M.M. et al. The epigenetics of sex differences in the brain. the Journal of neuroscience, v. 29, n. 41, p. 12815-12823, 2009.
MONTGOMERY, R. et al.Histone deacetylases 1 and 2 re-dundantly regulate cardiac morphogenesis, growth, and contractility. genes dev, v. 21,p. 1790–1802, 2007.
MOVASSAGH, M. et al. Differential DNA methylation cor-relates with differential expression of angiogenic factors in human heart failure. plos One, v. 5, p. e8564, 2010.
MOVASSAGH, M. et al. Distinct epigenomic features in end-stage failing human hearts. circulation, v. 124, p. 2411–2422, 2011MURRAY, C.;LOPEZ, A. Alternative pro-jections of mortality and disability by cause 1990–2020: Global Burden of Disease Study. lancet , v. 349, p. 1498–1504, 1997.
NABEL, E.; BRAUNWALD, E. A tale of coronary artery di-sease and myocardial infarction. n engl J med, v. 366: p. 54–63, 2012.
NATSUME-KITATANI, Y.; SHIGA, M.; MAMITSUKA, H. Genome-wide integration on transcription factors, his-tone acetylation and gene expression reveals genes co-regulated by histone modification patterns. plos One, v. 6, p. e22281, 2011.
NICHOLS, M. et al. Cardiovascular disease in Europe: epi-demiological update. eur heart J, v. 34, p. 3028–3034, 2013.
NIKITINA, T. et al.Multiple modes of interaction between the methylated DNA binding protein MeCP2 and chroma-tin. mol cell Biol, v. 27, p. 864–877, 2007.
OKANO, M. et al. DNA Methyltransferases Dnmt3a and Dnmt3b Are Essential for De Novo Methylation and Mam-malian Development. cell, v. 99, n. 3, p. 247-257, 1999.
POLONSKY, K. The past 200 years in diabetes. n engl J med, v. 367,p. 1332–1340, 2012.
PORTELA, A.; ESTELLER, M. Epigenetic modifications and human disease. nat Biotechnol, v. 28, p. 1057–1068, 2010.
RODENHISER, D.; MANN, M. Epigenetics and human dis-ease: translating basic biology into clinical applica-tions. cmaJ, v. 174, p. 341–348, 2006.
101
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
STENVINKEL, P. et al. Impact of inflammation on epigen-etic DNA methylation - a novel risk factor for cardiovascu-lar disease? J intern med, v. 261, p. 488–499, 2007.
SUZUKI, M.; BIRD, A. DNA methylation landscapes: pro-vocative insights from epigenomics. nat rev genet, v. 9, p. 465–476, 2008.
TANG, W.Y.; HO, S.M. Epigenetic reprogramming and im-printing in origins of disease. rev endocr metab disord, v. 8, p. 173-82, 2007.
THE LANCET. Cardiovascular health for all. lancet, v. 382, p. 572, 2013.
WILSON, A. Epigenetic regulation of gene expression in the inflammatory response and relevance to common dis-eases. J periodontol, v. 79, p. 1514–1519, 2008.
ZHANG, Q. The histone trimethyllysine demethylase JM-JD2A promotes cardiac hypertrophy in response to hyper-trophic stimuli in mice. J clin invest, v. 121,p.2447–2456, 2011.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
102
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
relaçãO entre esquiZOfrenia, epigenética e fatOr neurOtróficO DerivaDo Do encéFaLo (bDnF): uma revisãO de literatura
laira fernanda fuhr1
caroline lavratti1
caroline rohers2
gustavo reinaldo3
luciane Wagner1
pedro dal lago4
Jerri ribeiro1
viviane rostirola elsner1
1Programa de Pós Graduação em Biociências e Reabi-litação do Centro Universitário Metodista, do IPA, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail apresentador: [email protected]
2Curso de Psicologia do Centro Universitário Metodista, do IPA, Porto Alegre, RS, Brasil.
3Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Metodista, do IPA, Porto Alegre, RS, Brasil.
4Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabili-tação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS, Brasil.
resumOA esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico caracte-
rizado por desordens motoras, cognitivas e afetivas. Já é aceito que alterações genéticas estão relacionadas como um fator causal na esquizofrenia. Recentemente tem-se discutido a associação da maquinaria epigenética com a etiologia, fisiopatologia, desenvolvimento e progressão desta doença, contudo, os dados ainda não são conclusi-vos. Propõe-se que o comprometimento cognitivo obser-vado nesta população está associado à redução de níveis centrais e periféricos do fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF). Objetivo: Abordar os dados presentes na literatura sobre esquizofrenia e epigenética.eesquizo-frenia e BDNF. Materiais e Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando-se como descritores: es-quizofrenia, transtornos psiquiátricos, epigenética e BDNF. Definiram-se como fonte de busca os bancos de dados: BIREME, SCIELO, PUB MED, LILACS, MEDLINE. Resultados: Indivíduos com esquizofrenia apresentam um desequilíbrio nos níveis de metilação do DNA e de aceti-lação de histonas em sangue periférico, levando a uma ativação e/ou repressãode genes específicos relacionados a estapatologia. Ainda, foram encontrados níveis reduzi-dos de BDNF em plasma e soro de indivíduos com esqui-zofrenia Conclusão: Fatores externos que modulem os níveis de BDNF e marcadores epigenéticos tais como exercício físico, interação social e dieta, podem ser impor-
tantes estratégias preventivas e terapêuticas para indiví-duos com esquizofrenia.
Descritores: Esquizofrenia, Transtornos psiquiátricos, BDNF e Epigenética.
intrOduçãODe acordo com o DSM-5, o transtorno mental é visto
como uma síndrome ou padrão comportamental ou psi-cológico clinicamente importante, que ocorre em um in-divíduo e que está associado com sofrimento ou incapaci-tação. Deve ser considerada como uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no indivíduo. Dentre elas enquadram-se: depressão, an-siedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo com-pulsivo e a esquizofrenia (OMS, 2014).
A esquizofrenia é uma debilitante patologia neuro-cognitiva de caráter crônico, conhecida como uma das alterações psiquiátricas mais graves e desafiadoras, que afeta principalmente jovens e adultos. Sua prevalência é de 1% ao redor do mundo, independentemente de iden-tidade cultural ou étnica (Lindstronet al, 2007).
Está caracterizada por desordens comportamentais motoras, afetivas e cognitivas anormais. É definida como uma síndrome clínica complexa que compreende mani-festações psicopatológicas variadas de pensamento, per-cepção, emoção, movimento e comportamento (Souza, Coutinho, 2006; OMS, 2000).
Circuitos cerebrais especificamente relacionados ao processamento da informação do ambiente social estão disfuncionais na esquizofrenia, gerando sintomas que po-deriam ser entendidos como reações “para mais” ou “pa-ra menos” a esse ambiente (respectivamente, sintomas paranoides e afastamento social) (Newn, 2004). Estas ma-nifestações comprometem diversos aspectos da vida do indivíduoe representa uma importante carga em termos financeiros e sociais, não somente para o paciente, mas para a família, cuidadores e para a sociedade como um todo (Daltio, 2007; Colvero, 2004).
A hipótese causal da esquizofrenia está baseada em interações multifatoriais, as quais impactam o desenvol-vimento cerebral inicial e tardio. Háforte evidência de uma base genética para a esquizofrenia com um polimor-fismo funcional na região promotora de um gene. Resul-tando assim em mudanças quantitativas da expressãogê-nica, ou polimorfismo na regiãocodificante, resultando em alterações qualitativas do produto gênico (Roth, 2009; Fischer, 2010).
Entretanto, interações entre gene-ambiente durante o desenvolvimento também tem sido associadas com a fisio-patologia da doença, refletindo a influência da maquinaria epigenética na esquizofrenia. (Roth, 2009; Fischer, 2010).
Epigenética é o termo utilizado para definir alterações estruturais na cromatina devido a interações do indivíduo
103
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
com o meio ambiente. Estas alterações podem modificar a expressão de genes específicos, sem alterar a sequência primária do DNA (Bird, 2014).
A estrutura da cromatina é formada através de uma unidade de DNA a qual é dividida em duas espirais que se enrolam em torno de um octâmero proteico formado por quatro pares de histonas: H2A, H2B, H3, H4 (Kouzarides, 2007). A cromatina pode mudar seu estado dinâmico, tornando-se mais compacta ou relaxada, o que resulta emsilenciamento e ativação gênica, respectivamente (Mccarthyet al., 2009).
A molécula de DNA é suscetível a uma única modifi-cação epigenética, a metilação. Esta reação é catalisada por enzimas denominadas DNA metiltransferases (DNMTs), processo que resulta na redução da transcrição gênica. Existem duas famílias de DNMTs, as DNMTs de manutenção que são responsáveis por manter os padrões de metilação durante o processo de replicação celular, on-de inclui-se a DNMT1, e as DNMTs com função de metila-çãode novoque são responsáveis por metilar sítios previa-mente não metilados, incluindo as DNMT3a e DNMT3b (Okano et al., 1999).
A acetilação de histonas é a modificação pós-trasdu-cional mais estudada atualmente (Kimura et al., 2005; CHOI; HOWE, 2009). O estado dinâmico de acetilação e desacetilação de histonas é regulado por dois grupos de enzimas, as Histonas Acetiltransferases (HATs) e as Histo-nas Desacetilases (HDACs). A HDAC remove um grupo acetil da cauda N-terminal e resíduos de lisina, tornando a estrutura da cromatina mais densa, processo associado ao silenciamento gênico e que leva a uma redução da transcrição. Já a HAT adiciona um grupo acetil na cauda N-terminal e resíduos de lisina, o que enfraquece a carga elétrica entre as histonas e o DNA, promovendo um rela-xamento da cromatina e aumento da expressão de genes específicos (Mccarthy et al., 2009).
Os déficits cognitivos são observados em quase 80% dos indivíduos com esquizofrenia (Holthausen et al, 2002; Palmer et al., 1997). Este quadro está associado com a re-dução dos níveis e/ou expressão do BDNF (Pillai et al., 2010; Green et al., 2011; Ho, 2006).
O BDNF é uma é uma neurotrofina de fundamental importância no sistema nervoso central, sendo crucial pa-ra o neurodesenvolvimento, a formação das redes neurais e a plasticidade neural (Chen, 2008).Também tem sido apontada com uma molécula envolvida nos processos de aprendizado e memória (Tyler et al., 2002).
OBJetivOs:Abordar os dados presentes na literatura sobre esqui-
zofrenia eepigenética.e esquizofrenia e BDNF.
métOdOs:Foi realizada uma revisão bibliográfica constituída por
34 artigos científicos, utilizando-se como descritores: es-quizofrenia, transtornos psiquiátricos, epigenética e BDNF. Definiram-se, como fonte de busca, os bancos de dados: BIREME, SCIELO, PUB MED, LILACS, MEDLINE.
resultadOs e discussãO:
EsquizofrEnia E EpigEnéticaAlterações epigenéticas no encéfalo têm sido associa-
das com uma variedade de processos biológicos e cogni-tivos. Dentre eles destacam-se a neurogênese (Ma et al., 2010), o crescimento e desenvolvimento neuronal (Pids-ley, 2010), aprendizagem e memória (Lubin; Sweatt, 2008), e o ritmo circadiano (Nakahata, 2007). O desequi-líbrio nos níveis de acetilação de histonas e de metilação de DNA está associado à patogênese de disfunções cog-nitivas e mentais, como a Síndrome de Rett, esquizofre-nia, ansiedade e depressão (Saha; Pahan, 2006).
Foram encontradas associações epigenéticas compatí-veis em amostras encefálicas e periféricas de indivíduos esquizofrênicos, o que demonstra que análises em tecidos periféricos parecem refletir os níveis centrais (Kuratomiet al, 2008; Ghadirivasfiet al, 2011). Alguns estudos têm asso-ciado níveis elevados de DNMT, enzima que catalisa a me-tilação do DNA, em sangue periférico de indivíduos com esquizofrenia (Veldic M, et al, 2004; Ruzicka WB, et al, 2007), um indicativo de silenciamento de genes específicos.
Outro estudo forneceu um mapa detalhado dos níveis da metilação do DNA em sangue periférico e caracteriza-ram os padrões globais de metilaçãoem do genoma hu-mano em indivíduos com esquizofrenia e bipolaridade. Foi destacado o importante papel da desregulação epige-nética em pacientes com estas patologias, uma vez que encontraram milhares de regiões metiladas, hipermatila-dos e hipometilados. Dos genes identificados, 23,8% já tinham sido previamente reconhecidos como genes en-volvidos diretamente com a Esquizofrenia (Li et al. 2015).
Outro estudo demonstrou que inibidores das DNMTs parecem induzir um aumento nos níveis de acetilação de histonas, o que aumenta os níveis de BDNF (Chenet al., 2006).
Há evidências de que a clozapina, o mais eficaz dos antipsicóticos, pode influenciar a maquinaria epigenética-no encéfalo. Especificamente, aumentando os níveis de acetilação da histona 3, o que ativa a transcrição de genes associados a esquizofrenia. Da mesma forma, o sulprida, inibidorda HDAC também podefacilitar a desmetilação, o que aumenta a expressão de genes específicos(Guidottiet al. 2011).
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
104
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Outro estudo encontrou marcas associadas com cro-matina transcricionalmente ativa nas regiões promotoras de oito genes relacionados com a esquizofrenia em amos-tras corticais pré-frontais postmortem de indivíduos do grupo controle e portadores de esquizofrenia e transtorno bipolar. Uma hipoacetilação significativa da histona H3 foi detectada em indivíduos jovens com esquizofrenia quan-do comparado com controles.(Tang et al., 2011).
esquiZOfrenia e BdnfO BDNF,neurotrofina conhecida por desempenhar
um importante papel na cognição, tem sido implicada na etiologia e patogénese de várias perturbações cognitivas e mentais, incluindo esquizofrenia (Angelucci, 2005; Wei-ckertet al, 2003).
Estudos experimentais sugerem que os níveis perifé-ricosde fatores neurotróficos como o BDNF possam refle-tir a concentração desta molécula no SNC (Trajkovska et al., 2007; Sartorius et al., 2009; Klein et al., 2010).
Níveis de BDNF circulantes são significativamente re-duzidos em indivíduos que apresentam doenças associa-das com um declínio cognitivo progressivo ou com um leve comprometimento cognitivo (YU et al., 2008). Lau-dos periciais indicaram diminuição do BDNF em córtex pré-frontal e hipocampo de pacientes com esquizofrenia (Knable, 2004; Torrey, 2005).
Foi demonstrado ainda que a diminuição sérica de BDNF pode sugerir uma suscetibilidade a diversos trans-tornos mentais como: depressão, ansiedade, esquizofre-nia, síndrome do pânico. (CHEN et al., 2006).
Alguns estudos têm demostrado que inibidores das DNMTs parecem induzir um aumento nos níveis de aceti-lação de histonas, o que aumenta os níveis do BDNF (CHEN et al., 2006). Estes achados sugerem a interação de marcadores epigenéticos e níveis de BDNF na fisiopatolo-gia da doença.
cOnclusãO:Uma vez que o conhecimento relacionado com a mo-
dulação epigenética na esquizofrenia poderá contribuir para formulação dessas novas estratégias terapêuticas assim como preventivas, torna-se necessário entender como ocorre a modulação da maquinaria epigenética des-sa população.
referências:ANGELUCCI A, BRENE S, MATHE AA. Bdnf in schizophre-nia, depression and corresponding animal models. mol psychiatry. 10:345–352, 2005.
BIRD, A. Perceptions of epigenetics. nature, [S.l.], v. 447, p. 396-398, 2014.
CHANG HA, LU RB, SHY MJ, CHANG CC, LEE MS, HUANG SY. Brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism: association with psychopathological symptoms of schizophrenia? J neuropsychiatry clin-neurosci. 21:30-7, 2009.
CHEN ZY, BATH K, MCEWEN B, HEMPSTEAD B, LEE F. Impact of genetic variant BDNF (Val66Met) on brain structure and function.novartis found symp. 289:180-95, 2008.
CHOI, J.K., HOWE, L.J. Histone acetylation: truth of con-sequences? Biochemcell Biol.87(1):139-50. doi: 10.1139/O08-112, 2009.
COLVERO LA, IDE CAC, ROPIM MA. Família e doença mental: a difícil convivência com a diferença. ver esc en-ferm usp. 38(2):197-205, 2004.
DALTIO CS, MARI JJ, FERRAZ MB. Estudos farmacoeco-nômicos e carga da doença em esquizofrenia. rev psiquiatr clin. 34 Supl 2:208-12, 2007.
DEMPSTER, EMMA L. et al. Disease-associated epigen-etic changes in monozygotic twins discordant for schizo-phrenia and bipolar disorder. human molecular genetics, p. ddr416, 2011.
EIJK, K.R. Quantitative studies of DNA methylation and gene expression in neuropsychiatric traits. utrecht, [S.l.], v. 14, n. 7, p. 150-172, 2014.
FISCHER A, SANANBENESI F, MUNGENAST A, TSAI LH. Targeting the correct HDAC(s) to treat cognitive disor-ders. trends pharmacol sci. 31(12):605-17, 2010.
GHADIRIVASFI M., NOHESARA S., AHMADKHANIHA H.R., ESKANDARI M.R., MOSTAFAVI S., THIAGALINGAM S., ABDOLMALEKY H.M. Hypomethylation of the sero-tonin receptor type2A Gene (HTR2A) at T102C polymor-phic site in DNA derived from the saliva of patients with schizophrenia and bipolar disorder. am. J. med. genet. B neuropsychiatr. Genet.156:536–545, 2011.
GREEN MJ, MATHESON SL, SHEPHERD A, WEICKERT CS, CARR VJ. Brainderived neurotrophic factor levels in schizophrenia: a systematic review with meta-analysis. mol psiquiatria. 16:960-72, 2011.
GUIDOTTI, A. et al. Epigenetic GABAergic targets in schizophrenia and bipolar disorder. neuropharmacolo-gy, v. 60, n. 7, p. 1007-1016, 2011.
105
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
GUIDOTTI, A. et al. Toward the identification of periph-eral epigenetic biomarkers of schizophrenia. Journal of neurogenetics, v. 28, n. 1-2, p. 41-52, 2014.
GUPTA, S. et al. Histone methylation regulates memory formation. the Journal of neuroscience, [S.l.], v. 30, n. 10, p. 3589-3599, 2010.
HO BC, MILEV P, O’LEARY DS, LIBRANT A, ANDREASEN NC, WASSINK TH. Cognitive and magnetic resonance im-aging brain morphometric correlates of brain-derived neurotrophic factor Val66Met gene polymorphism in pa-tients with schizophrenia and healthy volunteers. arch gen psychiatry. 63:731-40, 2006.
HOLTHAUSEN EA, WIERSMA D, SITSKOORN MM, HIJ-MAN R, DINGEMANS PM, SCHENE AH, VAN DEN BOSCH RJ. Schizophrenic patients without neuropsychological deficits: subgroup, disease severity or cognitive compen-sation? psychiatry res. 112:1–11, 2002.
IWAMOTO K., KATO T. Epigenetic profiling in schizophre-nia and major mental disorders. neuropsychobiolo-gy.60:5–11, 2009.
KLEIN AB, WILLIAMSON R, SANTINI MA. Blood BDNF concentrartions reflect Brain-derived neurotrophic fac-tor-5-brain-tissue BDNF levels across species. int J neuri-psychopharmacol4: 1–7, 2010.
KIMURA, A., MATSUBARA, K., HORIKOSHI, M.J. A de-cade of histone acetylation: marking eukaryotic chromo-somes with specific codes Biochem. 138(6):647-62, 2005.
KOUZARIDES, T. Chromatin modifications and their func-tion. cell, [S.l.], v. 128, n. 4, p. 693-700, 2007.
KNABLE MB, BARCI BM, WEBSTER MJ, MEADORWOOD-RUFF J, TORREY EF. Molecular abnormalities of the hip-pocampus in severe psychiatric illness: Postmortem find-ings from the Stanley neuropathology consortium. mol psychiatry. 9:609–620, 2004.
KURATOMI G., IWAMOTO K., BUNDO M., KUSUMI I., KATO N., IWATA N., OZAKI N., KATO T. Aberrant DNA methylation associated with bipolar disorder identified from discordant monozygotic twins. mol. psychia-try.13:429–441, 2008.
LI, Y. et al. Analyses reveal novel epigenetic regulation pat-terns in schizophrenia and bipolar disorder. hindawi pub-lishing corporation Biomed research international, [S.l.], v. 5, n. 7, p. 120-147, 2015.
LINDSTROM E, EBERHARD J, NEOVIUS M, LEVANDER S. Costs of schizophrenia during 5 years. actapsychi-atrscand suppl. (435):33-40, 2007.
LUBIN F.D., ROTH T.L., SWEATT J.D. Epigenetic regula-tion of BDNF gene transcription in the consolidation of fear memory. J. neurosci. 28:10576–10586, 2008.
MA D.K., MARCHETTO M.C., GUO J.U., MING G.L., GAGE F.H., SONG H. Epigenetic choreographers of neurogene-sis in the adult mammalian brain. nat. neurosci. 13:1338–1344, 2010.
MCCARTHY, M.M. et al. The Epigenetics of Sex Differ-ences in the Brain. the Journal of neuroscience, [S.l.], v. 29, n. 41, p. 12815-12823, 2009.
MIGLIORE L., COPPEDE F. GENETICS. Environmental factors and the emerging role of epigenetics in neurode-generative diseases. mutat. res. 667:82–97, 2009.
MILL J., TANG T., KAMINSKY Z., KHARE T., YAZDANPA-NAH S., BOUCHARD L., JIA P., ASSADZADEH A., FLANA-GAN J., SCHUMACHER A., et al. Epigenomic profiling re-veals DNA methylation changes associated with major psychosis. am. J. hum. genet. 82:696–711, 2008.
NAKAHATA Y., GRIMALDI B., SAHAR S., HIRAYAMA J., SASSONECORSI P. Signaling to the circadian clock: plas-ticity by chromatin remodeling. curr. Opin. cell Bi-ol.19:230–237, 2007.
NEWMAN LS. What is social cognition? Four basic ap-proaches and their implications for schizophrenia research. In: Corrigan PW, Penn DL. Social cognition and schizophre-nia. american psychological association; 2004.
OKANO, M. et al. DNA Methyltransferases Dnmt3a and Dn-mt3b Are Essential for De Novo Methylation and Mamma-lian Development. cell, [S.l.], v. 99, n. 3, p. 247-257, 1999.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Es-tatística Internacional de Doenças e Problemas relaciona-dos à Saúde – cid-10. 8.ed. são paulo: edusp; 2000.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. esquizofrenia. 2014. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/es/>. Acessoem: 10 set. 2014
PALMER BW, HEATON RK, PAULSEN JS, KUCK J, BRAFF D, HARRIS MJ, ZISOOK S, JESTE DV. Is it possible to be schizophrenic yet neuropsychologically normal? neuro-psychology. 11:437–446, 1997.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
106
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
PIDSLEY R., DEMPSTER E.L., MILL J. Brain weight in males is correlated with DNA methylation at IGF2. mol. psychiatry. 15:880–881, 2010.
PILLAI A, KALE A, JOSHI S, NAPHADE N, RAJU MS, NAS-RALLAH H, MAHADIK SP. Decreased BDNF levels in CSF of drug-naive firstepisode psychotic subjects: correlation with plasma BDNF and psychopathology. int J neuropsy-chopharmacol. 13:535-9, 2010.
ROTH TL, LUBIN FD, SODHI M, KLEINMAN JE. Epigenetic mechanisms in schizophrenia. BiochimBiophysacta. 1790(9):869-77, 2009.
RUZICKA WB, et al. Selective epigenetic alteration of lay-er I gabaergic neurons isolated from prefrontal cortex of schizophrenia patients using laserassisted microdissec-tion. mol psychiatry.12:385–397, 2007.
RYBAKOWSKI JK, BORKOWSKA A, CZERSKI PM, SKI-BIOSKA M, HAUSER J. Polymorphism of the brain-de-rived neurotrophic factor gene and performance on a cog-nitive prefrontal test in bipolar patients. Bipolar disord. 5:468-72. 13, 2003.
SAHA, R.; PAHAN, K. HATs and HDACs in neurodegen-eration: a tale of disconcerted acetylation homeostasis. cell Death Differ, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 539-550, 2006.
SARTORIUS A, HELLWEG R, LITZKE J. Correlations and discrepancies between serum and brain tissue levels of neurotrophins after electroconvulsive treatment in rats. pharmacop 42:270–276, 2009.
SOUZA LA, COUTINHO ESF. Fatores associados à quali-dade de vida de pacientes com esquizofrenia. rev Bras psiquiatra. 28(1):50-8, 2006.
TANG, B.; DEAN, B.; THOMAS, E.A. Disease- and age-related changes in histone acetylation at gene promoters in psychiatric disorders. transl psychiatry , [S.l.], v. 20, n. 1, p. 64, 2011.
TRAJKOVSKA V, MARCUSSEN AB, VINBERG M, HART-VIG P, AZNAR S, KNUDSEN GM. Measurements of brain-derived neurotrophic factor: methodological aspects and demographical data. Brain res Bull15:143-9, 2007.
TYLER, W. et al. From acquisition to consolidation: on the role of brain-derived neurotrophic factor signaling in hip-pocampal-dependent learning. learning & memory, v. 9, n. 5, p. 224-237, 2002.
TONELLI, H; LIBONI, F; CAVICCHIOLI, D. Programas me-tacognitivos com enfoque em cognição social na reabili-tação da esquizofrenia: uma revisão sistemática. J Brasp-siquiatr, v. 62, n. 1, p. 51-61, 2013.
TORREY EF, et al. Neurochemical markers for schizophre-nia, bipolar disorder, and major depression in postmortem brains. Biol psychiatry.57:252–60, 2005.
TSANKOVA N., RENTHAL W., KUMAR A., NESTLER E.J. Epigenetic regulation in psychiatric disorders. nat. rev. neurosci.8:355–367, 2007.
VELDIC M, et al. DNA methyltransferase1 mrna is selec-tively overexpressed in telencephalicgabaergic interneu-rons of schizophrenia brains. proc natl acadsci usa.101:348–353, 2004.
WEICKERT CS, ET AL. Reducedbrainderived neurotrophic factor in prefrontal cortex of patients with schizophrenia. mol psychiatry.v8:592–610, 2003.
107
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
suBstâncias reativas dO ácidO tiOBarBitúricO: uma ferramenta de identificaçãO de danO OxidativO
luciana Kneib gonçalves¹marina rocha frusciante¹elenara Kowaleski¹ruben dário Braccini neto¹gabrielli Bortolato; cláudia funchal² caroline dani³.
1Laboratório de Bioquímica do Centro de Pesquisa do Centro Universitário Metodista IPA. Autor corresponden-te: [email protected]
resumO
A peroxidação lipídica é a principal causa de deterio-ração de corpos graxos. É um dano oxidativo que pode ser resultado do desiquilíbrio das defesas antioxidantes exis-tentes e a produção de espécies reativas e com isto causar danos celulares. Dentre as diversas técnicas que avaliam os danos provocados pela peroxidação lipídica está o tes-te do ácido tiobarbitúrico. O objetivo deste trabalho foi avaliar esta técnica através da literatura, buscando suas vantagens e desvantagens, bem como, alternativas para a identificação dos níveis de peroxidação lipídica. Obser-vamos que apesar de algumas limitações que esta técnica apresenta, seu baixo custo em comparação a outras téc-nicas mais específicas e sensíveis ainda são um determi-nante importante o qual faz deste método ser ainda o mais utilizado.
Descritores: antioxidantes; estresse oxidativo; peroxi-dação lipídica.
intrOduçãOA presença de espécies reativas (ER) é de extrema im-
portância para a manutenção de muitas funções fisiológi-cas vitais como a sinalização celular e a defesa bacteriana (BERGER, 2005; BIANCHI, M. L.; ANTUNES, L. M., 1999; POMPELLA, 1997). ER são caracterizadas como um átomo ou molécula que possui um ou mais elétrons desempare-lhados em suas camadas externas (MARKESBERRY, 1999). No entanto, o excesso de ER pode promover reações com substratos biológicos, como lipídios, proteínas, ácidos nu-cléicos, podendo assim ocasionar alterações das confor-mações dessas moléculas e, por consequência, causar da-nos celulares que podem afetar a saúde do indivíduo (BAR-REIROS; DAVID; DAVID, 2006; BERGER, 2005).
As ER são classificadas em dois grandes grupos: espé-cies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de ni-trogênio (ERN). Se o elétron desemparelhado está no átomo de oxigênio esta espécie é denominada como ERO. Essas moléculas podem ser geradas como resultado de
excitação ou de sucessivas adições de elétróns ao O2
(D’AUTRÉAUX TOLEDANO, 2007; BHATTACHARJEE, 2010). ERO ainda são subdivididas em dois grupos: os ra-dicalares e os não-radicalares. Entre os radicalares estão: radical hidroxila (OH•), radical ânion superóxido (O2•−), radical peroxila (ROO•) e radical alcoxila (RO•); e entre os não-radicalares estão: oxigênio singlet, peróxido de hi-drogênio (H2O2) e ácido hipocloroso (BARREIROS; DA-VID; DAVID, 2006).
Já quando o elétron encontra-se desemparelhado em uma molécula de nitrogênio, são definidas como ERN (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). Dentre as ERN estão: o óxido nítrico (NO•), óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2−), nitratos (NO3) e pero-xinitritos (ONOO−) (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; BERGER, 2005).
O acúmulo de ER pode ser combatido por meio das defesas antioxidantes (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; MARKESBERRY, 1999). Os antioxidantes são consi-derados qualquer substância que impeça, atrase ou iniba os danos oxidativo provocados pelas ER, assim evitando danos celulares ao organismo (ABE et al., 2007; ARON; KENNEDY, 2008). Eles podem ser produzidos pelo corpo (antioxidantes endógenos) ou, adquiridos através da die-ta (antioxidantes exógenos), e são classificados em: não enzimáticos e enzimáticos. Dentre os enzimáticos estão catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD) e glutationa-s-transferase (GST), sendo a SOD e a CAT, a primeira linha de defesa contra as ER evitando o acúmulo de ânion radical superóxido e peróxi-do de hidrogênio. (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; PA-RI; SURESH, 2008). Já entre os não enzimáticos estão a glutationa (GSH), as proteínas ligadas ao ferro (transferri-na e ferritina) e o ácido diidrolipóico.
A oxidação, bem como a produção de ER naturais, são importantes mecanismos de manutenção celular. No en-tanto, o excesso destes pode gerar efeitos prejudiciais ao nosso organismo, resultado de produtos oxidados, como os aldeídos (peroxidação lipídica), as carbonilas e as pro-teínas (oxidação protéica). (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; MARKESBERRY, 1999). O estresse oxidativo
é nada mais que o desiquilíbrio dos mecanismos de defesa antioxidante frente às ER e seus produtos quando em excesso (AGARWAL; GUPTA; SIKKA, 2006; MARKES-BERRY, 1999).
Diversas doenças degenerativas como cardiopatias, aterosclerose, problemas pulmonares e neuropatias vem tendo a sua etiologia associadas aos danos oxidativos in-duzidos nas células e nos tecidos (BIANCHI; ANTUNES, 1999; GIEHL et al., 2007). Existem diversas formas para a avaliação de danos provocados pelo estresse oxidativo. Para quantificar os nìveis de oxidaçâo proteica, a técnica de carbonilas proteicas desenvolvida por Levine e colabo-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
108
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
radores (1990), tem como princípio a reação de dinitrofe-nilhidrazina (DNPH) com carbonilas de proteínas que co-mo produto formam hidrazonas e que podem ser medidas espectrofotometricamente em 370 nm. Também, a maio-ria das proteínas possui resíduos de cisteína (com grupa-mentos sulfidrila livres), que podem ser oxidados pela ação de ER. Dessa forma, a quantificação da concentração dos grupamentos sulfidrilas totais fornece uma ideia do nível de ataque oxidativo a proteínas. O teor de grupa-mentos sulfidrilas é inversamente relacionado ao dano às proteínas (AKSENOV; MARKESBERY, 2001). Os grupa-mentos sulfidrilas podem ser determinados espectrofoto-metricamente em 412 nm. Dentre outras medidas para avaliar danos oxidativo, há a quantificação dos níveis de peroxidação lipídica através da técnica de substâncias de reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS), o qual este arti-go terá como sua objetividade avaliar esta ferramenta de identificação de dano oxidativo. Entretanto, alguns auto-res apresentam algumas desvantagens para essa técnica, defendendo outras técnicas como mais específicias, entre elas a cromatografia de alta resolução (HPLC) e a fluori-metria (SILVA; BOGES; FERREIRA, 1999).
métOdOs
Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica atra-vés busca de artigos científicos em bases de banco de da-dos como Science Direct, Sciel, Pubmed e Portal de peri-ódicos CAPES publicados entre 1980 e 2015. A consulta baseou-se, buscando através das seguintes palavras-cha-ve, isoladamente ou relacionadas entre si: antioxidantes, danos oxidativos, estresse oxidativo, peroxidação lipídica, TBARS e seus respectivos em inglês. A busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os artigos anali-sados foram selecionados por demonstrarem grande re-levância sobre o assunto escolhido.
resultadOs e discussãOA peroxidação lipídica é considerada a principal causa
de deterioração dos corpos graxos (lipídios e matérias gra-xas). Este processo ocorre em três etapas: iniciação, pro-pagação e terminação (LIMA; ADBALLA, 2001). Inicia-se com o ataque a bicamada lipídica, tornando-se um pro-cesso autocalítico, onde somente termina quando se es-gotarem todas as reservas de ácidos graxos insaturados e oxigênio (SILVA; BORGES; FERREIRA,1999). Dentre os produtos deste tipo de oxidação, os mais mensurados são os isoprostanos, hidroperóxidos lipídicos, fosfolípideos oxidados, produtos de processos bioquímicos da oxidação do colesterol e aldeídos (CHANG; ADBALLA; SEVANIAN, 1997; LIMA; ADBALLA, 2001).
Os isoprostanos são compostos formados durante a peroxidação do ácido araquidônico e de outros ácidos gra-xos poliinsaturados, como o linolênico, o eicosapentaenói-
co (EPA) e o doco-sahexaenóico (DHA) (MONTUSCHI et al. 2007). Os hidroperóxidos lipídicos (LOOH) são formados durante os processos bioquímicos de peroxidação dos áci-dos graxos insaturados e podem ser mensurados por téc-nicas colorimétricas e cromatográficas (MIYAZAWA et al. 1994). Os produtos de oxidação dos fosfolípideos podem ser determinados no plasma por meio de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa (LC/MS) ou por imunoensaios com anticorpos monoclonais murinos, que reconhecem estes lípideos oxidados como determi-nantes antigênicos (TSIMIKAS, 2004). Já os produtos da oxidação de colesterol para a detecção dos óxidos de co-lesterol podem ser identificados por cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama (CG/FID) ou a espec-trometria de massa (CG/MS) e HPLC (SEVANIAN et al. 1994; MENÉNDEZ-CARREÑO et al. 2008).
Os aldeídos são formados através da clivagem beta da cadeia dos ácidos graxos oxidados. Diversos aldeídos rea-tivos, como o malondialdeído (MDA), hidroxihexenal (HHE, derivado de ácidos graxos poliniinsaturados n-3) e o 4-hidroxinonenal (4-HNE, derivado dos ácidos graxos po-liinsaturados n-6), podem se ligar aos resíduos de aminoá-cidos positivamente carregados das apolipoproteínas, principalmente da lisina, produzindo alterações de cargas na superfície lipoproteicas (POLIDORI et al. 2007; MOORE; ROBERTS, 1998). Dentre os diversos métodos para avalia-ção da peroxidação lipídica o método colorimétrico, que utiliza como reagente o ácido tiobarbitúrico (TBA), vem sendo amplamente utilizado para a detecção de MDA tan-to in vivo quanto in vitro (HOLVOET et al.,1995).
A quantificação de MDA nos sistemas biológicos é um parâmetro importante para avaliação do estresse oxidati-vo celular (PILZ; MEINEKE; GLEITER, 2000; SIM et al., 2003). Desenvolvido na década de 40, o princípio desta técnica consiste na reação do MDA com o ácido tiobarbi-túrico (TBA), por meio de uma reação ácida e aquecida, produzindo um composto de cor vermelha, medido es-pectrofotometricamente a 532 nm de comprimento de onda (de acordo com a metodologia, esse comprimento de onda pode variar) (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999; BORGES et al. 2011).
Esta técnica vem com o tempo sendo aprimorada com o intuito de melhorar a sua especificidade. O baixo custo de obtenção, fácil aplicabilidade, eficácia, termo-resistên-cia, “neutralidade” organoléptica e ausência reconhecida de toxicidade, são algumas das vantagens reconhecidas desta técnica (SILVA; BORGES; FERREIRA,1999). No en-tanto, a sua baixa especificidade torna-se esta técnica limi-tada. O MDA não é o único produto da peroxidação lipídica que pode reagir com TBA, outros aldeídos, como o formal-deído, açúcares, alcenais, alcadienais, nitritos e proteínas tem a capacidade de formar o mesmo cromogênio (OSA-WA; FELICIO; GONCALVES, 2005) .
109
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Alternativas como a cromatografia líquida de alta efi-ciência (CLAE), em inglês: high performance liquide (HPLC) e, a fluorimetria vêm sendo aplicadas afim de evitar as li-mitações conhecidas pela técnica de TBARS. A CLAE é um método utilizado para separação de espécies iônicas ou macromoléculas e compostos termolábeis. Permite dose-ar separadamente peróxidos, hidroperóxidos e produtos secundários de oxidação (ROGINSKY; LISSI, 2005).
Já a fluorimetria permite a detecção de produtos re-sultantes da oxidação lipídica as quais contenham NH2 li-vre. O princípio do método fluorimétrico baseia-se na emissão de radiações pela espécie a determinar após ab-sorção de radiação electromagnética de comprimentos de onda na zona UV/VIS (HAMILTON et al., 1983).
Este método apresenta uma elevada sensibilidade e baixo limite de detecção, aplicando-se essencialmente à determinação da extensão da oxidação lipídica. Apesar da sua alta sensibilidade, eficiência e rapidez destas técnicas, os seus equipamentos geram altos custos o que em alguns casos torna inviável a utilização das mesmas. (BORGES et al., 2011).
cOnclusãOSegundo a literatura, há várias de técnicas que nos
permitem quantificar os níveis de peroxidação lipídica, um importante parâmetro de dano oxidativo celular. Há diferentes métodos, que apresentam vantagens e des-vantagens que devem ser criteriosamente avaliadas e consideradas no momento da escolha das análises. Nos últimos anos, vem sendo observado a busca por alterna-tivas que tragam maior especificidade aos resultados obtidos, no entanto a quantificação pela técnica de TBARS ainda é muito empregada devido ao seu baixo custo que ela proporciona.
referênciasABE, L.T.; DA MOTA, R.V.; LAJOLO, F.M.; GENOVESE, M.I. Compostos fenólicos e capacidade antioxidante de cultivares de uvas Vitis labrusca L. e Vitis vinifera L. food science and technology, Campinas, v. 27, n. 2, p.394-400, 2007.
AGARWAL, A.; GUPTA. S.; SIKKA, S. The role of free radi-cals and antioxidants in reproduction. current Opinion in Obstetrics and gynecology, v.18, p. 325 – 332, 2006.
AKSENOV, M.Y.; MARKESBERY, W.R. Change in thiol con-tent and expression of glutathione redox system gene in the hippocampus and cerebellum in Alzheimer’s disease. neuroscience letters, v. 302, p. 141-145, 2001.
BARREIROS, A.L.; DAVID, J.M; DAVID,J.P. Estresse oxida-tivo: Relação entre geração de espécies reativas e defesa
do organismo. química nova, v. 29, n. 1, p. 113-123, 2006.BERGER, M.M. Can oxidative damage be treated nutri-tionally? clinical nutrition, v. 24, p. 172–183, 2005.
BHATTACHARJEE, S. Sites of generation and physico-chemical basis of formation of reactive oxygen species in plant cell. In: GUPTA, S.D. reactive oxygen species and antioxidants in higher plants. Enfield: Science Publi-shers, p. 1- 30, 2010.
BIANCHI, M. L.; ANTUNES, L. M. Radicais livres e os prin-cipais antioxidantes da dieta. revista de nutrição, Cam-pinas, v. 12, n. 2, p. 123-130, 1999.
BORGES, L.L; LÚCIO, T.C.; GIL, E.D.S.; BARBOSA E.F. Uma abordagem sobre métodos analíticos para determi-nação da atividade antioxidante em produtos naturais. enciclopédia biosfera. centro científico conhecer. vol.7, n. 12, p. 1-20, 2011.
CHANG, Y.H.; ADBALLA, D.S.; SEVANIAN, A. Character-ization of cholesterol oxidation products formed by oxida-tive modification of low density lipoprotein. Free Radic Biol Med. v. 23, n. 2, p. 202-14, 1997.
D’AUTRÉAUX, B.; TOLEDANO, M.B. ROS as signalling molecules: mechanisms that generate specificity in ROS homeostasis. nature reviews molecular cell Biology, v.8, p.813-824, 2007. Disponível: <http://www.uvm.edu/~vgn/outreach/documents/nrm2256.pdf>. Acesso em: 01 outubro de 2015.
GIEHL, M.R.; BOSCO, S. M.D.; LAFLOR, C.M.; WEBER, B. Efficacy of grape, red wine and grape juice flavonoids in the prevention and secondary treatment of atherosclerosis. scientia medica, v. 17, n. 3, p. 145-155, setembro, 2007.
HAMILTON, R. J.; ROSSELL, J. B.; HUDSON, B. J. F.; LÖLI-GER, J.; In Rancidity in Foods. applied science publishers ltd.; London, p.1, 1983.
HOLVOET, P.; PEREZ, G; ZHAO, Z; BROUWERS, E; BER-NAR, H; COLLEN, D. Malondialdehyde-modified low den-sity lipoprotein in patients with atherosclerotic disease. J clin invest. v. 95, n. 6, p. 2611-9, 1995.
LEVINE, R.L.; GARLAND, D.; OLIVER, C. N.; AMICI, A.; CLI-MENT, I.; AHN, B. W. Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins. methods enzymology, v. 186, p. 464-478, 1990.
LIMA, E.S.; ABDALLA, D.S.P. Peroxidação lipídica: meca-nismos e avaliação em amostras biológicas. rev Bras ciênc farm, v. 37, n. 3, p. 293-303, 2001.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
110
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MARKESBERRY, W.R. The role of oxidative stress in Al-zheimer disease. archives of neurology, v. 56, p. 1449-1452, 1999.
MENÉNDEZ-CARREÑO M, GARCÍA-HERREROS C, AS-TIASARÁN I, ANSORENA D. Validation of a gas chroma-tography-mass spectrometry method for the analysis of sterol oxidation products in serum. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2008
MIYAZAWA, T.; FUJIMOTO, K; SUZUKI, T.; YASUDA, K. Determination of phospholipid hidroperoxides using lu-minol chemiluminescense: high-performance liquid chro-matography. methods enzymol, v. 233, n. 1, p.324-32, 1994.
MONTUSCHI P.; BARNES P.; ROBERTS L.J. Insights into oxidative stress: the isoprostanes. curr med chem. v. 14, n. 6, p.703-17, 2007.
MOORE, K; ROBERTS, L.J. Measurement of lipid peroxi-dation. free radic res. v. 28, n. 6, p 659-71, 1998.
OSAWA, C.C; FELÍCIO, P.E.D.; GONÇALVES, L.G. Teste de TBA aplicado a carnes e derivados: métodos tradicionais, modificados e alternativos. Quím. Nova, v. 28, n. 4, 2005.
PARI, L.; SURESH, A. Effect of grape (Vitis vinifera L.) leaf extract on alcohol induced oxidative stress in rats. food and chemical toxicology, v. 46, p. 1627- 1634, 2008.
PILZ, J.; MEINEKE, I.; GLEITER, C. Measurement of free and bound malondialdehyde in plasma by high-perfor-mance liquid chromatography as the 2,4-dinitrophenyl-hydrazine derivative. J. chromatogr. B: anal. technol. Biomed. life sci., v.742, p.315-325, 2000.
POLIDORI M.C.; PRATICÓ, D.; PARENTE, B.; MARIANI, E.; CECCHETTI, R.; YAO, Y.; SIES, H.; CAO, P.; MECOCCI, P.; STAHL, W. Elevated lipid peroxidation biomarkers and low antioxidant status in atherosclerotic patients with in-creased carotid or iliofemoral intima media thickness. J investig med. v: 55, n. 4, p.163- 167, 2007.
POMPELLA, A. Biochemistry and histochemistry of oxi-dant stress and lipid peroxidation. international Journal of vitamin and nutrition research, Bern, v.67, n.5, p.289-297, 1997.
ROGINSKY, V.; LISSI, E.A. Review of methods to deter-mine chain-breaking antioxidant activity in food. food chemistry. 92, 235-254. 2005.
SEVANIAN A.; SERAGLIA R.; TRALDI P.; ROSSATO P.; UR-SINI, F.; HODIS H. Analysis of plasma cholesterol oxida-tion products using gas and high performance liquid chro-matography/mass spectrometry. free rad Biol med. v. 17, n. 5, p.397-409, 1994.
SILVA, F.A.M.; BORGES, M.F.M.; FERREIRA, M.A. Méto-dos para avaliação do grau de oxidação lipídica e da capa-cidade antioxidante. química nova, v. 22, n. 1, p. 94-103, 1999.
SIM, A.S.; SALONIKAS, C.; NAIDOO, D.; WILCKEN, D.E.L. Improved method for plasma malondialdehyde measure-ment by high-performance liquid chromatography using methyl malondialdehyde as an internal standard. J. chro-matogr. B: anal. technol. Biomed. life sci., v.785, p.337-344, 2003.
TSIMIKAS, S. Percutaneous Coronary intervention results in acute increases in oxidized phospholipids and lipoprotein(a). circulation. v. 109, n. 25, p. 3164-70, 2004.
111
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
usO da nandrOlOna cOmO anaBOliZante
simone Krause ferrão1
cristanBaltezan de luiz2
Jerri luiz ribeiro3,4
valescacardoso casali4
marcello avila mascarenhas3,4
1Farmacêutica, Mestranda do Programa de Pós Gra-duação em Biociências e Reabilitação do Centro Universi-tário Metodista-IPA.
2Educador Físico, Mestrando do Programa de Pós Gra-duação em Biociências e Reabilitação do Centro Universi-tário Metodista-IPA.
3Professor e Pesquisador do Programa de Pós Gradu-ação em Reabilitação e Inclusão do Centro Universitário Metodista-IPA.
4Professor e Pesquisador do Programa de Pós Gradu-ação em Biociências e Reabilitação do Centro Universitá-rio Metodista-IPA.
resumOOs Esteroides são considerados um grupo de com-
postos naturais ou sintéticos usados com fins farmaco-lógicos para melhorar a performance esportiva. O nosso estudo apresentou como objetivo fazer uma breve revi-são sobre esteroides anabolizante dando ênfase a nan-drolona. No entanto, o uso dos esteroides em doses ele-vadas tem provocado muitas vezes danos irreversíveis à saúde física e mental.
Descritores: Anabolizantes, Esteroide, Nandrolona.
intrOduçãOOs Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA) são
grupos de compostos naturais ou sintéticos formados pe-la testosterona e seus derivados, cuja indicação terapêu-tica está associada ao hipogonadismo e a deficiência do metabolismo proteico (THEIN et al., 1995; SHAHIDI, 2001; KICMAN, 2008). Existem disponíveis no mercado vários tipos de EAA que desencadeiam efeitos anabólicos e an-drogênicos.
Estas substâncias vêm despertando a atenção de pro-fissionais da área da saúde devido à sua grande utilização por atletas profissionais e amadores, com o objetivo de aumentar a massa muscular, melhorar o desempenho fí-sico e a estética corporal (CUNHA et al., 2004). Apenas nos Estados Unidos da América (EUA), existem mais de 45 produtos contendo esteroides anabolizantes (EA) dispo-níveis no mercado. A Foodand Drug Administration (FDA) estima que 1 a 3 milhões de pessoas nos EUA usem essas drogas por razões não medicamentosas, alimentando um mercado negro que, por estimativa, excede os 300mi-
lhões de dólares por ano(DU RANT et al., 1993; MACEDO-et al., 1998).
No Brasil, o uso de EA para fins não medicamentosos também parece ser bastante difundido, embora os dados a respeito de sua prevalência na literatura sejam escassos (ARAÚJO et al., 2002; SILVA; MOREAU, 2004; ABRAHIN et al., 2013). Assim, o nosso objetivo foi fazer uma breve revisão bibliográfica sobre esteroides anabolizantes dan-do ênfase a nandrolona.
metOdOlOgiaA presente pesquisa foi construída através de uma re-
visão da literatura cientifica, as buscas foram realizadas através de livros e duas bases de dados bibliográficos - PubMed, e Scielo, ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas e selecionados artigos escritos em inglês, português ou espanhol, entre 1990 e 2014 com os descritores: nandrolona, esteroides anabolizantes e esportes.
resultadOs e discussãOOs EA são um grupo de compostos naturais ou sinté-
ticos formados pela testosterona e seus derivados. Refe-rem-se aos hormônios sexuais masculinos, promotores e mantenedores das características sexuais associadas à masculinidade, desde o desenvolvimento do trato genital, até as manifestações das características secundárias, tais como: crescimento de pêlo, crescimento da laringe e es-pessamento das cordas vocais, maior ativação das glân-dulas sebáceas, espessamento da pele e a fertilidade. Os EA também promovem o efeito anabólico dos tecidos, que está relacionado à retenção de nitrogênio, ao cresci-mento de massa muscular. Os EA incluem a testosterona e seus derivados (THEIN et al., 1995; SHAHIDI, 2001; KIC-MAN, 2008).
Com o objetivo de diminuir o seu efeito androgênico mantendo elevado o efeito anabólico derivados da testos-terona vem sendo desenvolvidos. Apesar dos dois efeitos não terem ainda sido completamente dissociados, alguns Esteroides já apresentam uma diminuída androgenicida-de (SHAHIDI, 2001).
A atividade anabólica da testosterona e dos seus de-rivados manifesta-se primariamente na sua ação miotró-fica, que resulta em ganhos de massa muscular e força. Estes efeitos, em conjunto com os efeitos que exercem ao nível do sistema nervoso central, como euforia e agressi-vidade, tornaram os EA muito procurados e consumidos por atletas e praticantes de atividades físicas (MARAVE-LIASet al., 2005).
O decanoato de nandrolona é um dos anabólicos mais utilizados no mundo (KUTSCHERet al., 1972). Foi introdu-zido no mercado em 1962 como uma preparação anabó-lica injetável com ação prolongada de até três semanas
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
112
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
após a administração intramuscular em humanos. A fór-mula estrutural da nandrolona é muito similar a da testos-terona, diferindo apenas pela substituição de um grupo metila no carbono 10, conferindo a molécula maior poder anabólico (SHAHIDI, 2001).
A indicação mais comum para a terapia androgênica é o hipogonadismo masculino, onde o tratamento é capaz de restabelecer os níveis normais de testosterona plasmá-tica e as suas funções.Além do tratamento da disfunção hipogonadal, os androgénos foram aplicados na terapia do retardo da puberdade e na promoção do crescimento corporal. Devido aos seus efeitos benéficos no aumento, manutenção e promoção do ganho de massa corpórea os EA tem sido empregados no tratamento de queimaduras, na recuperação pós-operatória, politraumatismos, osteo-patologias e outras doenças com perda de massa muscu-lar (EVANS, 2004; DEMLING, 2005).
Os efeitos ergogênicos dos EAA acabaram despertan-do o uso não clínico destes medicamentos por atletas pro-fissionais e amadores, com o objetivo de aumentar a mas-sa muscular, melhorar o desempenho físico e a estetética corporal (CUNHA et al., 2004).Os EAA são frequentemen-te utilizados em combinação com programas de treina-mento e ingestão de proteínas, a fim de melhorar o de-sempenho em esportes que demandam força e velocida-de (CUNHA et al., 2004; ARALDI et al., 2013).
Os EA são administrados em “ciclos” que duram de 4 a 12 semanas, que podem envolver várias drogas simulta-neamente. As doses são gradualmente aumentadas até a dosagem máxima e após diminuídas progressivamente até o final do tratamento, administradas por via oral e via intramuscular associadamente, com períodos de absti-nência que variam entre um mês e um ano (GUIMARÃES NETO, 2003). Os EA são utilizados obedecendo, basica-mente, a três metodologias: a primeira, conhecida como “ciclo”, refere-se a qualquer período de utilização de tem-pos em tempos, que varia de quatro a 18 semanas; a se-gunda é denominada “pirâmide”, começa com pequenas doses, aumentando-se progressivamente até o ápice e, após atingir esta dosagem máxima, existe a redução re-gressiva até o final do período; e a terceira, conhecida co-mo “stacking” (uso alternado de esteroides de acordo com a toxicidade), refere se à utilização de vários esteroides ao mesmo tempo, orais e injetáveis. Há também entre os atletas o hábito comum de utilizar a mistura dos três mé-todos descritos acima. Os EAA são administrados, geral-mente, em doses suprafisiológicas que poderão chegar a até 500mg por dia e consumidas por várias semanas ou meses (SILVA et al., 2002).
A nandrolona, assim como os demais EA pode causar diversos efeitos colaterais que variam de reações psicoló-gicas como alterações de humor, euforia, agressividade e irritabilidade, mudanças físicas como ginecomastia em
homens ou hirsutismo em mulheres (CUNHAet al., 2004).Pode-se observar também danos no tecido hepático, tais comopeliose hepática, hiperplasia e adenoma hepatoce-lular (SHAHIDI, 2001, FRANKELFELD et al., 2014). No coração, as altas doses de EA aumentam o risco de doen-ças cardiovasculares, possivelmente devido a aumento do colesterol total e lipoproteínas baixa densidade (LDL) e a diminuição dos níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL) levando ao aumento da pressão arterial, trombose, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca (SULIVANet al., 1998).
No Brasil a venda de anabolizantes é controlada desde 2000 pela Lei 9965 sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e regulada pela portaria 344/98. A lei 9965 restringe a venda de anabolizantes a apresentação e retenção de receita pela farmácia ou drogaria, da cópia da receita emitida por médico ou dentista devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais (BRA-SIL, 2000) e a Portaria nº 344/98 aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a con-trole especial (BRASIL, 1988).
cOnclusãOOs EAA são drogas de uso exclusivo na medicina para
o tratamento de diferentes tipos de patologias, causando melhoria das condições da saúde do paciente, quando ad-ministrados corretamente. As publicações referentes ao uso de EAA nos esportes causam resultados, na maioria das vezes, benéficos do desempenho, como a hipertrofia muscular e o aumento da força física.
No entanto, o uso destas substâncias em doses eleva-das provocando muitas vezes danos irreversíveis à saúde física e mental. Há vários anos, os EAA vem sendo utiliza-dos indiscriminadamente por atletas e praticantes de ati-vidade física para prática esportiva recreativa (SILVA et al., 2002).
No Brasil, a dispensação e venda de medicamentos do grupo de Esteroides e peptídeos anabolizantes de uso hu-mano estão restritas à apresentação e retenção, pela de receita desde 1990 segundo a lei 9965 (BRASIL, 1990) e o comércio regulado pelas autoridades sanitárias do Ministé-rios da Saúde, da Fazenda, da Justiça e seus congêneres nos Estados, municípios e Distrito Federal, de acordo com a Portaria 344/98 (BRASIL, 1998).No entanto, mesmo com este mecanismo de fiscalização, alguns EAA acabam sendo adquiridos no comércio e em academias. Dessa forma, fa-zem-se necessárias campanhas educacionais que alertem sobre os efeitos colaterais do uso de anabolizantes.
referênciasABRAHIN, O.S.C.; SOUZA, E.C. Esteroides anabolizantes androgênicos e seus efeitos colaterais: uma revisão críti-co-científica. revista de educação física, v.12, n.4, 2013.
113
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ARALDI, R. P. et al. Análise do potencial mutagênico dos esteroides anabólicos androgênicos (EAA) e da l-carnitina mediante o teste do micronúcleo em eritrócitos policro-máticos. revista Brasileira medicina do esporte. v.19, n.6, p. 448-451, 2013.
ARAÚJO, L.R.; ANDREOLO, J.; SILVA, M.S. Utilização de suplemento alimentar e anabolizantes por praticantes de musculação nas academias de Goiânia GO. revista Bra-sileira ciência movimento.v.10, 3, p.13-8, 2002
BRASIL. Lei nº 9.965 de 20 de abril de 2000.
BRASIL. Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998.
CUNHA, T. S et al. Esteroides anabólicos androgênicos e sua relação com a prática desportiva. revista Brasileira de ciências farmacêuticas, São Paulo, v.40, n. 2, p. 110,-4, 2004
DURANT, R.H et al. Use of multiple drugs among adoles-cents who use anabolic steroids - n engl J medn.328, p.922-6, 1993.
FRANKENFELD, S.P. et al. The Anabolic Androgenic Ste-roid NandroloneDecanoate Disrupts Redox Homeostasis in Liver, Heart and Kidney of Male Wistar Rats. plos One. v.9, n.9, p.1-8, 2014.
HARTEGENS, F.; KUIPERS, H. Effects of Androgenic- Ana-bolic Steroids in Atlhetes.sportsmedicine.v.35, n.3, p.513-564, 2004.
KICMAN, A.T. Pharmacology of anabolic steroids. British Journal of pharmacologycal.v.154, n.3, p.502-521, 2008.
MACEDO, C.L.D. et al. Uso de Esteroides anabolizantes em praticantes de musculação e/ou fisioculturismo. re-vista Brasileira medicina do esporte. v.4, n.1, p. 13-17, 1998.
MARAVELIAS; C., STEFANIDOU; D., SIPILIOPOLOU; C. Adverse effects of anabolic steroids in athletes: a constant threat. toxicollogy letters. v.5, p.167-175, 2005.
PALMA A, ASSIS M. Uso de Esteroides anabólico-andro-gênicos e aceleradores metabólicos entre professores de Educação Física que atuam em academias de ginástica. revistaBrasileiradeciênciadoesporte. v.27, p.75-92, 2005.
SHAHIDI N.T. A Review Of the Chemistry, Biological Ac-tion, and Clinical Aplications of Anabolic- Androgenic Ste-roids. clinicaltherapeutics, v.21, n.9, p.1355-1390, 2001.
SILVA, L.S.M.F.; MOREAU, R.L.M. Uso de Esteroides ana-bólicos androgênicos por praticantes de musculação de grandes academias da cidade de São Paulo. ver Brascien-cfarmv. 39(3), p. 327-33, 2003.
SILVA, P.R.P.; DANIELSKI, R.; CZEPIELEWSKI, M.A. Este-roides anabolizantes no esporte. revista Brasileira medi-cinado esporte, porto alegre – RS: v.8, n.6, p.235-243, 2002
SILVA, PRP; CZEPIELEWSKI; MA. Uso de agentes Esteroi-des anabólicos, estimulantes, diuréticos, insulina e GH em amostra de praticantes de musculação de Porto Ale-gre. revista Brasileira toxicologia. v.14, p.71, 2001.
THEIN, L.A.; THEIN, J.M.; LANDRY, G.L. ergogenis aids. physical terapy, v.75, n.5, p. 426-439, 1995.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
114
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
hidrataçãO: uma revisãO da literatura
gustavo azambuja rocha1
thiago rozales ramis1
leonardo peterson da silva1
victor garcia da silva1
Juliana martins gatringer1
Kauê Kaleshi carvalho1
nathan Ono carvalho1
Jerri luiz ribeiro1
1 Laboratório de Fisiologia do Exercício, Centro Uni-versitário Metodista – IPA, Porto Alegre, RS, Brasil
autor correspondente: [email protected]
resumOO presente trabalho pretende realizar uma revisão de
alguns métodos de hidratação, a fim de melhor compre-ender a desidratação, seu processo e precauções. Ambi-ciona-se com esta busca na literatura estimular os educa-dores físicos a utilizarem estes processos para um melhor desempenho e bem-estar de seus clientes atletas e não--atletas. Sendo assim, o profissional poderá ter um maior controle da variável estudada, atentando para diversos fatores, como por exemplo: a perda hídrica pela sudorese induzida no exercício, especialmente, realizado em am-bientes quentes, que podem levar à desidratação, dificul-tando a termorregulação e, assim, representando um ris-co para a saúde e/ou provocar uma diminuição no desem-penho esportivo. Ao avaliar a desidratação, o estudo mos-tra os diferentes tipos de controle da mesma, como: per-cepção de esforço, análise da cor da urina, diferença de peso corporal antes e depois do exercício físico e, por úl-timo, o controle da taxa de sudorese. Para que as reco-mendações possam ser entendidas, deve-se compreen-der a necessidade da hidratação, imediatamente antes, durante e depois do exercício físico. Esta revisão teve o propósito de guiar os educadores físicos através de instru-mentos que são utilizados para obter informações a res-peito da hidratação e desidratação de praticantes de exer-cícios físicos. Pode-se concluir que a reposição de carboi-drato deve ser realizada imediatamente após o exercício e, em alguns casos, uma solução esportiva pode ser neces-sária. Além disso, o aconselhamento de um profissional é fundamental para resolver problemas de desidratação.
descritOres: hidratação, desidratação, exercícios físicos
intrOduçãOGrande parte das pessoas que praticam exercício físi-
co não sabem que menos de 25% da energia utilizada du-rante exercício é transformada em movimento, sendo o
restante transformado em calor (Silva, 2006). Muitas pes-soas também desconhecem que a desidratação é o mes-mo que a redução de água corporal, ou seja, o organismo passa do estado normohidratado para o hipohidratado; têm-se com isso, a falta de entendimento dos fatores su-pracitados, podendo, com este quadro, ocasionar no au-mento da temperatura corporal e também resultar em graves problemas no controle do sistema cardiovascular, na termorregulação e no desempenho físico (Lamb e Shehata, 1999). A carência de controle e entendimento destes dados, portanto, passa a representar um risco para a saúde das pessoas envolvidas com o exercício físico.
Muitas pessoas utilizam um plástico ao redor da cintu-ra acreditando auxiliar no “emagrecimento”. Tal exemplo prático e corriqueiro serve para ilustrar a falta de entendi-mento dos adeptos desse “método” e mais uma vez aler-tam para a importância da presença de um profissional habilitado. Sabemos que no caso citado, este “atleta” irá somente perder peso líquido, o que gerará um grave pro-blema para a instalação da desidratação e para o aumento da temperatura corporal. Visto que, o calor não está sendo dissipado e o suor não está sendo reposto na forma de hi-dratação e, desta forma, facilmente ocorrerá a hipertermia e a desidratação nesses indivíduos (Silva, 2006).
Outro problema acontece também em atividades de alto intensidade como, por exemplo, o futebol, em que o processo de reposição hídrica, em alguns lugares, ainda não é feito, ou seja, não são utilizados conhecimentos científicos para o processo de hidratação. Desta forma, profissionais que trabalham com a atividade física, tam-bém não compreendem os problemas que isto pode cau-sar. De acordo com Silva (2006), em exercícios físicos que duram mais de uma hora, o uso de soluções esportivas é imprescindível e muito mais vantajoso do que o uso de água pura.
Nesta mesma linha, podemos traçar um paralelo en-tre maratonistas de 1950 e atualmente. Os primeiros, que eram motivos de glórias e demonstrações de grande ap-tidão física, terminavam as maratonas sem ingerir qual-quer tipo de conteúdo hídrico (Barros e Guerra, 2004). Tal atitude era aceitável, já que o conhecimento sobre o as-sunto era escasso. Contemporaneamente, isto é mais es-tudado, ou seja, encontramos na literatura a descrição dos sintomas causados pela desidratação (hipertermia e hipo-natremia), tais como: confusão mental, desorientação, coma, náusea e cansaço (Swain, 2004). Tal comparação mostra que houve um avanço considerável nas pesquisas; entretanto, ainda precisamos compreender melhor o pe-rigo na falta de hidratação e, principalmente, transportar tais estudos para as atividades esportivas.
É sabido da importância da hidratação no futebol. Guerra & Soares (2001) observaram que os jogadores de futebol podem perder em média três litros ou mais de su-
115
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
or durante um jogo em um dia quente. O que mais uma vez comprova a importância da hidratação e por isso ela deve ser considerada e administrada imediatamente an-tes, durante e depois do exercício físico.
A partir desse foco, a revisão foi feita para compreen-der melhor a desidratação, avaliando tanto seu processo quanto suas precauções. Com isso, desejando que essa busca na literatura estimule os profissionais da área a uti-lizarem este processo para um melhor desempenho de seus atletas e bem-estar para seus clientes não-atletas.
métOdOsPara a realização desta revisão foram pesquisadas pu-
blicações de livros e revistas indexadas na área. Os descri-tores utilizados foram: hidratação, desidratação, exercí-cios físicos.
resultadOs
como avaliar o procEsso dE dEsidrataçãoPrimeiramente, deve ser considerado que o mecanis-
mo corporal para o controle de temperatura no meio am-biente interno também significa o aumento da taxa de transpiração em que há perda de água e eletrólitos, que são eliminados por processos de evaporação (Powers e Howley, 2005). Ressaltando que entre eles, a evaporação, durante exercício, torna-se a via mais eficiente de perda de calor. Não esquecendo, é claro, que é necessário con-siderar outras variantes como: a temperatura, umidade relativa do ar e a exposição da pele.
Certamente, esses fatores são imprescindíveis para a avaliação da possível desidratação ou até mesmo são va-riáveis necessárias para medir a quantidade de repositor energético que deve ser consumida pelo atleta ou prati-cante de um exercício físico. De acordo com estes fatores, podemos observar em Moreira & Gomes (2006), que além de evitar a desidratação, a ingestão de líquidos pode ate-nuar o aumento da temperatura corporal. Desta forma, auxiliando para melhorar a temperatura do meio ambien-te interno.
A avaliação do processo de desidratação através da percepção de esforço (Moreira, Gomes et al., 2006) é mais uma forma interessante e enriquecedora para ser analisa-
da nos exercícios. Já que o déficit de líquido no organismo faz com que a percepção de esforço aumente durante exercício de qualquer intensidade. Em outras palavras, se-ria um método bem simples e de custo praticamente zero.
A análise da cor da urina de um atleta pode determinar o seu estado de desidratação (Armstrong, Maresh et al., 1994), tal verificação faz parte de outro método bastante usado tanto por pesquisadores quanto pelos laboratórios.
De forma rápida e simples é possível avaliar a desidra-tação, graças à utilização do peso corporal. Este simples controle pode auxiliar muitíssimo o trabalho de prepara-ção de um atleta, pois conforme Sawka (apud Lamb, 1999), a perda de peso relativamente pequena, ou seja, 1% ou 2% do peso corporal, já é o suficiente para alterar o desempenho em exercício.
Tomar conhecimento da importância da reposição hí-drica torna-se mais importante em esportes como o fute-bol onde podemos observar uma queda de 30% do desem-penho em jogadores que perderam de 5% a 6% do peso corporal, podendo aumentar também o tempo de recupe-ração das reservas hídricas. Consecutivamente, o organis-mo leva em média 48 a 72 horas após o término da ativi-dade para voltar ao normal (Guerra, Soares et al., 2001).
Todos os exemplos esboçados no presente trabalho mostram que é possível e útil medir a desidratação dos atle-tas a partir controle do peso corporal, mesurados antes e depois do exercício físico ou evento esportivo. Com esse controle, o profissional avaliará o grau da perda de líquidos corporais do indivíduo, considerando que quando ultrapas-sar de 1% pode já estar manifestando uma desidratação.
Por último, outro método (Quadro 1) utiliza um instru-mento que calcula o índice de sudorese e avalia a hidrata-ção durante treinos e jogos (Aragon apud Barros, 2004). Com este instrumento, Barros orienta para os cuidados que devem ser tomados no momento da pesagem: deve--se buscar sempre a precisão e para isto, preferencialmen-te, realizar o exame em atletas despidos e de bexiga vazia. Tal mecanismo auxilia muito na montagem dos treina-mentos, já que a taxa de sudorese representa a quantida-de que o indivíduo deve ingerir na seção ou no evento es-portivo. E também, pode-se verificar que se o peso inicial menos o peso final obtiver um valor positivo maior que 400 gramas, significa que não houve ingestão suficiente de líquido durante o exercício.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
116
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
aconselhável que cada atleta tenha a sua garrafa para ter controle na hora anterior, durante e depois das atividades esportivas.
O objetivo primário da hidratação, antes e durante exercício, é fornecer substrato para o músculo e anular os efeitos da desidratação. Sendo assim, no momento da prática esportiva a bebida eletrolítica deve ser consumida pelos atletas de forma constante, em intervalos regulares e em grandes quantidades (Guerra, Soares et al., 2001).
Fora isto, as bebidas devem estar numa concentração de 6% a 8% de carboidrato simples e conter pelo menos sódio para a reposição de eletrólitos. A concentração de carboidrato é de extrema importância, pois, a sua concen-tração vai apressar ou não o esvaziamento gástrico. Por-tanto, quanto maior a densidade calórica menor será o esvaziamento gástrico. Por outro lado, a absorção intes-tinal também leva em consideração a porcentagem de carboidrato; porém, o fator que interfere na absorção é a osmolaridade da solução. Por conseguinte, quanto mais carboidrato maior a osmolaridade e menor será a absor-ção intestinal (Aoki, 2002).
Basicamente, o atleta deve consumir de 400 – 800 mL/h, dependendo das condições climáticas, a bebida de-ve estar gelada e incluir 0.5 g de sódio por litro de bebida esportiva (Swain, 2004 ). Em vista disso, certamente os atletas diminuirão os problemas com a hipertermia e o desempenho será mantido por mais tempo.
Finalmente, na fase de recuperação, que se inicia ime-diatamente após o evento esportivo, as perdas hídricas continuam durante este período. Assim, recomenda-se
discussãOConforme foi mencionado no decorrer do artigo, a hi-
dratação concorre para a manutenção das funções fisio-lógicas e hídricas durante um exercício físico. Para isto ser concretizado são necessários alguns cuidados com a hi-dratação antes, durante e depois do exercício físico.
Entretanto, é preciso salientar uma série de fatores para que a execução da hidratação seja realizada com ple-nitude. É necessário que a bebida esportiva seja a adequa-da; deve ter um agradável gosto/sabor; conter carboidra-tos na porcentagem correta; que seja de esvaziamento gástrico rápido; não cause transtornos gastrintestinais e também ser de rápida absorção do intestino (Shi e Gisolfi, 1998). Obrigatoriamente, precisamos ainda refletir sobre a quantidade que se deve ingerir de bebidas esportivas para a manutenção fisiológica e do rendimento.
Um aspecto muito interessante e que deve ser escla-recido é que a sede não é garantia de hidratação, involun-tariamente, o indivíduo que utilizar a hidratação baseada na sede vai com certeza ingerir quantidade insuficiente de líquidos (Silva, 2006).
Consecutivo, recomenda-se, por exemplo, antes de eventos esportivos que o atleta ou praticante deva come-çar a atividade normohidratado, para isso se faz necessá-rio uma ingestão duas horas antes de cerca de 500ml de bebida esportiva. Além disso, após um aquecimento pré-vio, imediatamente antes do jogo, deve-se ingerir um adi-cional de 250 ml de bebida esportiva (Barros e Guerra, 2004). O controle do consumo de bebida esportiva de jo-gadores de esporte coletivo deve ser rigoroso e para tal é
quadro 1. Instrumento para o cálculo do índice de sudorese e avaliação da hidratação durante treinos e jogos
117
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Armstrong, L. E., C. M. Maresh, et al. Urinary indices of hydration status. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION, v.4, n.3, p.265-279. 1994.
Barros, T. L. e I. Guerra. Ciência do Futebol. Baurueri: Ma-nole. 2004. 1 - 338 p.
Guerra, I., E. D. A. Soares, et al. Aspectos nutricionais do futebol de competição. Rev Bras Med Esporte v.7, n.6, p.200-206. 2001.
Lamb, D. R. e A. H. Shehata. BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DA PRÉ-HIDRATAÇÃO. SPORTS SCIENCE EXCHANGE, v.12 n.2. 1999.
Meyer, F. e C. A. Perrone. Hydration Post-Exercise – Rec-ommendation and Scientific Evidence. R. bras. Ci. e Mov. , v.12, n.2 p.87-90 2004.
Moreira, C. A. M., A. C. V. Gomes, et al. Hidratação duran-te o exercício: a sede é suficiente? Rev Bras Med Esporte v.Vol. 12, n. Nº 6, p.405-409. 2006.
Powers, S. K. e E. T. Howley. Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho. Ba-rueri: Manole. 2005
Shi, X. e C. V. Gisolfi. Fluid and Carbohydrate Replacement During Intermittent Exercise. Sports Med, v.25, n.3, p.157-172. 1998.
Silva, L. R. R. Desempenho Esportivo: Treinamento com Crianças e Adolescentes. São Paulo: Phorte. 2006. 430 p.
Swain, D. P. Hydration During Exercise: A Double-Edged Sword. The American Journal of Medicine & Sports, n.MAY/JUNE, p.133-135. 2004
ingerir mais líquido do que a perda já existente. Alguns es-tudos mostram que o indivíduo deve ingerir cerca de 150% da perda do peso corporal (Barros e Guerra, 2004; Meyer e Perrone, 2004). No intuito de suprir todas as perdas e con-sequências fisiológicas que o exercício fisco provocou.
Após o exercício, o atleta deve repor carboidrato ime-diatamente, contudo, caso o atleta esteja muito desidra-tado é melhor consumir uma solução esportiva com as concentrações normais (6% a 8%), isto normalmente ocorre quando o ambiente está muito quente e úmido. Caso contrário, pode ingerir carboidrato pela alimentação ou alguma solução energética que tenha uma concentra-ção maior de carboidrato (Aoki, 2002). Sendo assim, ten-tar resolver os problemas da desidratação deve ser a pri-meira busca do profissional.
cOnclusõesA ingestão inadequada de líquidos, suor, vômitos,
diarreia, certos medicamentos, álcool e cafeína podem levar a uma deficiência hídrica. Os sinais e sintomas da desidratação são sede, desconforto geral, rubor na pele, cansaço, cãibras, apatia, tontura, dor de cabeça, vômitos, náuseas, sensação de calor na cabeça e pescoço, calafrios, diminuição do desempenho e dispneia.
Esta revisão teve o propósito de guiar os educadores físicos através de instrumentos, que são utilizados para obter informações a respeito da desidratação de pratican-tes de algum tipo de exercício físico, com a finalidade de prevenir os males da falta de hidratação. Ressaltando sempre que os profissionais da área possam agir de forma profilática contra a desidratação, através de métodos de avaliação e precaução, que podem ser utilizados no coti-diano profissional.
referênciasAoki, M. S. Fisiologia, treinamento e nutrição aplicados ao futebol. Jundiaí: Fontoura. 2002. 158 p.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
118
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
efeitO dO amBiente de realiZaçãO da ativi-dade física na qualidade de vida de idO-sOs sOBre Os níveis de cOrtisOl
desirée Oliveira haddad¹cesar augusto coelho chagas¹diego del duca lima²gilson pires dorneles³alessandra peres¹,³
1 Centro Universitário Metodista IPA² Universidade Federal do Rio Grande do Sul³ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
AlegreEndereço eletrônico para correspondência: desiha-
resumOO Brasil está em amplo processo de envelhecimento.
Os idosos são propensos a quadros de depressão ou es-tresse crônico, além de doenças degenerativas. Por isso, torna-se importante a orientação destes indivíduos na manutenção da saúde mental, qualidade de vida e preven-ção de patologias. O presente trabalho avaliou a influên-cia do ambiente de atividade física na qualidade de vida do idoso. Foram avaliados 19 idosos, do sexo feminino, praticantes de atividades físicas em parque, academia ou sedentários. Utilizou-se questionários, avaliando o nível sócio demográfico, a prática de atividade física e qualida-de vida. Amostras de saliva foram coletadas para dosa-gem de cortisol. O grupo de idosos que praticava ativida-des em ambiente fechado obteve os melhores escores de qualidade de vida, porém, apresentaram uma manuten-ção na concentração do cortisol ao longo do dia. Já as ido-sas praticantes de atividade física em ambiente aberto apresentaram uma redução de 3,8 vezes na concentração do cortisol ao longo do dia. De acordo com os resultados encontrados torna-se necessário mais estudos que ava-liem a pratica de atividade física que alterne a realização em ambiente aberto e fechado para que haja um melhor entendimento do alcance da melhora na qualidade de vi-da e nos níveis de cortisol concomitantemente.
descritores: envelhecimento, exercício e estresse.
intrOduçãOSabe-se que o envelhecimento está associado ao au-
mento de diversas patologias tais como câncer, infecções e doenças autoimunes. Além destas patologias, os idosos são particularmente propensos a depressão por três mo-tivos principais: alterações na bioquímica cerebral, dificul-dades de adaptação e ainda o sedentarismo. (KHASLA; STAUTH, 1997). O estresse psicológico ou físico leva a li-
beração de várias substâncias, entre elas o cortisol (EB-NER et al., 2015) O cortisol é um glicocorticoide produzido pelas glândulas supra-renais que, quando liberado em ex-cesso promove alterações inflamatórias que podem con-tribuir para o desenvolvimento de patologias associadas ao envelhecimento.
Nas últimas décadas observa-se um crescente núme-ro de adeptos da atividade física, principalmente cami-nhadas e corridas de rua independente da idade. Os exer-cícios físicos regulares possuem um papel importante na saúde psíquica, pois contribuem para a autoestima, qua-dros de depressão e para melhora da qualidade de vida e do sono (LORDA PAZ, 2000).
Segundo Ramos (2003) o envelhecimento saudável dentro de uma nova ótica passa a ser resultante da inte-ração multidisciplinar entre saúde física, saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar e ainda independência econômica. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a prática da ati-vidade física do idoso saudável em ambiente fechado (academia) e ao ar livre (parque) e sua relação com a qua-lidade de vida e níveis de estresse.
metOdOlOgiaParticiparam deste estudo 19 indivíduos com mais de
60 anos, do sexo feminino praticantes de atividades físicas e sedentárias. Como critério de inclusão foi utilizado o aceite em participar do estudo, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, possuir mais de 60 anos, ser do sexo feminino. Como critério de exclusão utilizou-se o histórico de doenças que comprometessem os resultados do estudo (tais como doenças autoimunes e câncer), reposição hormonal, a negativa de assinar o ter-mo de consentimento livre e esclarecido e idade inferior a 60 anos. O presente estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Metodista IPA protocolo nº 01/2011. Após assinatura do termo de con-sentimento livre e esclarecido, foram aplicados questio-nários nos períodos de folga das atividades físicas. O pri-meiro questionário aplicado coletou informações com relação a história pessoal e familiar dos indivíduos, a prá-tica de atividade física, bem como a utilização de medica-mentos. O segundo questionário aplicado foi o Questio-nário de qualidade vida WHOQOL-BREF.
Para as coletas de saliva foi entregue a cada idosa o material Salivette® para que duas coletas fossem realiza-das, uma pela manhã (8:00 h) e outra a noite (20:00 h). As amostras foram processadas conforme indicação do fa-bricante através da centrifugação de 2400 rpm por 10 mi-nutos. Ao final a saliva limpa e fluídica foi retirada do tubo coletor e imediatamente congelada a -20º C até o mo-mento das análises. Para a dosagem do cortisol salivar foi utilizada a técnica de ELISA. O kit utilizado foi Active Cor-
119
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
tisol Diagnostic System Laboratories. Conforme indicado, 25 µL de saliva foram adicionados em duplicata a placa previamente sensibilizada com anticorpo de captura. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 450 nm.
A comparação dos níveis de cortisol e qualidade de vida entre os grupos de idosas foi realizada através do tes-te de ANOVA seguida de pos-hoc de Bonferroni no pro-grama SPSS 22.0. A correlação entre os níveis de cortisol e de qualidade de vida foi realizada através de teste de correlação não paramétrica de Spearman. O nível de sig-nificância considerado foi de p<0.05.
resultadOsAo todo 19 idosas aceitaram participar do estudo e pre-
encheram adequadamente o questionário de qualidade de vida. O perfil demográfico está descrito na Tabela 1. A mé-dia de idade, número de filhos e indivíduos que usavam medicamentos não variou entre os grupos estudados.
Com relação aos resultados obtidos a partir do ques-tionário WHOQOL-BREF, as médias dos escores encontrados nos diferentes domínios foram semelhantes, demonstrando certa homogeneidade entre esses aspec-tos na vida dos indivíduos analisados. Embora as médias encontradas nos indivíduos que praticam atividade física no ambiente fechado tenham apresentado sempre esco-res superiores quando comparadas aos outros grupos, não houve diferenças estatísticas significantes.
Em relação ao domínio 1 (físico), os indivíduos prati-cantes de atividade física em ambiente fechado alcança-ram o escore de 69 ± 5,85 seguidos dos indivíduos que praticam atividade física em ambiente aberto (63 ± 8,54) e dos indivíduos sedentários (44 ± 14,67) (p=0,313). Na avaliação do perfil psicológico (domínio 2) os indivíduos que praticam atividade física em ambiente fechado alcan-çaram o escore 75 ± 10,30 seguidos das idosas sedentárias (59 ± 6,48) e praticantes de atividade em ambiente aberto (58 ± 6,26)(p=0,350). Em relação ao domínio social (domí-nio 3) as idosas praticantes de atividade física em ambien-te fechado apresentaram escore 71 ± 11,31, seguidas das idosas sedentárias (70 ± 5,34) e das idosas praticantes de atividade física em ambiente aberto (66 ± 6,12) (p=0,911). No domínio meio ambiente (domínio 4) as idosas prati-cantes de atividade física em ambiente fechado apresen-taram escore 81 ± 5,59, segundas das idosas sedentárias 61 ± 17,30 e por último pelas idosas praticantes de ativida-de física em ambiente aberto (58 ± 7,05) (p=0,255).
Analisando os níveis de cortisol salivar não foram ob-servadas diferenças significativas entre os grupos cortisol matinal p<0,364 e noturno p=1,0. Os indivíduos pratican-tes de atividade física em ambiente aberto mostraram uma concentração de 1,36 ± 0,42 (µg/dL ± erro padrão) de cortisol salivar pela manhã, acompanhado de uma redu-ção nos níveis noturnos (0,35 µg/dL ± 0,17). As idosas pra-
ticantes de atividade física em ambiente fechado apre-sentaram uma média de cortisol matinal de 0,21 ± 0,06 e noturno de 0,34 ± 0,22. As idosas não praticantes de ativi-dade física apresentaram um cortisol de 1,37 ± 0,42 pela manhã e a noite de 0,57 ± 0,38. A concentração de cortisol produzida pela manhã foi dividida pela concentração do cortisol produzido a noite gerando um índice de mudança ao longo do dia. As idosas praticantes de atividade física em ambiente aberto apresentaram uma redução de 3,8 vezes na concentração do cortisol enquanto que as idosas praticantes em ambiente fechado não apresentaram re-dução. As idosas sedentárias apresentaram uma redução de 2,4 vezes na concentração do cortisol.
discussãOEstá claro na literatura que o exercício físico moderado
traz inúmeros benefícios para a saúde em qualquer idade. Porém, quando consideramos o indivíduo idoso, o tipo e a intensidade da atividade física adequados para o estímulo de uma vida saudável e de qualidade ainda não estão bem elucidados (BARRETO et al., 2015; VAGETTI et al, 2014).
Tem sido demonstrado que o cortisol aumenta sua concentração quando o indivíduo está estressado. É sabi-do que a liberação de cortisol apresenta um ciclo circadia-no bem definido e de ritmo diurno. Aproximadamente 15 ou mais pulsos de cortisol são produzidos num período de 24 horas tanto em crianças como em adultos. Os níveis de cortisol chegam ao ponto máximo meia hora depois do indivíduo acordar, com um aumento de 50% a 100% e al-cança seu ponto mais baixo próximo da meia-noite duran-te o sono (KIM et al., 2015; ADAN et al, 2012). é importante destacar que durante o desenvolvimento do indivíduo existe uma redução fisiológica na produção de cortisol mesmo em indivíduos saudáveis. O cortisol salivar ava-liado para esta pesquisa entre os indivíduos praticantes ou não de atividade física, não apresentou diferenças de sig-nificância estatística, mas registrou uma baixa diferença de variação nos níveis mensurados entre o período diurno para o noturno no grupo de praticantes de atividades físi-cas de ambiente fechado. Segundo Espiritu (2008), a ma-nutenção pode muitas vezes estar ligado as questões de insônia e ou tarefas fora de expediente normal. Seria ne-cessário um acompanhamento desses indivíduos para po-der entender o motivo desta manutenção do cortisol, uma vez que mesmo em pessoas não estressadas é esperada uma alteração.
Analisando os escores gerados pelo WHOQOL-BREF ficou constatado que o domínio físico apresentou o menor escore e o domínio social apresentou o maior escore. Para FLECK et al (2006), é destacada a importância das rela-ções sociais na velhice. Estas relações são capazes de ge-rar grandes benefícios influenciando não somente o domínio psicológico, mas também os demais domínios.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
120
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
As relações sociais insatisfatórias correlacionam-se com piores escores de qualidade de vida relacionada à saúde.
Em relação ao domínio psicológico, o escore apresen-tado colocou este domínio na terceira posição entre os domínios analisados. O exercício físico pode atuar dimi-nuindo a depressão e o estresse, melhorando o gerencia-mento das tensões diárias, de auto-imagem, da auto-es-tima, e da sensação de bem-estar devido ao aumento da liberação de endorfinas, proporcionando maior satisfação com a saúde (POLLOCK; WILMORE, 1993).
O domínio físico apresentou os piores escores, o que já era previsível mediante dados da literatura (OMS, 2015). Por se tratar de uma população de idosos, a capacidade fí-sica dos mesmos vai declinando, combinada a presença de dores, problemas de insônia e alterações de mobilidade bem como o desenvolvimento de doenças crônicas.
Avaliando o domínio meio ambiente foram obtidos es-cores satisfatórios, alcançando a média de segundo coloca-
do entre os todos os domínios. Este domínio é de grande importância na percepção de qualidade de vida dos idosos. Resultados positivos no domínio meio ambiente confir-mam a qualidade de vida adequada. Nossos dados estão de acordo com Neri e colaboradores (2004) que demonstra-ram que a qualidade de vida na velhice apresenta relação direta com a existência de condições ambientais que per-mitam aos idosos desempenhar comportamentos biológi-cos, sociais e psicológicos adaptativos.
cOnclusãOEmbora não apresentando diferenças significativas
percebe-se que a prática de atividade física traz benefícios não apenas relacionados a qualidade de vida como tam-bém a realização em ambiente aberto parece contribuir para a manutenção do ciclo do cortisol. Dessa forma, o exercício físico pode auxiliar no processo de reabilitação tanto física quanto social dos indivíduos idosos.
referências ADAN, A. et al. Circadian typology: A comprehensive re-view.chronobiology international, v. 29, n. 9, p. 1153-1175, 2012.
BARRETO, S. et al. Exercise training for managing beha-vioral and psychological symptoms in people with demen-tia: a systematic review and meta-analysis. ageing rese-arch reviews, v.24, p. 274-285, 2015.
EBNER, N. C., et al. Hormones as “difference makers” in cognitive and socioemotional aging processes. frontiers in psychology, v. 5, p.1595, 2014.
ESPIRITU, J. R. D. Aging-Related Sleep Changes Division of Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine, Saint Louis University School of Medicine. clinical geriatric médicine, v. 24, p. 1–14, 2008.
FLECK, M. P., et al. Development and validation of the Portuguese version of the WHOQOL-OLD module. rev. saúde pública, v. 40, n. 5, p. 785-791, 2006.
Tabela 1 – Perfil demográfico das idosas praticantes de atividade física e sedentárias (dados expressos em média ± desvio padrão).
Aberton=10
Fechadon=5
Sedentárion=4
Idade média (anos) 71,84 ±8,52 70,8 ±8,22 73 ±6,27
Número filhos 2,9 ±0,99 2,8 ±1,4 3 ±0,81
Estado civil05 casadas 04 casadas 04 casadas
05 viúvas 01 viúva 0 viúva
Uso medicamentos 77,78% 100% 100%
Número medicamentos 2,71 ± 1,11 4,0 ± 1,0 2,75 ± 1,70
KHALSA, D.S; STAUTH.C. longevidade do cérebro. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1997.
KIM, T. W., et al. The Impact of Sleep and Circadian Distur-bance on Hormones and Metabolism. international Jour-nal of endocrinology, 591729, p, 9, 2015.
NERI, A. L. palavras-chave em gerontologia. Campinas, São Paulo: Editora Alínea, 2001.
POLLOCK, M.L., et al. Exercícios na Saúde e na Doença: Avaliação e Prescrição para Prevenção e Reabilitação. MEDSI Editora Médica e Científica Ltda., p. 233-362, 1993.
RAMOS, L. R. Determinant factors for healthy aging among senior citizens in a large city: the Epidoso. cader-no de saúde pública, v.19, n.3, p.793-798, 2003.
VAGETTI, G. C. et al. The Association Between Physical Activity and Quality of Life Domains Among Older Wo-men. Journal of aging and physical activity, 2014.
WWW.WHO.ORG – site oficial da Organização Mundial de Saúde. Dados retirados em 22/09/2015.
121
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
relaçãO da vitamina d cOm indivíduOs cOm SobrePeSo-obeSiDaDe
carolina pedroso partichelli1
lucas schipper1
gilson pires dorneles1
alessandra peres1,2
1 Centro de Pesquisa, Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre/Brasil.
2 Departamento de Ciências Básicas da Saúde, Uni-versidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/Brasil. [email protected]
resumOO interesse por estudos do papel da vitamina D em
diferentes patologias apresentou uma expansão significa-tiva nos últimos anos. Estudos epidemiológicos realizados têm demonstrado um crescente aumento da deficiência de vitamina D entre a população, e é considerada um pro-blema de saúde mundial, em razão de suas implicações no desenvolvimento de diversas doenças. A deficiência de vi-tamina D vem sido tratada como uma pandemia por impli-car em diversas doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a obesidade. Acredita-se que esta carência não ocorre apenas pela falta de exposição solar, mas também devido ao excesso de gordura corporal encontrado nos indivíduos obesos. O exercício físico é indicado para auxiliar no trata-mento de inúmeras patologias e estudos apontam que o exercício físico é capaz de modular os níveis de vitamina D. O objetivo deste estudo foi verificar através de uma revisão a relação da vitamina D com a obesidade.
intrOduçãOSegundo a World Health Organization, a obesidade
pode ser definida pelo acúmulo de gordura anormal ou excessiva que pode levar a danos à saúde do indivíduo. Sendo o diagnóstico feito a partir do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que é definida como o peso da pes-soa em quilos dividido pelo quadrado da sua altura em metros (kg/m²), comumente utilizado para classificar so-brepeso e obesidade em adultos. O IMC fornece a medida do excesso de peso e obesidade em nível de população, uma vez que é a mesma para ambos os sexos e em todas as idades de adultos. No entanto, deve ser considerado como um guia, pois pode não corresponder ao mesmo ní-vel de gordura em diferentes indivíduos.
Sobrepeso e obesidade dividem o quinto lugar em mortalidade mundial, ao menos 2,8 milhões de adultos morrem a cada ano como resultado desta condição pato-lógica, sendo que mais de 10% da população mundial atu-almente é obesa. Sua principal causa é o desequilíbrio
energético entre as calorias consumidas e as calorias gas-tas, como consequência do aumento da ingestão de ali-mentos energéticos ricos em gordura e do aumento da inatividade física, devido à natureza cada vez mais seden-tária de muitas formas de trabalho, assim alterando os modos de transporte, como o crescimento da urbaniza-ção. (WHO, 2013).
materiais e métOdOsUtilizou-se como metodologia a revisão sistemática.
Os descritores usados para as buscas dos artigos foram: vitamina D, obesidade e exercício físico e seus respectivos descritores em inglês. A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scie-lo), Periódicos Capes, U.S. National Library of Medicine (PubMed), LILACS, textos completos. Na língua portu-guesa e inglesa.
resultadOs e discussãOA obesidade é apontada como um problema de saúde
pública em nível mundial por seu caráter epidêmico. Uma forma de diagnosticar a obesidade é pelo Índice de Massa Corporal (IMC), onde o peso da pessoa em quilogramas (kg) é dividido pela altura, em metros (m), ao quadrado. Sendo que uma pessoa com IMC igual ou superior a 25, a pessoa é classificada com excesso de peso, e quando o IMC de 30 ou mais é considerada obesa.
O IMC elevado é um risco para várias doenças não transmissíveis como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, lesões musculoesqueléticas e alguns tipos de cân-cer. O risco dessas doenças aumenta proporcionalmente com o aumento do IMC. Portanto, a prevenção dessa do-ença é muito importante, podendo ser feito em nível indi-vidual, mudando seus hábitos alimentares e físicos, nível social através do empenho político sustentando e colabo-rando com agentes públicos e privados. O acesso público contribui para um tratamento mais disponível a todos, e pode ser feita ainda a prevenção diretamente nas indús-trias alimentares, através da redução de gorduras e açú-cares em alimentos processados e através da promoção na disponibilidade de escolhas alimentares saudáveis, sempre tentando garantir acessibilidade a todos os con-sumidores. (WHO, 2013).
Embora a obesidade ocorra pela ingestão exagerada de alimentos, muitas vezes as pessoas obesas apresen-tam a carência de diversos nutrientes, como ferro e vita-minas.
A vitamina D estimula a absorção de cálcio a partir do intestino e facilita a mineralização óssea, sua principal fonte tem a síntese realizada na pele, pela influência da radiação ultravioleta do sol, e uma pequena parte pelas fontes alimentares. (LIPS; VAN SCHOOR; DE JONGH, 2014). A fração D
2, denominada ergocalciferol, é adquiri-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
122
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
da por alimentos de origem vegetal, e a fração D3, deno-minada de colecalciferol tem sua fonte em alimentos de origem animal. Durante a exposição solar a 7-dehidroco-lesterol, que está presente na pele, será convertida à vita-mina D3, assim transportada pela corrente sanguínea por uma proteína ligante da vitamina D (DBP) até o fígado, onde será biotransformada pela 25-hidroxilase D para for-mar a 25-hidroxivitamina D (25(OH)D) ou calcidiol. A maioria das 25(OH)D produzida será depositada no tecido adiposo, constituindo assim, seu principal reservatório. (CASTRO, 2005). Para se tornar ativa, é necessária uma hidroxilação sob ação da enzima 1α-hidroxilase nos rins, transformando-se em 1,25(OH)2D ou calcitriol. A produ-ção desse metabólito é regulada principalmente pela con-centração de paratormônio (PTH), cálcio e fósforo séricos (SCHUCH; GARCIA, 2009).
Há vários fatores que podem interferir no status de Vitamina D, uma das causas mais aceitas de hipovitaminose D é a inadequação da exposição solar, podendo ser afetada pela pigmentação da pele. O uso do protetor solar também afeta a síntese de vitamina D, portanto protetores solares de fator 30 reduzem a síntese em até 95%. Outro fator é a latitude e altitude, onde um aumento do ângulo do sol durante o inverno, no início da manhã e no final de tarde, resulta em um caminho mais longo para os fótons de UV-B ao passarem pela camada de ozônio. Por isso em locais acima de 33° de latitude, há pouca ou nenhuma sín-tese de vitamina D3 na pele durante o inverno, no entanto, em regiões da linha do equador e de regiões ao extremo norte do mundo, no verão possuem quase 24 horas de luz solar por dia, assim a síntese de vitamina D ocorrerá entre as 10 horas da manhã e 15 horas da tarde. (HOSSEIN-NE-ZHAD; HOLICK, 2013).
A hipovitaminose D é frequentemente observada em indivíduos obesos. Especula-se que a insuficiência de vita-mina D não seja apenas consequência da menor exposi-ção solar, mas como um dos fatores desencadeado pelo acúmulo de gordura corporal, podendo estar ligada ao aumento do depósito de vitamina D nos adipócitos, dimi-nuindo assim a sua biodisponibilidade. (SCHUCH; GAR-CIA, 2009). A hipovitaminose também pode estar associa-da ao sequestro de vitamina D no tecido adiposo, e tam-bém é documentada em pessoas que realizaram cirurgias bariátricas ou gástricas, induzindo a um estado de má absorção, diminuindo assim a síntese da vitamina D. (VANLINT, 2013)particularly in developed nations. Vita-min D deficiency is pandemic, and has been implicated in a wide variety of disease states. This paper seeks to exa-mine the consistently reported relationship between obe-sity and low vitamin D concentrations, with reference to the possible underlying mechanisms. The possibility that vitamin D may assist in preventing or treating obesity is also examined, and recommendations for future research
are made. There is a clear need for adequately-powered, prospective interventions which include baseline measu-rement of 25D concentrations and involve adequate do-ses of supplemental vitamin D. Until such studies have been reported, the role of vitamin D supplementation in obesity prevention remains uncertain.”, “author” : [ { “dro-pping-particle” : “”, “family” : “Vanlint”, “given” : “Simon”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “su-ffix” : “” } ], “container-title” : “Nutrients”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “3”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2013”, “3” ] ] }, “page” : “949-56”, “title” : “Vitamin D and obesity.”, “type” : “article-journal”, “volume” : “5” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7aece9f5-af73-41b9-b499-f99b361f3ec0” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFor-mattedCitation” : “(VANLINT, 2013. Entretanto, a obesi-dade pode ser uma consequência de baixos níveis de vita-mina D, pois há hipóteses de que a hipovitaminose D faz com que o fluxo de PTH e cálcio, em excesso nos adipóci-tos, possam promover o ganho de peso. (WANG et al., 2011)indicating the involvement of LRP2 in the preserva-tion of vitamin D metabolites and delivery of the precursor to the kidney for the generation of 1\u03b1,25(OH.
A vitamina D é essencial para os ossos, músculos e a saúde em geral, através do controle dos níveis de cálcio na circulação, sendo crucial para o desenvolvimento dos mesmos e evitando doenças, como a osteoporose e o ris-co de quedas (HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013). A 25(OH)D atua no músculo através da regulação da absor-ção de fosfato inorgânico para a produção de compostos de fosfato ricos em energia, e síntese de proteínas no mús-culo (HOUSTON et al., 2011)studies examining longitudi-nal changes in 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D.
Por ser um importante metabólito relacionado à força muscular, a vitamina D vem sendo associada a prática de exercício. Foi demonstrado que a deficiência desta pode ser um determinante da força muscular após o exercício, portanto a manutenção adequada dos níveis de 25(OH)D poderia preservar essa força e proteger contra um dano tecidual após o exercício (BARKER et al., 2013)aspartate and alanine aminotransferases, albumin, interferon (IFN.
O exercício físico é um componente importante em re-lação a intervenções comportamentais aos indivíduos com sobrepeso e obesidade, e tem se mostrado importante pa-ra melhorar a perda de peso em curto prazo, quando com-binado com as mudanças na ingestão alimentar (JAKICIC et al., 2003). Além disso, Estudos têm evidenciado os bene-fícios de modificações na dieta assim como intervenções através do exercício com o objetivo de reduzir o estresse oxidativo presente nos indivíduos obesos (HUANG et al., 2015). No estudo realizado por Samjoo (2013) demonstrou que 3 meses de treinamento aeróbico de indivíduos obesos foi capaz de reduzir o extresse oxidativo e aumentou as con-centrações de antioxidantes mitocondriais.
123
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O potencial anti-inflamatório do exercício também tem sido alvo de muitos estudos e recentemente foi de-monstrado que a vitamina D possui ação anti-inflamató-ria através da inibição das citocinas TNF-alfa e IL-6 bem como a supressão da via de ativação do NF-KB. Sabe-se que estas citocinas e este fator de transcrição são funda-mentais para o processo de inflamação (KHOO et al., 2011; LI et al., 2013).
Sendo assim acredita-se que estudos envolvendo a realização de exercício físico e o monitoramento dos ní-veis de vitamina D são fundamentais para a melhora dos processos inflamatórios encontrados na obesidade.
referênciasANTOSIEWICZ, J. et al. Repeated “all out” interval exer-cise causes an increase in serum hepcidin concentration in both trained and untrained men. cellular immunology, v. 283, n. 1-2, p. 12–7, [s.d.].
BARKER, T. et al. Circulating interferon-γ correlates with 1,25(OH)D and the 1,25(OH)D-to-25(OH)D ratio. cyto-kine, v. 60, n. 1, p. 23–6, out. 2012.
BARKER, T. et al. Higher serum 25-hydroxyvitamin D con-centrations associate with a faster recovery of skeletal muscle strength after muscular injury. nutrients, v. 5, n. 4, p. 1253–75, abr. 2013.
BESSA, A. et al. Exercise intensity and recovery: Biomark-ers of injury, inflammation and oxidative stress. Journal of strength and conditioning research / national strength & conditioning association, 18 abr. 2013.
BOUTCHER, S. H. High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity, v. 2011, p. 868305, jan. 2011.
BRENTANO, M. A.; MARTINS KRUEL, L. F. A review on strength exercise-induced muscle damage: applications, adaptation mechanisms and limitations. the Journal of sports medicine and physical fitness, v. 51, n. 1, p. 1–10, mar. 2011.
CARVALHO, C. C.; TAKAMAKTSU, S. L. Qualidade de vida de pessoas com obesidade grau III: um desafio comporta-mental*. v. 10, n. 5, 2012.
CASTRO, M. L. Papel da Vitamina D na Função Neuro--Muscular. v. 49, 2005.
CEGLIA, L. Vitamin D and its role in skeletal muscle. cur-rent opinion in clinical nutrition and metabolic care, v. 3085, p. 1–11, 2009.
CEGLIA, L.; HARRIS, S. S. Vitamin D and its role in skeletal muscle. calcified tissue international, v. 92, n. 2, p. 151–62, fev. 2013.
CHEVION, S. et al. Plasma antioxidant status and cell in-jury after severe physical exercise. v. 100, n. 9, p. 5119–5123, 2003.
CIPRIANI, C. et al. Vitamin D and Its Relationship with Obesity and Muscle. v. 2014, 2014.
COMSTOCK, B.; THOMAS, G. Effects of Acute Resistance Exercise on Muscle Damage and Perceptual Measures Be-tween Men Who Are Lean and Obese. the Journal of …, p. 3488–3494, 2013.
GAYDA, M.; NIGAM, A.; JUNEAU, M. Body composition and insulin sensitivity after high-intensity interval training in overweight/obese patients. Obesity, v. 22, n. 3, p. 624, 2014.
GILLEN, J. B.; GIBALA, M. J. Is high-intensity interval training a time-efficient exercise strategy to improve health and fitness? applied physiology, nutrition, and metabolism = physiologie appliquée, nutrition et mé-tabolisme, v. 39, n. 3, p. 409–12, mar. 2014.
HENNIE CJP JANSSEN, MONIQUE M SAMSON, AND H. J. V. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in el-derly people. the american journal of clinical nutrition, v. 85500, 2002.
HEYDARI, M.; FREUND, J.; BOUTCHER, S. H. The effect of high-intensity intermittent exercise on body composi-tion of overweight young males. Journal of obesity, v. 2012, p. 480467, jan. 2012.
HOSSEIN-NEZHAD, A. ET AL. Vitamin D for Health: A Global Perspective. mayo clinic proceedings, v. 88, n. 7, p. 720–755, 2014.
HOSSEIN-NEZHAD, A.; HOLICK, M. F. vitamin d for health: a global perspectivemayo clinic proceedings. mayo clinicMayo Foundation for Medical Education and Research, , 1 jul. 2013. Disponível em: <http://linkinghub.el-sevier.com/retrieve/pii/0025619613004047?showall=true>
HOUSTON, D. K. et al. Change in 25-hydroxyvitamin D and physical performance in older adults. the journals of gerontology. series a, Biological sciences and medical sciences, v. 66, n. 4, p. 430–6, abr. 2011.
HUANG C.J. et al. Obesisty-related oxidative stress: the impact of physical activity and diet manipulation. sports medicine Open, v.1, n.1, p. 32-36, sep. 2015
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
124
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
JAKICIC, J. M. et al. Effect of exercise duration and inten-sity on weight loss in overweight, sedentary women: a randomized trial. Jama : the journal of the american medical association, v. 290, n. 10, p. 1323–30, 10 set. 2003.
JOHNSON, A. R.; MILNER, J. J.; MAKOWSKI, L. The in-flammation highway: metabolism accelerates inflamma-tory traffic in obesity. immunological reviews, v. 249, n. 1, p. 218–38, set. 2012.
KHOO, A.L. et al. 1, 25-Dihydroxyvitamin D3 modulates cytokine production induced by Candida albicans: impact of seasonal variation of immune responses. Journal infec-tious disease. v.203, p. 122–30, 2011.
LEGGATE, M. et al. Determination of inflammatory and prominent proteomic changes in plasma and adipose tis-sue after high-intensity intermittent training in over-weight and obese males. Journal of applied physiology (Bethesda, md. : 1985), v. 112, n. 8, p. 1353–60, abr. 2012.
Li, B., et al. 1, 25-Dihydroxyvitamin D3 suppresses TLR8 expression and TLR8-mediated inflammatory responses in monocytes in vitro and experimental autoimmune en-cephalomyelitis in vivo. plos One. v.8, p. e58808, 2013.
LIPS, P.; VAN SCHOOR, N. M.; DE JONGH, R. T. Diet, sun, and lifestyle as determinants of vitamin D status. annals of the new York academy of sciences, v. 25, p. 1–7, 9 maio 2014.
LOUW, J. A. et al. Blood vitamin concentrations during the acute-phase response. critical care medicine, v. 20, n. 7, p. 934–41, jul. 1992.
PARDINI, D. P. Alterações Hormonais da Mulher Atleta. v. 45, n. 1, p. 343–351, 2001.
POPKIN, B. M.; ADAIR, L. S.; NG, S. W. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. nutrition reviews, v. 70, n. 1, p. 3–21, jan. 2012.
PROGRESS, M.; HOLICK, M. F. Vitamin D Deficiency. p. 266–281, 2007.
RACIL, G. et al. Effects of high vs. moderate exercise in-tensity during interval training on lipids and adiponectin levels in obese young females. european journal of ap-plied physiology, v. 113, n. 10, p. 2531–40, out. 2013.
SAMJOO, N. J. et al . The effect of endurance exercise on both skeletal muscle and systemic oxidative stress in pre-viously sedentary obese men. nutrion diabetes. v.3, p.e88, set. 2013.
SCHUCH, N. J.; GARCIA, V. C. endocrinometabólicas. p. 625–633, 2009.
SHAW, K. et al. Exercise for overweight or obesity. the cochrane database of systematic reviews, n. 4, p. CD003817, jan. 2006.
STENSVOLD, D.; SLØRDAHL, S. A.; WISLØFF, U. Effect of exercise training on inflammation status among people with metabolic syndrome. metabolic syndrome and re-lated disorders, v. 10, n. 4, p. 267–72, ago. 2012.
TREMBLAY, A. Physical activity and obesity. Best practi-ce & research clinical endocrinology & metabolism, v. 13, n. 1, p. 121–129, abr. 1999.
VANLINT, S. Vitamin D and obesity. nutrients, v. 5, n. 3, p. 949–56, mar. 2013.
WANG, C. et al. Association between low density lipopro-tein receptor-related protein 2 gene polymorphisms and bone mineral density variation in Chinese population. plos one, v. 6, n. 12, p. e28874, jan. 2011.
WESTON, K. S.; WISLØFF, U.; COOMBES, J. S. High-inten-sity interval training in patients with lifestyle-induced car-diometabolic disease: a systematic review and meta--analysis. British Journal of sports medicine , v. 48 , n. 16 , p. 1227–1234, 1 ago. 2014.
WORTSMAN, J. et al. Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. the american journal of clinical nutrition, v. 72, n. 3, p. 690–3, set. 2000.
WYON, M. A et al. The influence of winter vitamin D sup-plementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: a controlled study. Journal of science and medicine in sport / sports medicine australia, v. 17, n. 1, p. 8–12, jan. 2014.
ZWETSLOOT, K. A. et al. High-intensity interval training induces a modest systemic inflammatory response in ac-tive, young men. Journal of inflammation research, v. 7, p. 9–17, jan. 2014.
125
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
relaçãO da funçãO endOtelial cOm exercíciO físicO e dietOterapia em indivíduOs OBesOs
leonardo peterson dos santos1
thiago rozales ramis2
leandro silva de lemos2
gustavo azambuja rocha1
Kauê Kaleshi carvalho1
victor garcia da silva1
nathan Ono de carvalho3
Juliana martins gattringer1
Jerri luiz ribeiro4
Graduando 2- Mestre 3- Mestrando 4- Doutor
Centro Universitário Metodista IPA.Autor para correspondência: Leonardo Peterson dos
Santos [email protected]
resumOINTRODUÇÃO: A obesidade destaca-se por apresen-
tar altos índices mundiais, caracterizando um agravo na saúde da população por desencadear diversos tipos de patologias. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de revi-são bibliográfica mediante busca de artigos científicos, no qual a busca de dados foi limitada na língua inglesa e por-tuguesa. RESULTADO E DISCUSSÃO: O endotélio é uma camada no qual reveste a parte interna dos vasos, e quan-do saudáveis exerce um papel importante de controle car-diovascular. O endotélio responde a estímulos liberadores e/ou de síntese de variadas substâncias, agindo em fun-ções específicas. O exercício físico regular protege contra o desenvolvimento e o progresso de inúmeras doenças e juntamente com dieta específica pode então aumentar o índice de melhoras da saúde e prevenções contra doenças cardiovasculares. CONCLUSÃO: O exercício físico e a die-ta podem ser benéficos para a função endotelial, pois pro-porcionam liberações e sínteses de substâncias significan-tes para o processo cardiovascular, além de que com a ingestão de alimentos com baixos índices glicêmicos e com quantidades adequadas de fibras alimentares irão levar a uma diminuição calórica relevante.
Descritores: Função endotelial, Óxido nítrico, Obesi-dade.
intrOduçãOO sobrepeso e a obesidade atualmente destacam-se
por apresentar alta prevalência em todo mundo caracte-rizando um agravo a saúde da população, sendo uma das principais causas de alterações metabólicas, neoplasias, síndromes respiratórias, apneia obstrutiva do sono e pro-blemas cardiovasculares (SANTOS, 2001; BATES,1989).
O excesso de peso pode ser desenvolvido por inúme-ros fatores sendo eles, ambientais, sociais, genéticos e culturais, caracterizando uma doença crônica e multifato-rial, somando estes fatores mencionados anteriormente ainda temos o sistema capitalista e a evolução tecnológi-ca que acentuam o sedentarismo, sendo definido obesi-dade como pelo excesso de gordura corporal (Consenso Latino-Americano em Obesidade, 1998).
A taxa de gordura corporal aumentada caracterizando o excesso de peso é resultado de um desequilíbrio na in-gestão alimentar relacionado ao consumo energético, sendo assim um aumento no consumo calórico e pouco gasto energético (O’RAHILLY, 2009).
A inatividade física e a alimentação são fatores que estão relacionados ao pouco gasto energético, os alimen-tos com alta densidade calórica, com elevada concentra-ção de carboidratos, gordura total, ácidos graxos satura-dos e trans-saturados e com baixa ingestão de frutas e hortaliças associado ao sedentarismo são identificados como as principais causas de sobrepeso e obesidade (Or-ganización Mundial de La Salud, Food and Agricultu-re,2003).
O excesso de peso e obesidade e definida atualmente calculando índice de massa corpórea (IMC), a mensuração do peso em kilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros. Um IMC normal varia entre 18,5 ate 24,9 kg/m2, o sobrepeso e apontado com resultado de IMC dentro de valores como 25 à 29,9 kg/m2 e a obesidade e definida com o IMC 30 à 40 kg/m2 sendo classificado dentro desta variação de resultado, obeso grau I e II, já os valores de IMC acima de 40 kg/m2 são considerados obesos extre-mos (1998).
Dados epidemiológicos apresentam índices alarmantes, mostrando que 300 milhões de pessoas no mundo são obesos, não limitando apenas a uma faixa etária ou classe social, acometendo países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O Ministério da saúde estima que cer-ca de 32% da população Brasileira adulta apresenta um índice de massa corpórea aumentada, dos quais 25% são considerados obesos. São gastos em serviços de saúde no Brasil cerca de R$ 945 milhões anuais, com o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Por ano aproxima-damente 2,6 milhões de pessoas morrem devido a proble-mas co-relacionados a obesidade (SANTOS,2001; SAN-CHES,2006).
Com os hábitos alimentares errôneos, sedentarismo e dentre outros fatores as estimativas apontam que cerca de 2,5 bilhões de pessoas possuem sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas são obesas no mundo (WHO, 1998).
métOdOsFoi realizado um estudo de revisão bibliográfica me-
diante busca de artigos científicos e a consulta baseou-se
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
126
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
em bases de banco de dados de artigos científicos como Science Direct, Scielo e Pubmed, buscando através das se-guintes palavras-chaves, função endotelial, óxido nítrico, obesidade e seus respectivos em inglês. Também foram utilizados livros e a busca de dados foi limitada na língua inglesa e portuguesa e os artigos analisados foram sele-cionados por apresentarem grande pertinência ao tema.
RESULTADOS E DISCUSSÃOO endotélio é uma camada de células que reveste a
parte interna dos vasos sanguíneos e possui importantes funções homeostáticas como, controle sobre a trombose e a trombólise, interação das plaquetas e dos leucócitos e a regulação do tônus e do crescimento vascular. Devido à função do endotélio saudável exercer um papel central no controle cardiovascular, sua alteração pode desenca-dear problemas como hipertensão e a aterosclerose (ROSS, 1993).
O endotélio responde aos estímulos físicos e químicos pela síntese e/ou liberação de diversas substâncias vaso-ativas, trombo regulatórias e sinalizadoras, assim como fatores de crescimento. As substâncias liberadas pelo en-dotélio incluem o óxido nítrico (NO), a prostaciclina, as endotelinas, os fatores de crescimento endoteliais, as in-terleucinas, as moléculas de adesão e os fatores fibrinolí-ticos (CELERMAJER, 1997).
O tecido endotelial alterado pode resultar em um de-sequilíbrio entre os fatores de relaxamento e de contra-ção, entre os mediadores anti e pró-coagulantes ou entre os fatores inibidores e promotores do crescimento. Esta disfunção pode resultar de lesões mecânicas ou bioquími-cas, a disfunção endotelial pode se manifestar, por exem-plo, com o vasoespasmo, a formação de trombo, a hiper-tensão e a aterosclerose (RUBANYI, 1993).
O endotélio tem em sua produção o maior promotor de vasodilatação do organismo, o óxido nítrico sendo de-rivado do metabolismo da L-arginina e L-citrulina. O au-mento do diâmetro do vaso sanguíneo depende da ação mecânica do sangue sobre o endotélio, assim estimulan-do a produção de óxido nítrico (MONCADA, PALMER e HIGGS, 1988).
A prática do exercício físico e a dietoterapia são as estratégias não farmacológicas que deve ser utilizadas no tratamento da obesidade. Entretanto, tais estratégias de reabilitação ainda possuem uma baixa adesão por parte deste t ipo de paciente. Evidências de estudos epidemiológicos e experimentais apontam que o exercício físico regular protege contra o desenvolvimento e a progressão de inúmeras doenças crônicas, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, entre outras, sendo, portanto, relevante componente de um estilo de vida saudável. Segundo a Or-ganização Mundial de Saúde, a associação entre a prática
de atividade física regular e hábitos alimentares saudáveis é a forma mais indicada de prevenção de doenças cardio-vasculares, obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (VIA-NA,2001).
A prática regular de exercícios físicos tem sido fre-quentemente recomendada tanto como prevenção, co-mo uma conduta não medicamentosa no tratamento de varias doenças crônicas que emergem nos dias atuais. Dentre elas, estão as cardiopatias, a obesidade, osteopo-rose, diabetes, hipertensão, deficiência respiratória, de-terminados tipos de câncer, depressão entre outras. Ape-sar da ampla divulgação de seus benefícios à saúde, ainda encontramos uma percentagem insuficiente da popula-ção que pratica exercício físico sistematicamente. Preocu-pada com os altos índices de doenças crônico degenerati-vas a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde (2003) incentivam políticas públicas mundiais, como a Estratégia Mundial sobre Alimentação Saudável, Ativida-de Física e Saúde, na perspectiva de diminuir os efeitos dos fatores de risco que associados ao sedentarismo acar-retam danos a saúde da população (LEUNG,2008).
A escolha no tipo de exercício parece ter pouca rele-vância na obtenção dos efeitos positivos que o mesmo proporciona, importando neste sentido, o gasto calórico despendido durante esta prática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30 minutos diários de exercício físico, em intensidade moderada, é o suficiente para manter boa saúde. É ressaltado que o gasto calórico é inversamente proporcional ao risco de desenvolver algum problema re-lacionado à aptidão física, assim, o aumento do gasto ca-lórico, diminui progressivamente o risco de desenvolver alguma disfunção metabólica e/ou cardiovascular. Apesar do exercício físico não provocar uma perda de peso corpo-ral, tão intensa quanto à dieta hipocalórica, ele preserva a massa magra (músculos), atenua expressivamente outros fatores de risco cardiovasculares e evita o reganho de pe-so. Um estilo de vida ativa, com aumento da capacidade física, pode evitar ou diminuir o risco de morbidade e mor-talidade em indivíduos com sobrepeso ou obesos (FOR-JAZ & TINUCCI, 2000).
O sedentarismo é apontado como um dos responsá-veis pelo aumento da obesidade entre jovens, o maior tempo despendido frente à televisão e o menor tempo destinado à realização de exercícios físicos, somados a uma dieta hipercalórica está associando-se a obesidade e expondo os jovens a outras doenças associadas à mesma (FERREIRA, 2006).
O tratamento dietoterápico de pacientes obesos deve priorizar a melhora da sensibilidade à insulina e benefícios no metabolismo de lipídios e pressão arterial. De acordo com a I Diretriz Brasileira sobre Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica, a perda de peso deve estar entre 5% a 10% do peso corpóreo para que estes resultados se-
127
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
jam encontrados (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005). A dieta ideal para indivíduos obesos deve priorizar o consumo de alimentos com baixos teores de gordura saturada e ácidos graxos trans isômeros, estimulando a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico e com quantidades adequadas de fibras alimentares. A gordura corporal é reduzida quando existe um equilíbrio calórico negativo. Um aumento no dispêndio calórico através do exercício e redução da ingesta calórica deve ser usado pa-ra alcançar esta meta (ACSM, 2000).
O estudo da função endotelial e suas relações com o exercício tornaram-se objeto deste projeto a partir de inú-meras evidências de que o exercício regular diminui a pro-gressão de doenças cardiovasculares (BLAIR et al, 1992; 20 LAKKA et al, 1994;).
A partir do pressuposto que a prática de atividade fí-sica e a dietoterápica têm o objetivo de diminuir o percen-tual de gordura, regulando os valores lipídicos e função do endotélio, diminuindo assim, os riscos de doenças induzi-das pelas substancias secretadas pelo tecido adiposo, tais como diabetes, hipertensão e aterosclerose.
cOnclusãOO exercício físico e a dieta podem ser benéficos para
a função endotelial, pois proporcionam liberações e sínte-ses de substâncias significantes para o processo cardio-vascular, além de que com a ingestão de alimentos com baixos índices glicêmicos e com quantidades adequadas de fibras alimentares irão levar a uma diminuição calórica relevante. A determinação dessas duas técnicas revela-se de grande importância quando combinadas, aumentando as perspectivas de melhoras.
referênciasFORJAZ, C.L.M.; TINUCCI, T. A medida da pressão arterial no exercício. Revista Brasileira de Hipertensão, Ribeirão Preto, v.7, n.1, p.79-87, 2000.
Bates DV. Respiratory Function in Disease, 3rd Edn.Phila-delphia: WB Saunders 1989; 100-102.
Santos RD, Maranhão RC, Luz PL, Lima JC, Filho WS, Ave-zum A, et al. III Diretrizes brasileiras sobre dislipidemias e diretrizes de prevenção da aterosclerose do Departamen-to de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiolo-gia. Arq Bras Cardiol 2001;77(Suppl 3):1-191.
CONSENSO LATINO-AMERICANO EM OBESIDADE. Rio de Janeiro, Brasil, 1998.
O’RAHILLY, S. Human genetics illuminates the paths to metabolic disease. Nature, 462:307–314; 2009.
SANCHES, et al. Cuidados intensivos para pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Vol. 19 n2 Abril Junho 2007.
WHO - World Health Organization: Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO Con-sultation on Obesity, Geneva, 3–5 June, 1997. Geneva: World Health Organization; 1998.
Organización Mundial de La Salud, Food and Agriculture Organization. Dieta, nutrición y prevención de enferme-dades crônicas. Geneva: Organización Mundial de la Sa-lud; 2003.
Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults— the evi-dence report. National Institutes of Health. Obes Res 1998;6(Suppl 2):51S–209S.
Farret JF. Nutrição e doenças cardiovasculares: prevenção primária e secundária. São Paulo: Atheneu,2005.
Prado ES, Dantas EH. Efeitos dos exercícios físicos aeró-bio e de força nas lipoproteínas HDL, LDL e lipoproteína(a). Arq Bras Cardiol 2002;79:429-33.
Isosaki M, Cardoso E. Manual de dietoterapia e avaliação nutricional: Serviço de Nutrição e Dietética do Instituto do Coração-HCFMUSP. São Paulo: Atheneu, 2004.
Zhu S, Heshka S, Wang Z, Shen W, Allison DB, Ross R. Combination of BMI and waist circumference, and health risk for identifying cardiovascular risk factors in whites. Obes Res. 2004;12:633-45.
Ribeiro JP, Hughes V, Fielding RA, Holden W, Evans W, Knuttgen HG. Metabolic and ventilatory response to set-ady state exercise relative to lactate thresholds. Eur J Appl Physiol, 1986; 55: 215-221
Viana FP, Cheik NC, Alexandre SK, Damaso AR. Dislipide-mias. In: Damaso AR, editor. Nutricao e exerciciona prevencao de doencas. Rio de Janeiro: Medsi, 2001;200-19.
Leung FP, Yung LM, Laher I, Yao X, Chen ZY, Huang Y. Ex-ercise, vascular wall and cardiovascular diseases: an up-tade (part1). Sports Med. 2008; 38 (12): 1009-24.
Ferreira, A. L. A.; Matsubara, L. S. – Radicais livres: concei-tos, doenças relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. – Rev. Ass. Med. Brasil 1997;43(1):61-8
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
128
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
American College of Sports Medicine (ACSM), 2000 American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, (6th ed), Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia, PA (2000).
Blair SN, Kohl HW III, Gordon NF. Physical activity and health: a lifestyle approach. Med Exerc Nutr Health. 1992;1:54-57.
LAKKA, T. A.; VENALAINEN, J. M.; RAURAMAA, R.; SA-LONEN, R.; TUOMILEHTO, J. & SALONEN, J., 1994. Rela-tion of leisure-time physical activity and cardio-respirato-ry fitness to the risk of acute myocardial infarction in men. New England Journal of Medicine, 330:1549-1554.
Despres JP. Cardiovascular disease under the influence of excess visceral fat. Crit Pathw Cardiol. 2007;6(2):51–59
Segrest JP. The role of non-LDL:non-HDL particles in ath-erosclerosis. Curr Diab Rep. 2002;2:282–288. doi: 10.1007/s11892-002-0096-0
Hayakawa H, Raij L. Relationship between hypercholes-terolaemia, endothelial dysfunction and hypertension. J Hypertens. 1999;17:611–619. doi: 10.1097/00004872-199917050-00004.
Jiang F, Gibson AP, Dusting GJ. Endothelial dysfunction induced by oxidized low-density lipoproteins in isolated
mouse aorta: a comparison with apolipoprotein-E defi-cient mice. Eur J Pharmacol. 2001;424:141–149. doi: 10.1016/S0014-2999(01)01140-2
Silva MJPC, Papaléo Netto M, Kedor HH, Camargo PA, KissMAD, Giannini SD et al. Influência da atividade física sobre osníveis plasmáticos dos lípides e lipoproteínas em coronariopatas.Arq Bras Cardiol 1988;50(4):231-6.
Katzmarzyk PT, Leon AS, Rankinen T, Gagnon J, Skinner JS,Wilmore JH et al. Changes in blood lipidis consequent to aerobicexercise training related to changes in body fat-ness and aerobicfitness. Metabolism 2001;50(7):841-8.]
Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature 1993; 362:801-9.
Celermajer DS. Endothelial dysfunction: Does it matter? Is it reversible? J Am Coll Cardiol 1997;30:325-33.
Rubanyi GM. The role of endothelium in cardiovascular homeostasis and diseases. J Cardiovasc Pharmacol 1993;22(Sup 4):S1-14.
Moncada S, Palmer RMJ, Higgs EA. The discovery of nitric oxide as the endogenous nitrovasodilator. Hypertension 1988;12:365-72.
129
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O riscO cardiOvascular na cOrrida de rua
João José cunha da silva¹co-autor(a): laura luna¹co-autor(a): anelizeineu figueiredoOrientador (a): maristela padilhade souza¹ ²
¹Centro de Pesquisa – Centro Universitário Metodista - IPA, ²PPG Mestrado em Reabilitação e Inclusão, Centro Universitário Metodista – IPA, Porto Alegre, RS, Brasil.
intrOduçãOSegundo dados de 2012 da Organização Mundial da
Saúde (OMS) 13% do total de mortes no mundo aconte-cem por doença cardíaca isquêmica. O estudo dessas do-enças é uma forma de atualização constante de estraté-gias em saúde pública (NOWBAR et al., 2014). Corrobo-rando com esses dados, Mahmood et al (2015) relata em uma recente revisão de literatura, que doenças cardiovas-culares são responsáveis pela morte ou incapacidade de 17,3 milhões de pessoas por ano no mundo e as previsões apontam que em 2030 esse número chegará a 30 milhões.
Existem diversos fatores de risco relacionados a doen-ças cardiovasculares. Uma alimentação inadequada, falta de atividade física, tabagismo, diabetes, dislipidemia e obesidade são fatores que se relacionam a doenças cardí-acas (SOOFI e YOUSSEF, 2015; GRAU et al., 2010). Em um estudo onde foi analisado a possibilidade de risco cardio-vascular em 664 indivíduos saudáveis através da realiza-ção de ultrassom na carótida e reavaliação após três anos, observou-se relação positiva entre sedentarismo e au-mento de fatores de risco cardiovascular (KOZÀKOVÀ et al., 2010).
Cabe salientar que um estilo de vida tecnológico e au-mento do poderio econômico ajudam a desencorajar a prática de exercícios físicos regulares. Já a atividade física reduz em 30%o risco no desenvolvimento de doenças car-díacas, reduzindo a pressão arterial, diminuindoa glicose no sangue e a absorção e insulina. Reduzindo ainda o peso corporal e melhorando o bem-estar psicológico do prati-cante, sendo deste modo, o exercício físico altamente re-comendado por profissionais da área da saúde. (PENHA et al., 2014).
Diferentes tipos de protocolos de exercício aeróbio são capazes de melhorar o limiar ventilatório e propor-cionar um incremento da aptidão cardiorrespiratória (SAUER et al., 2014) e, dentro deste contexto, a corrida é uma das possibilidades de atividade física aeróbia. Cor-rer é uma habilidade natural do ser humano, Mattson (2012) traz que diversas adaptações estruturais dos seres humanos (comprimento das pernas, tendões e forma do arco do pé) são voltadas para a corrida de longa distân-
cia. A corrida começou a se popularizar nos Estados Uni-dos em meados da década de 70 baseada na teoria do médico Keneth Cooper, desenvolvedor do teste de Coo-per e incentivador da prática desta modalidade (SALGA-DO, 2006). Desde então a corrida de rua tem se destaca-do devido ao aumento significativo no número de prati-cantes em diversos países, estima-se que nos Estados Unidos sejam aproximadamente 40 milhões de corredo-res e destes 17 milhões participam em eventos da moda-lidade (BASTOS et al., 2009).
Mesmo sendo considerada uma atividade segura, muitos indivíduos que praticam corrida de rua não levam em consideração o seu nível de condicionamento físico e até mesmo se submetem a protocolos de treinamento exaustivos sem uma avaliação cardiovascular prévia. Esta situação pode transformar este exercício em um potencial risco para sua saúde, aumentando deste modo, o risco de morte cardíaca súbita e as possibilidades de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (THOMPSON et al., 2007). Neste sen-tido, se faz necessário o entendimento das dimensões e das implicações desse tênue limite entre os riscos e bene-fícios proporcionados pela prática de corrida de rua.
metOdOlOgiaO presente trabalho trata-se de um estudo de revisão
de literatura onde foram utilizados artigos científicos, pesquisados na base de dados: Scielo, Science Direct e Pub-Med, publicados entre os anos de 2006 e 2015. Foram apli-cados os descritores corrida, corrida de rua e risco cardio-vascular, tendo ao final das pesquisas 6 artigos seleciona-dos por se enquadrarem na temática do estudo.
resultadOs
corrida dE rua E risco cardiovascular: distâncias mEnorEs.
Para uma melhor compreensão do assunto é necessá-rio ressaltar que a literatura tem apontado resultados dife-rentes, relacionando risco cardiovascular e volumes e trei-no. Por isso abordamos separadamente artigos que tratem de corredores que percorram provas menores e daqueles que percorrem provas com distância mínima de maratona.
Ishida et al. (2012) avaliou 94 participantes em 4 pro-vas de corrida de rua em Bauru que correram distâncias entre 5 e 10 quilômetros. Foram avaliados parâmetros an-tropométricos dos participantes: peso, altura, Índice de Massa Corporal IMC, Circunferência Abdominal (CA) e fa-tores de Risco Cardiovascular (RC) através da tabela de risco cardiovascular com análise do histórico familiar e aferição a Pressão Arterial (PA) e a Frequência Cardíaca (FC) 10 minutos após o término da prova. Nesse estudo 42% dos participantes apresentam algum grau de RC, sendo 37,2% baixo e 5,4% moderado. Cabe ressaltar ainda
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
130
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
que 42% apresentavam PA acima dos limites e 9,8% ti-nham CA acima.
Em outro estudo, foram acompanhados durante 15 anos 55.137 participantes que preencheram um questio-nário para avaliação de histórico médico e atividade física. Analisando-se as causas de mortalidade no decorrer des-ses quinze anos, aqueles que praticavam corrida de rua tinham redução em 30% no risco de morte cardiovascular e 45% no risco de morte por outros fatores. Mostrando que a prática da corrida se relacionou positivamente a di-minuição de RC (LEE et al., 2014).
Em um estudo com corredores de rua acima de 35 anos, tentou-se relacionar maiores quilometragens de treino (acima de 32 quilômetros semanais) a maior possi-bilidade de RC, porém não foi possível encontrar qualquer associação entre esses dados (BELL et al., 2014).
corrida dE rua E risco cardiovascular: distâncias maiorEs.
Em uma pesquisa realizada com 45 corredores que participaram da maratona de Boston, foi realizado um protocolo de treinamento com duração de 18 semanas. Avaliou-se adaptação cardíaca e possibilidade de RC an-tes do programa e após a participação na prova. Foram encontradas diversas remodelações cardíacas, como por exemplo: dilatação no ventrículo direito e ventrículo e átrio esquerdo, aumento da velocidade da diástole ven-tricular. O estudo aponta uma melhora da aptidão car-diovascular e conclui que o protocolo de treinamento para maratona é uma estratégia eficaz para diminuir o RC (ZILINSKI et al., 2015).
Contrariando isso, um estudo com 108 maratonistas do sexo masculino comparados a um grupo controle de-monstrou distribuição de Calcificação Arterial Coronaria-na (CAC) semelhante em ambos os grupos, embora os maratonistas apresentassem melhores pontuações no teste de Framingham para RC. Acompanhando esses par-ticipantes por 24 meses observou-se que 4 dos maratonis-tas apresentaram eventos coronarianos, realçando que somente o teste de Framinghan não foi suficiente para previsão de RC (MÖHLENKAMP et al., 2008).
Já em um estudo realizado com mulheres, que com-parou 21 corredores que participaram da maratona de Boston a 21 sedentárias, foi encontrado diminuição de RC em vários fatores, como: lipídios no sangue, redução no colesterol, diminuição de triglicerídeos, melhora na FC, menor peso e IMC. Porém não foi encontrado alteração em rigidez arterial e espessura da carótida, demonstrando que o exercício não alterou fatores de risco relacionados a Aterosclerose Carotídea (AC) (TAYLOR et al., 2015).
discussãOA corrida de rua, como atividade física moderada, de-
monstra efeitos benéficos em quase todas as estruturas biológicas do corpo humano, incluindo sistema cardiovas-cular. Porém é difícil encontrar o que seria a dose limite de treinamento com o que apresentam os estudos atualmen-te (Predel, 2014). Nós podemos observar isso nos estudos de Möhlenkamp et al (2008) e Taylor et al (2015) onde os maratonistas demonstraram melhorar em diversos mar-cadores de RC, mas tratando-se de CAC e AC não houve-ram melhoras significativas.
cOnclusãOEmbora a corrida de rua praticada de forma moderada
e em menores distâncias, seja benéfica para a saúde e pre-venção de RC. São necessários estudos onde se analise os potencias riscos para quem participa de maiores distân-cias, como maratona e ultramaratona.
referênciasBastos, F.C.; Pedro, M.A.D.; Palhares J.M. Corrida de rua: Análise da produção científica em universidades paulista-nas. revista mineira de educaçãofísica, v. 17, n. 2, p. 76-86, 2009.
Bell, A. C. e Bennet, C. e Matsumara M. Are Cardiovascular Risk Fa ctors Responsible for the U-Shaped Relationship between Running and Longevity? The MASTERS Athletic Study. american college Of cardiology, v. 63, n. 12, p. 1661, 2014.
Grau, M. et al. Prevalence of cardiovascular risk factors in men with stable coronary heart disease in France and Spain. archives of cardiovascular diseases, v. 103, n. 2, p. 80-89, 2010.
Ishida, J.C. et al. Presença de fatores de risco de doenças cardiovasculares e de lesões em praticantes de corrida de rua. revista Brasileira de educação física e esporte, v. 27, n. 1, p. 55-65, 2013.
Kozàkovà, M. et al. Effect of sedentary behaviour and vi-gorous physical activity on segment-specific carotid wall thickness and its progression in a healthy population. eu-ropean heart Journal, v. 31, n. 12, p. 1511-1519, 2010.
Lee, D. C. et al. Leisure-Time Running Reduces All-Cause and Cardiovascular Mortality Risk. Journal of the ameri-can college Of cardiology, v. 64, n. 5, p. 472-481, 2014.
131
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Mahmood, D.; Jahan, K.; Hanibulah, K. Primary preven-tion with statins in cardiovascular diseases: A Saudi Ara-bian perspective. Journal of the saudi heart associa-tion, v. 27, n. 3, p. 179-191, 2015.
Mattson, M. P. Evolutionary Aspects of Human Exercise – Born to Run Purposefully. ageing research reviews, v. 11, n. 3, p. 347-352, 2012.
Möhlenkamp, S. et al. Running: the risk of coronary events. europen heart Journal, v. 29, p. 1903-1910, 2008.
Nowbar, A.N. et al. 2014 Global geographic analysis of mortality from ischaemic heart disease by country, age and income: Statistics from World Health Organisation and United Nations. international Journal of cardiology, v. 174, n. 2, p. 293-298, 2014.
Penha, R.C.O. et al. Analysis of cardiovascular risks in prac-titioners of unsupervised exercises. fisioterapia e movi-mento, v. 27, n. 4, p. 523-530, 2014.
Predel, H.G. Marathonrun: cardiovascular adaptationand cardiovascular risk. europen heart Journal,v. 35, p. 3091-3096, 2014.
Salgado, J.V.V.; Chacon-Mikahil, M.P.T. Corrida de rua: análise do crescimento do número de provas e de prati-cantes. revista conexões, v.4, n.1, p. 100-109, 2006.
Sauer, D. et al. Efeito de três periodizações do treinamen-to aeróbio sobre o limiar ventilatório. revista Brasileira de ciências do esporte, v. 36, n. 3, p. 663-670, 2014.
Soofi, M. A.; Youssef, M. A. Prediction of 10-year risk of hard coronary events among Saudi adults based on pre-valence of heart disease risk factors. Journal of the saudi heart association, v. 27, n. 3, p. 152-159, 2015.
Taylor, B. A. et al. Influence of chronic exercise on carotid atherosclerosis in marathon runners. BmJ Open, v. 4, n. 2, 2013.
Zilinski, J. L. Myocardial Adaptations to Recreational Mar-athon Training Among Middle-Aged Men. american heart association, v. 8, n. 2, p. 1-10, 2015.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
132
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O efeitO da atividade de cOrrida em piscina funda na qualidade de vida de indivíduOs adultOs OBesOs
¹fraga, luciane cabral de²riBeirO, Jerri luiz
¹Mestrado Reabilitação e Inclusão pelo Centro univer-sitário Metodista do IPA
E-mail: [email protected]²Doutorado em Ciências do Movimento Humano pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil(2007)
resumOA obesidade é um distúrbio nutricional e metabólico
caracterizado pelo aumento de massa adiposa no organis-mo que se reflete no aumento do peso corpóreo. É uma condição séria e preocupante, podendo se tornar o princi-pal problema de saúde do século XXI. O objetivo do estudo foi analisar os efeitos de um treinamento de corrida em piscina funda num período de 12 semanas, no que tange à qualidade de vida de indivíduos adultos obesos. Partici-param do estudo treze voluntários cujo IMC era ≥30 Kg/m² e cuja média de idade (48,76±11,84 anos). Os mesmos fo-ram avaliados pré e pós 12 semanas de treinamento. Foi avaliada a Qualidade de Vida através do questionário SF36. Para análise estatística foi verificada a normalidade dos dados através do teste Shapiro-Wilk. A comparação das variáveis com distribuição normal foi realizada pelo Teste T para amostras pareadas, para variáveis com distri-buição não normal foi utilizado o teste de Wilcoxon. O ní-vel de significância utilizado foi de p<0,05. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 17.0. Verificou-se uma melhora significativa nos itens Capacidade Funcional (p=0,03), ocorreu uma diminuição na Dor (p=0,04), uma melhora no estado geral de saúde (p=0,00), uma melhora na Vitalidade (p=0,02). O treinamento de Corrida em Pis-cina Funda pode resultar em importantes modificações na Qualidade de Vida de pessoas Obesas, por ser uma ativi-dade aeróbia de fácil aprendizagem e sem impacto para as articulações.
Palavras chave: Obesidade, corrida em piscina funda, qualidade de vida.
1. intrOduçãONo Brasil, ao longo do tempo, as mudanças demográ-
ficas, socioeconômicas e epidemiológicas permitiram que ocorresse a denominada transição nos padrões nutricionais e na quantidade de gasto energético. Essa transformação sociocultural tem promovido, além de uma diminuição da atividade física, um aumento desnecessário da ingesta ca-lórica. Não obstante, nos últimos anos, houve um aumento no número de pessoas desenvolvendo doenças crônicas
degenerativas tais como as doenças cardiovasculares, as dislipidemias, o diabetes tipo II e a obesidade. Dessa forma, essa mudança de paradigma revelou um preocupante pro-blema de saúde pública, não só por conta de sua elevada taxa de mortalidade, mas também porque esse problema possui vários fatores de risco correlacionados.
Uma das patologias que mais merecem atenção no mundo contemporâneo é a obesidade; considerada uma doença crônica degenerativa não transmissível, a obesi-dade é capaz de desencadear várias outras enfermidades graves. Segundo Bray GA (2003), sabe-se que existe uma associação entre a obesidade e diversas doenças crônicas, tais como, doença coronariana, hipertensão, diabetes, dislipidemias sanguíneas, osteoartrite, entre outras.
A obesidade é um distúrbio nutricional e metabólico caracterizado pelo aumento de massa adiposa no organis-mo que se reflete no aumento de peso corpóreo. É uma condição clínica séria e preocupante, podendo se tornar o principal problema de saúde do século XXI. Outrossim, é a primeira causa de doenças crônicas no mundo, pois in-duz a múltiplas anormalidades metabólicas que contri-buem para a manifestação de doenças (GRUNDY, 1998).
O indivíduo é considerado obeso quando seu IMC (Ín-dice de Massa Corporal) está ≥ 30 Kg/m² (Grau I – 30 e 34,9Kg/m² / Grau II – 35 e 39,9 Kg/m² / Grau III - ≥40 Kg/m² obesidade mórbida).
Vários fatores são importantes no surgimento da obe-sidade, por exemplo, existem fatores genéticos, fisiológi-cos, metabólicos, nutricionais e fatores relacionados ao meio ambiente, entretanto o que poderia explicar este crescente aumento no número de indivíduos obesos pare-ce estar relacionado às mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares. O aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares simples e gordura, com alta densidade energética, e a diminuição da prática de exercícios físicos são os principais fatores relacionados ao meio ambiente.
Este excesso de peso faz com que ocorra um declínio na autonomia das atividades diárias e o indivíduo passa a ter um significativo impacto negativo na saúde, sobretu-do, no que tange ao bem-estar psicológico, à longevidade e à sua qualidade de vida como um todo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como condição complexa, com sérias dimen-sões sociais e psicológicas que afetam todos os grupos etários e socioeconômicos, tanto em países desenvolvi-dos como em desenvolvimento, e a classifica como a se-gunda causa de morte em níveis mundiais. Com o aumen-to do sedentarismo, as populações se tornaram mais sus-cetíveis à morbidade e à mortalidade.
No Brasil, o Ministério da saúde estima que cerca de 32% da população adulta apresenta algum grau excessivo de massa corporal, dos quais 25% são considerados casos mais graves. No Brasil, são gastos em serviços de saúde
133
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
cerca de U$ 500 milhões anuais com o aumento da preva-lência de sobrepeso e da obesidade.
A obesidade constitui-se em condição médica crônica de etiologia multifatorial, o que requer tratamento de múltipla abordagem. Dentre as formas de tratamento, sabe-se que a orientação nutricional e a prática de exercí-cios físicos regulares são essenciais, porém nem todos os exercícios físicos são recomendados para este grupo, de-vido à sobrecarga cardíaca e articular.
Dessa forma, o exercício aquático se apresenta como uma prática segura e vantajosa para pessoas com excesso de gordura, pelo fato de estas flutuarem com maior faci-lidade e por haver baixo risco de hipertermia.
Cabe ainda ressaltar que atividades físicas em meio lí-quido são consideradas recurso eficaz para aumentar o dis-pêndio de energia e promover redução da massa gorda, além de reduzirem os riscos de lesões por sustentação, par-ticularmente naqueles praticantes com maior adiposidade.
A corrida em piscina funda possui um aspecto muito importante que é a ausência de impacto devido à falta de apoio no solo, além do acréscimo do empuxo e da pressão hidrostática que elevam a resistência e dificultam o movi-mento, trabalhando, assim, um grande número de grupos musculares e exigindo um trabalho de resistência contra o meio líquido muito maior do que fora da água.
Partindo desse pressuposto, foi desenvolvido o presen-te estudo que teve como objetivos verificar o efeito da ati-vidade de corrida em piscina funda na qualidade de vida de indivíduos adultos obesos, pré e pós-treinamento de corri-da em piscina funda com duração de 12 semanas e com três sessões semanais de uma hora e dez minutos cada.
Após este período verificou-se uma melhora significa-tiva nos itens Capacidade Funcional, Dor, Estado Geral de Saúde e Vitalidade no questionário de Qualidade de Vida (SF36).
Concluímos que a modalidade de corrida em piscina funda pode ser uma boa alternativa de exercício aeróbio para indivíduos obesos, pois pode melhorar alguns aspec-tos relacionados a sua aptidão física e pode propiciar uma melhora substancial na sua qualidade de vida.
OBesidade e qualidade de vidaO termo Qualidade de Vida foi definido pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS 1998) como: “(...) a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.
O termo qualidade de vida abrange muitos significa-dos, conforme Minayo; Hartz e Buss, (2000), essa diversi-dade se deve, em parte, pela influência de pelo menos três características que podem estar associadas à noção de qualidade de vida. Então esses autores, descrevem os três aspectos da seguinte forma:
Primeiro deles é o momento histórico, ou seja, uma sociedade em diferentes períodos possui padrões de qua-lidade de vida também distintos dependendo do seu de-senvolvimento econômico, social e tecnológico.
Segundo, é cultural, já que os povos constroem e or-ganizam suas necessidades e valores de acordo com suas crenças, costumes e tradições.
O terceiro está associado às classes sociais, pois as concepções de bem-estar relacionam-se com o status e a estratificação social, sendo claramente verificada em so-ciedades nas quais as desigualdades e heterogeneidades são bastante evidentes e nas quais esse conceito varia en-tre as camadas superiores e inferiores.
Nahas (2001) diz que, qualidade de vida é um conceito diferente de pessoa para pessoa e tende a mudar ao longo do tempo. São múltiplos os fatores que determinam a qualidade de vida de pessoas ou comunidades. Fatores como: estado de saúde, longevidade, satisfação no traba-lho, salário, lazer, relações familiares, disposição, prazer e até espiritualidade.
A condição e o modo de vida dos indivíduos determi-nam as possibilidades de escolhas que os mesmos podem adotar para suas vidas. Ou seja, a adoção de hábitos sau-dáveis deriva, numa primeira instância, do acesso satisfa-tório a bens de consumo que proporcionam um estilo de vida tido como saudável (GONÇALVES; VILARTA, 2004).
cOrrida em piscina fundaA mídia e os meios de comunicação apontam que a
prática regular de atividade física e de exercícios físicos são indispensáveis para a manutenção do peso corporal e para a melhora da qualidade de vida de pessoas obesas, porém nem todas as atividades físicas são recomendadas, pois o excesso de peso traz consigo outros males à saúde, tais como, problemas cardíacos e articulares, por exem-plo. Assim, pode-se afirmar que os exercícios aquáticos são uma boa opção para esse público, pois a natureza des-se tipo de atividade física é de baixo impacto; além disso, tais exercícios aumentam o dispêndio de energia, promo-vem a redução da massa gorda e reduzem os riscos de lesões por sustentação. Outra vantagem dos exercícios aquáticos é que devido à Pressão Hidrostática (força que atua e todos os pontos do corpo ao mesmo tempo) a cir-culação periférica flui mais facilmente evitando muitos problemas de trombose, varizes, etc.
métOdOsO treinamento de corrida em piscina funda foi realiza-
do com colete flutuador, numa piscina semi-olímpica, sendo que os participantes não encostavam os pés no fun-do da piscina. O treinamento de corrida em piscina funda foi de 12 semanas com três sessões semanais. A duração de cada sessão foi de 1 hora e 10 minutos, a intensidade e
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
134
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
monitoramento do treinamento foram controladas a par-tir da Escala de percepção subjetiva de esforço “Escala de Borg”. Todas as sessões foram subdivididas em 5 minutos de aquecimento, 60 minutos de treinamento aeróbio e 5 minutos de alongamento final.
Nas primeiras três semanas o treinamento consistiu de 60 minutos de treinamento aeróbio a 50% do VO2 máximo. Esta intensidade foi controlada pela Escala de Borg, o nível correspondente a 50% do VO2 máximo é 11.
Na 4°, 5° e 6º semanas o treinamento consistiu de 60 minutos de aeróbio a 60% do VO2 máximo. Esta intensidade foi controlada pela Escala de Borg, o nível cor-respondente a 60% do VO2 máximo é 13.
Na 7°, 8° e 9º semanas o treinamento consistiu de 60 minutos de aeróbio a 70% do VO2 máximo. Esta intensidade foi controlada pela Escala de Borg, o nível correspondente a 70% do VO2 máximo é 15.
Na 10° e 11° semanas o treinamento consistiu de 60 minutos de aeróbio a 75% do VO2 máximo. Esta intensidade foi controlada pela Escala de Borg, o nível correspondente a 75% do VO2 máximo é 16.
Na última semana de treinamento baixamos a inten-sidade para 50% do VO2 máximo, fase de recuperação. Esta intensidade foi controlada pela Escala de Borg, o ní-vel correspondente a 50% do VO2 máximo é 11.
Em relação à análise estatística foi verificada a norma-lidade dos dados através do teste Shapiro-Wilk. A compa-ração das variáveis com distribuição normal foi realizada pelo teste T para amostras pareadas, enquanto que para as variáveis com distribuição não normal foi utilizado o teste de Wilcoxon. O nível de significância utilizado foi de p<0,05. E os dados estão apresentados em média e desvio padrão. Todos os dados foram analisados pelo programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS)17.0.
resultadOsA amostra foi composta de 13 indivíduos adultos obe-
sos, sendo onze mulheres e dois homens, com idades de 25 á 63 anos (média e desvio padrão 48,76±11,84).
Na tabela estão listados os oito itens referentes aos resultados do questionário de qualidade de vida SF36 que foi aplicado nos obesos, pré e pós-treinamento de corrida em piscina funda. Verificou-se uma melhora significativa nos itens Capacidade Funcional (p<0,03), ocorreu uma di-minuição da Dor (p<0,04), uma melhora no Estado Geral de Saúde (p<0,00), e uma melhora na Vitalidade (p<0,02). Já nos itens Limitações por aspectos físicos, Aspectos So-ciais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental não houve di-ferença estatisticamente significativa.
tabela – qualidade de vida (sf36) de indivíduos Obesos participantes de um treinamento de corrida em piscina funda.
pré treinamento pós treinamento p
capacidade funcional 60,00±18,43 77,27±18,89 0,030*
limitações aspectos físicos 50,00±37,08 65,91±30,15 0,152
dor 43,00±27,01 65,18±29,15 0,042*
estado geral de saúde 50,73±14,35 69,09±13,96 0,000*
vitalidade 47,73±15,86 62,73±16,48 0,024*
aspectos sociais 55,68±21,18 68,18±27,02 0,120
aspectos emocionais 36,34±37,86 51,50±43,11 0,360
saúde mental 59,27±21,60 69,82±17,09 0,097*P<0,05 nível de significância
cOnclusões Na presente pesquisa utilizamos o questionário SF36
para análise da Qualidade de Vida pré e pós-treinamento, e verificamos uma melhora nos domínios Capacidade Funcional (p<0,03), Estado Geral de saúde (p<0,00) e Vita-lidade (p<0,02) e houve uma diminuição no domínio Dor (p<0,04) dos obesos após o treinamento. No nosso traba-lho nos domínios, aspectos emocionais, aspectos sociais e saúde mental não foram significativos, pois talvez haja
a necessidade do acompanhamento psicológico durante o treinamento com os obesos.
Na mesma pesquisa realizada por PASETTI, S.R. (2005), o autor utilizou o questionário WHOQOL (World Health Organization Quality of life Assesment) para verifi-car a Qualidade de Vida das mulheres obesas pré e pós--treinamento de corrida em piscina funda, este verificou uma melhora nos domínios físico, psicológicos e das rela-ções sociais.
135
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
Num estudo realizado por BRILMANN, M. et al (2007) investigou-se a Qualidade de Vida em pacientes com So-brepeso / Obesidade I ou II (grupo I) e obesos grau III (gru-po II) que buscavam, em quatro instituições especializa-das na região da grande Porto Alegre, tratamento para o excesso de peso. Participaram desse estudo 73 pessoas, sendo 79,5% mulheres (n=58) e 20,5% homens (n=15), com idade média de 40,3 anos. Os autores utilizaram o questionário SF36, e foram encontradas associações esta-tisticamente significantes entre ser obeso grave ou apre-sentar sobrepeso / obesidade I ou II nos componentes Ca-pacidade Funcional (p<0,001), Aspectos Físicos (p<0,05) e Dor (p=0,003).
Nos oito domínios do SF36, as pessoas com obesidade grave apresentaram escore mais baixo que aqueles com sobrepeso ou obesidade I ou II, indicando acentuado pre-juízo na Qualidade de Vida. A intensidade da obesidade mostrou-se relacionada com a piora na Qualidade de Vida do obeso.
Na busca da prevenção e controle da obesidade é pos-sível utilizar atividades aquáticas que podem facilitar a prática e consequentemente aumentar a adesão, devido ás propriedades físicas da água, como a viscosidade, a qual proporciona esforço intenso durante o exercício, sem ocasionar lesões.
referênciasBRAY, G.A. sobrepeso, mortalidade e morbidade: Bou-chard , c. organizador. atividade física e Obesidade. São Paulo: Manole, 2003 pg 285-302.
BRASIL, Ministério da Saúde. Obesidade e desnutrição. site: www.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf.2006.
BRILMANN, M., OLIVEIRA, M.S., THIERS, V.O. avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde na obesida-de. Caderno de Saúde Coletiva. 2007; 15 (39-54)
FLETCHER, SW Fletcher - epidemiologia clínica: ele-mentos essenciais. Porto Alegre: Artmed; 2006
GONÇAVES, A; 2004. em busca do diálogo do controle social sobre o estilo de vida. in vilarta, r.(org.) qua-lidade de vida e políticas públicas: saúde, lazer e ativi-dades físicas. Campinas p. 17-26. Site: www.fef.unicamp.br/departamentos/deafa.
GRUNDY SM. – multifatorial causation of Obesity: im-plications for prevention. Am J Clin Nutri 1998; 67: 563s--72s
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. di-retoria de pesquisas, coordenação de trabalho e ren-dimento. pesquisa de Orçamentos familiares 2008-2009. www.ibge.gov.br
MASTUDO, S.M.M; MATSUDO, V.K.R; actividad física y Obesidad: prevención & tratamiento. Londrina. CELA-FISCS. Midiograf, 2008.
MCDARDLE, W.D., KATCH,F.I., KATCH, V.L. fundamen-tos de fisiologia do exercício. Segunda Edição. Ed. Gua-nabara Koogan. Rio de Janeiro – RJ. 2000 – pgs 153-156
MCARDLE, William D. et. al. Fisiologia do Exercício. Ener-gia, Nutrição e Desempenho Humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
MINAYO, M.C.S; HARTZ, Z.M.A.H; BUSS, P.M; qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Ciência & Saúde Coletiva, v.5, n.1, p 7-18. 2000.
NAHAS, M.V; atividade e qualidade de vida. 2º ed. lon-drina: midiograf, 2001, O stress e a fadiga muscular: fa-tores que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. Site: www.efdeportes.com /Revista Digital – Buenos Aires – Ano9 – nº 66 – Novembro de 2003
OMS – Organização Mundial da Saúde. Site: www.oms.gov.br
PASETTI, S.R; GONÇALVES, A; PADOVANI, C.R. corrida em piscina funda e a melhora da qualidade de vida em mulheres obesas. Arq. Med. ABC.2007;32(1):5-10. Disser-tação de mestrado.
TAVARES, T.B; NUNES, S.M; SANTOS, M.O; Obesidade e qualidade de vida: revisão da literatura. Revista de Me-dicina Minas Gerais 2010. 20(3):359-366.
TARTARUGA, L.A.P; KRUEL, L.F.M; corrida em piscina funda: limites e possibilidades para o alto desempenho. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Vol.12, nº 5 – Set/Out. 2006
TIGGEMANN, C.L. et al; comparação de variáveis car-diorrespiratórias máximas entre corrida em piscina fun-da e a corrida em esteira. Motriz Rio Claro,v.13,n.4, p 266-272, out/dez.2007
WHO - World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic.Geneva: World Health Organization; 2000
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
136
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
instrumentOs de avaliaçãO da saúde dO idOsO
Breno de souza Wanderleyi
mariane Borba monteiroiii
viviane rostirola elsnerii
I Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Biociên-cias e Reabilitação (PPGBR) do Centro Universitário Metodista, do IPA; Porto Alegre – RS, Brasil.
II,III Professor (a) de Pós Graduação Acadêmico em Biociências e Reabilitação (PPGBR) Centro Universitário Metodista, do IPA; Porto Alegre – RS, Brasil.
email: [email protected]
resumOO envelhecimento populacional, decorrente do au-
mento da expectativa de vida, é um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea, sobretudo nos países em desenvolvimento como o Brasil, onde a transição de-mográfica caracteriza-se pelo aumento rápido e progres-sivo do número de pessoas idosas. Este estudo teve como objetivo verificar os diferentes instrumentos e ferramen-tas de avaliação da saúde do idoso. Este estudo trata-se de uma revisão de literatura, sendo que os artigos foram pes-quisados em diferentes bases de dados em saúde como BIREME, LILACS, SCIELO e MEDLINE. Vários instrumen-tos têm sido usados para avaliar e mensurar a saúde do idoso, sendo o Medical Outcome Study 36 - Item Short Form Health Survey - SF 36 que avalia a qualidade de vida, índice da Katz, que avalia atividades de vida diária, Rikli e Jones, que avalia capacidade funcional e o questionário interna-cional de atividade física (IPAQ), o qual avalia nível de ati-vidade física. Os resultados da busca na literatura científica sugerem que as ferramentas disponíveis são eficientes na aplicabilidade para população idosa, onde o envolvimento regular dos mesmos em programas de exercício físico pa-rece amenizar a diminuição da aptidão física e capacidade funcional inerentes ao envelhecimento, melhorando a qualidade de vida e conseqüentemente a saúde dessa população que cada vez mais cresce no Brasil.
descritores: Envelhecimento, Instrumentos de Ava-liação, Saúde, Idoso.
INTRODUÇÃOA Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) defi-
ne envelhecimento como um processo seqüencial, indivi-dual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a to-dos os membros de uma espécie. Isso ocorre de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao es-tresse do meio ambiente, e, portanto, aumente sua pos-sibilidade de morte (OPAS, 2015).
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil será o sexto país com maior número de pessoas nessa fai-xa etária até 2025 (CHEHUEN, 2011). Interessante comen-tar que as regiões sul e sudeste do País comportam 75% do total de idosos no país. Nestas regiões, a população idosa representa, respectivamente, 38,1% e 37,8% da po-pulação (COELHO e RAMOS, 1999). Ainda, o Rio Grande do Sul apresenta o maior índice de envelhecimento do país (CLOSS et al., 2012).
As projeções estatísticas apontam ainda, que em 2050, os idosos constituirão 16% da população brasileira, o que colocará o Brasil, em termos absolutos, na posição de sexta maior população de idosos no mundo, com mais de 32 milhões de pessoas (AIRES et al., 2010).
Assim, o novo quadro demográfico nacional e suas consequências epidemiológicas têm estimulado pesqui-sas não só para avaliar a saúde dos idosos, mas também permitindo aperfeiçoar os recursos humanos e financeiros para melhor subsidiar intervenções e implementações de programas de saúde para aquela população (TOSCANO; OLIVEIRA, 2009).
2 OBJetivOEste estudo teve como objetivo verificar os diferentes
instrumentos e ferramentas de avaliação da saúde do ido-so.
materiais e métOdOs
Este estudo trata-se de uma revisão de literatura, sen-do que os artigos foram pesquisados em diferentes bases de dados em saúde como BIREME, LILACS, SCIELO e ME-DLINE. Foram selecionados artigos somente na língua portuguesa, publicados nos últimos 10 anos, sendo que os descritores utilizados foram: envelhecimento, idosos, saúde, instrumentos de avaliação.
RESULTADOS]
4.1 avaliação da qualidadE dE vida Para avaliar a Qualidade de Vida o instrumento mais
indicado é o Medical Outcome Study 36 - Item Short Form Health Survey - SF 36, que foi validado para o português por Ciconelli e cols (1996). Esse questionário é uma ferra-menta que pode ser aplicada em pessoas a partir de 12 anos de idade e que objetiva pesquisar o estado de saúde física e mental na prática clínica individualmente e na po-pulação geral.
O questionário é composto por 36 questões que abor-dam 8 domínios (ou dimensões) em dois grandes compo-nentes: o componente físico que envolve a capacidade funcional (CF), a dor, o estado geral de saúde (EGS) e o aspecto físico; e o componente mental que contempla a
137
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
saúde mental (SM), o aspecto emocional (AE), o aspecto social (AS) e a vitalidade (V). A finalidade das questões serão transformar medidas subjetivas em dados objeti-vos, que permitem análises de forma específica, global e reprodutível. Cada domínio apresenta um escore final de zero a 100, no qual zero corresponde ao pior estado geral de saúde e 100, ao melhor estado de saúde (MAGALHÃES & IÓRIO, 2011).
4.2 avalição da capacidadE funcionalOs pesquisadores Rikli & Jones (1999) desenvolveram
e validaram uma bateria de testes de aptidão funcional para o Ruby Gerontology Center, na California State Univer-sity (também conhecidos por “Fullerton Tests”) que foram definidos como testes que avaliam a capacidade fisiológi-ca para desempenhar atividades normais do dia-a-dia de forma segura e independente, sem que haja uma fadiga indevida.
O protocolo de testes de aptidão funcional de Rikli e Jones (1999) é uma bateria de testes conhecido como Functional Fitness Test de Rikli & Jones. No contexto deste teste, os autores definem aptidão funcional como a capa-cidade fisiológica para executar as AVD com segurança e sem fadiga extrema. Esta bateria é constituída por um conjunto de testes que permitem avaliar alguns dos atri-butos fisiológicos que são a força dos membros superiores (teste da flexão do antebraço) e inferiores (teste levantar e sentar na cadeira), a flexibilidade inferior (teste sentar e alcançar na cadeira) e superior (teste alcançar atrás das costas), a resistência aeróbia (teste andar 6 minutos), a Velocidade, a agilidade e equilíbrio dinâmico (teste senta-do, caminhar 2,44 m e voltar a sentar), o índice de massa corporal (IMC) e ainda o perímetro da cintura.
4.3 avaliação do índicE dE massa corporalA avaliação do índice de massa corporal (IMC) é a base
internacionalmente mais utilizada para definir se um indi-víduo é obeso ou não. Este é determinado a partir da razão entre o peso (kg) e a estatura (m2) do indivíduo, ou seja, IMC = peso [kg] / estatura [m2]). A classificação do estado nutricional a partir do IMC foi realizada de acordo com a (OMS, 1998), a qual utiliza os seguintes valores como re-ferência para adultos: baixo peso IMC < 18,5kg/m2, eutro-fia IMC entre 18,5kg/m2 e 24,9kg/m2, sobrepeso IMC entre 25 e 29,9kg/m2 e obesidade IMC ≥ 30kg/m2.
4.4 avaliação do nívEl dE atividadE física
Para avaliar o nível de Atividade Física, utiliza-se o questionário internacional de atividade física (IPAQ). Este é um instrumento proposto pela OMS, que permite esti-mar o tempo gasto semanalmente em atividades físicas moderadas a vigorosas, em diversas atividades (trabalho,
transporte, domésticas e lazer), como também o gasto na posição sentada. Os indivíduos podem ser classificados como Sedentário – Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana; Insuficientemente Ativo – Consiste em classificar os indiví-duos que praticam atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira insufi-ciente para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério, é somada a duração e a freqüên-cia dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + mo-derada + vigorosa). Essa categoria divide se em dois gru-pos: Insuficientemente Ativo A – Realiza 10 minutos contí-nuos de atividade física, seguindo pelo menos um dos critérios citados: freqüência – 5 dias/semana ou duração – 150 minutos/semana; Insuficientemente Ativo B – Não atinge nenhum dos critérios da recomendação citada nos indivíduos insuficientemente ativos A; Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou ca-minhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão; c) qual-quer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/se-mana; Muito Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa– ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 min/ sessão; b) vigo-rosa – ≥ 3 dias/ semana e ≥ 20 min/sessão + moderada e ou caminhada ≥ 5 dias/ semana e ≥ 30 min/sessão (BENEDET-TI, 2007)
4.5 avaliação da função pulmonar
A espirometria permite medir o volume de ar inspira-do e expirado e os fluxos respiratórios, sendo especial-mente útil na análise dos dados derivados da manobra expiratória forçada. A capacidade pulmonar total (CPT) é a quantidade de ar nos pulmões após uma inspiração má-xima. A quantidade de ar que permanece nos pulmões após a exalação máxima é o volume residual (VR). A (CPT) e o (VR), não podem ser medidos por espirometria sim-ples. O volume eliminado em manobra expiratória força-da desde a (CPT) até o (VR) é a capacidade vital forçada (CVF). A capacidade vital pode ser medida lentamente (CV), durante a expiração partindo da (CPT) ou durante a inspiração, a partir do (VR). O Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) é a quantidade de ar elimina-da no primeiro segundo da manobra expiratória forçada. É a medida de função pulmonar mais útil clinicamente (PEREIRA, 2002).
cOnclusãOOs instrumentos analisados para avaliar a saúde do
idoso são amplamente utilizados pelos pesquisadores da gerontologia, tanto a nível nacional quanto internacional-mente. Os profissionais da saúde e ligados à atividade fí-sica devem fazer um uso maior de protocolos de avaliação
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
138
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
sistemáticos e consistentes, pois muito provavelmente não haveria tanta discrepância entre as condutas tomadas o que leva a uma desconfiança da credibilidade dos trata-mentos escolhidos, ou seja, a variação de resultados du-rante a avaliação leva a tomadas de conduta diferentes.
referencias
AIRES, M.; PASKULIN, L.M.G.; MORAIS, E.P. Functional Capacity of Elder Elderly: Comparative Study in Three Re-gions of Rio Grande do Sul. revista latino-americana de enfermagem, [S.l.], v. 18, n. 1, paginação irregular, 2010.
BENEDETTI, Tânia R. Bertoldo et al. Reprodutibilidade e validade do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em homens idosos. revista Brasileira de medicina do esporte.[S.l.] v. 13, n.1, 2007.
CHEHUEN, José Antonio Neto et al. Perfil epidemiológico dos idosos institucionalizados em Juiz de Fora. Revista, Juiz de Fora, v. 37, n. 2, p. 207-216, abr./jun. 2011.
CICONELLI RM, FERRAZ MB, SANTOS W, Meinão I. Qua-resma MR. Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação da qualidade de vi-da SF-36 (Brasil SF-36) rev Bras reumatol. [S.l.] v.39, p.143-50, 1999.
CLOSS, V.E. AND SCHWANKE, C.H.A. Aging Index Devel-opment in Brazil, Regions, and Federative Units from 1970 to 2010. revista Brasileira de geriatria e gerontologia. [S.l.] v. 15, p. 443-458, 2012.
COELHO FJM, RAMOS LR , Epidemiologia do envelheci-mento no Nordeste do Brasil: resultados de inquérito do-miciliar. rev saúde pública. [S.l.] v. 33, p. 445-453,1999.
MAGALHÃES, Ruth; IÓRIO, Maria Cecilia Martinelli. Qual-ity of life and participation restrictions, a study in elderly .Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. [S.l.] v. 77, n. 5, 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Promoção da Saúde Mundial: glosario. Genebra: OMS; 1998.
PEREIRA, Carlos Alberto de Castro. Espirometria. J pneu-mol 28(Supl 3) – outubro de 2002.
RIKLI, R.E., JONES, C.J. (1999). development and valida-tion of a functional fitness test for community-residing older adults. Journal of Aging and Physical Activity, vol. 7, pp. 129-161
TOSCANO, JJO; OLIVEIRA, ACC. Quality of Life in Elderly Subjects with Different Levels of Physical Activity. Revista Brasileira de Medicina do Esporte – Vol. 15, No 3, pag. 169 , Mai/Jun, 2009.
139
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
análise dO usO de medicamentOs em pacientes cOm insuficiência cardíaca cOngestiva assOciada à funçãO renal
Karina da silva santos¹ pamela fraçoni peres¹roberto canquerini2
valesca veiga cardoso2
rita mascarenhas¹marcello ávila mascarenhas¹,²
¹ Curso de Farmácia do Centro Universitário Metodista – IPA, Porto Alegre, RS. ²Programa de Pós Graduação em Biociências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista – IPA, Porto Alegre-RS
Contato email: [email protected]
resumOObjetivo foi avaliar a utilização de medicamentos em
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva associa-da à função renal no momento inicial e final do tratamen-to. metodologia: O estudo foi transaversal, com levanta-mento de informações do banco de dados do ensaio clíni-co randomizado prospectivo, foram dividos em 2 grupos conforne o tipo de intervenção. As informações obtidas foram idade, sexo, medicamentos utilizados, número de medicamentos por pacientes, a concentração sérica, ini-cial e final, de creatinina e ureia. Os dados de 80 pacientes foram divididos: 40 para o grupo A e 40 para o grupo B. resultados: Nossos resultados demonstraram que os diu-réticos e inibidores da enzima conversora de angiotensina II foram as classes de medicamentos mais utilizadas. Os β-bloqueadores adrenérgicos foram utilizados por 50% dos pacientes. A ureia final apresentou resultado signifi-cativo comparado ao inicial entre os grupos. conclusão: Portanto, os pacientes estudados eram idosos. A prescri-ção racional deve, portanto, individualizar e aumentar po-tencialmente cada fármaco, pois tem demonstrado bene-fícios como redução da mortalidade, número de interna-ções e sintomas em pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva.
d e s c r i t o r e s : I n s u f i c i ê n c i a c a r d í a c a congestiva,Tratamento, Função renal.
intrOduçãOA Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as
doenças e agravos crônicos sejam responsáveis por cerca de 60% do total de mortes no mundo e 46% da carga glo-bal de doenças que atinge a população mundial (WHO, 2005). No Brasil, a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é a primeira causa, entre as doenças cardiovasculares, de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em pacien-
tes acima de 65 anos, elevando os custos com hospitaliza-ção e medicamentos (NOGUEIRA, SALVADOR, CORRÊA, 2010). A ICC é considerada uma síndrome caracterizada por uma anormalidade estrutural ou funcional em que o coração se torna incapaz de realizar o bombeamento de sangue proporcionalmente às necessidades do organis-mo (CONNOR et al, 2009) . A insuficiência cardíaca con-gestiva pode ser classificada de acordo com suas condi-ções clínicas em aguda ou crônica e causar alterações he-modinâmicas ou funcionais (SUTTON et al., 2009).
As principais finalidades do tratamento da ICC são o alívio dos sintomas, amelhora na qualidade de vida e na sobrevida do paciente e a prevenção da progressão da do-ença. O tratamento farmacológico pode ser através de diversas classes de fármacos como: inibidores da enzima de conversão da angiotensina II (IECA), antagonista dos receptores da angiotensina II, glicosídeos cardíacos, diu-réticos, betabloqueadores adrenérgicos, vasodilatado-res, antiarrítmicos e anticoagulantes (BOCCHI, et. al., 2009). A ICC é também a causa comum de insuficiência renal, onde a sua descompensação pode progredir para a doença renal crônica, sendo considerado um fator de risco para complicações farmacológicas e metabólicas, favore-cendo ao aumento na recorrência de hospitalização e au-mento da morbimortalidade cardiovascular (GONZÁLEZ et. al., 2014). Este estudo tem como objetivo avaliar a uti-lização de medicamentos em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva associada à função renal em dois mo-mentos de tratamento, inicial e final.
métOdOsTrata-se de um estudo transversal, com levantamento
de informações do banco de dados do estudo clínico ran-domizado retrospectivo, realizado no período de 2001 até 2004.Os dados secundários foram constituídos por pa-cientes acompanhados no ambulatório de insuficiência cardíaca de um hospital de grande porte do sul do Brasil. O projeto foi aprovado (33503314.5.0000.5308) pelo Co-mitê de Ética em Pesquisa do IPA.
Foram incluídos dados do pacientes com insuficiência cardíaca, que haviam apresentado pelo menos uma hos-pitalização ou visita à emergência por descompensação da doença durante os 3 meses anteriores à randomização e idade > de 18 anos. Excluíram-se as informações dos in-divíduos com incapacidade motora significativa, deformi-dade torácica ou doença pulmonar severa crônica, síndro-me coronária aguda nos últimos três meses, insuficiência renal crônica em programa de diálise. Asssim, o número de pacientes analisados ficou em 80.
Após a visita inicial, todos os pacientes realizaram consultas ambulatoriais em 180 dias. No grupo A, cada consulta de protocolo foi precedida por realização de eco-cardiograma, enquanto que, no grupo B, os pacientes fo-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
140
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ram submetidos apenas a ecocardiografias nas consultas inicial e final. Para fins de análise ecocardiográfica do pre-sente estudo, apenas os dados obtidos no exame inicial e no exame final foram utilizados. Para ambos os grupos foram realizadas coletas de sangue (soro) nos dois mo-mentos de tratamento para avaliar os parâmetros bioquí-micos. As informações coletadas foram idade, sexo, me-dicamentos utilizados, número de medicamentos por pacientes, a concentração sérica inicial e final, de creati-nina e ureia.
A análise descritiva das variáveis foi expressa em nú-mero absoluto, frequência (%), média e desvio padrão pa-ra um p<0,05 e todas as análises foram realizada no sof-tware SPSS-v.21.0. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. As diferenças das variáveis entre os grupos foram realizadas pelo teste Tpara amostras in-dependentes. A diferença entre o momento incial e final de tratamento foi realizada pelo teste T para amostras pareadas. O teste de Kruskall Wallis foi utilizado para ava-liar a classe de medicamento e número de fármacos por participante.
resultadOsOs 80 pacientes ambulatoriais com insuficiência car-
díaca foram acompanhados durante 6 meses e divididos em dois grupos: 40 pacientes foram aleatoriamente alo-cados para o grupo A e 40 para o grupo B. Dos sujeitos analisados 52 eram do sexo masculino (23 pertenciam ao grupo A e 29 ao grupo B) e 28 do sexo feminino (17 do grupo A e 11 do grupo B). A média de idade dos pacientes do grupo A é de 57±15 anos, já no grupo B é de 62±15 anos.
Da população estudada 52% dos pacientes do grupo A e 47% do grupo B apresentaram etiologia da ICC de ori-gem isquêmica, onde 47% do grupo A e 52% do grupo B de origem não isquêmica. Os medicamentos utilizados por cada grupo foram classificados como vasodilatadores, IECA, β-bloqueadores adrenérgicos e diuréticos. A classe de medicamentos mais utilizados pelo grupo A foi diuré-tico (43%), seguido por IECA (28%), β-bloqueador (20%) e vasodilatador (9%). No grupo B a classe de medicamen-tos mais prevalente também foi diurético (41%), IECA (41%), β-bloqueador (15%) e vasodilatador (3%).
O perfil medicamentoso avaliou o medicamento utili-zado por cada classe, no grupo A chegaram ao final do estudo 31 pacientes, apresentando o perfil medicamento-so no momento inicial e final, respectivamente, para hi-dralazina de 20% e 42%; IECA 100% e 100%; β-bloqueador 55% e 90%; furosemida 100% e 100%; espironolactona 55% e 48%. Enquanto que no grupo B, 22 pacientes fina-lizaram o estudo, onde se observou o perfil medicamen-toso para hidralazina de 10% e 9%; IECA 97% e 91%; β-bloqueador 50% e 68%; furosemida 97% e 91%; espiro-nolactona 50% e 63%.
Os parâmetros bioquímicos observados para avaliar a função renal foram creatinina e uréia. Obteve-se a con-centração inicial de creatinina de 2,04±0,15mg/dL, sendo que no final do estudo foi de 1,680±0,10mg/dL, enquanto que o valor de creatinina inicial do grupo B foi de 1,955±0,09mg/dL, onde o valor de creatinina final obser-vado foi de 2,370±0,11mg/dL.O grupo A apresentou o va-lor de ureia inicial de 59,35±0,15mg/dL e no final foi de 46,77±0,14mg/dL, já o grupo B quanto ao valor de ureia inicial o valor analisado foi de 58,62±0,20mg/dL e o final foi de 54,92±0,11mg/dL.
cOnclusãOOs pacientes com ICC possuem idade acima dos 50
anos, prevalecendo o sexo masculino com etiologia isquê-mica e não isquêmica. Os homens geralmente desenvol-vem mais doenças crônicas do que as mulheres, já que essas procuram com mais frequência a assistência em saúde e são criados programas para prevenção e trata-mento direcionados a elas.
O uso da polifarmácia racional é indicado para os pa-cientes com doenças crônicas, pois o médico prescreve múltiplos fármacos com base em evidências de boa quali-dade, assegurando o benefício real de cada medicamento em desfechos clinicamente significativos, prevendo os pos-síveis efeitos adversos e faz os ajustes nas doses de ataque, manutenção e posologia das diversas medicações, minimi-zando os riscos e potencializando os benefícios.
O monitoramento dos parâmetros da função renal de-ve ser realizado de forma seriada em pacientes com ICC. A piora no quadro renal pode indicar necessidade de redu-ção do uso de diuréticos e readequação de fármacos que inibem o sistema renina angiotensina aldosterona. Com isso, o nosso estudo não demonstrou associação com a função renal, entretanto, os parâmetros avaliados indivi-dualmente não se aplicam para o diagnóstico de disfun-ção renal e requer mais estudos em relação à função renal. A prescrição racional deve, portanto, ser individualizar e aumentar potencialmente cada fármaco assim como o acompanhamento da disfunção renal favorecer para me-nor taxa de morbidade na ICC.
referênciasBOCCHI, et. al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III Di-retriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. arqui-vos Brasileiros de cardiologia, v. 6, p. 1-71, 2009.
CONNOR et. al. Eficácia e segurança do treinamento físi-co em pacientes com insuficiência cardíaca crônica: ran-domizado controlado. American Medical Association, v.14, p.1439-1450, 2009.
141
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
GONZÁLEZ, et.al. Chronic Renal Dysfunction in Mainte-nance Heart Transplant Patients: The ICEBERG Study. transplantation proceedings, v. 46, p. 14-20, 2014.
NOGUEIRA, P.,SALVADOR R., CORRÊA, K. Perfil Epide-miológico, Clínico e Terapêutico da Insuficiência Cardíaca em Hospital Terciário. arquivo Brasileiro cardiologia, v.3, p. 392-398, 2010.
SUTTON, M. et al. Cardiac Resynchronization Induces Ma-jor Structural and Functional Reverse Remodelingin Pa-tients With New York Heart Association Class I/II Heart Failure. the american heart association, v.19, p.1858-1865, 2009.
WHO-World Health Organization. Preventing chronic dis-eases: a vital investment.Geneva; 2005. Disponível em: < http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/ >. Acesso em: 10 out. 2015.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
142
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
treinamentO resistidO assOciadO a esteróides anaBOliZantes gera estresse OxidativO cOm influência nas dOenças cardiOvasculares
adriana russowsky1
claúdia funchal2
marcello mascarenhas2
1Mestranda em Biociências e Reabilitação Centro Uni-versitário Metodista - IPA e Farmacêutica. E-mail: [email protected]
2Pesquisador do Programa de Pós Graduação em Bio-ciências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista - IPA
resumO Apesar de serem imprenscindíveis na clínica mé-
dica, o uso indiscrimando e ilegal de esteroides anaboli-zantes androgênicos é extremamente difundido na so-ciedade, seja com o intuito estético ou de melhora de desempenho físico no esporte. São diversos os efeitos deletérios desta associação, principalmente cardiovas-culares, tornando-se uma importante questão de saúde pública. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre o treinamento resistido asso-ciado a utilização dos esteroides anabolizantes androgê-nicos, que, ao gerar estresse oxidativo, apresenta influ-ência em doenças cardiovasculares. Os autores pesqui-sados sugerem que a administração de antioxidantes serve para prevenir estes efeitos deletérios, porém, per-cebe-se a necessidade de mais estudos sobre a adminis-tração concomitante de antioxidantes na terapia com esteroides anabolizantes androgênicos associado ao treinamento resistido, na tentativa de minimizar a inci-dência de cardiopatologias.
descritores: Treinamento resistido, estresse oxidati-vo, sistema cardiovascular, esteroides, antioxidantes.
intrOduçãOA utilização de esteroides anabolizantes androgêni-
cos (EAA) ocorre principalmente no esporte e na estética, muitas vezes com uso indiscriminado e ilícito (CAMINHA et al., 2013). Enquanto os esteroides endógenos são es-senciais para as funções homeostáticas do nosso corpo (CARMO, FERNANDES, OLIVEIRA, 2012; DOS SANTOS et al., 2013), os EAA exógenos têm outras finalidades. Os fins desta utilização referem-se ao aprimoramento do de-sempenho físico, aumento da massa muscular e redução de gordura, combinados ao treinamento resistido (TR). Na medicina clínica, são utilizados no tratamento de pa-tologias como osteoporose, depressão, anemia, vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), traumas, cirurgias (FA-
LANGA et al., 1998), deficiências hormonais e alterações no metabolismo protéico (CUNHA, 2004).
Apesar do TR ocasionar alterações positivas no meta-bolismo e no sistema cardiovascular, sendo uma estraté-gia em programas de reabilitação cardíaca combinado a outros elementos (ALVES et al., 2014), ocasiona também um significativo estresse oxidativo (VIANNA et al., 2014). Quando associado à terapia de EAA este quadro tende a piorar (SHAHIDI et al., 2001; PINHO et al., 2010; SOARES et al., 2011; BOCALINI et al. ,2014; CARMO, FERNANDES, OLIVEIRA, 2012; CHAVES et al., 2013). Como o estresse oxidativo tem grande importância nas doenças cardiovas-culares. (CHAVES et al., 2013; FRANKENFELD et al.; 2014), o presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o treinamento resistido asso-ciado a utilização dos esteroides anabolizantes androgê-nicos, que, ao gerar estresse oxidativo, apresenta influên-cia em doenças cardiovasculares.
metOdOlOgiaA pesquisa consiste em revisão bibliográfica realizada
nas bases de dados Scielo, Lilacs, Scopus e Pubmed, no pe-ríodo de 1998 até 2015, buscando artigos originais e de re-visão sobre o tema, com os seguintes descritores: esteroi-des anabólicos androgênicos, treinamento resistido, es-tresse oxidativo, doenças cardiovasculares e antioxidantes.
treinamentO resistidOO exercício físico pode ser definido como uma forma
de movimento do corpo onde há resultados de aumento na demanda metabólica com a intenção de desenvolver um ou mais componentes. Geralmente é planejado, estru-turado e sistemático (LUCKÁS; BARKAI 2015). É um im-portante estímulo que diminui as injúrias causadas no sis-tema cardiovascular (CHAVES et al., 2013), melhora o me-tabolismo da glicose, função músculo esquelética, estres-se oxidativo, síntese de óxido nítrico, função vascular, circulação pulmonar, microcirculação, lesões ateroescle-róticas, redução da viscosidade sanguínea e aumento do tempo de difusão (PINHO et al., 2010; FONTES-CARVA-LHO et al., 2015).
Os exercícios aeróbicos compreendem aqueles que atuam em níveis moderados de intensidade, por períodos extensos de tempo, mantendo a taxa de batimentos car-díacos elevada e aumentando o consumo de oxigênio pa-ra a produção de adenosina trifosfato (ATP). O exercício anaeróbico é utilizado para promoção de força, potência e velocidade. Tem menor duração e alta intensidade. Ao contrário do aeróbico, não depende do oxigênio exógeno (LUCKÁS; BARKAI, 2015), porém, ambos aumentam a efi-ciência do mecanismo cardíaco, proporcionando mudan-ças na morfologia do ventrículo esquerdo (OLIVEIRA et al., 2014).
143
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
O treinamento resistido (TR), ou com sobrepeso, é um tipo de exercício que realiza o movimento ou a tentativa de mover um músculo contra uma força oposta. Tem como fi-nalidade aumento de força e massa magra, melhora do de-sempenho esportivo, diminuição de gordura corporal (FLE-CK; KRAEMER; MADURO, 1999), ativação neuromuscular, aprimoramento da coordenação motora (HARRIES, LU-BANS; CALLISTER, 2012) e flexibilidade (CARNEIRO et al., 2015), tendo como principal objetivo a promoção de adap-tações fisiológicas e morfológicas no músculo (BARBOSA; SANTARÉM; MARUCCI, 2000). É uma das formas mais po-pulares para aumentar a capacidade de contratilidade mus-cular em adultos, idosos e atletas (MARTINS et al., 2013). Para a performance esportiva, a explosão muscular e a taxa de produção de força são essenciais, sendo trabalhadas em ambos os tipos de TR: o treinamento de resistência ou força (strength training) e o treinamento de potência (power trai-ning) (HARRIES; LUBANS; CALLISTER, 2012).
sistema cardiOvascular e treinamentO resistidO
O TR causa alterações positivas no metabolismo e sis-tema cardiovascular (VIANNA et al., 2014). Estes benefí-cios dependem da manipulação de diversos fatores, prin-cipalmente da intensidade, frequência e volume de trei-namento, que derivam da combinação do número de re-petições, séries, sobrecarga, sequencias, intervalos e ve-locidade de execução (CARNEIRO et al., 2015). Esta é uma modalidade comumente indicada para o tratamento de cardiopatias (ARAÚJO et al., 2014).
Executado em alta intensidade, produz um aumento na resistência vascular periférica, apresentando altera-ções na pressão e débito cardíaco, dependendo do tama-nho da massa muscular envolvida, respiração, e tipo de treinamento (ARAÚJO et al., 2014). A pressão rapidamen-te decai com o término do exercício, devido a uma menor demanda de oxigênio para os músculos e a reativação do nervo vago (VIANNA et al., 2014). Combinado com o exer-cício aeróbico é uma estratégia em programas de reabili-tação cardíaca, revertendo não somente as mudanças músculo esqueléticas atribuídas à inatividade física, bem como os processos inflamatórios de doenças do sistema cardiovascular, pela produção de agentes anti-inflamató-rios (ALVES et al., 2014).
Esse processo de proteção também é induzido pelo metabolismo celular redox, aumentando as defesas an-tioxidantes do coração e diminuindo os marcadores de estresse oxidativo (CHAVES et al., 2013). Por outro lado, também pode ocasionar um significativo estresse meta-bólico (VIANNA et al., 2014). Com o treinamento, o cora-ção irá desenvolver adaptações do miocárdio, causando um estado fisiológico de remodelamento cardíaco (AL-VES et al., 2014), envolvendo bradicardia relativa de re-
pouso e hipertrofia fisiológica do ventrículo esquerdo (OLIVEIRA et al., 2014). O TR prescrito em intensidade apropriada é associado com menor hemodinâmica do que a maioria das prescrições de treinamento aeróbico, ainda com um benefício adicional por reduzir as limitações pe-riféricas (ALVES et al., 2014).
O uso abusivo de EAA transforma a hipertrofia cardí-aca, originada do exercício, em patológica (CARMO; FER-NANDES; OLIVEIRA, 2012), aumentando os níveis de ci-tocinas inflamatórias e estimulando significativamente o sistema nervoso simpático. A combinação destes fatores predispõe a injúria do miocárdio (BOCALINI et al., 2012).
Apesar do impacto positivo originado com o treina-mento físico no sistema cardiovascular, quando em asso-ciação com EAA ocorrem algumas alterações patológicas (CHAVES et al., 2003; PINHO et al., 2009; CHAVES et al., 2013; DOS SANTOS et al., 2013), envolvendo, portanto, grandes controvérsias com relação a sua utilização (SOA-RES et al., 2011). O uso de doses supra fisiológicas de EAA levam a uma série de efeitos colaterais, sendo o sistema cardiovascular um dos sistemas mais afetados (CAMINHA et al., 2013). As patologias normalmente envolvidas neste processo são: arritmia, elevação da pressão arterial, alte-rações nas concentrações de lipídeos plasmáticos redu-ção do tempo da coagulação sanguínea, policetemia, is-quemia cardíaca, trombose, infarto do miocárdio, aumen-to do colágeno tecidual cardíaco, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca distúrbios na condução de impulsos elétricos cardíacos, apoptose miocárdica, ocorrência de morte súbita, desequilíbrio do tônus vaso-motor, redução dos números de capilares nos músculos cardíacos e esqueléticos; (CARMO; FERNANDES; OLIVEI-RA, 2012; DOS SANTOS et al., 2013; CHAVES et al., 2013; FRANKENFELD et al., 2014).
Após uma injúria inicial no miocárdio, ocorre uma re-dução em sua capacidade funcional, possibilitando o de-senvolvimento de uma cardiopatia. Para manter essa ca-pacidade e a perfusão sistêmica, diversos sistemas com-pensatórios são ativados: sistema renina-angiotensina - aldosterona, adrenérgico nervoso, arginina vasopressina, endotelina, citocinas inflamatórias e fatores do cresci-mento. Estes componentes provocam mudanças na ex-pressão gênica do miocárdio, levando a alterações funcio-nais e estruturais, um processo conhecido como remode-lamento do ventrículo esquerdo (JORTANI; PRABHU; VALDES JR., 2004). O remodelamento cardíaco é um dos principais elementos envolvidos na patogênese de doen-ças do sistema cardiovascular, ocorrendo devido a lesões ou sobrecargas, ocasionando aumento dos cardiomióci-tos (SWYNGHEDAUW, 1999). Esta resposta hipertrófica advém da necessidade de normalizar o estresse da parede cardíaca e manter sua função ventricular, podendo oca-sionar diversas patologias (BING et al., 2002).
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
144
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
esterOides anaBólicOs andrOgênicOs e hipertrOfia
No homem adulto normal, a concentração de testos-terona varia de 300 a 1000 ng/dl, e a taxa de produção diária entre 2,5 e 11mg. A maior parte da produção tem origem gonodal, produzida pelas células de Leydig nos testículos, e a menor parte (5%) pelas supra-renais. Nas mulheres, a produção ocorre nos ovários e adrenais, além da conversão de androstenediona em testosterona pelo fígado, rim, cérebro e tecido adiposo (FERNANDES; OLI-VEIRA, 2012). Os EAA são compostos sintéticos, deriva-dos do hormônio testosterona, com finalidades no meio desportivo, medicinal e estética (LUNDHOLM et al., 2010; CARMO; FERNANDES; OLIVEIRA, 2012; KANAYAMA et al., 2013). Sua utilização durante o treinamento físico au-menta tanto a massa como a força muscular, além de re-duzir o tempo de recuperação após o treino, característi-cas desejáveis do alto desempenho no esporte (LUN-DHOLM et al., 2010; CARMO; FERNANDES; OLIVEIRA, 2012; DOS SANTOS et al., 2013; KANAYAMA et al., 2013).
Os EAA sintéticos se ligam aos mesmos receptores que a testosterona, apresentando tanto efeitos anabóli-cos quanto androgênicos. Algumas ações são mediadas por enzimas locais, como a 5-α-redutase e aromatase (SHAHIDI et al., 2001). Seus efeitos dependem do tipo de músculo e número de receptores androgênicos presentes. As fibras musculares duplicam após atividade estressan-te, o que proporciona aumento do número total de recep-tores androgênicos no tecido. É também imprescindível o treinamento, ou seja, utilização isolada de EAA não oca-siona hipertrofia muscular (KUTSCHER; LUND; PERRY, 2002). O efeito anabólico resulta da propriedade da tes-tosterona em promover a hipertrofia das fibras muscula-res, aumento da síntese proteica intracelular, de proteína no músculo esquelético, decréscimo na quebra de proteí-nas (KUTSCHER; LUND; PERRY, 2002; ARALDI et al., 2013) aumento no número de mioblastos maduros e de receptores que eles se localizam, além da ativação das cé-lulas satélites (KUTSCHER; LUND; PERRY, 2002). O músculo esquelético amplia a tensão máxima mediante hipertrofia, através do aumento na área seccional de fi-bras musculares individuais, caracterizando um aumento no peso total do músculo treinado (OLIVEIRA et al., 2014).
Os EAA promovem o aumento da contratilidade mus-cular e do volume celular dos miócitos através dos seguin-tes mecanismos: promoção da estocagem de fósforo-cre-atina, acúmulo de glicogênio, favorecimento da recapta-ção de aminoácidos e bloqueio do cortisol (ARALDI et al., 2013). Além do mais, são extremamente anticatabólicos e convertem o balanço negativo do nitrogênio em positivo, pela elevação da síntese de proteínas. Também aumen-tam a síntese de eritropoitina, hematócrito e a capacidade do sangue de carrear oxigênio, sendo este efeito especial-
mente importante no desempenho de atletas praticantes de atividades aeróbias, como corredores e nadadores (KUTSCHER; LUND; PERRY, 2002).
estresse OxidativO e dOenças cardiOvas-culares
Os danos oxidativos causados pelos altos níveis de ra-dicais livres causam modificações importantes a biomolé-culas (FERNANDES, 2012). Existem vários tipos de radi-cais livres: superóxidos, hidróxidos e peróxidos. As espé-cies reativas de oxigênio (OR) podem ser definidas como bioprodutos do metabolismo aeróbio celular e enzimas antioxidantes, tendo papel crucial no desenvolvimento de efeitos deletérios no organismo (DOS SANTOS et al., 2013), conduzindo a danos celulares nas membranas lipí-dicas, nas proteínas citosólicas e de membrana e também nas bases nitrogenadas do ácido desoxirribonucleico (DNA) (FERNANDES, 2012). Ocorrendo em grande exten-são, pode causar a morte celular (PINHO et al., 2010). O fornecimento de energia no organismo é normalmente acompanhado por reações de oxidoredução para a manu-tenção da integridade e função das células. Grande parte do oxigênio consumido é transformado em dióxido de car-bono e água. Contudo, 1 a 5% são reduzidos a OR (YONE-ZAWA et al., 2015). Existe produção de OR pelo corpo hu-mano naturalmente, através do sistema respiratório, rea-ções do metabolismo de prostanóides, autooxidação das catecolaminas, atividade da xantina oxidase, citocromo P450, ativação de fagócitos e aumento da atividade de leucócitos na inflamação, células endoteliais, metabolis-mo dos ácidos graxos (CHAVES et al., 2013; FRANKEN-FELD et al.; 2014), fenômeno da isquemia-reperfusão e oxidação do ácido lático (YONEZAWA et al., 2015). O or-ganismo é capaz de atuar em mecanismos regulatórios redox dependentes em diferentes funções celulares, in-cluindo resposta a agentes estressantes, angiogênese, proliferações celulares (FRANKENFELD et al.; 2014) e contração muscular (PINHO et al., 2010).
Para a manutenção da homeostase do organismo, é necessária a constante regeneração da capacidade antio-xidante. Assim, o balanço entre agentes pró-oxidantes e antioxidantes mantém o equilíbrio em condições fisioló-gicas. Quando este balanço é rompido, a célula entra em estresse oxidativo (EO), ou por ter maior aumento de ra-dicais livres ocasionando dano macromolecular, ou por ter redução na sua capacidade antioxidante, lisando o circui-to redox (JONES, 2008; YONEZAWA et al., 2015).
O EO é um indutor em potencial de disfunção endo-telial e doenças cardiovasculares (CHAVES et al., 2006; PINHO et al., 2009; DOS SANTOS et al., 2013; FRANKEN-FELD et al., 2014). O coração é um dos maiores consumi-dores de oxigênio do organismo humano, e estes níveis se elevam na presença de exercício físico (SADOWSKA
145
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
-KREPA et al., 2011). Nos cardiomiócitos, o moderado aumento das espécies de OR induz hipertrofia e apopto-se (BERTAGNOLLI, 2008). Quando o músculo esqueléti-co se contrai, assim como o músculo do coração, eleva-das concentrações de OR e espécies nitrogenadas são geradas. No exercício, há elevação da demanda de oxi-gênio em relação ao estado de repouso e, com aumento do consumo de oxigênio pela mitocôndria e do fluxo de elétrons através da cadeia respiratória, ocorre maior produção de OR. (YONEZAWA et al., 2015).
Diferentes agentes oxidantes podem ser originados de fontes celulares e extra-celulares, por meios enzimáti-cos ou não (PINHO et al., 2010), podendo-se dizer que o coração apresenta uma quantidade moderada de enzi-mas antioxidantes, e habilidade limitada para remover OR (SADOWSKA-KREPA et al., 2013). As enzimas antioxidan-tes como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa (GSH), glutationa peroxidase (GPx) e a tireore-doxina (TRX) (MONTERA, 2007; CHAVES et al., 2013), par-ticipam driblando estes efeitos deletérios. As substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) estão natural-mente presente em espécimes biológicas, incluindo hipe-róxidos lipídeos e aldeídos, com aumento na sua concen-tração como resposta do EO (CHAVES et al., 2006).
A proteção do coração contra o desequilíbrio redox inclui antioxidantes não enzimáticos, como a GSH, tiore-doxina e ɑ-tocoferol, que diretamente se ligam a elétrons de radicais livres evitando a propagação do dano, assim como as enzimas antioxidantes anteriormente comenta-das. Cada um destes mecanismos fornece diferentes ní-veis de proteção deste órgão contra injúrias (SADO-WSKA-KREPA et al., 2011; CHAVES et al., 2013).
Apesar do treinamento físico diminuir o EO no mio-cárdio, e aumentar a produção de enzimas antioxidantes, combatendo e prevenindo as doenças cardiovasculares (BERTAGNOLLI, 2008), de qualquer natureza, também é responsável por retirar o organismo de sua homeostase. Isto implica no aumento instantâneo da demanda energé-tica da musculatura exercitada, conduzindo a alterações estruturais e bioquímicas (BRUM et al., 2004; MACHADO et al., 2010). Estas alterações são responsáveis pela ocor-rência de dores e disfunções musculoesqueléticas preju-diciais à saúde do praticante (MACHADO et al., 2010). A contração muscular e do músculo cardíaco geram grande quantidade de OR e espécimes de nitrogênio reativo (PI-NHO et al., 2010; SADOWSKA-KREPA et al., 2011; DOS SANTOS et al.,2013). Embora as defesas antioxidantes endógenas sejam efetivas, os componentes celulares não estão totalmente protegidos, sendo indispensável a ob-tenção de antioxidantes na dieta para uma defesa apro-priada contra estes processos oxidativos e manutenção da saúde (YONEZAWA et al., 2015).
A administração prolongada de EAA provoca disfun-ção da cadeia respiratória mitocondrial e dos sistemas mono-oxigenase, sendo possível que estas alterações se-
jam acompanhadas de aumento da geração de OR (DOS SANTOS et al., 2013). Mesmo que estes mecanismos ain-da não estejam bem elucidados (SADOWSKA-KREPA et al., 2013), é sabido que altas doses de EAA, debilitam os efeitos cardioprotetores que o treinamento físico propor-ciona, e também reduzem a atividade de SOD, GPx, GR e CAT (SADOWSKA-KREPA et al., 2013; CHAVES et al., 2013), pois o miocárdio é extremamente sensível a hormô-nios sexuais, com receptores andrógenos e estrógenos (SADOWSKA-KREPA et al., 2011). Portanto, o tratamento com EAA e seus efeitos deletérios ao sistema cardiovas-cular são associados com redução da capacidade a n t i o x i d a n t e d o c o r a ç ã o , p r o p i c i o n a n d o o desenvolvimento de patologias e diminuição da capacida-de física, ocorrência de fadiga e dano muscular (PINHO et al., 2010; CHAVES et al., 2013).
antiOxidantes exógenOs A suplementação de antioxidantes visa prevenir os
danos oxidativos induzidos pelo exercício físico em diver-sos tecidos (YONEZAWA et al., 2015). Os nutrientes antio-xidantes adquiridos pela dieta ou pela suplementação po-dem ser úteis para cooperar com os efeitos adversos cau-sados pela performance esportiva. (VASSALE et al., 2015). Eles podem neutralizar as OR e as espécies reativas de nitrogênio aceitando ou doando elétrons, e como conse-quência, são convertidos a uma forma de radical contendo elétrons não emparelhados que são menos reativos que as espécies reativas neutralizadas. A partir daí outra mo-lécula antioxidante pode regenerar a forma emparelhada do radical antioxidante. Com a perda do hidrogênio, es-truturas aromáticas e ligações não saturadas são poten-ciais sítios de recepção de elétrons, podendo neutralizar radicais livres presentes em moléculas antioxidantes (GIORGIO, 2015).
Diversos metabólitos de plantas contêm estas pro-priedades, como compostos polifenóis, incluindo querce-tina, mircetina, catequinas e antocianinas. Juntamente com estas plantas, há uma ampla utilização de outros an-tioxidantes, como o ácido ascórbico (vitamina C), tocofe-rol (vitamina E) e carotenóides (GAMMONI, RICCIONI, D’ORAZIO, 2015), glutationa, ácido lipóico, coenzima Q, lactoferrina. Há também os antioxidantes sintéticos, co-mo os tiols, ebselen (selenium-based peroxide scavenger) e idebenona (análago da coenzima Q). Mais recentemen-te foram desenvolvidos o mitoQ (ubiquinona mitocondria sinalizada) e as nanopartículas de alfa-tocoferol succinato (GIORGIO, 2015).
Já está bem definido na literatura que a dieta rica em flavonóides protege contra doenças cardiovasculares, hi-perlipidemia e reduz o risco de infarto do miocárdio (AWAD et al., 2012). Diversas drogas cardioprotetivas, co-mo probucol e carvediol são potentes e efetivos antioxi-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
146
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
dantes contra a produção excessiva de OR. Já a n-acetil cisteína (NAC) é um percursor do antioxidante endógeno glutationa, e o alopurinol inibe a produção de OR (GIOR-GIO, 2015).
Tendo em vista a magnitude do papel do EO nas pa-tologias do sistema cardiovascular estimuladas pela uti-lização de EAA (CHAVES et al., 2013), como a fibrose, a proliferação celular e tumorogênese, entre outras (FRANKENFELD et al., 2014), torna-se de suma impor-tância a utilização de um agente antioxidante na preven-ção destes efeitos adversos. Este tipo de tratamento já foi aplicado em alguns estudos, como o conduzido por Dos Santos e colaboradores (2013), onde foi demonstra-do que o exercício combinado com a utilização de um EAA traz efeitos deletérios ao tecido cardíaco em ratos, porém, quando associado com um agente antioxidante, neste caso a melatonina, estes efeitos colaterais são mo-dulados e minimizados.
cOnsiderações finaisNa tentativa de prevenir e amenizar o estresse oxida-
tivo gerado pela utilização de EAA associado ao treina-mento resistido, potencial causador cardiopatologias, sugere-se a administração de antioxidantes na forma de suplementação ou alimentos, diariamente, e também após o exercício, como maneira preventiva na modulação do estresse oxidativo. Existem ainda poucos estudos cor-relacionando estes fatores, que se tornam imprescindí-veis para a medicina clínica preventiva e saúde pública. É necessário a realização de estudos neste âmbito, com um olhar não somente sobre o sistema cardiovascular, mas também nos outros sistemas afetados por estas substâncias, como o sistema nervoso, hepático, reprodutor, endócrino e renal.
referências
ALVES, J.P. et al. Resistence training improves hemody-namic function, collagen deposition and inflammatory profiles: Experimental model of heart failure plos One, v.9, n.10, e110317, 2014.
ARALDI, R.P. et al. Análise do potencial mutagênico dos esteroides anabólicos androgênicos (EAA) e da l-carnitina mediante o teste do micronúcleo em eritrócitos policro-máticos rev. Bras. med. esporte, São Paulo, v. 19, n. 6, p. 448-451, 2013.
ARAÚJO, J.P. et al. The acute effect of resistance exercice with blood flow restrition with hemodynamic variables on hypertensive subjects Journal of human Kinetics, v.43, p.79-85, 2014.
AWAD, E.S.T. et al. Modulatory Effects of Artichock Leave Extract on Nandrolone Decanoate-Induced Biochemical Alterations in Rats global Journal of Biotechnology and Biochemistry, Cairo, v. 7, n. 2, p. 68-78, 2012.
BARBOSA, A.R., SANTARÉM, J.M., MARUCCI, M.F. Efei-tos de um programa de treinamento contra resistência sobre a força muscular de mulheres idosas revista Brasi-leira atividade fisica e saúde, São Paulo, v. 5 n. 3, p.12-20, 2000.
BERTAGNOLLI, M. associação do estresse oxidativo cardíaco com vias de sinalização intracelulares relacio-nadas com a hipertrofia cardíaca fisiológica e patológi-ca. 2008. 89f. Tese (Doutourado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
BING, O. et al. Studies of prevention, treatment and mechanisms of heart failure in the aging spontaneously hypertensive rat heart fail. rev., Boston, v. 7, n. 1, p. 71-88, 2002.
BOCALINI, D.S. et al. Treadmill Exercise Training Prevents Myocardial Mechanical Dysfunction Induced by Andro-genic- Anabolic Steroid Treatment in Rats plos One v. 9, n. 2,e87106, 2014.
BRUM, P.C. Adaptações agudas e crônicas do exercício fí-sico no sistema cardiovascular revista paulista de edu-cação física, São Paulo, v. 18, p. 21-31, 2004.
CAMINHA, L.;RODRIGUES, R.; RAMOS, A.; PADILHA, M.; MASCARENHAS, M. El uso indiscriminado de esteroides anabólicos androgénicos y sus efectos adversos: una bre-ve revisión. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Ai-res, ano 18, n. 185, Octub., 2013.
CARMO, E.C.; FERNANDES, T.; OLIVEIRA, E.M. Esteroi-des anabolizantes: do atleta ao cardiopata. rev. educ. fis./ uem, Maringá, v. 23, n. 2, p. 307-318, 2012.
CARNEIRO, N.H. Effects of different resistance training frequencies on flexibility in older women clin interv aging v.10, p.531–538, 2015.
CHAVES, E. A. et al. Nandrolone decanoate impairs exer-cise-induced cardioprotection: role of antioxidant en-zymes Journal of steroid Biochemistry & molecular Bi-ology, Rio de Janeiro, v. 99, p. 223-30, 2006.
CHAVES, E. A et al. Exercise-induced cardioprotection is impaired by anabolic steroid treatment through a redox-dependent mechanism Journal of steroid Biochemistry
147
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
& molecular Biology, Rio de Janeiro, v. 138, p. 267–272, 2013.
CUNHA, N. S. et al. Esteroides anabólicos e a prática des-portiva Braz. J. pharmac. sci., Piracicaba, v. 40, n. 1, p.165-9, 2004.
DOS SANTOS, G. B. et al. Melatonin Reduces Oxidative Stress and Cardiovascular Changes induced by stanozolol in rats exposed to swimming exercise. eurasian J. med., Campinas, v. 45, p.155-62, 2013.
FALANGA, V. et al. Stimulation of collagen synthesis by the anabolic steroid stanozolol J. invest. dermatol., Bos-ton, v. 111, p. 1193-7, 1998.
FERNANDES, M. S. Oxidative and Biochemistry param-eters determination in multitransfused subjects. 2012. 98f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal dos Pampas, Uruguaiana, 2012.
FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J.; MADURO, C. R. funda-mentos do treinamento de força muscular 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 1999.
FONTES-CARVALHO, R. The role of a structured exercise training program on cardiac structure and function after acute myocardial infarction: study protocol for a random-ized controlled trial trials v. 2015, p.16-90, 2015.
GIORGIO, M. Oxidative Stress and the unfulfilled prom-isses of antioxidant agents ecancermedicalscience, v.9, n.556, 2015.
HARRIES, S.K.; LUBANS, D.R.; CALLISTER, R. Resistance training to improve power and sports performance in ado-lescent athletes: A systematic review and meta-analysis Journal of science and medicine in sport, Newcastle, v. 15, p. 532–540, 2012.
JONES, D. P. Radical-free biology of oxidative stress am J physiol cell physiol v.295, n.4, p. C849-C868, 2008.
JORTANI, S.; PRABHU, S.; VALDES JR., R. Strategies for developing biomarkers of heart failure clin. chem., Wash-ington, v. 50, n. 2, p. 265-278, 2004.
KANAYAMA, G. et al Cognitive deficits in long-term ana-bolic-androgenic steroid users drug and alcohol depen-dence v.130, p. 208–214, 2013.
MACHADO, C. N. et al. Efeito do exercício nas concentra-ções séricas de creatina quinase em triatletas de ultradis-tância rev. Bras. med. esporte, São Paulo, v. 16, n. 5, p. 378-381, 2010.
MONTERA, V.S.P. Benefícios dos Nutrientes Antioxidan-tes e seus Cofatores no Controle do Estresse Oxidativo e Inflamação na Insuficiência Cardíaca revista da sOcerJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 20-27, 2007.
OLIVEIRA, D. R. et al. Efeito da natação associada a dife-rentes tratamentos sobre o músculo sóleo de ratos: estu-do histológico e morfométrico. rev. Bras. med. esporte, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 74-77, 2014.
PINHO, R.A. et al. Coronary Heart Disease, Physical Exer-cise and Oxidative Stress arq. Bras. cardiol., São Paulo, v. 94, n. 4, p. 515-521, 2010.
SHAHIDI, N. T. A review of the chemistry, biological ac-tion, and clinical applications of anabolic-androgenic ste-roids clin ther, Wisconsin, v.23, n.9, p. 1355-90, 2001.SOARES, M. Decanoato de nandrolona aumenta a parede ventricular esquerda, mas atenua o aumento da cavidade provocado pelo treinamento de natação em ratos rev. Bras. med. esporte, São Paulo, v. 17, n. 6 p. 420 -424, 2011.
SWYNGHEDAUW, B. Molecular mechanisms of myocar-dial remodeling. physiol. rev. v. 79, n. 1, p. 215-262, jan, 1999.
VIANNA, J.M. et al. Oxygen uptake and heart rate kinetics after different types of resistence exercise Journal of hu-man Kinetics [S.l] v. 42, p. 235-244, 2014.
YONEZAWA, L. A et al. Efeito da suplementação com vi-tamina E sobre os metabolismos oxidativo e cardíaco em equinos submetidos a exercicio de alta intensidade arq. Bras. med. vet. Zootec. São Paulo, v. 67, n. 1, p. 71-79, 2015.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
148
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
ciências BiOlógicas: cOnsiderações sOBre a OrganiZaçãO curricular e avaliaçãO nO ensinO médiO
luciane Becker nicola1
José clovis de azevedo2
valesca veiga cardoso3
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Bio-ciências e Reabilitação – Centro Universitário Metodista - IPA. E-mail: [email protected]
2Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Inclusão – Centro Universitário Metodista, do IPA, Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado 80, CEP 90420-060, Bairro Rio Branco, Porto Alegre, RS
3Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabilitação – Centro Universitário Metodista, do IPA, Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado 80, CEP 90420-060, Bairro Rio Branco, Porto Alegre, RS
resumOEste trabalho tem como objetivo contextualizar a tra-
jetória da disciplina Biologia no meio escolar e como atu-almente se organiza seus temas estruturantes e as princi-pais recomendações para a prática da avaliação, segundo os Parâmetros Curriculares elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura. A natureza desta pesquisa é qualita-tiva exploratória, onde se usou a revisão bibliográfica para se aprofundar os conhecimentos sobre o tema estudado. Os dados obtidos pela pesquisa foram analisados por meio da “Análise de Conteúdo”, que ajudou a reinterpre-tar as informações e obter uma compreensão dos signifi-cados em um nível mais profundo. Espera-se que esta pesquisa contribua para o entendimento da estruturação da disciplina de Biologia, assim como para a organização da avaliação, qualificando significativamente a prática do-cente do professor de Ensino Médio e a aprendizagem dos alunos, garantindo assim o sentido sócio-humanitário pertinente deste trabalho.
descritores: Prática docente – Biologia – Ensino Mé-dio – Avaliação.
intrOduçãO A disciplina Biologia ultrapassou os muros dos labora-
tórios dos cientistas e se organizou como uma disciplina re-gular do Ensino Médio no início do século XX, consolidando--se atualmente como uma importante ciência, que pertence à área da Natureza do currículo vigente do Ensino Médio.
A trajetória da consolidação da disciplina se mescla com o estabelecimento da prática docente. Onde está úl-tima se estabeleceu pelo desenvolvimento de ações como o planejamento e a avaliação, que deveriam ser percebi-
das como complemento uma da outra e não como mo-mentos distintos; sendo a avaliação uma “tomada de de-cisão” perante o desenvolvimento do ensino-aprendiza-gem, no qual o professor repensaria estratégias para qua-lificar o processo (LUCKESI, 2011).
O presente tem como objetivo contextualizar a traje-tória da disciplina Biologia no meio escolar e como atual-mente se organiza seus temas estruturantes e as princi-pais recomendações para a prática da avaliação, segundo os Parâmetros Curriculares elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
metOdOlOgia O estudo foi desenvolvido seguindo os preceitos de
um estudo exploratório, o qual tem como objetivo propor-cionar maiores informações sobre um assunto que se vai investigar (ANDRADE, 2001).
Como procedimento metodológico a ser utilizado optou-se pela revisão bibliográfica principalmente em textos dos seguintes autores: Hoffmann (2006) (2014), Haydt (2008), Luckesi (2011), Vasconcellos (1994) e em documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio.
A Análise de Conteúdo se dará em dois níveis de inter-pretação (MINAYO, 2004). O primeiro nível dará conta das determinações fundamentais, que diz respeito ao contex-to histórico e político do qual se desenvolveu a disciplina no meio escolar, além das concepções da prática docentes por meio de autores reconhecidos. Já o segundo nível de interpretação abarcará os dados encontrados nos docu-mentos produzidos pelo MEC e suas principais orienta-ções para está prática no Ensino Médio. Dessa forma, pretende-se que a Análise de Conteúdo se dê por meio de uma proposta dialética com níveis de interpretação distin-tos, mas relacionados entre si.
resultadOsPara entendermos a disciplina e suas finalidades faz-se
necessário a contextualização dos saberes no início do sécu-lo XX. Nesse período os conhecimentos das Ciências Bioló-gicas organizavam-se em diferentes ramos, onde a base comum era formas de vida ou processos vitais. Marandino, Selles e Ferreira (2009) colocam que os conhecimentos bio-lógicos eram organizados de duas maneiras: ramos mais descritivos (Zoologia ou Botânica) e ramos com forte tradi-ção experimental (citologia, embriologia e fisiologia huma-na), esse contexto fragmentado, deixou o conhecimento biológico enfraquecido, perante as ciências com teorias mais consolidadas, como por exemplo, a Física.
A ideia de unificar os conhecimentos, só tomou força nas primeiras décadas do século XX, a partir dos movimen-tos sociais, filosóficos e políticos, que sustentavam que o
149
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
conhecimento deveria se apoiar em uma realidade empírica. Esse movimento propunha a unificação em torno de um mé-todo comum, que usasse procedimentos experimentais e matemáticos para garantir a objetividade e o caráter cientí-fico. Essas ideias levaram os cientistas a pensar o que pode-ria unir os diferentes ramos da Biologia. A resposta veio da teoria da evolução de Darwin e do desenvolvimento das ba-ses da genética, que no início do século passado ocorreu com rapidez. As pesquisas nessa área influenciaram outros ra-mos da Biologia, tais como a citologia, paleontologia e eco-logia, levando ao fortalecimento como um todo da Ciência Biológica (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).
No início do século XX, durante as primeiras tentativas de escolarização em massa, iniciou-se a organização dos conhecimentos que deveriam ser disponibilizados nas insti-tuições, na forma dos currículos escolares. A fragmentação do conhecimento em disciplinas se inicia, no sentido de con-trolar o espaço e o tempo dentro da escola. Segundo Maran-dino, Selles e Ferreira (2009) no Brasil, a disciplina percus-sora da Biologia foi a História Natural, oferecida na educa-ção secundária, nos primórdios da fundação do Imperial Collegio de Dom Pedro II, que abordava os conhecimentos de zoologia, botânica, geologia e mineralogia. Posterior-mente, foi substituída pela disciplina escolar Biologia, incor-porando os elementos que a modernizavam no início.
A importância da disciplina, no Ensino Médio, concen-tra-se em estabelecer objetivos que levem os alunos a se apropriem de conceitos fundamentais, desta ciência, com os quais possam compreender com autonomia e propriedade temas complexos e atuais, além de desenvolver e reforçar valores éticos, políticos e vitais como a solidariedade, ho-nestidade, verdade, justiça, igualdade, imparcialidade, cidadania e saúde, para que dessa forma participem nas decisões da sociedade, na condução de suas vidas, saben-do das implicações que cada ação pode gerar dentro do ambiente (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).
Atualmente, o currículo do Ensino Médio guia-se pe-los Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Mé-dio (PCNEM), o qual descreve que a importância do estu-do da biologia se dá pela possibilidade de permitir, aos jovens, a compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a ciência não tem res-postas definitivas para tudo, mas que existe a possibilida-de do questionamento e da transformação (BRASIL, 2000).
Dessa forma, o ensino da Biologia é essencial para o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às re-lações entre os seres humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o conhecimento, contribuindo significati-vamente para uma educação que formará indivíduos sen-síveis e solidários, cidadãos conscientes dos processos e regularidades de mundo e da vida, capazes assim de rea-
lizar ações e práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões (BRASIL, 2000, p, 20).
O texto do PCNEM ressalta que as competências da disciplina ampliam as possibilidades de entender melhor o mundo e de efetivamente participar na sociedade, des-tacando o saber científico advindo da Biologia como uma condição de cidadania, e não como privilégio de especia-listas, ou seja, é um direito do aluno conhecer esses sabe-res e dessa forma poder participar e se posicionar perante eles, quando estes afetam a sociedade como um todo (BRASIL, 2000).
Abaixo mostramos a organização dos temas estrutu-rantes e das competências indicadas pelos PCNEM:
Tabela 1 – Organização dos temas estruturantes e das competências para a Biologia
Temas estruturadores para o ensino da biologia
Competências a serem desenvolvidas
Interação entre os seres vivos;Qualidade de vida das populações humanas;Identidade dos seres vivos;Diversidade da vida;Transmissão da vida, ética e manipulação gênica;Origem e evolução da vida;Interação entre os seres vivos.
Representação e comunicação
Investigação e compreensão.
Contextualização sócio-cultural.
Adaptado dos PCNEM (BRASIL, 2000).
Em um ensino por meio de competências, a avaliação não deve se limitar ao uso de instrumentos com perguntas que exigem apenas operações cognitivas simples como a memorização. A formação de indivíduos treinados apenas para memorizar frases e responder a perguntas com res-postas determinadas é incompatível com o desenvolvi-mento de cidadãos socialmente inseridos e com espírito crítico aguçado esperado para atual sociedade (BRASIL, 2006).
Dessa forma, a avaliação não pode englobar apenas instrumentos que julguem operações cognitivas simples de memorização, mas sim múltiplos instrumentos que abarquem operações cognitivas distintas em diferentes momentos. Na atualidade não faz mais sentido pensar em treinar sujeitos para memorizar frases e responder a perguntas com respostas determinadas, isso é incompa-tível com um dos objetivos da educação, formação de ci-dadãos socialmente inseridos e com espírito crítico agu-çado (HOFFMANN, 2014).
Neste sentido, os Parâmetros para o Ensino Médio, de 2002, chamados de PCN+, recomendam que os professo-
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
150
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
res promovam atividades individuais e coletivas, que pos-sibilitem o desenvolvimento das preferências dos alunos e de seus interesses, despertando, dessa forma o desejo de aprender nos jovens. Estruturar a avaliação em um con-texto educacional, que além de considerar o desenvolvi-mento das competências, possibilite a significação dos conteúdos é uma tarefa complexa para o docente, pois exige uma intensa e permanente interação entre profes-sor e aluno, mas que alcançada configura um sentido for-mativo a avaliação (BRASIL, 2002).
Com essa concepção toda atividade produzida serve para acompanhar o processo e o progresso de aprendiza-gem dos alunos, pois é dessa forma que se perceberão as dificuldades de cada um.
Algumas características importantes, que devemos considerar quanto à avaliação segundo os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 137):
Toda avaliação deve retratar o trabalho desenvolvido;Os enunciados e os problemas devem incluir a capaci-
dade de observar e interpretar situações dadas, de realizar comparações, de estabelecer relações, de proceder regis-tros ou de criar novas soluções com a utilização das mais diversas linguagens;
Uma prova pode ser também um momento de apren-dizagem, especialmente em relação ao desenvolvimento das competências de leitura e interpretação de textos e enfrentamento de situações-problema;
Devem ser privilegiadas questões que exigem refle-xão, análise ou solução de um problema, ou a aplicação de um conceito aprendido em uma nova situação;
Tanto os instrumentos de avaliação quanto os crité-rios que serão utilizados na correção devem ser conheci-dos pelos alunos;
Deve ser considerada a oportunidade de os alunos to-marem parte, de diferentes maneiras, em sua própria ava-liação e na de seus colegas;
Trabalhos coletivos são especialmente apropriados para a participação do aluno na avaliação, desenvolvendo uma competência essencial à vida que é a capacidade de avaliar e julgar.
Hoffmann (2006) propõe o uso de registros pelo pro-fessor, para acompanhar a avaliação, a autora coloca que esses apontamentos auxiliam na compreensão do desen-volvimento dos alunos, de maneira ampla e também na dimensão cognitiva. Alguns exemplos de questionamen-tos que deveriam estar presentes nos relatórios dos pro-fessores, segundo a autora:
O aluno aprendeu? Ainda não aprendeu? Por que não aprendeu? Que encaminhamentos devem ser feitos? Que áreas de conhecimentos foram trabalhadas pelo aluno? Quais avanços que vem demonstrando nessas áreas? Apresenta alguma área a ser melhor desenvolvida? Que sugestões o professor oferece nesse sentido? Tarefas, jo-gos, leituras, outros? Qual trabalho que vem realizando junto ao aluno? Como o aluno se refere ao seu desenvol-vimento nesse período? Como os pais referem ao seu de-senvolvimento? (HOFFMANN, 2006).
As anotações dos professores não podem se limitar a registros apenas da conduta e de comportamento dos in-divíduos, privilegiando os aspectos atitudinais como a re-ação com os colegas, atitudes diante das tarefas, compro-metimento, atenção e etc. em detrimento as questões cognitivas. Por muitas vezes o professor confunde ques-tões atitudinais (prestar mais atenção, comportar-se, ficar quieto) com o processo de aprendizagem. Em uma visão construtivista, o interesse do aluno está ligado às ques-tões cognitivas, pois a curiosidade desperta o interesse. A criança é curiosa quando enfrenta desafios possíveis de serem enfrentados e adequados ao seu desenvolvimento, por outro lado a agitação, distração e brigas representam a normalidade de uma sala de aula. Trabalhar com essa diversidade é uma das finalidades da escola e um desafio da prática docente, perigoso é pensar que somente exi-gindo atenção e disciplina o processo de aprendizagem se dará naturalmente (HOFFMANN, 2006).
Baseado nas ideias dos autores Haydt (2008), Hoff-mann (2006), Vasconcellos (1994) e do proposto nas Dire-trizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRA-SIL, 2013) montamos um esquema com uma proposta organizacional para a avaliação da disciplina de Biologia do Ensino Médio:
151
Ciência em Movimento | - Edição Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação, vol. 17, de 2015/2
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
cOncepçãO descriçãO cOmO faZer? parâmetrOs
Avaliação como processo
Avaliação contínua para que possa cumprir sua função de auxílio ao processo de ensino-aprendizagempor meio de: Experimentação ; Estudos do meio; Projetos; Jogos; Seminários; Debates; Simulações; Atividades; Trabalhos; Pesquisa; Provas dissertativas e Provas objetivas
Observações AnedotárioRegistrosFicha cumulativaRoteiros de entrevistas
Apropriação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental;Relação entre teoria e prática;Preparação do aluno para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania;Formação ética e desenvolvimento de uma personalidade autônoma e crítica.
Avaliação com caráter educativo
Viabilizar condições ao estudante de analise do percurso;Possibilitar ao professor e à escola a identificação das dificuldades e potencialidades individuais e coletivas.por meio de:Do erro; Novas oportunidades e Autoavaliação
Individual ou em Grupo
Figura 1 – Proposta organizacional da avaliação para a Biologia no Ensino MédioAdaptado de BRASIL (2013), Haydt (2008), Hoffmann (2006) e Vasconcellos (1994).
cOnclusãOQuanto à avaliação no Ensino Médio, observa-se que
o corpo docente é muito mais inflexível a propostas de mudanças no que se refere à possibilidade de esta assumir um caráter diferente ao de avaliação classificatória. Esse é um problema sério, pois as influências sobre os alunos dessa etapa assumem uma característica reprodutiva, à medida que alguns desses alunos venham a se tornar fu-turamente professores, e passam a reproduzir o mesmo tipo de prática docente posteriormente, por outro lado, verifica-se que a aprendizagem não tem um ritmo homo-gêneo e linear de domínio de conhecimentos.
A avaliação deve se apoiar sobre uma concepção teó-rica de educação solida e por meio de diferentes instru-mentos, contemplando aspectos atitudinais e cognitivos, não deve ser considerada o fim de um processo, mas sim uma tomada de decisão, pela qual o professor verifica a apropriação de conhecimentos e toma uma decisão pe-rante estes resultados.
O fato é que devemos reconhecer as especificidades do processo de aprendizagem de cada aluno para dar me-lhor encaminhamento no sentido de orientá-lo na busca da autonomia e protagonismo dentro do processo ensino--aprendizagem (HOFFMANN, 2014).
referências:
ANDRADE, Maria M; Como prepara trabalhos para cursos de pós-graduação. São Paulo: Atlas, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Bra-sília: SEMTEC, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio: ci-ência da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasí-lia: DF, v.2, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf > : Acesso em: 10 de mar. 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-ção, Diversidade e Inclusão. Diretrizes Curriculares Nacio-nais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 562 p.
HAYDT, Regina Cazaux. avaliação do processo ensino-aprendizagem: as respostas das atividades encontram--se no final do livro. 6. ed. São Paulo: Ática, 2008. 159 p.
HOFFMANN, Jussara. avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 25.ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2006. 160 p.
HOFFMANN, Jussara. avaliar para promover: as setas do caminho. 15. ed. Porto Alegre: Editora Meditação, 2014. 160 p.
LUCKESI, Cipriano Carlos. avaliação da aprendizagem escolar: estudos e preposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 372 p.
Ciência em Movimento | - edição simpósio interdisciplinar em reabilitação, vol. 17, de 2015/2
152
Ciência em Movimento - Edição Especial - III Simpósio Interdisciplinar em Reabilitação - Resumos
MARANDINO, Martha; SELLES, Sandra Escovedo; FER-REIRA, Marcia Serra. ensino de Biologia: histórias e prá-ticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cor-tez, 2009. 215 p.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (ORG.). pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 80 p.
VASCONCELLOS, Celso dos S. avaliação: concepção dia-lética-libertadora do processo de avaliação escolar. 4. ed. São Paulo: Libertad, 1994. ZABALA, Antoni. a prática educativa: como ensinar. Trad. Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 224 p.
































































































































































![[Anais do 14º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente] Modelo ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ec12e5c567f54b404333f/anais-do-14o-simposio-brasileiro-de-automacao-inteligente-modelo-.jpg)