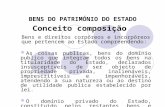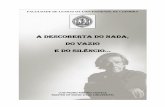Configurações e Dinâmicas do Território: O Caso em Torno do Cabeço do Vouga
Transcript of Configurações e Dinâmicas do Território: O Caso em Torno do Cabeço do Vouga
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
1
Configurações e Dinâmicas do Território: O
Caso em Torno do Cabeço do Vouga
Trabalho realizado por: Luís Fareleira
Ano Lectivo: 2012 - 2013
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
2
Índice Introdução ..................................................................................................................................... 3
Contextualização Geográfica ......................................................................................................... 4
Contextualização Arqueológica ..................................................................................................... 7
Configurações e Dinâmicas de Território: A Implantação Pré- Romana e Romana ...................... 9
Configurações e Dinâmicas de Território: A Implantação Medieval ........................................... 14
O Castelo do Marnel................................................................................................................ 17
O Mosteiro de Santa Maria de Lamas ..................................................................................... 19
As dinâmicas entre comunidades e os Rios ............................................................................ 21
Conclusão: ................................................................................................................................... 25
Bibliografia .................................................................................................................................. 27
Anexos ......................................................................................................................................... 29
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
3
Introduçã o
O presente estudo irá centrar-se nas Configurações e Dinâmicas de Territórios em torno
do Cabeço do Vouga. Este situa-se na Freguesia de Lamas do Vouga, no Concelho de
Águeda, Distrito de Aveiro.
Desde logo a escolha do tema prende-se com a sua área geográfica, uma vez que
somos naturais da Cidade de Aveiro. Apesar deste caso de estudo não se centrar
propriamente na nossa área de residência, temos todo o interesse e orgulho no
património da região. Contudo, parece haver uma enorme vontade de ignorar a cultura e
a arqueologia, já que, na verdade, este é o único caso onde se assiste a um estudo
arqueológico mais denso, que mesmo assim carece ainda de muito trabalho no que toca
ao estudo dos materiais provenientes das suas escavações.
Outro grande motivo, que serve igualmente de motivação, é o facto de não se
conhecer quase nada acerca das configurações e dinâmicas no espaço de estudo. Assim,
esta abordagem tem o carácter introdutório, onde o objectivo passará, principalmente,
por levantar questões, hipóteses e lançar propostas.
O Cabeço do Vouga (denominação geralmente atribuída para o espaço de
estudo) teve desde sempre uma história bastante conturbada. As primeiras abordagens
de carácter arqueológico começaram em 1941 com as intervenções de Rocha Madahil e
Sousa Baptista, ilustres pensadores Aveirenses. Contudo, só no final da década de
noventa é que Fernando Silva recomeça a estudar o Cabeço do Vouga de uma forma
verdadeiramente metódica, rigorosa e científica, apoiando-se em metodologias bem
aplicadas, bem como uma grande noção de Arqueologia. Infelizmente, faleceu sem
conseguir terminar o seu trabalho.
Assim, com toda estas informações e dados tentaremos revitalizar o interesse
pelo estudo desta região. Não só porque arqueologicamente é altamente interesse, como
pelo grande esforço que foi feito ao longo dos anos para que o projecto se mantenha
vivo.
Só entendendo o espaço é que poderemos entender as comunidades e as suas
dinâmicas, por isso este trabalho terá sempre esse carácter ligado com as transformações
do espaço, sejam elas de caracter natural ou antrópico, uma vez que o Homem e o
Espaço moldam-se, um ao outro.
Gostaríamos ainda de agradecer, principalmente, ao Dr. Carlos Dias, actual
arqueólogo responsável pelo projecto do Sítio da Mina, não só pela vontade e o trabalho
que tem feito pela arqueologia da região, mas também pela grande ajuda e paciência que
gentilmente, e de uma forma muito prestável nos concedeu.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
4
Contextuãlizãçã o Geogrã ficã
O Cabeço do Vouga é constituído por dois cabeços: O Cabeço da Mina e o Cabeço
Redondo, sendo que o primeiro se situa a uma cota de sessenta e nove metros, e o
segundo a oitenta e três metros acima do nível do mar. Entre estes dois espaços existe
um pequeno vale onde actualmente se instala a Capela do Espirito Santo (Carta Militar
186 1/25000). (Anexo 1)
É no Cabeço da Mina onde se instala o assentamento arqueológico melhor
conhecido da região, o Sítio da Mina – escavado desde 1941 por Rocha Madahil.
Apesar disso, há muito trabalho que está ainda por fazer, sendo que se conhece pouco
sobre as suas dinâmicas. Já o Cabeço Redondo, foi intervencionado no mesmo ano,
desta vez por Sousa Baptista, mas o seu estudo e publicações dão-nos, em boa verdade,
muito pouca informação sobre a sua realidade arqueológica. Todo este espaço está
densamente coberto por um grande eucaliptal, tornando-se extremamente difícil
perceber a dispersão (e existência) de algum tipo de registo arqueológico à superfície.
O Cabeço do Vouga encontra-se numa posição estratégica, uma vez que se encontra
numa zona de confluência entre dois Rios: O Vouga, a Norte e Oeste e o Marnel a Sul.
Desde logo percebe-se que esta região poderá ser altamente irrigada, e visto dada a
grande deposição de sedimentos, os terrenos de cultivo acabam por se tornar altamente
férteis.
O Vouga, sendo o Rio principal de toda esta malha fluvial, nasce na Serra da
Lapa e estende-se em cento e trinta e cinco quilómetros desde a sua nascente até à foz –
sendo esta em Aveiro. Desde a sua nascente, o Vouga caracteriza-se por um caudal
relativamente pequeno, uma vez que atravessa zonas montanhosas e graníticas. Os
últimos cinquenta quilómetros do seu curso, “o Vouga muda por completo: estende-se
por um mais vasto álveo, tornando-se navegável, e começa o seu trabalho de
sedimentação, deixando lateralmente línguas de areia e campos cultivados, por onde as
aguas se espraiam na época das cheias. (GIRÃO, 1922,p. 46).
Achamos que este último ponto poderá ser bastante pertinente para a nossa
abordagem. Segundo Amorim Girão, as cheias são fenómenos frequentes, embora de
pouca duração, chegando a alturas bastante consideráveis – tornando-se num “elemento
importante na fertilização do solo”. (GIRÃO,1922,p. 49). Por outro lado, durante a
estação seca o seu caudal pode mesmo ficar quase inexistente.
Para o Rio Marnel, a informação é altamente escassa. Apenas conseguimos
identificar o que será, possivelmente, a sua nascente, sendo na Frágua – que dista cerca
de onze quilómetros da região estudada.
A região do Cabeço do Vouga é composta por terrenos secundários, terciários e
quaternários – linha divisória que começa em Espinho e vai até Albergaria – a –Velha,
integrados na orla mesozóica portuguesa (pág. 1) Perto de Águeda podemos observar
também um importante desenvolvimento de arenitos triássicos, que podem apresentar a
cor vermelha ou cinzenta (GIRÃO, 1922,p. 11).
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
5
A zona do Castelo Marnel assenta principalmente em formações plistocénicas
(GIRÃO; 1922,p 13), o que de certa forma vem confirmar a grande evolução ou
alteração da morfologia e geologia da região – dado que é corroborado pela grande
presença de depósitos quaternários.
Em termos geográficos, podemos descrever a orla mesozóica e cenozóica como
sendo uma região com “um acentuado carácter de homogeneidade” (sendo caracterizado
por grandes planícies, em contraste com regiões mais a Norte e a Este, onde se
encontram formações importantes tal como a Serra da Freita ou o Caramulo). Assim, “a
variedade de elementos que constituem esses terrenos, em que o calcário e a argila
predominam, dá origem ao aparecimento de solos com múltiplas aptidões agrícolas”
(GIRÃO, 1922,p. 18).
Temos assim como que uma zona marcada por grandes planícies, marcada por
uma grande paisagem de aluvião, “irrigada” por canais e afluentes do Vouga, delimitada
por várias formações montanhosas a Norte o Maciço da Gralheira e a Serra de Côta; a
Este a Serra da Lapa e Caramulo, e a Sul a Serra de Buarcos (GIRÃO, 1922,p. 22).
Segundo o Amorim Girão, são os ditos arenitos vermelhos referidos anteriormente que
acabam por ser os mais utilizados, quase exclusivamente, para a construção na região.
De facto, para se fazer uma análise séria e concreta de toda esta região do Baixo
Vouga, onde se insere o Castelo Marnel, é necessário ter em conta a grande evolução da
costa marcada principalmente por uma forte transgressão marinha.
Segundo J. Alveirinho Dias1, há cerca de dezoito mil anos o encontrar-se-ia a
uma cota de cento e vinte metros abaixo do nível actual, o que representaria uma faixa
de costa mais extensa, “entre vinte e cinco e quarenta e cinco quilómetros para Oeste”
(DIAS,1987, p. 322). Desta forma existiria uma grande faixa de terra (hoje engolida
pelo mar), o que desde logo nos alerta para o facto da grande alteração geográfica que a
alteração dos seus níveis pode causar.
Segundo o mesmo autor, esta subida do nível do mar deve ter estabilizado entre
cinco mil, e dois mil e quinhentos anos atrás, criando condições para uma constituição
dos depósitos litorais (DIAS,1987, p. 333). No entanto, “indícios vários apontam para a
possibilidade do nível do mar ter estado ligeiramente abaixo do actual há cerca de dois
mil anos (Baixo nível Romano) ” (IDEM).
Neste âmbito, Conceição Freitas e Carlos Andrade lembram-nos de que é
possível observar as mudanças que se verificaram ao longo dos tempos. Por um lado, as
cotas, em período romano, estão a dois metros do actual. Isto significa que durante o
período em que estas cotas seriam inferiores, a morfologia dos terrenos poderiam ser
significativamente diferente. (ANDRADE, FREITAS, 1998)
Esta flutuação constante das águas do mar alerta-nos para estas pequenas
variações: é que apenas com estas pequenas alterações, a área de terra ocupada poderá
ser dramaticamente maior, bem como a profundidade de zonas de água, representando
1 Especialista relacionado com as áreas de Ciências Marinhas, Geologia Costeira, Dinâmicas
Sedimentares, Ordenamento da Costeiro e Impactes das Alterações Climáticas – Faculdade de Ciências
do Mar e do Ambiente, Universidade do Algarve
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
6
quase mar aberto, zonas que hoje correspondem a terra firme. Exemplo disso será a
armadilha de pesca encontrada na praia de Espinho.
A armadilha foi encontrada numa área de marés vivas a 2,5 metros de
profundidade, ficando a “descoberto da areia em resultado do acentuado recuo na linha
de costa nesta zona; recuo que cifrará em cerca de 500 metros no prazo de um século”
(ALVES, et al; 1988-1989, p. 187).
Todos estes dados levam-nos a questionar como seria então o estuário do Vouga
no passado – bem como a sua foz. Sabemos que em meados do Século XVI o cordão
litoral tornou-se de tal forma uma realidade, que o contacto entre o curso fluvial e o mar
acabou por ficar completamente obstruído – daí a construção da Barra de Aveiro.
A este respeito, ao consultar alguns trabalhos de geografia da região percebemos
que há propostas, mas não existe, ainda, consenso. Decidimos assim recorrer ao estudo
mais recente, onde foi registada a aplicação de novas metodologias com o auxílio de
novas tecnologias. Assim, em 1997, Francisco Teixeira2 diz-nos que “o espaço
actualmente ocupado pela Ria de Aveiro foi há muitos séculos atrás um pronunciado
golfo, onde desembocava, orientado a Noroeste, um vasto estuário comum aos Rios
Vouga, Águeda e Cértima. Este golfo formou-se já no plistocénico, após a modificação
do relevo dos rios que a regressão vilafranquina (1,5 M.a) proporcionou. A região foi
afectada por sucessivas regressões e transgressões que tiveram um enorme impacto na
foz do Rio Vouga, passando o seu curso a correr de Sudoeste para Noroeste.”
(TEIXEIRA; 1997, p 8).
Este enquadramento é absolutamente imperativo, uma vez que o processo de
assoreação é bastante veemente na região de estudo. Para perceber as dinâmicas do
povoamento há que entender (ou neste caso, ter consciência da sua existência) das
dinâmicas deste processo de deposições sedimentares, uma vez que acaba por criar
novos espaços, com condições de implementação diferentes, obrigando as comunidades
a se adaptarem às novas realidades.
2 Investigador do Pós – Doutoramento na Universidade de Aveiro
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
7
Contextuãlizãçã o Arqueolo gicã
Como foi referido, tanto o Cabeço da Mina como o Cabeço Redondo sofreram
intervenções arqueológicas, e será por isso necessário (e imperativo) dar a conhecer, de
uma forma muito geral, o que se sabe sobre as ocupações do passado.
O Cabeço da Mina foi escavado, pela primeira vez, em 1941 por Rocha Madahil.
Sabemos que durante os anos sessenta, o Doutor Mário de Castro Hipólito realizou uma
intervenção, mas que infelizmente, os registos dessa escavação acabaram por se perder.
No final da década de noventa até 2010, o Doutor Fernando Silva protagonizou o
período em que este sítio sofreu as maiores intervenções arqueológicas, com
metodologias bem aplicadas. Infelizmente, os relatórios nunca foram publicados, nem o
estudo dos materiais provenientes desses mesmos trabalhos. Assim, tudo o que sabemos
continua ainda a ser muito pouco, uma vez que o sítio não está totalmente escavado,
nem os seus materiais estão ainda estudados. (Anexo 2)
Em relação às questões arqueológicas do Cabeço da Mina podemos dizer, com
relativa certeza, que existe uma ocupação pré – romana e romana do espaço. Isto porque
foi possível escavar estruturas de planta circular, em que nalguns casos houve claros
acrescentos à estrutura inicial podendo-se registar três tipos de implantação, onde se
observam então muros onde o seu assentamento foi feito a partir da abertura de valas,
estruturas que foram edificadas directamente em cima do afloramento, e outras
edificações que foram construídas sob um enchimento de terras, revelando assim a
regularização prévia do terreno a construir. De facto, assiste-se a “grandes
sobreposições entre os vários tramos de muros detectados, os quais, na sua grande
maioria – dentro da área escavada – se interrompem abruptamente ou então, são
cortados transversalmente por outros, definindo, em alguns casos, espaços exíguos”
(SILVA; 1999, p. 40) (Anexo:3)
Em relação à ocupação romana talvez o que seja importante realçar a escavação
de quatro tanques de forma quadrangular, onde dentro destes se observou a presença de
Terra Sigillata (onde o Doutor Fernando Silva não avança com nenhuma cronologia),
bem como o revestimento de opus latercium num caso, e noutro a presença de opus
signinum. Contudo, o autor propõe que estes tanques possam confirmar a presença de
uma indústria ligada à produção do célebre Garum.
No entanto, o estudo encontra-se numa fase muito embrionária, uma vez que dos
quatro tanques um está bastante destruído e outro não foi ainda sujeito a um processo de
escavação completa, tendo sido apenas identificado. Contudo, no território português, as
produções deste tipo de preparados são feitas em tanques com muito maior dimensão.
Talvez, e aqui a interpretação é nossa, associado ao buraco de poste, estas perfurações
no subsolo estejam mais ligadas a um tipo de alicerce, visto que o opus signinum apesar
de ser uma argamassa extremamente impermeável, é também altamente resistente.
(Anexo 4)
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
8
Durante as escavações de Rocha Madahil foram identificadas e escavadas
muralhas deste assentamento, de onde se identificou “uma série de bastiões semi-
circulares” (MADAHIL; 1941, p. 356), que uma destas estruturas possuí 2,9 metros de
diâmetro, e 1,6 metros de profundidade, contando ainda com 0,5 metros de espessura.
Foram identificadas quatro estruturas, se bem que uma quinta estaria presente de uma
forma vestigial.
Contudo, nos trabalhos de Fernando Silva percebeu-se que os ditos “bastiões”
seriam afinal contrafortes da muralha romana, uma vez que esta estaria implementada
numa zona irregular, obrigando a construção destas estruturas de forma a consolidar a
sustentação da muralha.
Em relação a ocupações posteriores ao período romano, identificaram-se quatro
estruturas de planta sub-quandragular sendo constituídas “por elementos pétreos que
dispostos em cutelo, encostados uns aos outros e sem qualquer aglutinante” (SILVA,
2001, p. 13). Estavam assentes sobre um nível de pedra miúda, que por sua vez se
encontravam sobre uma argamassa de argila inserida numa vala no afloramento
rochoso.
Acto contínuo, estas deveriam suportar uma estrutura, que se desconhece a sua
tipologia, mas que o autor avança para a possibilidade de ser uma fachada porticada,
uma vez que estas são equidistantes (registando-se 2,5 metros entre cada uma). Tal
como a estratigrafia nos diz, estas construções devem ser posteriores à ocupação
romana. (Anexo 5).
Em relação ao Cabeço Redondo, apenas temos as informações das escavações
levadas a cabo por Sousa Baptista em 1941. Esta plataforma apresenta uma forma
elipsoidal irregular, tendo uma área de cerca de um hectare. Segundo o autor, observa-se
um talude de três a quatro metros de altura. Aqui a plataforma “alarga mais de trinta
metros” e surge “um novo talude para o Norte e Poente” (BAPTISTA, 1950. P. 82).
Refere ainda a existência de uma plataforma ainda mais alargada do que a descrita, onde
o talude ainda supera em altura o anterior.
Estando na presença de um cabeço com tal área, com a presença de três taludes
(identificados por Sousa Baptista), é possível estarmos na presença de um sítio com
características defensivas complexas, não só pela sua implementação, mas também pela
sua localização – e evidentemente pelas descrições dadas pelos autores.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
9
Configurãço es e Dinã micãs de Territo rio: A Implãntãçã o Pre -
Romãnã e Romãnã
O Cabeço da Mina assume-se, desde logo, como o arqueossítio mais importante do
Distrito de Aveiro, uma vez que é o único que sofreu uma intervenção arqueológica
mais extensa e profunda.
Desde logo percebemos que há uma continuidade de ocupação naquele sítio, o
que se traduz certamente numa grande dinâmica de ocupações. O Cabeço da Mina situa-
se no extremo Oeste do Cabeço do Vouga, onde a sua cota mais alta ronda os 69 metros
de altura.
Sobre a ocupação pré-romana temos, ainda, dados pouco claros. Sabemos da
existência de uma ocupação, dada a existência de estruturas circulares que,
estratigraficamente, são anteriores às estruturas romanas.
Através dos registos de Sousa Baptista, parece-nos plausível afirmar que no
Cabeço Redondo poderia existir uma estrutura defensiva, e quiçá monumental. Porém,
não há quaisquer dados que nos possam dar datações, ou cronologias para a sua
ocupação. Na nossa opinião, é perfeitamente possível que este tenha sido ocupado por
comunidades pré – romanas, pelo menos numa primeira fase. Isto porque o dito Cabeço
encontra-se a uma cota de 82 metros, o que permitiria uma grande visibilidade para todo
o território envolvente, bem como estaria defendido a Este e Norte pelo Rio Vouga.
Segundo Fernando Silva, toda esta área deveria ter uma ocupação desde o Paleolítico.
Há um outro dado que nos deixa bastante atento às dinâmicas destas comunidades: A
Capela do Espirito Santo. Aparentemente parece uma capela completamente
abandonada no Espaço, e no Tempo. Principalmente por se encontrar num espaço de
difícil acesso, numa depressão entre dois cabeços. Contudo, inúmeros exemplos
mostram-nos que este tipo de implementações ligadas ao mundo religioso têm uma
génese muitíssimo anterior, recuando exactamente a estas comunidades indígenas e pré-
romanas. Seria fantástico escavar toda aquela área, uma vez que nos poderia dar uma
ideia muito clara da funcionalidade daquele espaço. (Anexo 6)
Na publicação mais recente relativa ao sítio da Mina, são revelados alguns
materiais que nos deixam bastante um sinal bastante claro de que toda esta região
deveria ter um dinamismo e importância elevada. De facto, são nos apresentados alguns
materiais de origem Fenícia, o que poderá indicar contactos directos com estas
comunidades do Oriente. No entanto, os níveis proto-históricos são ainda mal
conhecidos, e por isso não podemos avançar com nenhum tipo de especulações. (Anexo
7)
No entanto, gostaríamos de deixar uma nota importante: O paleo-estuário do Vouga é
extremamente mal conhecido, bem como as suas dinâmicas intrínsecas, quer naturais
como humanas. Assim, podemos colocar a questão: terá havido algum contacto directo
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
10
com estas comunidades? Será que estas chegaram via fluvial até ao Cabeço do Vouga?
Para terem chegado a este lugar, deveriam certamente estar à espera de encontrar algum
tipo de produtos que pudessem ser comercializados, ou por outro, este poderia ser o
ponto de contacto e de trocas entre comunidades.
Em relação à ocupação romana podemos dizer algo mais.
Segundo Vasco Mantas, trata-se de um “Hill-fort compreendendo dois terraços
naturais, (…) protegido a norte pela curva do Vouga e a sul pelos pântanos do marnel.”
(Mantas, 1996, p. 621). Dada a monumentalidade do sítio, a sua implementação, é
plausível assumir a “existência de uma civitas sediada no Cabeço do Vouga, a qual, de
acordo com o Itinerário e com os miliários, não pode ser Talábriga” (Mantas, 1996, p.
623).
De facto, só trabalhos de escavação poderão nos elucidar sobre a questão da
identificação deste assentamento. Contudo, mais do que identificar a sua designação, o
nosso objectivo passa por entender as suas dinâmicas. No entanto, Vasco Mantas
assume que o Cabeço Redondo teve uma ocupação romana, o que é perfeitamente
possível, no entanto ainda não há dados que permitam uma reflexão mais extensa sobre
essa possibilidade. No nosso entender, esta ocupação não só se situaria no sítio da Mina,
mas também mais para Oeste. De facto, parece existir algumas formas que acabam por
delimitar e caracterizar um espaço que foi, em tempos, ocupado. (Anexo 8 e 9)
Uma vez que a escavação apenas se circunscreve a uma parte do sítio da Mina,
não temos mais dados arqueológicos sobre a ocupação romana neste espaço. Assim, na
nossa opinião, a melhor forma de abordar as dinâmicas deste território, no que toca à
ocupação romana, é analisar o traçado das vias construídas por estas comunidades.
Neste sentido, Vasco Mantas publicou um excelente trabalho de analise, e é a
partir daqui que iremos fazer a nossa analise. Segundo este autor, dada localização
geográfica do Cabeço do Vouga(estando entre o litoral e a zona montanhosa) seria um
local com uma dinâmica viária bastante acentuada, uma vez que a sua posição de
charneira lhe concedia condições para ter um carácter de “distribuição” de bens quer
para Aeminium quer para Cale, mas também poderia funcionar perfeitamente como
ponto de paragem e repouso para quem ali passasse.
No entanto, temos de considerar que cerca de 5 quilómetros para Norte se
localiza Albergaria – a- Velha. Desde logo sabemos que durante a Idade Média se
mandou instalar uma Albergaria para quem viajava, o que pode perfeitamente ser a
continuação de exploração de uma zona onde poderia ter existido uma Mansione em
tempo romano.
Ainda segundo Vasco Mantas, O traçado romano entre Olissipo e
Talábriga passaria pelo Oppdium Vacca, uma vez que este considera que o Cabeço do
Vouga não se reporta a Talábriga.
De facto, ao ler a excelente compilação feita por Rocha Madahil, acerca do que
foi discutido sobre o Cabeço do Vouga, desde o século XVI reparamos que é raro os
autores utilizarem o nome “Talábriga” quando se reportavam ao Cabeço do Vouga.
Isto é, durante os seus comentários e propostas, recorriam sempre a autores
clássicos como Estrabão ou Plínio. Segundo Duarte Nunes Leão (obra de 1610), o Rio
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
11
Vouga poderia ter designações ligeiramente diferentes consoante os autores: Plínio
utilizava o nome Vacca e Estrabão, referia-o como Vaccuam, já Ptolomeu usava Vacum.
(Madahil, 1941, p. 236). Ora, Sousa Baptista diz-nos que tudo o que foi dito sobre o
Cabeço do Vouga, tendo em conta as fontes clássicas, reduzem-se a dois autores: Plínio
e Aéthico (sendo este de origem grega). Assim, na sua visão, o que foi dito tem por base
o relato feito no Século IV, embora que fugaz, por este escritor helénico – onde se poder
ler “« occenus occidentalis habet formosa oppida – Bracara – Iacusa Augusta – Vacca»
(Bapitista, 1950, p. 81)
Assim, se existisse uma Civitas denominada Talábriga nas margens do Vouga,
não faria sentido ter sido mencionada aquando a descrição do dito Rio? Ou será que, o
assentamento acabou por adoptar o mesmo nome que o Rio Vouga (Vacca, Vaccuam,
Vacum), e por isso nunca ter aparecido com outra denominação. Neste ponto
concordamos inteiramente com Vasco Mantas.
Voltando às vias, o mais interessante é perceber que de facto, entre a mourisca e
Campelinho, existe um traçado, hoje traduzindo-se numa aldeia – rua, em que o seu
traçado é perfeitamente rectilíneo, encaixando-se geograficamente no traçado proposto
pelo autor. (Mantas, 1996, p. 814). De facto, esta estrada é também conhecida por
Estrada Mourisca, o que nos pode dar uma pista importante no que toca à importância
deste troço.
Temos de ter em consideração que todos estes traçados foram calculados a partir do
Itinerário de Antonino, identificação de restos de traçados romanos, dos marcos
miliários encontrados em vários locais, associado a algumas escavações e prospecções
que foram feitas de forma a perceber as dinâmicas de ocupações em torno das vias, e
claro, a análise das cartas militares e fotografia aérea.
Em termos da transposição do Vouga e do Marnel, Vasco Mantas propõe alguns
cenários possíveis, se bem que, dada a ausência de vestígios ou estudos mais
aprofundados nesta área, as suas conclusões acabam por ser algo vagas.
Justamente, quando a estrada passa por Pedaçães, dirige-se para Norte,
transpondo o Marnel. Toda esta zona é pantanosa, e seguramente poderia ser transposta
por pequenas embarcações, embora não sabemos até que ponto estas não poderiam
encalhar nos seus períodos de menos caudal.
A ponte existente na travessia do Marnel é, de uma forma geral, datada do
Século XII (por Sousa Baptista), deixando-nos assim na ignorância sobre o modo o qual
o rio seria atravessado na época romana. Em relação à travessia do Rio Vouga a Norte,
existe uma ponte com alguma envergadura, e sabemos que teve uma intervenção no
século XII (tendo sido reparada), e depois uma nova vaga de trabalhos já no Século
XVIII por D. João V. Vasco Mantas fez uma pequena análise morfológica aos pegões
que conseguiu observar (visto que outros estavam submersos), e propôs uma cronologia
romana para a sua construção. (Mantas, 1996, pp. 815 – 817).
No entanto, o autor propõe ainda outra travessia que passaria pela transposição
do Rio Vouga a Oeste, entre Lamas e Vila Verde, talvez usada apenas durante as
estações onde o caudal fosse mais baixo, permitindo uma circulação através de
pequenas embarcações. (Mantas, 1996, p.818).
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
12
Temos de ter em consideração que todos estes traçados foram calculados a partir
do Itinerário de Antonino, identificação de restos de traçados romanos, dos marcos
miliários encontrados em vários locais, associado a algumas escavações e prospecções
que foram feitas de forma a perceber as dinâmicas de ocupações em torno das vias, e
claro, a análise das cartas militares e fotografia aérea.
Há, contudo, algumas considerações que achamos necessárias tecer. Por um
lado, a Ponte do Marnel traduz-se numa construção essencial para a transposição do rio
Marnel, mas principalmente para as populações que ali se implantaram. Não terá esta
ponte uma génese romana, ou mesmo anterior? A sua envergadura é bastante pequena,
sendo bastante rudimentar, onde com certeza que, dada a falta de matéria – prima na
zona (onde o saibro acaba por ser o mais abundante), a sua planificação teve de ter em
conta exactamente esta falta de recursos. É certo que as pontes de madeira acabam por
não chegar aos nossos dias, dada a sua perenidade, mas achamos que é arriscado afirmar
que esta ponte tem uma origem medieval, quando a ocupação deste território (pelo
menos no Cabeço da Mina), faz-nos recuar até à época pré-romana.
Outra questão que temos de colocar é a própria morfologia deste último troço do
Marnel. Qualquer um que observe a carta militar (1/25000; folha 186), percebe que
parte do seu curso foi drasticamente alterada pela mão do Homem. A partir da Boiça
(mais concretamente, da linha férrea que por ali passa), o seu caudal torna-se mais
volumoso, uma vez que a distância entre as suas margens aumenta. Daqui até à
povoação de Lamas (onde se encontra a actual E.N 1, e a ponte anteriormente referida),
temos um curso de água perfeitamente rectilíneo, com uma extensão de cerca de 1500
metros. Até agora, não encontramos quaisquer referências ou informações em relação às
intervenções neste rio. Voltaremos a este tópico mais adiante.
De qualquer forma, concordamos com Vasco Mantas quando diz que o Cabeço
do Vouga existiria “seguramente uma importante estação viária” (Mantas, 1996,p. 813).
(Anexo 10)
Delfim Bismark Ferreira, na sua obra “A terra de Vouga nos séculos IX
a XIV”, diz-nos que seria um território, onde a “a sede de Talábriga, segundo os mais
recentes estudos, corresponderia ao topónimo Marnel, na actual freguesia de Lamas do
Vouga, situado em plena terra de Vouga” (Ferreira, 2008, p. 19). Avança também como
a “hipótese de que a civitas Marnele pudesse ter assumido o papel centralizador como
“capital” da terra de Vouga.
No nosso entender, o sítio da Mina, ou seja, o Oppdium Vacca como refere Vasco
Mantas, poderá ter sido abandonado, e as comunidades poderão ter migrado para Oeste,
junto do Vouga. Isto porque, até ao momento, as escavações não revelaram a existência
de uma ocupação Baixo Medieval para o assentamento, apenas quatro sapatas, que até
ao momento, a única coisa que poderemos afirmar com certeza é que, tendo em conta
“os escassos vestígios arqueológicos associados e o posicionamento estratigráfico que
tais estruturas de alicerce ocupam, deixem antever que se trata de uma construção
tardia, posterior à ocupação romana do sítio.” (Silva, 2001, p. 13)
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
13
De certa forma, esta realidade poderá explicar a deslocação do topónimo “Vouga”,
como também poderá ser um dado importante para o entendimento da denominação do
assentamento romano, uma vez que, ao longo do tempo, este topónimo é continuamente
usado, e sempre associado a centros administrativos – Vacca, Vaccuam, Vacum, Vouga.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
14
Configurãço es e Dinã micãs de Territo rio: A Implãntãçã o Medievãl
Como vimos, a zona entre o Vouga e o Marnel teve seguramente uma
importância estratégica no controlo desta área, bem como uma grande dinâmica no que
toca às suas gentes. Assim, não será de descabido propor uma complexa organização de
todo este espaço, embora em moldes diferentes, uma vez que os centros administrativos
não seriam os mesmos.
De facto, as escavações até agora efectuadas no Cabeço da Mina não revelaram,
até ao momento, qualquer ocupação de carácter medievo, o que nos pode indicar que
este sítio possa ter sido abandonado, ou, tenha perdido consideravelmente a importância
estratégica que se verificou durante a ocupação romana do espaço.
Contudo, a documentação parece só começar a aparecer a partir do século X,
com uma doação de Inderquina Pala ao Mosteiro de São Salvador de Sperandei, donde,
entre outras doações, é referido o mosteiro do Marnel. (Ferreira, 2008, p. 241). Mas a
questão impõe-se: como terão sido as dinâmicas de ocupação da Alta Idade Média?
Na Obra “Município de Águeda” do Padre Francisco Dias Ladeira, escrito em 1982, o
autor propõe que durante século V, a invasão Godo-Alana tenha destruído o
assentamento romano então instalado no Marnel – no entanto, não é possível verificar
de forma alguma a veracidade desta proposta. (Ladeira, 1982, p. 27, Vol I)
Segundo José Mattoso, “Durante os séculos V e seguintes, verifica-se, pois, a
progressiva deterioração do sistema administrativo imperial, que os Germanos não
destroem, mas ignoram ou paralisam, e a constante apropriação de poderes de natureza
não militar pelos guerreiros, que frequentemente procuram imitar os imperadores ou,
melhor, os seus representantes provinciais e locais”. (Mattoso, 1992, p. 302).
De facto, a historiografia diz-nos que, após o suicídio de Gerôncio, “os
Germanos puseram muitas cidades a ferro e fogo, espalhando o terror por toda a parte”.
Esta narrativa parece transversal a todos os discursos e opiniões. Contudo, haverá
decerto algum exagero no que toca as fontes literárias romanas, mas de facto, a
Arqueologia tem vindo a mostrar que houve (pelo menos) um abandono de alguns
assentamentos romanos, sendo que as suas construções mais tardias acabam por não
ultrapassar este Século V. O caso do Cabeço do Vouga parece não fugir a esta regra,
face aos dados analisados não podemos admitir uma destruição do sítio como a
historiografia defende.
É já no século VI que assistimos a uma importante reorganização
administrativa de todo este território Suevo, uma vez que Martinho de Dume
protagoniza a fixação das paróquias em todo o território Suevo, bem como mecanismos
para combater as crenças e superstições ditas pagãs, que se encontravam no seio das
comunidades sob a sua alçada. Este processo acaba por ser fundamental no nosso caso
de estudo, uma vez que depois de incertezas, lutas e um clima de grande instabilidade,
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
15
chega finalmente uma verdadeira organização administrativa, que acabaria por regular a
vida das comunidades.
Segundo o esquema apresentado por José Mattoso, existem duas paróquias de grande
importância que se encontram perto do Cabeço do Vouga: Conímbriga e Viseo.
Certamente que o território em estudo faria parte de uma das duas. Em 911, Enderquina
Pala doa o Mosteiro de Santa Maria de Lamas ao Mosteiro de Lorvão. Apesar de haver
um grande distanciamento cronológico, talvez não seja absurdo de todo assumir que a
zona em questão pertenceria, de facto, à Paroquia de Conímbriga
É já em 589 que Recaredo, sucessor de Leovigildo, se converte ao
Cristianismo, deixando para trás as tradições arianas, herdadas do seu Pai – tendo como
consequência a adopção desta tradição religiosa a todo o território Visigodo. Contudo,
entre a morte de Leovigildo (586) e a Invasão Muçulmana “pouco se sabe do que vai
acontecendo na Galécia e Lusitânia” perfazendo um período de 130 anos. (Mattoso,
1992, p. 316).
De qualquer forma, o Cabeço Redondo assume-se como um forte marco em toda
esta paisagem de aluvião, e justamente, através da fotografia aérea bem como dos
relatos das escavações de Sousa Baptista, poderemos estar na presença de um sítio de
altura, possivelmente fortificado.
Todo o processo de ocupação do espaço por parte destas comunidades exógenas,
é ainda um grande obstáculo na investigação arqueológica, ora por desconhecimento das
dinâmicas destes contextos durante a escavação, ora por uma clara falta de dados
durante a investigação. No entanto, apesar da grande falta de informação, relembramos
diz José Avelino Gutiérrez González, quando este nos avisa que “Una característica
general de esta transición es su heterogeneidad, la gran diversidad de situaciones, casos
y soluciones regionales y locales” (GONZÁLEZ, 2010, p. 5). De facto, podemos ter
umas vilas (e o seu territorium) que são anexadas por um senhor a outros territórios
seus, criando um grande latifúndio, como podemos encontrar uma situação de
desagregação destas estruturas sociopolíticas em pequenos casais.
Segundo ainda Francisco Ladeira, Marnel é um termo islâmico, significando
Lamas. De facto, à volta da zona a sul do Sitio da Mina, segundo a carta Militar,
verifica-se uma zona de cotas muito baixas, a rondar os 8 metros, onde toda a zona
envolvente se traduz numa área pantanosa e lamacenta. Daí, talvez, a origem deste
nome.
Lamas é “identificada no documento de 957, pela padroeira Santa Maria e, de
novo, em 961: «Mosteiro de Marnel, que chamam Santa Maria», expressão toponímica
Lamas, denota a proximidade com a pateira” (Ladeira, 1982, p. 85, Vol II).
Sabemos hoje que toda esta zona entre o Douro e Mondego acabou por ser um
território de fronteira, isto é, um espaço onde comunidades cristãs e islâmicas
coexistiam. De facto, Delfim Ferreira cita um texto de Al – Idrisi (geografo árabe, que
viveu no século XII) para nos dar a entender este conceito de “Território de Fronteira”.
“Da fortaleza de Montemor à foz do Vouga vão 70 milhas. É aqui que começa a terra
de Portugal” (Ferreira, 2008, p. 21). Esta passagem demonstra uma grande ligação entre
o Mondego e o Vouga, como também uma certa indefinição no que toca aos seus
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
16
próprios limites, tendo sido uma região dominada por cristão e muçulmanos. Ainda hoje
é possível perceber alguns vestígios desta ocupação através da rede viária. A Sul do
Cabeço do Vouga encontra-se um troço da possível antiga via romana, que ficou
conhecida como “A Estrada Mourisca”. (Anexo 11)
Na verdade, a historiografia portuguesa assume a possibilidade de, durante a
reconquista, pudesse ter existido “uma rede de fortificações ou de pequenos castelos
que, na região do Vale do Vouga, fizesse de guarda avançada de um sistema defensivo-
militar” de forma a proteger o castelo de Santa Maria. (Ferreira, 2008, p. 90).
Para a transição da Alta Idade Média, para a Baixa Idade Média existem mais
alguns dados, se bem que investigação está, ainda, num ponto muito embrionário.
Segundo Delfim Bismark Ferreira, toda esta zona do vale do Vouga faria parte
de uma Terra, sendo esta uma nova modalidade de organização administrativa, tendo
“tido a sua origem na reestruturação administrativa e militar levada a cabo por Fernando
Magno na sequência das suas conquistas” (Ferreira, 2008, p 19), sendo identificada pela
primeira vez em documentos datados do século XI.
A Obra Portugaliae Monunta Historica, tal como o Livro Preto da Sé Velha,
acabam por ser referências essenciais para este tipo de análise. Justamente na
compilação feita por Alexandre Herculano, podemos encontrar um testamento feito por
D. Gonçalo Veigas que nos fala precisamente da nossa região de estudo.
Esta fonte escrita acaba por nos dar informações altamente preciosas para
começar a entender as dinâmicas desta zona entre o Vouga e o Marnel. No dito
testamento, são referidos alguns aspectos essenciais para a reflexão das dinâmicas do
território, e por isso parece-nos importante transcrever uma pequena passagem deste
documento.
“Lali quomodo diuide per illa insula de pingero et de saualanes per ut illa
conbona solent facere sancta maria de lamas mediate integra per suos terminos per ut
sparte per illa petra de contensa et de alia parte per illa lagona sub porto de belli et
quomodo diuide de alia parte uauga per cima de illa lagona de sub porto de belli in suo
directo duide cum belli. Et de faraganes mediatate. Et medietate de castrello et tercia de
arraual”.3
Desde logo podemos reflectir alguns aspectos que nos parecem ser
extremamente importantes. Em 1050, data do referido testamento, o topónimo este
território seria Santa Maria de Lamas, nome que deve estar associado ao conhecido
mosteiro de Santa Maria de Lamas.
Por duas vezes é referido “Porto de Belli”. Sabemos que o topónimo “Belli”
sofreu uma evolução e o Padre Francisco Ladeira refere-o como “Belhe”. Segundo a
Revisão do Plano Director Municipal de Águeda (2010), o actual topónimo de Vila
Verde corresponde à antiga “Villa de Belhe”. Esta localiza-se a Oeste da actual vila de
Lamas, isto é, na margem Oeste do Rio Vouga – sendo que o território em estudo se
localiza na margem Este do mesmo Rio).
3 DC, CCCLXXVIII – Folha 231
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
17
No final da transcrição apresentada, é mencionado um “castrello”. Delfim
Ferreira também faz uma pequena observação a este dado, adiantando ainda que este se
localiza “junto ao Vouga e ao burgo que foi capital de todo este território” (Ferreira,
2008, p. 91).
Para tentar compreender melhor estas realidades decidimos abordar cada um
destes temas de uma forma individualizada, de forma a analisar cada problemática de
uma forma mais organizada. Desta forma, o nosso objectivo máximo passará por
apresentar problemáticas, e principalmente, levantar questões.
O Castelo do Marnel
Do nosso ponto de vista, é imperativo em primeiro lugar tentar localizar o
Castelo, uma vez que este seria o centro nevrálgico de toda a dinâmica do povoamento.
As inquirições de 1758 já não referem a existência de nenhum castelo, sendo mesmo de
pequenas dimensões. Sabemos portanto, que até a esta data, este já deveria estar em
ruinas
Segundo Francisco Ladeira, “No ano de 981 a vila de Lamas confinava com
Padasanes, Palatiollo, Belli e Christovalães ou seja Pedaçães, Paçô, Bêlhe e
Crastovães. Palaciolo corresponde ao actual topónimo de Paçô – o que talvez se possa
ter traduzido num pequeno paço, possivelmente residência militar do Marnel e
descendência.” (Ladeira, 1982, Vol II, p 93)
Desta forma, décimos criar um esquema perfeitamente teórico a partir das
informações obtidas pelo Padre Francisco Ladeira. Ao analisar a carta militar,
percebemos que quase todos os topónimos ainda estão presentes no território actual –
sendo que Bêlhe corresponde ao actual topónimo de Vila Verde
Assim sendo, começamos por analisar todo o espaço a partir da sua topografia, e
desde logo percebemos existirem duas zonas onde se poderia implementar uma
estrutura de carácter defensivo: A primeira localiza-se no Cabeço do Vouga, a segunda
localiza-se a Sul do Topónimo Toural. (Anexo 12)
Desde logo os dois topónimos têm um carácter bastante sugestivo. O Cabeço do
Vouga localiza-se num Cabeço no topo Norte desta proposta de território, onde a sua
altitude máxima ronda os 82 metros – correspondendo ao Cabeço Redondo. Em termos
defensivos, é defendido a Norte e a Oeste pelo Rio Vouga (uma vez que este circunda o
cabeço nas referidas orientações). O Vouga corre a 470 metros a Norte, e a cerca de
1150 metros a Este do sítio em questão. Em termos geoestratégicos acaba por ser uma
escolha bastante fácil de entender, uma vez que teria controlo visual sobre grande parte
do território, bem como sobre o Rio.
Entre o Cabeço da Mina e o Cabeço Redondo encontra-se uma depressão que
acaba por ser uma divisão natural entre estas duas formações. Precisamente aqui
encontra-se uma pequena capela, a Capela do Espírito Santo. Sabemos que associada à
implantação de castelos, costuma estar uma Igreja ou Capela, o que nos pode dar uma
pista importante sobre o paredeiro do Castelo do Marnel.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
18
Uma das hipóteses que avançamos para a identificação desta estrutura
situa-se então, no Cabeço Redondo. Este foi intervencionado por Sousa Batista (sem
qualquer tipo de resultados conclusivos, e diríamos até bastante especulativos) resultou
na confirmação da existência de uma estrutura amuralhada.
Sousa Baptista descreve o sítio como sendo um maciço que se ergue sobre uma
plataforma de forma quadrangular, onde se situam dois cabeços distintos. O Cabeço
Redondo apresenta uma forma elipsoidal irregular, enquanto o cabeço da mina “foi
cortado em circunferência” (SOUSA BAPTISTA (1950): Considerações sobre a
Cidade Luso – Romana de Vacca, o Julgado, e o Burgo de Vouga. Arquivo do Distrito
de Aveiro, Vol. XVI, p. 82 )
Este espaço tem uma área aproximada a um hectare. Segundo a sua descrição,
observa-se um talude de três a quatro metros de altura. Aqui a plataforma “alarga mais
de trinta metros” e surge “um novo talude para o Norte e Poente” (Idem ). Refere ainda
a existência de uma plataforma ainda mais alargada do que a descrita, onde o talude
ainda supera em altura o anterior. (Anexo 13)
Estando na presença de um cabeço com tal área, com a presença de três taludes
(identificados pelo autor), é possível estarmos na presença de um sítio com
características defensivas complexas, não só pela sua implementação, mas também pela
sua localização. (Anexo 14 e 15)
Como foi referido, Sousa Baptista fala de uma segunda plataforma no Cabeço
Redondo, com uma largura de cerca de trinta metros foi identificada a Este, Oeste e
Norte do primeiro. O autor avança assim com a possibilidade de um segundo patamar,
que no entanto, poderá ter sido destruído. Este talude deveria envolver toda esta
plataforma. Actualmente é possível observar-se um muro, embora este possa ser
bastante recente de forma a conter o deslizamento de terras.
Em relação ao Cabeço da Mina, como foi anteriormente referido, inclinamo-nos
para um abandono e transição do povoamento para Oeste, junto do Vouga.
Justamente, a partir da análise da carta militar, como a análise da fotografia
aérea, é possível perceber que existe de facto alguma estrutura, ou conjunto de
estruturas no Cabeço Redondo.
Como vimos anteriormente, a localização das vias seria igualmente junto a esta
zona do Cabeço do Vouga, e assim, pelos registos arqueológicos, podemos dizer que
toda esta zona teve uma ocupação relativamente continua.
Ainda segundo Francisco Ladeira, O Castelo do Marnel ainda manteria as suas
muralhas intactas até ao século XV – Sejam do cabeço redondo como do cabeço na
mina, sendo a Alcáçova Grande e Alcáçova Pequena. (Ladeira, 1982, p. 86 e 87, Vol II)
Contudo, não há ainda nenhum trabalho de escavação ou prospecção mais
recentes que nos possam dar dados mais fidedignos sobre estas questões.
Em relação ao Toural, não há dados nem arqueológicos, nem fontes históricas
que nos remetam para qualquer tipo de estrutura naquela área. No entanto, este é o
ponto mais alto de todo este suposto território, elevando-se a 85 metros acima do nível
do mar localizado perto do extremo Sudeste. Trata-se de um pequeno planalto, com a
presença de alguns canais de água, mas pouco mais se pode dizer sobre esta zona, uma
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
19
vez que, actualmente, se encontra densamente ocupada, tornando assim muito mais
difícil qualquer tipo de análise espacial. No entanto, seria interessante abordar esta
região de um ponto de vista arqueológico, uma vez que nos poderia ajudar a dissipar
algumas dúvidas em relação ao centro administrativo deste território, para este período.
Assim, pelos registos arqueológicos, e pela historiografia, parece-nos ser
bastante plausível que a localização do Castelo do Marnel se localize no actual Cabeço
Redondo. Desde a implantação geográfica e as suas vantagens, a implementação da
Capela do Espirito Santo, dos registos arqueológicos e fontes bibliográficas, tudo aponta
que este tenha sido o centro administrativo desta região, tal como aconteceu durante o
período Romano.
O Mosteiro de Santa Maria de Lamas
Em relação a este Mosteiro, Rocha Madahil foi pioneiro no estudo desta questão. No
seu artigo sobre o Cabeço do Vouga, são igualmente apresentados as conclusões sobre
as escavações no Mosteiro de Santa Maria de Lamas. Contudo, a sua descrição
geográfica é imprecisa: “ Um dos vales confluentes do Rio Vouga é o vale do Marnel,
que próximo à sua foz tinha uma antiga ponte d’arcos, há poucos anos abandonada por
utilidade da estrada real; fazendo-se logo abaixo outra ponte com a mesma denominação
de «ponte do Marnel», por onde passa a mesma estrada. Pouco acima da ponte velha, na
encosta esquerda do monte lateral deste vale, em lugar elevado, se vêm os restos ou
ruinas do afamado Mosteiro de Santa Maria de Lamas ou do Marnel” – (Madahil, 1941,
p. 251).
Contudo, o autor chama-nos a uma questão bastante pertinente. Como sabemos,
em 961, Enderquina Pala doou a sua Igreja de Santa Maria de Lamas ao Mosteiro de
Lorvão. Porém, só existem registos na sua consagração em 1170, quase duzentos anos
depois da sua doação ao dito Mosteiro.
José Mattoso diz-nos que, ao analisar o “Pacto de s. Frutuoso” (onde defendia a
ideia dos monges obedecerem ao Abade do seu mosteiro, desde que este não abusasse
da sua autoridade), é possível perceber que “era frequente famílias inteiras tornarem-se
dependentes dos mosteiros e que os monges praticavam muitas vezes o oficio de
pastores” (Mattoso, 1992, p. 344). Apesar de existir uma Regula communis que
condenava esta tradição monástica, estes “multiplicaram-se durante os séculos VIII e
IX; [e] só foram desaparecendo nos séculos XI e XII, combatidos de novo pelos
reformadores eclesiásticos da época gregoriana”. (IDEM)
Não sabemos até que ponto é que poderemos aplicar esta regra ao Mosteiro de
Santa Maria de Lamas uma vez que ele foi consagrado, precisamente, no século XII,
não fazendo por isso grande sentido ele ter sido abandonado neste século. Contudo,
ainda continua por perceber qual foi a época da sua fundação, se bem que esta linha de
raciocínio poderá ser uma pista importante para responder a esta problemática.
.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
20
Pensa-se que o século X e meados do século XI foram particularmente
turbulentos nesta região, uma vez que, dada a ausência de registos documentais neste
período, é possível que toda a zona tenha sido assolada por ataques e pilhagens
muçulmanas.
De qualquer forma, “ conclui-se que ou D. Enderquina Pala fez a doação da
Igreja antes de Sagrada (o que não parece credível), ou que a Igreja doada por ela era
muito antiga, e se achava ameaçando ruina, precisando de ser reformada ou reedificada,
como foi; fazendo-se por isso a sagração no ano de 1170” (Madahil, 1941,p. 252). Desta
forma, será que a implantação do castelo se situaria junto a esta Igreja? Por um lado,
apenas supomos que o Castelo Marnel se situasse no Cabeço redondo, o que se traduz
numa grande incerteza; por outro se este se situasse nas suas imediações não nos parece
provável que os seus proprietários deixassem esta Igreja em ruínas, ao ponto de ter de
ser edificada – ou que a sua implementação se desse ao pé de uma Igreja em ruínas.
Segundo Francisco Ladeira, existiu uma ermida perto do castro do Marnel
dedicada a Santa Maria, existindo ai uma igreja conventual. Com a ocupação islâmica
esta foi destruída, mas em 1170 deu-se a sua reconstrução. A lápide de sagração “fixada
inicialmente nesta igreja, foi levada para a actual Igreja de Lamas” (Ladeira, 1982,p.
102, Vol II). Desta primitiva Igreja restam “paredes altas, …, azulejos hispano-arabes,
ou sevilhanos, séc. XVI, ossadas á vista na pedra cimeira” (IDEM), sendo este um sítio
de romaria por alguns de Lamas, que ainda hoje lhe chamam de Almas. “É o que resta
do Mosteiro do Marnel”. (IDEM). A Igreja de Santa Maria de Lamas foi consagrada a
10 de Maio de 1170.
Santa Maria de Lamas estará certamente associado ao Mosteiro de Santa Maria –
sendo também a igreja primitiva do território de estudo. “Também a Idade Média se
encontra aqui bem representada (desde a Alta Idade Média), com a documentação mais
antiga a referir, já pelo ano de 961, uma doação feita por Enderquina Pala, da sua Igreja
de Santa Maria de Lamas, ao Mosteiro de Lorvão” (Silva, 1996,p. 14). No entanto,
pelos trabalhos arqueológicos realizados, o que se sabe até hoje centra-se na existência
de uma Necrópole.
No nosso entender, bem como no entender do arqueólogo responsável pelo sítio
da Mina, o Dr. Carlos Maia, o Mosteiro de Santa Maria de Lamas dever-se-á ter situado
exactamente nesta localização.
Ainda sobre o modo de vida dos monges durante os conturbados períodos da
Alta Idade Média, José Mattoso diz-nos que organizavam a sua vida longe das cidades,
tendo contacto directo com a Natureza, tendo como principal actividade o trabalho nos
campos. Adianta ainda que, “quando acumulam abundantes terras oferecidas pelos
benfeitores, como acontece frequentemente nesta época, podem possuir centenas ou ate
milhares de camponeses na sua dependência”. (Mattoso, 1992, p. 351).
Estas informações são bastante pertinentes para o território de estudo. Por um
lado temos este espaço perfeitamente dividido pelo Marnel, existindo ocupações quer a
Norte e a Sul. Como foi dito anteriormente, apontamos o Cabeço Redondo como a
localização para o Castelo do Marnel (a Norte do Marnel), e segundo o que foi estudado
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
21
por outros autores, o Mosteiro de Santa Maria de Lamas deveria localizar-se no Passal,
a Sul do dito Rio.
À luz destas novas interpretações, será que poderemos encarar o povoamento a
Norte do Marnel directamente ligado ao Castelo, e a Sul, ligado ao Mosteiro? Parece
haver aqui uma correlação lógica, o que evidenciaria uma clara estrutura administrativa
do território ligada, por um lado ao poder senhorial das elites administrativas e
militares, e por outro, ao poder religioso (que não deixava de ser, também ele,
senhorial). (Anexo 16)
Assim, criamos um esquema perfeitamente teórico tentando mostrar esta mesma
realidade, sendo que o seu objectivo máximo é o de tentar levantar questões e identificar
problemáticas sobre o território em estudo.
Desta forma, será que estas áreas influência existiam de uma forma marcante?
Ou não existiriam de todo? Uma vez que o nosso esquema é perfeitamente teórico e
algo arbitrário, não sabemos quais seriam as reais áreas de influência dos Castelo e dos
Mosteiros, e mesmo até quando é que estas poderiam estar efectivamente marcadas no
território – o que obriga a um estudo mais complexo e profundo sobre este território
De qualquer forma, o actual topónimo de Lamas poderá estar intimamente
ligado a esta “deslocalização” do Mosteiro de Santa Maria de Lamas, para a Igreja que
actualmente fica no coração da freguesia de Lamas do Vouga. (Anexo 17).
Segundo a opinião do Dr. Carlos Maia, a população pode-se ter vista obrigada a
transferir este centro religioso, devido às inundações e aos processos de assoreação do
Marnel, tornando todo aquela zona altamente instável. E de facto, concordamos
inteiramente com esta posição, uma vez que esta região é marcada por grandes
assoreações, bem como a períodos de cheias, tal como nos diz Amorim Girão. O que
nos leva a outra questão pertinente: Qual terá sido o papel do Marnel e do Vouga nestas
dinâmicas de povoamento?
As dinâmicas entre comunidades e os Rios
Como já foi referido, o Cabeço do Vouga situa-se numa zona de aluvião, onde a Norte e
Oeste corre o Rio Vouga, e a Sul corre o Rio Marnel. Certamente que, neste espaço, as
comunidades deveriam tomar partido destas excelentes condições hídricas para a prática
agrícola, sendo estes terrenos extremamente férteis.
No entanto, há alguns elementos que serão necessários ser problematizados, uma
vez que nos podem indicar a forma como as comunidades se adaptaram ao meio, e
talvez mais importante, as formas como estes foram transformados de modo a servirem
melhor estas comunidades.
Na pequena transcrição feita do Testamento de D. Gonçalo Veiga, aparece-nos
referido, por duas vezes, a expressão “Porto de Belli”. Como nos indica o Padre
Francisco Ladeira, o topónimo “Belli” sofreu uma evolução para “Bêlhe”, realidade que
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
22
o próprio Rocha Madahil também suspeitava. Actualmente, este topónimo corresponde
a Vila Verde.
Contudo, Vila Verde situa-se na margem Oeste do Vouga, enquanto, o Cabeço
do Vouga se situa na margem Este do mesmo Rio. Será que a expressão “Porto” teria
um significado de porto fluvial, ou apenas um ponto de passagem? (Anexo 18)
Conforme a proposta de Vasco Mantas, por aqui poderia passar um dos troços
possíveis da Via Romana, contudo, a principal aposta recai para a passagem mais a
Norte, onde estaria implantada uma ponte, construída também pelas comunidades
romanas. É possível por isso pensar nesta realidade como, de facto, uma via, uma zona
de circulação de pessoas e bens.
Abordemos agora a possibilidade de se tratar de um porto fluvial. Para esta
realidade se verificar todo o curso do Vouga neste espaço teria de bastante diferente,
uma vez que teria de passar mais a Oeste, de forma a tornar possível uma instalação de
uma estrutura portuária – já que Vila Verde se situa a cerca de 500 metros do Rio.
No entanto, sabemos perfeitamente que as dinâmicas de assoreação são uma
constante na Bacia do Vouga, tanto que se especula que, há dois milénios atrás, a foz do
Rio Vouga seria 20 km para Este, na confluência do Águeda e do Vouga. (Andrade e
Freitas, 1998, p. 68) Do que temos a certeza é que existiu uma espantosa evolução da
costa, traduzida numa grande regressão marina, e num grande processo de deposição de
sedimentos que poderá, perfeitamente, ter adulterado o curso dos rios.
Em termos arqueológicos não há qualquer registo de escavação deste espaço
concreto. Contudo, a partir da fotografia de satélite, “percebemos” a existência de uma
forma que, em certa medida poderá ser associada à existência de uma estrutura deste
tipo. Trata-se de uma forma oval, de onde, no seu extremo sudeste forma uma pequena
abertura. A acrescentar a isto, parece haver uma trama algo densa de vias, o que nos
poderá também indicar uma certa importância relativa a este espaço. Existem vias que
acabam por cortar esta forma que foi identificada, mas como não sabemos as suas
cronologias, é impossível de perceber se, posteriormente cortaram este espaço, ou se de
facto, a forma visível é apenas uma formação natural. O certo é que não somos, de todo,
especialistas na área da fotointerpretação, e por isso a análise vale o que vale. (Anexo
19 e 20)
Assim, não temos dados suficientes para avançar com algum tipo de
argumentação mais alongada e segura. Porém, encaramos com muitas reservas a
existência de um porto fluvial, mas dadas as grandes dinâmicas fluviais, marítimas,
sedimentares e mesmo das comunidades neste território, seria interessante, em trabalhos
futuros, abordar esta perspectiva de uma forma rigorosa e competente, visto que, ao
existir de facto ali uma infra-estrutura portuária, toda a nossa concepção do dinamismo
deste tipo de realidades teria de mudar drasticamente, uma vez que estas situações são
extremamente difíceis de detectar.
Em relação à própria morfologia do Marnel há uma observação importante que
tem de ser feita. Ao observar a carta militar, é possível perceber que no seu curso
inferior existe uma clara adulteração feita pelo homem. O Rio, ao inflectir para esta esta
zona do território, passa a ter um curso perfeitamente rectilíneo, ao invés do seu curso
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
23
natural, ou seja, serpenteado. Após a sua travessia entre a possível localização do
Castelo do Marnel e o Mosteiro de Santa Maria de Lamas, o seu curso volta a ser
natural, indo desembocar no Vouga, mais a Sul.
Esta adulteração do seu curso natural tem uma dimensão de cerca de 1,6
quilómetros. Analisando os vários elementos da carta militar, percebemos que existe
uma rede de pequenos canais que ligam o Marnel a zonas mais altas. Podem-se assim
tratar de diques de irrigação.
Ao associarmos o topónimo do território em estudo e a análise da fotografia
aérea, bem como da morfologia do próprio sitio, percebemos o porquê do seu nome: é
que de facto, à volta do Rio Marnel existe uma grande zona pantanosa e lamacenta, e
daí talvez o seu nome.
Contudo, ao observar esta realidade percebemos desde logo que esta zona se
trata de uma paleo-lagoa, isto é, o rio deveria desembocar nesta zona mais ampla, e que
posteriormente, o seu caudal reduzia drasticamente, voltando a ser um pequeno curso de
rio, que mais a Sul desagua no Vouga.
A nossa posição baseia-se num exemplo mais a Sul, a conhecida Pateira de
Fermentelos. A realidade é praticamente a mesma: neste caso, o Rio Cértima alarga,
formando uma lagoa (de dimensões bastante maiores do que o caso do Marnel),
voltando a afunilar. Neste caso, o Cértima desagua no Rio que dá nome ao Distrito, o
Rio Águeda.
Percebemos também que em certas zonas desta Pateira de Fermentelos (nome
que é dada à dita lagoa), existem algumas zonas onde parece ter havido uma assoreação
propositada, para que certas zonas pudessem ser cultivadas. Poderá haver alguma
ligação com o caso do Marnel?
De facto, depois de analisar esta realidade, acabámos por propor uma outra
realidade para os diques que são visíveis, quer na carta militar quer na fotografia aérea,
do rio em questão. Poderão estas estruturas tratarem-se de diques não só de irrigação,
mas também de drenagem. (Anexo 21, 22, 23 e 24)
Justamente, faria bastante sentido que estes ali estivessem colocados de forma a
retirar a água destas zonas mais alagadiças, para que assim fosse possível a prática
agrícola nestes terrenos, que ao sofrer uma grande assoreação, estariam certamente
bastante férteis.
A própria adulteração do curso do Marnel poder-se-á ter prendido justamente
com esse factor, isto é, ao controlar o caudal e o seu curso, seria muito mais vantajoso e
prático o cultivo de todos aqueles territórios à sua volta. Tendo como exemplo a Pateira
de Fermentelos, ainda hoje em dia se podem ver terrenos de cultivo em plena lagoa, isto
é, em zonas que foram de alguma forma drenadas, sendo assim possível a prática da
agricultura.
A drenagem do Marnel deveria também irrigar todos os campos mais altos, o
que iria certamente beneficiar o carácter de fertilidade destes terrenos.
Contudo, na nossa opinião, o Mosteiro de Santa Maria de Lamas poderá ter sido
“deslocalizado” por estes fenómenos, uma vez que estes terrenos possam ter ficado
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
24
demasiado instáveis, tornando assim inviável a sua permanência, e de facto, ainda hoje
não existem construções tão perto do Marnel.
Assim, será legítimo pensar que na altura da instalação das comunidades, nesta
zona do Marnel seria ainda uma lagoa aberta? Ou será que esta paleo-lagoa já estaria
completamente assoreada durante este período? E como seria durante a Alta Idade
Média, e períodos Romano e anteriores? Qual será a cronologia para a construção destes
canais? Como devemos encarar esta realidade, que certamente, condicionaria de uma
forma extremamente veemente as comunidades aqui implantadas? Perguntas que, no
estado actual do estudo deste espaço, são impossíveis de responder.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
25
Conclusã o:
Com este trabalho tentámos perceber as dinâmicas do povoamento desde a época Pré –
Romana, à Baixa Idade Média, mas principalmente, o grande objectivo passou por
levantar problemáticas, questões e lançar a discussão ao resto da comunidade.
Por um lado, põe-se a possibilidade de terem existido contactos entre
comunidades indígenas e Fenícias, uma vez que os materiais provenientes da escavação
do Sítio da Mina revelaram materiais que nos remetem para essas cronologias. Por
outro, a instalação da Capela do Espírito Santo parece-nos ser claramente uma continua
sacralização de um mesmo espaço, em que esse processo poderá ser perfeitamente
associado a estas comunidades.
No que toca ao povoamento Romano, é ainda difícil perceber as suas dinâmicas.
As suas marcas foram deixadas no terreno, principalmente com a construção das vias,
da possível ponte e do grande assentamento que se instala no Cabeço do Vouga. No
entanto, a questão impõe-se: que tipo de assentamento seria? Seria uma capital de
Civitas? Seria, como propõe Vasco Mantas, uma importante estação viária? Será que o
Cabeço Redondo foi igualmente ocupado por estas comunidades? Que marcas efectivas
é que estas gentes deixaram nos terrenos à sua volta?
Ainda mais dúvidas existem sobre a transição da Alta Idade Média. Estas
comunidades poderão ter ocupado o Cabeço Redondo. Ou terão reocupado este espaço?
No estado actual dos nossos conhecimentos, é nos impossível perceber as dinâmicas
intrínsecas ao Mosteiro de Lamas, como a sua construção, que propriedades detinha, e a
razão para o seu desaparecimento. Contudo, uma pista importante para a compreensão
deste fenómeno poderá ser a análise das relações entre este, o Mosteiro de Lorvão, bem
como com a Sé de Coimbra. Seria bastante importante surgir um trabalho de
investigação dedicado a esta problemática, uma vez que talvez seja por esta pista que
poderemos compreender melhor as realidades do território na Alta Idade Média.
E em relação às marcas toponímicas deixadas pela presença Islâmica, que
poderemos dizer mais? Sabemos que no Oriente é muito comum a construção de
grandes diques e canais de forma a irrigar os terrenos à sua volta. Terão estas estruturas
uma influência Islâmica?
Quanto às terras do Vouga, estamos bastante convencidos que o centro
administrativo, o Castelo do Marnel, se localizaria no Cabeço Redondo, da mesma
forma que concordamos com as opiniões que afirmam que o Mosteiro de Santa Maria
de Lamas se encontraria onde hoje se localiza a necrópole do Passal. No entanto, não
conseguimos entender quais as reais dinâmicas destas comunidades. Onde seriam os
terrenos de cultivo? Como seria a sua circulação em todo este espaço? Haverá mesmo
um porto a Oeste do Vouga, ou a expressão “Porto” poderá reportar-se apenas à
confluência de vias?
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
26
Quanto ao Marnel, de quando será a grande construção de regularização do seu
curso? Seria toda a zona à volta do Rio, (na verdade a realidade que lhe dá o nome, uma
zona de Lamas) uma paleo-lagoa, sendo um fenómeno idêntico ao da Pateira de
Fermentelos? Se assim for, seria esta uma lagoa aberta em tempos mais recuados?
Quanto a nós, parece-nos evidente a questão das migrações toponímicas. Lamas
advém da transição do Mosteiro de Santa Maria de Lamas para a actual vila, e Vouga
advirá da antiga denominação do centro administrativo romano, Vacca, que ao ser
abandonado, o seu topónimo migrou com a sua população, instalando-se na actual
aldeia, a Norte de Lamas. Assim poderá ter nascido o topónimo Lamas do Vouga.
No final, há muito mais perguntas do que conclusões firmes ou seguras.
Contudo, parece-nos importante lançar este tipo de discussões, uma vez que as questões
que num momento parecem bastante banais, podem tornar-se numa complexa cadeia de
perguntas e dúvidas sem fim à vista.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
27
Bibliogrãfiã
ALVES, Francisco J. S. ;DIAS, J. M. Alveirinho: ALMEIDA, M. J. Rocha;
FERREIRA, Óscar; TABORDA, Rui: A armadilha de pesca da época romana
descoberta na praia de Silvalde (Espinho). O Arqueólogo Português, Série IV: Nº 6 e 7,
1988-1989, p. 187-226.
ANDRADE, Carlos; FREITAS, Conceição: Evolução do Litoral Português nos Últimos
5000 Anos: alguns exemplos. Al-Madan. Nº 7. Centro de Arqueologia de Almada,
1998. P. 64 – 70.
DIAS, J. M Alveirinho: Dinâmica Sedimentar e Evolução Recente da Plataforma
Continental Portuguesa Setentrional. Universidade de Lisboa, 1987.
FERREIRA, Delfim Bismark: A terra de Vouga nos Séculos IX a XIV: Território e
Nobreza. ADERAV: Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e
Cultural da Região de Aveiro. Aveiro, 2008.
GIRÃO, Amorim: Bacia do Vouga: Estudo geográfico. Imprensa da Universidade de
Coimbra, 1922.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A: Modelos de transformación del paisaje antiguo y
configuración de los nuevos espacios de ocupación en el norte peninsular. A Limia
en época medieval, Cursos de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo –
Campus de Ourense, 2010
HERCULANO, Alexandre: Portugaliae Monumenta Historica: Diplomata et
chartae. Volume I, Fasciculo II
LADEIRA, Francisco: Município de Águeda. Edição do Autor. Artipol, Águeda, 1982.
MADAHIL, Rocha: Estação luso romana do Cabeço do Vouga. Arquivo Distrital de
Aveiro, Volume VII, Aveiro, 1941. Páginas 227 – 258 e 313 – 369.
MATTOSO, José: “E Época Sueva e Visigótica”. In MATTOSO, J. (coord) História de
Portugal. Volume I. Círculo de Leitores, 1992. P. 300 - 359
MANTAS, Vasco Gil: A rede viária romana da faixa atlântica entre Lisboa e Braga
(Dissertação de doutoramento policopiada). Volumes I e II. Coimbra, 1996
SILVA, Fernando Pereira da (1996): Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga.
Relatório técnico-científico da campanha 1 (96),Relatório inédito. IPA, Lisboa, 1997
SILVA, Fernando Pereira da: Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga. Relatório
técnico-científico da campanha 3 (1998). Relatório inédito. IPA, Lisboa, 1999.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
28
SILVA, Fernando Pereira da: Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga. Relatório
técnico-científico da campanha 5 (2000). Relatório inédito IPA, Lisboa, 2001.
SOUSA BAPTISTA: Considerações sobre a Cidade Luso – Romana de Vacca, o
Julgado, e o Burgo de Vouga. Arquivo do Distrito de Aveiro, Vol. XVI, Aveiro 1950.
Páginas 81 – 117
TEIXEIRA, F. J. C. Mendes: Contribuição dos métodos geofísicos para o estudo da
evolução da Ria de Aveiro e da Plataforma Continental Adjacente. Universidade de
Aveiro. Licenciatura em Engª de Sistemas e Informática Universidade do Minho.
Aveiro, 1997.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
29
Anexos
Anexo 1:
Localização dos sítios referidos na Carta Militar 1/25000 (Carta nº 186) - As
coordenadas geográficas do sítio do Cabeço do Vouga são: 40.628247 N ; 8.467006 W
(WGS84). – Dados retirados do Site do Portal do Arqueólogo.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
30
Anexo 2
Planta das estruturas identificadas e escavadas do Sítio da Mina. (Silva, 2002, p. 27)
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
31
Anexo 3
“Vista geral da área escavada. Em primeiro plano, tramo sub-circular da
principal estrutura que domina este espaço; no “interior” vários muros, truncados,
de qualidades construtivas diversas. No canto superior direito da fotografia, canto
Noroeste da grande estrutura sub-rectangular” (Silva, 1999, p. 14)
Anexo 4
“Vista geral dos tanques e buraco de poste” (Silva, 2002, p. 27)
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
32
Anexo 5
Pormenor da Sapata.(Silva, 2001, p. 12)
Anexo 6
Distribuição espacial (provisória) de sítios e estações arqueológicas na área
do Cabeço do Vouga (Seg. a C.C.P., Esc. 1/50 000, Folha 16-B Águeda) (Silva, 1996, p.
13).
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
33
Anexo 7
Materiais provenientes do Sítio da Mina
Anexo 8
Localização do Sítio da Mina e do Possível Recinto e continuação do assentamento
Romano a Oeste.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
34
Anexo 9
Localização do Sítio da Mina e do Possível Recinto e continuação do assentamento
Romano a Oeste. – Fotografia aérea tirada em meados dos anos noventa. Obtida no site:
http://ortos.igeo.pt/
Anexo 10
Vias Identificadas por Vasco Mantas
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
35
Anexo 11
Localização da Estrada Mourisca
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
36
Anexo 12
Carta Militar 186, 1: 25 0000
Esquema Teórico Proposto para o Território do Marnel, bem como para a localização do
Castelo do Marnel.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
37
Anexo 13
Desenho retirado do trabalho de Sousa Baptista, aquando a escavação do Cabeço Redondo. A
– Cabeço da Mina ; B – Cabeço Redondo (Baptista, 1950, p. 83)
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
38
Anexo 14
Fotografia de Satélite Centrada no Cabeço do Vouga
Anexo 15
Ensaio de Fotointerpretação: Tentativa de Identificação de Estruturas no Cabeço Redondo
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
39
Anexo 16
Esquema Teórico de Área de Influência do Castelo do Marnel e do Mosteiro de Santa Maria de
Lamas
Anexo 17
Localizações Propostas por nós: O Castelo do Marnel e o Mosteiro de Santa Maria de Lamas.
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
40
Anexo 18
Localização do “Porto” de Bêlhe – Actual Vila Verde
Anexo 19
Ensaio de Fotointerpretação – Proposta de Localização do Porto Fluvial
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
41
Anexo 20
Ensaio de Fotointerpretação: Proposta de localização do Porto Fluvial, bem como a presença
de vias que são observadas quer da carta militar, como da própria fotografia aérea.
Anexo 21
Ensaio de Fotointerpretação: Identificação dos Canais de Drenagem e Irrigação do Marnel
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras Configurações e Dinâmicas do Território – Mestrado em Arqueologia e Território
2013
42
Anexo 22
Fotografia de Satélite da Pateira de Fermentelos
Anexo 23
Área de Cultivo actual na Pateira de Fermentelos