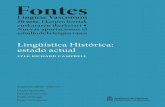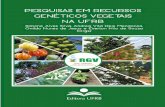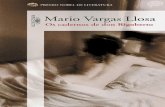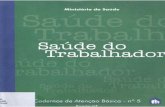CADERNOS DE PESQUISAS EM LINGÜÍSTICA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CADERNOS DE PESQUISAS EM LINGÜÍSTICA
ISSN 1808-3137
CADERNOS DEPESQUISAS
EM LINGÜÍSTICAPorto Alegre, Volume 1, Número 1, Agosto de 2005
_______________________________________
SESSÕES TEMÁTICAS DO6º ENCONTRO NACIONAL SOBRE
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM2003
Organização:Regina Ritter Lamprecht
______________________________________________________
Publicação do Program a de Pós-Graduação em Letras Faculdade de LetrasPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
Chanceler: Dom Dadeus GringsReitor: Ir. Joaquim ClotetD iretor da Faculdade de Letras:
Maria Eunice MoreiraCoordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras:
Regina Ritter LamprechtCoordenador do Centro de Pesquisas em Aquisição e Aprendizagem daLinguagem:
Regina Ritter Lamprecht
ISSN 1808-3137
CADERNOS DEPESQUISAS
EM LINGÜÍSTICA
Porto Alegre, Volume 1, Número 1, Agosto de 2005__________________________________________________
SESSÕES TEMÁTICAS DO6º ENCONTRO NACIONAL SOBREAQUISIÇÃO DA LINGUAGEM2003
Organização:Regina Ritter Lamprecht
REALIZAÇÃO :CENTRO DE ESTUDO S SO BRE AQ UISIÇÃO E APRENDIZAG EM DA LING UAG EMPROG RAM A DE PÓ S-G RADUAÇÃO EM LETRAS DAPO NTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO G RANDE DO SUL
De 01 a 03 de Outubro de 2003Porto Alegre, RS
ISSN 1808-3137______________________________________________________Publicação do Program a de Pós-Graduação em Letras Faculdade de LetrasPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Copyright © 2005 by Centro de Estudos sobre Aquisição e Aprendizagem da Linguagem -Program a dePós-Graduação em Letras da PUCRS
CONSELHO EDITORIAL
Carm en Lúcia Barreto Matzenauer (UCPel)Cláudia de Lem os (Unicam p)Jorge Cam pos (PUCRS) José Leda Bisol(PUCRS)Leonor Scliar-Cabral (UFSC) Letícia Sicuro Corrêa(PUC-Rio) Marcelino Poersch (PUCRS) ReginaRitter Lam precht (PUCRS) Ruth Lopes (UFSC)
Coordenação geral: Regina Ritter Lam prechtSupervisão geral: Regina Ritter Lam prechtRevisão: Carolina Cardoso Oliveira
Deisi Cristina Gollo Marques VidorExecução gráfica: Deisi Cristina Gollo MarquesVidor
Apoio:
Direitos de edição exclusivos do Centro de Estudos sobre Aquisição e Aprendizagemda Linguagem do Program a de Pós-Graduação em Letras da PUCRSAv. Ipiranga, 6681 – Prédio 8 – 4o andar – 90619-900 –Porto Alegre – RS Tel.: (51) 3320-3676
Sum ário
ApresentaçãoRegina Lamprecht
Sessões temáticas
Produtividade lingüística emergenteLeonor Scliar-Cabral
Investigação sobre leitura e o conhecimento metacognitivo de jovens leitoresHelena Ferro Blasi
As ferramentas CLAN aplicadas à segmentação e à variação dos itens iniciaisGabriel Sanches Teixeira
Ampliação e surgimento de novos campos semânticos – 3ª faseGlória Celeste Bahia de Brito
O ensino de homófonos não homógrafos: uma experiência em sala de aulaOtilia Lizete de Oliveira Martins Heinig
O discurso oral e a construção social do discurso escritoAna Maria de Mattos Guimarães
A argumentação na fala infantilCarmem Luci da Costa Silva
Concordância nominal de número e a aquisição de regras variáveisLuciene Juliano Simões
O contexto escolar e o desenvolvimento da escritaAna Maria de Mattos Guimarães
Representações de escrita: esse obscuro objeto do desejoMaria Cristina Corrêa
Surdos, leitura e escritaLodenir Becker Karnopp
Leitura e escrita de crianças surdas não alfabetizadas
Vera Lucia Andrade Manzini, Sandra Helena Andrade Mônaco, Fátima SaadXimenes, Cristina Elaskar de Almeida, Simone Soares Fontes, Maria Cristina daCunha Pereira
Sistema SignWriting: por uma escrita funcional para o surdoMarianne Rossi Stumpf
Leitura e escrita de surdos universitáriosLodenir Becker Karnopp
Reflexões sobre a aquisição do português escrito como segunda língua de uma criançasurda
Ana Cristina Guarinello
Desvios Fonológicos: caracterização, avaliação e terapiaAna Paula Fadanelli Ramos
Distúrbios fonológicos: perfil fonológico e inteligibilidade de falaAna Paula Fadanelli Ramos, Gabriela Lucas Pergher, Luciana Carreirão, JairMarques, Lisiane Collares
A escrita de crianças, jovens e adultos em perspectivaCátia de Azevedo Fronza
Reflexões sobre aspectos de aquisição fonológica na escrita de alunos das séries iniciaisCátia de Azevedo Fronza
Bilingüismo e alfabetizaçãoJoaquim Inácio Lunckes
O comportamento da nasal na linguagem escrita de crianças, jovens e adultosNoely Klein Varella
A consciência fonológica em adultos alfabetizadosGabriela Freitas, Deisi Marques Vidor
Um paradigma alternativo de aquisição da linguagemJosé Marcelino Poersch
A construção do signo verbal na visão conexionistaJosé Marcelino Poersch
Análise semântica latente (LSA): o mistério do significado verbal
Carlos Ricardo Pires Rossa
Algumas considerações sobre a proposta de Smolensky: o tratamento adequado doconexionismo
Adriana Angelim Rossa
Contribuições do paradigma conexionista à Teoria da OtimidadeGiovana Ferreira Gonçalves Bonilha
Competência e autoria na linguagem escrita: perspectivas complementares deanálise no processo e nas dificuldades de aprendizagem
Jerusa Fumagalli de Salles
Competência e autoria na linguagem escrita: perspectivas complementares de análise noprocesso e nas dificuldades de aprendizagem
Jerusa Fumagalli de Salles, Cleci Maraschin, Rochele Paz Fonseca, DeniseInazacki Rangel Perusso
A relação língua/texto na aquisição da linguagemPascoalina Bailon de Oliveira Saleh
Escrita infantil e os efeitos argumentativos produzidos no textoClaudia Mendes Campos
O narrador e a sua configuração lingüístico-textual na narrativa infantil escritaPascoalina Bailon de Oliveira Saleh
A criança, seu nome e a aquisição da escritaZelma R. Bosco
Erros na aquisição da flexão verbal: uma interpretação interacionistaIrani Rodrigues Maldonade
Lingüística e o sintoma da/na fala na aquisição desviante da linguagemValdir do Nascimento Flores
A lingüística na clínica de linguagemValdir do Nascimento Flores
Interrogações sobre uma falta comum: O sintoma na falaJoão Fernando de Moraes Trois
Um movimento possível do sujeito na linguagem: sintoma da/na fala
Luiza Milano Surreaux
Particularidades do sintoma da fala: apresentação de casos clínicosJefferson Lopes Cardoso, Fabiana de Oliveira
Aquisição do Português Brasileiro e atuação de restriçõesAna Ruth Moresco Miranda
As formas harmônicas da linguagem infantil e a atuação das restrições [SP R E A D ] e[AG R E E ]
Ana Ruth Moresco Miranda
A aquisição da fonologia e a síndrome de downGilsenira de Alcino Rangel
O status das consoantes pós-vocálicas no PB: uma comparação com a aquisição doholandês, sob enfoque da teoria de Princípios e Parâmetros
Carolina Lisbôa Mezzomo
A construção das classes formais do português por crianças brasileiras: uma proposta à luzda teoria da morfologia distribuída
Cíntia da Costa Alcântara
Cognição e leitura: aquisição e processamento em L1 e L2Rosângela Gabriel
Coesão lexicalMarco Antônio R. Vieira
Aspectos cognitivos envolvidos na compreensão em leituraRosângela Gabriel
Diferenças individuais na leitura em LE e suas implicações pedagógicasLilian Cristine Scherer
Processos de transferência do conhecimento fonético-fonológico do PB (L1) para oInglês (L2) durante a recodificação leitora
Márcia Cristina Zimmer
APRESENTAÇÃO
PUCRS
É com grande prazer que estam os lançando este primeiro núm ero dos Cadernos de Pesquisasem Lingüística, o qual vem som ar-se aos já consagrados Cadernos do Centro de PesquisasLiterárias da PUCRS; essas publicações refletem estudos e atividades levadas a efeito emam bas as áreas, no âm bito do Program a de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letrasda Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Este volum e, dedicado à Aquisição da Linguagem , reúne os trabalhos das Sessões Tem áticasdo 6º Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem , realizado com m uito sucesso emoutubro de 2003 no âm bito da PUCRS. Outros cadernos virão na seqüência, cada qual comsua própria tem ática e refletindo resultados de pesquisas institucionais e supra-institucionais nocam po do saber lingüístico.
Nosso desejo pessoal, e enquanto responsáveis pelo PPGL-PUCRS, é de que os Cadernos dePesquisas em Lingüística possam colaborar para um a m aior difusão e circulação dos estudosneste segm ento do saber acadêm ico, e que possam receber, dos colegas, um a boa acolhida.Estam os prontos a aceitar idéias e sugestões para seu aperfeiçoam ento, o que desde jáagradecem os.
Boa leitura.
Produtividade lingüística emergente
Leonor Scliar-CabralUFSC
Há anos venho coordenando pesquisas sob os auspícios do CNPq, cujo objetivo principal écontribuir para explicar um dos maiores enigmas em aquisição da linguagem : com o a criançadesmem bra a cadeia da fala que recebe para alimentar o léxico m ental ? Tal questão estávinculada a outra de não menor complexidade, qual seja, quais os itens que podem serconsiderados produtivos, inclusive os m orfem as presos, levando em consideração que a línguaportuguesa apresenta muitas flexões cumulativas.
Neste sentido, vários trabalhos foram desenvolvidos por bolsistas de iniciação científica,mestrandos e doutorandos e por m im própria, abrangendo desde as 50 prim eiras palavras, asproto-narrativas, bem com o a aprendizagem do sistem a alfabético do PB e o conseqüentedesenvolvim ento da consciência fonológica, o que possibilitará a reformulação dos lim ites dasunidades lexicais e o desmembramento consciente da sílaba.
Nesta coletânea, dois bolsistas de iniciação à pesquisa, Gabriel Sanches Teixeira e GlóriaCeleste Bahia de Brito, e duas doutorandas, Otília Lizete de Oliveira Martins Heinig e Helena FerroBlasi trarão à discussão novos aportes.
Teixeira aprofundará um a das questões mais intrigantes que é a distinção a ser feita entreas pausas plenas (preenchedores ou fillers) que m arcam o lugar de futuros morfemas ainda nãodom inados pela criança, como, por exem plo, pronomes pessoais, artigos e preposições e aspausas plenas de processamento, características dos fenôm enos de pausa hesitação, já que a suarealização fonética é muitas vezes homófona, embora o padrão global de entoação do enunciadoseja diferente. Brito se ocupará da am pliação e do refinamento dos campos sem ânticos,comparando três fases de uma mesma criança. Am bos pesquisadores se debruçam sobre osdados colhidos por Scliar-Cabral (1977) em sua tese de doutorado, agora disponíveis, inclusive emCD-ROM, no Banco Mundial CHILDES.
Heinig abordará a questão do ensino de homófonos não hom ógrafos num experimento deintervenção colaborativa realizada com alunos da 4a. série do ensino fundam ental em Brusque(Santa Catarina). Associando esta pesquisa ao tema central da sessão, cabe assinalar a existênciade um léxico m ental ortográfico para dar conta dos homófonos não hom ógrafos. A pesquisadoraapresentará as estratégias empregadas no experimento para desenvolvê-lo.
A fonoaudióloga Blasi apresentará em sua comunicação resultados da dissertação demestrado, na qual investigou o conhecimento metacognitivo sobre a leitura.
Conforme se pode depreender, o percurso para o desenvolvimento da produtividadelingüística vai desde a compilação não consciente das unidades m orfológicas, a partir dodesmem bram ento da cadeia à qual a criança está exposta, até o uso de estratégiasmetalingüísticas e metacognitivas, implementadas com o domínio da leitura e da escrita.
ReferênciaSCLIAR-CABRAL, Leonor. A explanação lingüística em gramáticas emergentes. Tese (Doutoradoem Letras). São Paulo : USP, 1977.
Investigação sobre leitura e o conhecimento metacognitivo dejovens leitores
Helena Ferro BlasiFaculdade Estácio de Sá
IntroduçãoApesar da im portância reconhecida conferida à leitura, não existem, nos currículos
escolares do ensino fundamental e médio, em nosso país, disciplinas específicas que se ocupemem formar leitores críticos e atuantes na reflexão do próprio processo de leitura. Entende-se, deuma maneira geral, que basta o aluno estar alfabetizado para que seja capaz de compreender eextrair informações de textos, atividades para as quais ele ainda, possivelmente, não estejapreparado. Este pode ser um dos motivos geradores de um sentido de derrota e desânimo frente àleitura, provocando um distanciamento cada vez maior da prática da leitura, em um ciclointerm inável.
O objetivo deste estudo, realizado com crianças da faixa etária de 13 a 14 anos de idade,alunos regularm ente matriculados na 8ª série do ensino fundam ental, é conhecer quem é o jovemleitor e suas concepções de leitura, observar o conhecim ento que tem a respeito da leitura e,acima de tudo, saber se faz uso de algum tipo de recurso m etacognitivo em leitura. De acordo comGrimm-Cabral (1991), para avaliar o conhecimento m etacognitivo em leitura dispõe-se de váriosmétodos, e a metodologia empregada neste estudo é a de relatos verbais através da proposiçãode situações hipotéticas aos sujeitos, com formulação de questões do tipo “o que você faria se ...?”Além das situações hipotéticas, formula-se um questionário que perm ita revelar a concepção que osujeito tem da leitura e como se caracteriza seu am biente fam iliar em relação aos estímulos paraleitura.
O que é leituraSob o ponto de vista psicolingüístico, ler é um processo que se inicia em nível perceptual,
no m om ento em que o leitor fixa os ícones na retina, e prossegue rumo à compreensão damensagem contida no texto (Gough, 1976). Entre estes dois momentos há uma enorme,sofisticada e complexa atividade cognitiva.
A mente humana é um grande repositório de conhecimento. Este conhecimento pode serdecorrente da experiência vivida pelo indivíduo no decorrer da vida ou proveniente da mais geralabstração buscada em algum tempo ou lugar em particular. O empenho para atingir acompreensão da leitura é um processo que se caracteriza pela utilização do conhecim ento prévio.O leitor lança mão, durante a leitura, do conhecim ento adquirido ao longo de sua vida e estadinâm ica é bem explicada pela Teoria dos Esquem as (Rumelhart e Ortony, 1977).
Leffa (1996) assevera que a capacidade de o leitor inferir detalhes que não foramexplicitamente mostrados gera um conhecimento que é o que pode ser definido como esquem a:sem acionar o esquema adequado o leitor não pode precisar o que é mais ou menos im portantenum texto, fato que deverá comprom eter o processo de com preensão.
Esquemas são unidades im portantes no processo de compreensão. A com preensão podeser considerada como a seleção dos esquemas e dos elos variáveis que darão conta do material aser compreendido. Os esquem as, portanto, se traduzem com o unidades imprescindíveis noprocesso de compreensão.
M etacogniçãoO leitor possui a capacidade de avaliar se está atingindo a compreensão, se ela é parcial
ou total ou, ainda, se o texto não está fazendo sentido algum, interagindo com o texto e buscandoo emparelham ento das informações adquiridas com os esquem as existentes em sua m em ória. Acompreensão de um texto se caracteriza, então, pelo acionam ento do conhecim ento prévio. É
através da somatória de vários níveis do conhecimento, como o lingüístico, o textual e oconhecim ento do m undo, que o leitor encontra coerência na leitura. No entanto, o leitor devepossuir a capacidade de avaliar a qualidade de sua própria compreensão. Esta auto-reflexão queacompanha o indivíduo é que podemos reconhecer como um a atividade de metacognição emleitura. É o monitoram ento que perm ite que ele se questione, não somente a respeito do conteúdode sua leitura, mas também quanto aos processos que conscientemente utiliza para atingir acompreensão do material lido.
A pesquisa sobre m etacognição tem por objetivo obter dados sobre o que o leitor sabe arespeito do processo de leitura em si, além de tentar descrever estratégias usadas em busca dacompreensão da leitura e tecer considerações sobre atitudes que, direta ou indiretamente, revelemcomportamentos de monitoramento m etacognitvo.
Estratégias m etacognitivasCohen (1987) afirma que estratégias de leitura se referem àqueles processos m entais que
os leitores conscientemente escolhem para auxiliar e completar o processo de leitura e m enciona adistinção que faz entre habilidade em leitura e estratégia em leitura. Segundo o autor, a habilidadese refere a técnicas usadas autom aticamente e aplicadas ao nível do reconhecimento ecorrespondência grafem a-fonem a de m aneira inconsciente. Uma habilidade pode tornar-se umaestratégia quando for usada intencionalm ente.
A pesquisa e sua m etodologiaOs sujeitos alvo desta pesquisa foram oitenta e cinco (85) crianças da faixa etária de 13 a
14 anos de idade, de am bos os sexos, regularmente matriculados na 8ª série do EnsinoFundamental de um colégio particular da cidade de Florianópolis.
Foram levantadas algum as questões que propiciassem um acesso ao conhecimentometacognitivo em leitura:
1. Existe consciência por parte do aluno de que o uso de um procedim entofacilitador venha m elhorar a qualidade da leitura ou de uma situação deaprendizagem em particular?
2. Os sujeitos fazem uso de estratégias metacognitivas? Estas estratégias sãousadas de form a autom ática, ou são programadas em busca da compreensão?
3. Quais as estratégias mais utilizadas pelo grupo pesquisado?4. O conhecim ento de técnicas de leitura/estudo evolve espontaneamente ou é
fruto da instrução escolar?
Resultados obtidosOs resultados atingidos são aqui apresentados e discutidos à luz das questões de
pesquisa:A questão 1 foi classificada como a de maior importância neste trabalho. Estudar
metacognição envolve diretamente a investigação da consciência que os sujeitos têm a respeitodos caminhos que utilizam para atingir a com preensão.
Os sujeitos analisados referem que o seu desempenho em leitura pode ser facilitado pelautilização de procedimentos e técnicas, afirmação alicerçada pela análise de comportamentosvariados objetivando a leitura como construção consciente do significado.
Quanto à questão 2, a pesquisa não observou diretamente o uso de estratégias e simcolocou aos sujeitos questões hipotéticas a respeito. O uso de estratégias é m uito pouco relatado,demonstrando que não há uma reflexão sobre elas e, portanto, não são comportamentosmetacognitivos.
Em relação à questão 3, embora o uso de estratégias não faça parte do comportam ento deleitura dos sujeitos investigados, dentre as mais usadas estão as que envolvem releitura doparágrafo ou do texto, quando ocorre falha de compreensão.
Pode-se depreender da questão 4, que o conhecim ento e o uso de técnicas de leituraevoluem não só acom panhando os estágios de desenvolvimento do indivíduo, como tambémderivam das inúmeras atividades escolares voltadas à leitura. Os dados colhidos apontam paraesta direção, no entanto, não se pode ser categóricos neste sentido, pois o instrumento de
pesquisa não se mostrou eficiente para alcançar um a resposta confiável para este questionam ento.Há, na realidade, uma concorrência de fatores que desencadeiam tal desenvolvimento, o primeiro,de ordem maturacional, em que a criança aperfeiçoa habilidades cognitivas quanto ao uso detécnicas de leitura assim como a noção do que seja sucesso, haja vista que, na fase deaprendizagem do processo de leitura, o sucesso está em decodificar os símbolos gráficos, o quedeixa de ser o objetivo da leitura para o leitor mais experiente.
O outro fator é fruto da escolarização, durante a qual se passa a dom inar as técnicas deleitura, cujo efeito se dá no próprio desempenho do processo. É norm alm ente na escola que osujeito passa não só a fazer uso em m aior escala de técnicas de leitura, como também, numprocesso de auto-conhecimento, privilegiar o uso de determ inadas atitudes que considera m ais emdetrimento de outras.
Os resultados obtidos na pesquisa dem onstram que o comportamento de leitura dossujeitos é caracterizado pelas atitudes de com preender a m ensagem do texto em busca de umsentido para a leitura, procurar reconhecer o significado das palavras e prestar maior atenção àspalavras que transmitem maior informação, conforme Cohen (1987). A utilização de estratégiasmetacognitivas não é significativa, tendo em vista os núm eros levantados na pesquisa. A respostamais privilegiada é a ausência de comportamento específico em busca da compreensão. Há,entretanto indícios da realização de m onitoramento efetivo, pois uma parcela de sujeitos, emborapequena, já faz uso de estratégias m etacognitivas de forma consciente e program ada.Possivelmente, com o desenvolvimento escolar e o am adurecimento cognitivo, estes mesmossujeitos venham, mais tarde, a fazer uso de estratégias metacognitivas em m aior escala. Reler commais atenção o texto na expectativa consciente de que isto irá ajudar a compreensão, apesar dedemonstrar uma certa ineficiência na leitura ou comportamento próprio de maus leitores, reflete oemprego de atitude corretiva, isto é, aplicação de uma estratégia metacognitiva.
Considerações finaisOs resultados colhidos na pesquisa demonstram que o comportamento de leitura dos
sujeitos é caracterizado pelas atitudes de com preender a m ensagem do texto em busca de umsentido para a leitura, procurar o significado das palavras e prestar maior atenção àquelas commaior informação, tendo como recurso o uso das estratégias de leitura. No entanto, os professorescostumam queixar-se de que o uso de estratégias precisa ser constantemente lembrado aosalunos.
A utilização de estratégias m etacognitivas é significativa, conforme os números levantados,apesar da resposta m ais privilegiada ser a da ausência de comportamento específico em busca dacompreensão. Há, entretanto, indícios de que se delineia o monitoram ento efetivo, uma vez queuma parcela de sujeitos, embora pequena, já faz uso de estratégias metacognitivas de formaconsciente e programada.
É deste processo de auto-regulação que as crianças precisam para se tornarem leitoreseficientes, o que leva a pensar na eficácia da instrução com o objetivo de desenvolver aautoconsciência do leitor para aprimorar o desempenho em leitura. Retomando Baker e Brown(1984), o treinamento e desenvolvim ento da autoconsciência do leitor e do controle de suacompreensão levam ao sucesso da leitura.
Este treinam ento e desenvolvimento da autoconsciência do leitor pode ser relacionado aodesenvolvim ento escolar, já que é na escola que normalmente se realizam atividades voltadas àleitura que contribuem para o aprimoramento da metacognição.
ReferênciasBAKER, L., BROW N, A. L. .Metacognitive skills and reading. In: PEARSON, D. (org.). Handbook ofreading research. Londres: Longman, 1984. p. 353-394.COHEN, A. D. Recent uses of mentalistic data. Reading Strategy Research. Delta, v.3, n. 1, p.57-84, 1987.GOUGH, P.B. One second of reading. In: SINGER,H., RUDDELL,R.B. (orgs.). Theoretical m odelsand processes of reading. Newark, DE: International Reading Association, 1976. p. 509-535.GRIMM-CABRAL, L. An Avaliation of reading strategies assessment through the use of verbalprotocols. Pilot testing.1991(Trabalho de pesquisa não publicado).LEFFA, V. L. Aspectos da leitura: um a perspectiva psicolingüística. Porto Alegre: Sagra, 1996.
RUMELHART, D. E., ORTONY, A. The Representation of Knowledge in Memory. In ANDERSON,R.C., SPIRO R.J., MONTAGUE, W .E. (orgs.). Schooling and the Acquisition of Knowledge.Hilldasle, NJ: Erlbaum, 1977. p. 99-135.
As ferramentas CLAN aplicadas à segmentação e à variação dositens iniciais
Gabriel Sanches TeixeiraUFSC
IntroduçãoUm dos grandes problemas anteriores à informática era a falta de padronização no que se
referia à codificação dos dados, o que dificultava, se não im pedia, a análise dos mesmos dadospor outra pessoa que não os tivesse transcrito e codificado (MacW hinney, 2000). Assim , em 1984,em um encontro de pesquisadores da linguagem da criança se lançou formalm ente o CHILDES. OChild Language Data Exchange System foi desenvolvido, então, para, tanto quanto possível,m inim izar os problemas envolvidos na coleta, transcrição e análise de dados, pois propõe apadronização das codificações envolvidas na transcrição dos m esmos. O sistema é composto,grosso modo, por três componentes: o próprio banco de dados; o formato de transcrição e acodificação CHAT (Codes for Human Analysis of Trancripts); e o pacote de ferramentas CLAN(Computadorized Language Analysis) (ibid.).
Através do banco de dados CHILDES, pesquisadores de todo o mundo têm acesso, viainternet, a uma ampla variedade de dados transcritos e codificados no form ato CHAT referentes avárias línguas. Os arquivos transcritos são constituídos por três componentes (MacW hinney, 2000;Batoréo, 2000): cabeçalhos; linhas principais e linhas secundárias. Os primeiros correspondem àsinformações a cerca dos dados transcritos no arquivo, por exemplo: idade dos sujeitos, sexo, datada coleta, etc. As segundas recebem as transcrições da produção lingüística propriamente dita eas terceiras variam de acordo com as necessidades de cada pesquisador, podendo ser em númerobastante variado.
O pacote de ferramentas CLAN pode ser aplicado de várias maneiras aos dados, m as suasprincipais ferramentas estão associadas às linhas secundárias, que podem ser, entre outras:transcrições fonéticas (%pho); descrições m orfológicas (%mor), etc. Mas m esm o que essas linhasainda não tenham sido adicionadas, alguns programas podem ser aplicados à transcrição, porexemplo: contagem de freqüências, buscas lexicais, cálculo superficial do E.M.E. (M.L.U.), análisesinteracionais, etc.
Mas aplicar as ferramentas CLAN à segm entação e variação dos itens iniciais é algo m uitoamplo. Primeiro, porque são várias as ferram entas disponíveis e, depois, cada uma tem um afunção específica.
Nesta com unicação, optei pela descrição dos preenchedores de enunciados e das pausasplenas no processo de aquisição do PB, a serem observados nos dados disponíveis do sujeito Pá,que estão na plataforma CHILDES, a fim de verificar se os contextos onde eles ocorrem em umafase são os mesmos onde eles ocorrem na fase seguinte e, com isso, ver se são nesses contextosque os itens funcionais começam a surgir mais sistematicamente, pois crianças não usam ospreenchedores da m esma forma que os adultos, salvo no caso do fenôm eno das pausas ehesitações (Scliar-Cabral & Araldi, 1998).
Os preenchedores são normalmente descritos como sílabas ininteligíveis, de caráteridiossincrático ou não, convivendo com seqüências m ais “produtivas” ou m ais “semelhantes às doadulto”, geralmente na fase de produção de enunciados de um a palavra (Scarpa, 1999) e há,segundo o que pude observar nos dados, e na bibliografia até o mom ento consultada, três tiposprincipais de preenchedores ( Scliar-Cabral & Araldi, 1998; Scarpa, 1999; Scliar-Cabral & Araldi,2001; Scarpa, 2003): a) os que complementam um grupo tonal ou rítm ico; b) os que tam bém sãodenominados de guardadores de lugar sintático, e c) os que podem ser caracterizados comopausas plenas.
Os primeiros são os que aparecem na fases mais iniciais da aquisição, na produção oraldas crianças, preenchendo grupos tonais, e se caracterizam pelo fato de a parte segmental servir
de apoio ao grupo tonal, ocorrendo tanto no início, como no meio ou no fim dos enunciados(Santos; 1995). Os segundos ocupam, normalmente, segundo a literatura para o PB, a posiçãopré-tônica, combinados com formas verbais ou nominais, o que evidencia, mais uma vez, adiferença entre vocábulo fonológico e vocábulo m orfológico no PB, pois, do ponto de vistafonológico, os preenchedores são dependentes do item seguinte com sílaba de intensidade m aisforte, integrando, assim, um padrão entoacional. Já do ponto de vista morfológico, essespreenchedores prenunciam futuros morfemas livres que a criança ainda não domina por falta dematuridade articulatória ou cognitiva (Scarpa: 1999; Scliar-Cabral & Araldi, 2001), com o, porexemplo: pronomes pessoais, determ inantes e preposições. Os últimos são os que auxiliam acriança no planejam ento e na execução de enunciados maiores que os de um a palavra (Scliar-Cabral & Araldi, 2001) ou m esmo na busca de um item nos enunciados de um a palavra. Por isso, ovocábulo é truncado, o sujeito faz várias tentativas e o mesmo preenchedor é repetido algumasvezes, o que, a m eu ver, m arca a pausa e/ou hesitação, fazendo, assim , com que o padrão deentoação seja rompido e/ou venha acompanhado de silêncio. Embora os segm entos, em ambos oscasos, nos dados analisados, sejam por várias vezes idênticos, a função inferida, como mostradoanteriormente, caracteriza a diferença entre eles.
M ateriais, m étodos e discussãoOs dados do sujeito Pá foram coletados em 1974, na cidade de São Paulo, estando
presentes durante as interações, além da pesquisadora, a m ãe, o pai e, às vezes, a em pregada. Aprimeira coleta foi feita quando a criança estava com 20 m eses e 21 dias, num total de 5 horas degravação, somando 1331 enunciados da criança e tantos outros dos adultos (Scliar-Cabral,1977).A segunda coleta ocorreu quando a criança estava com 22 meses e 20 dias, perfazendo 6 horasde gravação, e se constituiu de 1033 enunciados da criança. (ibid.).
Trata-se de uma pesquisa longitudinal, em situação natural e, por isso, os pais foramorientados a manter um comportamento espontâneo (ibid.). As situações, normalmente,abrangeram: brinquedo em várias de pendências da casa; banho; refeição e assistir a filme (ibid.).
Esses dados estão à disposição na plataform a CHILDES. Todo o corpus precisou serrecodificado, principalm ente, em relação às fontes utilizadas para a transcrição. Com os dados jácodificados, passei para a aplicação da ferramenta KW AL. Essa ferram enta faz um a varredura nocorpus e busca as ocorrências de determ inados itens, nos respectivos contextos, criando um novoarquivo que contém o resultado de acordo com o indicado na linha de com ando. No casoespecífico, os preenchedores deveriam vir assinalados com o sinal @ fp para que pudessem serlocalizados pelo programa, como no exemplo:
(1) *MOT: isso não é pra pôr aí [= lápis], [//] não.*CHI: n(ão)@fp 0é pa(ra) pô(r).
Após a m arcação, dividi os enunciados, excluindo os que foram considerados repetições eos parcial ou totalm ente ininteligíveis, em outros arquivos contento os enunciados em que ospreenchedores correspondiam à: preposições, determ inantes, pronomes, negação, resumitivos deverbos auxiliares e pausas e hesitações.
1ª Fase (20.21)Nessa fase a Extensão Média dos Enunciados (M.L.U.) é de 1.45. Dos 1331 enunciados da
criança excluí 65, que foram considerados repetições ou eram parcial ou totalm ente ininteligíveis.Os outros enunciados foram divididos, segundo a ocorrência dos preenchedores:
Determ inantesNessa categoria ocorreram quatro tipos diferentes de realizações fonéticas para os
segmentos preenchedores: , Na maioria dos casos eles ocorrem na posição pré-tônica,articulados junto à formas verbais ou nom inais.
(2) *MOT: que foi?*CHI: <u@fp dodói> [=! choramingando].
(3) *INV: que que é isso?*CHI: é u@fp catiti [= chave].
(4) *CHI: m@fp m@fp babá@f.
*MOT: é de fazer barba.
(5 %act : Est está mostrando o barbeador*CHI: u@fp babá@f.
(6) *CHI : a@fp nenê.
Embora eu esteja considerando essas partículas como prenunciadoras da categoria dedeterm inantes, é necessário ter cautela em relação à com petência lingüística da criança, haja vistao fato de, em alguns casos, não haver correspondência entre preenchedor/Nome, no que dizrespeito à classificação adulta masculino versus fem inino e também a flutuação em relação aosusos dos diferentes preenchedores nos m esm os contextos, como pode ser observado nosexemplos acima Mas, para afirm ar que esses preenchedores têmúnica e exclusivam ente a função de com pletar um grupo tonal ou rítm ico, seria necessário umestudo detalhado da estrutura prosódica de todos os enunciados do sujeito, pois, se o argumentoda flutuação pode servir de base para essa hipótese, ele também pode servir de sustentação paraa em ergência das categorias sintáticas nas fases iniciais do desenvolvimento da linguagem infantil,devido ao fato de que a criança ainda não dom ina essa categoria, o que bem pode ser observadonos dados: em m uitos casos, onde o seu uso seria obrigatório, eles não ocorrem e, em outros, nãoobedecem à flexão.
NegaçãoNa primeira fase poucos foram os exemplos de negação em que a criança não usou a
form a adulta [ preferindo, em seu lugar, o preenchedor []:(7) *CHI: <m @fp> [= não] vo-0u.
PreposiçõesAs ocorrências de preenchedores em posições que seriam ocupadas por preposições, na
primeira fase, também são em número bastante reduzido, predominando a função locativa.(8) *CHI: <m @fp> [= no] botão 0do papai.
Pronom eHá flutuação, nos enunciados, onde o pronome pessoal de 1ª pessoa do singular é usado,
ocorrendo ora com o [], ora como . No entanto, a emergência da 1 ª pessoa do discurso não sedá de forma consistente, porque o verbo usado, na m aioria das vezes, é a forma não m arcada, ouseja, a 3 ª pessoa do singular e, em várias ocorrências, o preenchedor não comparece (Scliar-Cabral & Araldi, 1998). Em contrapartida, o pronom e dem onstrativo [] é bastante produtivo,principalmente em respostas dadas aos interlocutores.
(9) *CHI: esse aqui.
(10) *CHI: eu que-0r bá@ f.
Auxiliares Resum itivos
Esses preenchedores ocupam o lugar destinado a um verbo auxiliar na 1 ª pessoa do plural,mas carecem de m arcas de pessoa e número. Não são muito produtivos, sempre representadospelo preenchedor []:
(11) *CHI: m@fp pô-0r [= vam os pôr] gagá@c [= música]?
HesitaçõesOs enunciados contendo hesitações são bastante freqüentes na fala da criança nessa
fase, seja porque a criança não consiga acessar o item imediatamente ou porque não dom ine osgestos articulatórios, ocorrendo, principalm ente, falsos com eços.
(12) *CHI: km@fp [/] <caneta> [>] papel.
(13) *CHI: &ma &ma máquina.
(14) *CHI:&a &a &a &a aqui.
2 ª Fase (22.20)
Na 2ª fase, a E.M.E. do sujeito é de 2.40. Cinqüenta enunciados foram excluídos porserem repetições ou por serem parcial ou totalmente ininteligíveis. Como na fase anterior, osenunciados em que houve a ocorrência dos preenchedores foram separados segundo as m esmascategorias:
Determ inantesAo contrário da fase anterior, a criança parece já estar usando m ais sistematicamente os
determ inantes que satisfazem a oposição entre masculino e feminino, segundo o modelo adulto.Algum as vezes o preenchedor [] ainda é usado, mas não tão freqüentem ente quanto antes. Outradiferença é que começa uma incipiente diferença entre os artigos definidos e os indefinidos.
(15) *CHI: a maçã.
(16) *CHI: é o boi.
(17) *CHI:um pouco limpar.
Negação
Em com paração com a fase anterior, o preenchedor ] é muito mais produtivo, ocorrendo nagrande m aioria dos enunciados:
(18) *CHI:não caibo.
(19) *CHI: não tem bá@f?
Preposição
Em relação às preposições, o sujeito apresenta grande variabilidade, e geralmente não seassem elham ao modelo adulto, observando-se, também, a inadequação em alguns casos, no quediz respeito à diferença m asculino/fem inino. Os preenchedores que prenunciam as preposiçõesprivilegiam as funções locativa e possessiva.
(20) *CHI:lá no meu quarto.
(21) *CHI: casa da Chefe.
Pronom es
A variabilidade na realização do pronome da 1 ª pessoa ainda é grande, mas parece jáhaver uma preferência pelas form as [], ] e [] em detrimento de []. Com o na 1ª fase, algum asrealizações são acom panhadas de algum as form as verbais conjugadas ainda, na 3 ª pessoa, m as onúmero das que são conjugadas na 1 ª, comparando-se com a 1ª fase, é bem maior.
(22) *CHI: eu quer café.
(23) *CHI: eu quero café.
(24) *CHI: eu quero.
(25) *CHI: eu quer beber.
(26) *CHI: eu vou usar outra cueca.
Auxiliares Resum itivosNa 2ª fase esse preenchedor foi bem m enos em pregado, sem, no entanto, ter sido ocupada a sua
posição pela forma adulta ou outra sim ilar. Os enunciados contendo esse tipo de auxiliar foram bastante reduzidos.(27) *CHI: vamos ligar a gagá@c [= gravador].
HesitaçõesDos enunciados com mais de dois itens, os que apresentam qualquer tipo de pausa ou hesitação são os que
em maior número ocorrem nos dados analisados. Na segunda fase, como na primeira, a maior ocorrência é de falsoscomeços.
(28) *CHI: &ca [/] cai~u água.
(29 *CHI:<não é> [//] <não &m > [//] <não é> [/] não é para com er # não.
Considerações finais
A busca pelos preenchedores nos dados m ostrou que a codificação é de fato m uito trabalhosa e sempreimperfeita, o que me fez despender muito tempo na reconfiguração.
Uma primeira análise dos dados me leva a crer que a criança começa a segmentar a cadeia da fala e aatribuir significados aos preenchedores e sucessivamente os vai adequando ao modelo adulto. Mas essa hipótese sópode ser confirmada a partir de um estudo estatístico das ocorrências. Dando continuidade ao trabalho, quero fazer olevantam ento do preenchim ento/não preenchimento de todos os itens funcionais em todos os enunciados do sujeitonas três fases diferentes dos dados, a fim de comparar esses com os obtidos em outros estudos.
ReferênciasBATORÉO, H. J. Expressão do espaço no português europeu. Contributo psicolingüístico para o estudo da linguagem ecognição. Coimbra: Fundação Calouste Gulbekian, 2000.MacW HINNEY, Brian. The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk – The Database. 3 ed. NewJersey: Lawrence Erlbaum, 2000.SANTOS, Raquel S. Retomando a questão dos filler-sounds. Anais do XXIV seminário do GEL. São Paulo, 1995.SCARPA, Ester M. Sons preenchedores e guardadores de lugar: relações entre fatos sintáticos e prosódicos. In: SCARPA,Ester. M. (Org). Estudos de prosódia. Cam pinas: Editora da Unicam p,1999._____________. A natureza dos sons preenchedores na aquisição da linguagem. Cópia nãopublicada, 2003.SCLIAR-CABRAL, Leonor. A Explanação Lingüística em Gramáticas Em ergentes. Tese (Doutorado em Lingüística),Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.______________________; ARALDI, D. Estatuto dos Preenchedores de Enunciado em Aquisiçãoda Linguagem. MACARIO LOPES, Ana Cristina; MARTINS, Cristina (Orgs.). Actas do XIV EncontroNacional da APL. (Aveiro, 28-30/09/1998). Lisboa: APL, v. II, p.413-418, 1998.______________________; ARALDI, D. Preenchedores de Enunciado em Aquisição daLinguagem. In: HERNANDOREÑA, Carmen L. M. (Org). Aquisição de Língua Materna e de LínguaEstrangeira. Pelotas: EDUCAT, 2001.
Ampliação e surgimento de novos campos semânticos – 3ª fase
Glória Celeste Bahia de Brito [email protected]
Dentre os aspectos já pesquisados no português do Brasil como primeira língua, a estruturação do léxicoe da memória sem ântica ainda carece de estudos, especialm ente sobre a organização dos cam pos semânticos, bemcom o novas especificações sobre a morfologia verbal: tempo, aspecto, modo, pessoa e número. O projeto ESTUDOSO BRE O LÉXICO E CAMPOS SEMÂNTICOS EM UMA CRIANÇA vem sendo desenvolvido dentro do Grupo dePesquisa Produtividade Lingüística Emergente, coordenado por Scliar-Cabral.
HistóricoUtilizou-se o banco de dados do sujeito Pá, no qual, para a transcrição dos dados, seguiram-se os
critérios estabelecidos por Brown (1973, p.54) e os padrões de entoação de J. Matluck. Estes dados integram a teseA explanação lingüística em gram áticas emergentes (Scliar- Cabral, 1977). A coleta de dados foi de caráter longitudinal eem situação natural.
Desde agosto de 2001 a novembro de 2002 a bolsista anterior do projeto, Marcéli ReginaPossamai, ocupou-se do tratamento inicial dentro da plataform a CHILDES (Child Language DataExchange System) para o formato de transcrição CHAT (MacW hinney, 2000).
Possamai reorganizou as linhas e trocou a fonte das linhas correspondentes à fala doSujeito Pá na 1ª e 2ª fases. Esses ajustes feitos de forma m anual perm itiram a am pliação do usode ferramentas utilizadas na contagem e análise do material. As três fases estão atualizadas no form ato CHAT (Codesfor the Human Analysis of Transcripts) e foram codificadas por Possamai, Marcéli R.; Teixeira, Gabriel S.:1ª fase, 9.927linhas e 2ª fase, 16.833 linhas; Brito, Glória C.B., 3ª fase, 14.530 linhas
Logo após meu treinamento inicial, comecei o tratamento manual das informações daterceira fase, conforme descrito anteriormente. Nesta comunicação, apresento os resultados do levantam ento doléxico, relacionados à ampliação e ao surgimento de novos campos sem ânticos, comparando-os com a análise dePossam ai (2002).
M etodologiaOs referenciais teóricos em que se apoiou a presente pesquisa são Barret (1997), Batoréo
(2000), Clark (1997) e Scliar-Cabral (2002).Para a tabulação dos itens, aplicou-se a medida tipo e ocorrência (type/token). A contagem
e separação dos itens lexicais da 1ª fase foram feitas de forma m anual; em seguida, a contagem das ocorrências foiconfirm ada pelo programa CLAN. Para a 2ª fase, foram feitos o levantamento dos itens lexicais e a separaçãotipo/ocorrências de forma manual, porém a contagem das ocorrências foi toda através do programa.
Já para a 3ª fase, todo o trabalho foi feito digitalmente. Em seguida, foi feita um acategorização em cam pos semânticos, através da inferência dos sentidos atribuídos pela criança, nos mesm oscontextos e funções de uso, bem como pela rede de relações semânticas entre os itens. Com este trabalho,podem os inferir, por exemplo, a evolução do grau de maturidade lingüística da criança à medida que se organizam ese refinam os cam pos semânticos.
Precisam os esclarecer que neste levantamento e separação iniciais deu-se prioridade aositens novos. Assim , a contagem da segunda fase incluiu apenas os itens novos e/ou modificados, e assim por diante. Scliar-Cabral (1977, p. 24) afirma que
“Alguns processos em pregados pela criança com o a supere infrageneralização são exemplos de com o a estruturação do componente semânticonão coincide com a do adulto. Nosso sujeito em pregava gagá para significar: “Queroouvir música” ou“liga o toca-discos”, “gravador”, “um tipo especial de música”, ouseja, “os discos do Luís Gonzaga”, “música”; catiti para significar“chave”, “o ato de simular que está abrindo com uma chave o botão dacamisa ou paletó do pai”. Note-se que esta cunhagem foi feita porassociação entre o ato de ligar a ignição do carro e o enunciado que oacompanhava “...o carro da titia”, onde nem sequer se menciona oitem “chave”; observe-se ainda que, enquanto na expressão “o carroda titia”, podemos segmentar vários itens, em catiti, seguramente sópodem os considerar a existência de um . Mas como decidir se se trata deduas entradas, um a como nome, outra com o verbo quando empregadas nasduas interpretações distintas às quais aludim os acima? O mesmo serefere à codibá, item que a criança usa quando carimba, ou para solicitar ocarimbo.”
Tabela 1. Evolução da denom inação de uma m esma referência.ITEM 1a FASE 2a FASE 3a FASEC h ave C aneta [
L áp is
C arro
C ach orro
Uma observação a ser feita na tabela acima é que, na 1ª fase, o sujeito Pá nomeava osanimais de estimação, dem onstrando que começava a diferir o cachorro do avô de outras classes decachorro. Isto fica mais evidente nas fases seguintes. Exs:
1ª fase*MOT: como é que chama o auau do vovô, ein?*CHI: auau auau Ma(i)qui!
2ª fase:*MOT: Agora você pode contar pra titia viu, Paulo? com o é que cham a o auau do Vovô
Gordão. como é que chama?*CHI: Moquito.*MOT: Moquito. e o outro? como chama o outro?*CHI: Big.*MOT: como é?*CHI: Big+Mack.
Outra observação que pode ser feita é que, apesar de não ter noção de núm eros, a criançajá apresenta uma noção de quantidade:
*MOT: quantos pés tem o jacaré?*CHI: t(r)ês.*MOT: ele sabe que tem que responder um núm ero, mas não sabe quanto.
Possamai (2002) demonstra ainda o aparecimento das categoria de “posse” e “finalidade”. Embora o sujeitoinvestigado ainda não use as preposições para explicitar a posse, tal sentido pode ser inferido pelo contexto, epela posição obrigatória entre possuído e possuidor (sempre[+humano], conforme exemplificado em botão (do) papai, dedo (da) mam ãe, sabão (da) vovó, (do) P., nenê (do)papai, álcool (da) m am ãe E. A construção preparar feijão pra papar (oração subordinadareduzida de infinitivo) inclui finalidade. O operador “para” indica que a criança já está lidando com essa categoria.Segundo Scliar-Cabral (1977), as orações reduzidas de infinitivo aparecem antes das dem ais porque a extensãodo enunciado é muito menor; não há flexões(desinências), dispensando assim o domínio de relações m ais complexas como a concordância.
Na 1ª fase analisada, a produção lexical do sujeito investigado resultou em 9 cam pos semânticos. A m aiorparte dos itens lexicais refere-se ao contexto imediatam ente circundante. Issose aplica desde os locativos até as palavras usadas em contexto de m edicação e/ou toalete,passando pela alim entação, em que são expressos os alim entos que ela m ais aprecia. O cam po semântico com omaior número de itens é o lúdico, justamente pelo fato de que quase tudo o que acontece em torno da criança étransformado em brincadeira. Dentro desse campo, ainda, pode-se perceber que a criança já faz, seguramente, adistinção entre alguns “bichos". Eles são identificados por traços conotativos geralm ente do corpo (bico, pata,asa, etc.) e pelos sons produzidos (as onomatopéias), sendo que essas últim as são o recurso m ais utilizado pelosadultos para ensinar à criança a diferença entre um animal e outro.
Tabela 2. Núm ero de itens lexicais novos/modificados para cada campo semântico, por fase.
CAMPO SEMÂNTICO 1a FASE 2a FASE 3a FASELúdico 31 09 17Seres Anim ados 16 05 03Toalete/ Medicam entos 12 04 02Locativos 07 15 03Alimentação 07 11 00Dêiticos 06 02 03Corpo 04 05 05Vestuário 03 07 01Artefatos 03 18 04Cores 01 03 02Qualificadores - 11 06Números - 03 00Tempo - 03 00Moradia - - 02Saudação - - 02Quantidades - - 02
Na segunda fase manifestaram-se mais três campos semânticos: dos números, dosqualificadores e de tempo. Em relação à fase anterior, houve aumento dentro de todos os campos semânticos jáidentificados, demonstrando um grande avanço cognitivo. Possam ai(2002) constata que:
1) O uso dos qualificadores denota a capacidade de abstração da criança, pois já está fazendo uma relaçãom ais com plexa que a sim ples nom eação, com a ocorrência dos marcadoresde gênero.
2) Quanto a tempo, é claro que a criança ainda não possui uma noção/percepção definida das horas do dia,porém, já começa a perceber um a variação no tempo, em ações que ocorrem imediatamente e outras mais tarde.Além de tempo, nessa fase, houve também o surgimento, embora pouco produtivo, da categoria de aspecto demovim ento, no uso do item depressa(velocidade de ação).
Há um refinamento no campo dos locativos em conteúdo/continente (com 8 itens) em queuma coisa serve para “abrigar” outra, e/ou algum a coisa “está dentro” de outra, como por exem ploo item pistolinha (nome dado pela família ao pênis da criança). De acordo com o contexto em que foi usado, nota-se apercepção da criança para o fato de a “pistolinha” estar dentro da cueca.
Apesar de não haver o uso explícito de preposições, conforme mencionado anteriormente,o sujeito já dem onstra ter a percepção da diferença entre os locativos estáticos: (no) urino(l); (no) bolso e os de direção(para, onde): Olha, papai foi (na) cozinha; para cima. Ele não dem ostra, ainda, ter a percepção de procedência, poisnos corpora da 1a e 2a fase não houve construçõesdesse tipo.
O aumento no núm ero dos locativos mostra a tentativa de independência ao espaço imediatamentecircundante, prática essa que será constante durante todo o desenvolvim ento infantil, através de itens que melhorespecifiquem o espaço ao qual a criança quer se referir. Por exemplo, ela já usa o nom e do cômodo da casa paraindicar a direção para onde o pai foi: Olha, papai foi (na) cozinha e não apenas: papai foi lá. Ainda, utilizando itens com opara cima, embaixo,no chão, dentro, no buraco, etc, a criança dispensa, na comunicação, o uso de elementos extra-lingüísticos como apontar para, mostrando, dessa form a, o refinamento do seu desenvolvimento lingüístico.
Na terceira fase os novos campos que surgiram foram m oradia, saudação e quantidade. M oradia indica que anoção de espaço se aprofunda e refina nesta fase. Apesar do campo dos locativos não ter crescido tanto quanto nafase anterior, o surgim ento desta categoria sem ântica indica um a am pliação na categoria espacial. A saudação, que naprim eira fase aparecia com o um componente lúdico, agora surge num campo semântico próprio. No campo sem ânticoquantidade , aparecem enunciados que prenunciam o partitivo, mostrando que o sujeito Pá apresenta noção departe/todo: Tirou um pedaço; Estrela tira tudo.
Nesta fase o uso de locativos dem onstra também uma relativa independência ao contexto imediato: Não estádentro da cam a; Vou brincar aqui embaixo. Quando o número de novos itens no campo lúdico aum enta, no cam poartefatos dim inui; e vice-versa, conforme se pode observar nas diferentes fases da tabela 2.
A prova definitiva do am adurecimento cognitivo é o aumento do nível de abstração nesta fase: alguns itensagora se repetem, com sinoním ia (urinol antes, penico agora). Especificação e subdivisão em hipônimos, comobarba/bigode. E, finalmente, o aparecimento de dois hiperônimos come(r). Na 3ª fase aparece o item homem, nestecaso, indicando os seres humanos do sexo masculino. Finalm ente, a distinção entre artefatos e natureza se dá nocampo lúdico>ovo/ovinho.
Tabela 3. Cam pos semânticos da 3a fase.________________________________________________ CAMPO No DEITENS Lúdico 17Qualificadores 06Corpo 05Artefatos 04Locativos 03Seres animados 03Dêiticos 03Toalete/ m edicam entos 02Cores 02Moradia 02Saudação 02Quantidades 02Vestuário 01Números 00Temporal 00Alimentação 00_______________________________________________
O refinamento nas estratégias perceptuais faz com que o sujeito amplie sua variedadesociolingüística restrita ao grupo fam iliar para uma variante mais socializada, uma vez que aspalavras utilizadas distanciam-se das onom atopéias (e das palavras novas criadas pela criança) eaproxim am-se m ais da variante praticada pelo adulto.
Nota-se um a evolução na estruturação semântica, tanto no que diz respeito aos campossemânticos quanto no que tange às significações puramente gram aticais de tem po/aspecto/modo,pessoa, gênero e espaço.
ReferênciasBROW N, R. A first language. The early stages. Cam bridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.BARRETT, M. Desenvolvimento lexical inicial In: MacW HINNEY, B. ; FLETCHER, B.. Compêndioda linguagem da criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p. 299-321.BATORÉO, H. J. Expressão do espaço no português europeu. Contributo psicolingüístico para oestudo da linguagem e cognição. Coimbra: Fundação Calouste Gulbekian, 2000.CLARK, E. Desenvolvimento lexical tardio e formação de palavras. In: MacW HINNEY, B;FLETCHER, B. Compêndio da linguagem da criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p. 324-340.MacW HINNEY, B. The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk – The Database. 3ed. NewJersey: Lawrence Erlbaum, 2000.POSSAMAI, M.R. Léxico inicial e campos Semânticos. Relatório de pesquisa. Florianópolis, 2002.SCLIAR-CABRAL, L. A explanação lingüística em gramáticas emergentes. 480f. Tese (Doutoradoem Lingüística), Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 1977._________________: Qual a Referência e Com o Evocá-la?/ Reference: W hat is it and How toApproach It?. D. E.L.T.A. Vol. 18, Especial. São Paulo: EDUC, p. 57-85, 2002.
O ensino de homófonos não homógrafos: uma experiência emsala de aula
Otilia Lizete de Oliveira Martins HeinigUFSC/FURB
IntroduçãoO ensino e a aprendizagem dos princípios do sistema alfabético do português do Brasil é o
foco de investigação da pesquisa aqui apresentada parcialmente. O objeto investigado seencontra no contexto competitivo: trata-se dos homófonos não homógrafos, cuja informaçãosemântica é de extrema relevância para a codificação correta. Acreditando-se que é em umcontexto de interação que ocorre a aprendizagem da codificação, a presente pesquisa iráapresentar os resultados de uma intervenção colaborativa realizada junto a alunos da quarta sériedo Ensino Fundamental, para a qual se desenvolveram m ateriais que facilitassem a aprendizagemde hom ônimos não homógrafos da mesm a classe gramatical, com ênfase aos jogos desenvolvidos emCD-ROM. Os resultados mostraram significativa diferença entre o grupo em que a intervençãofoi realizada em comparação com outro grupo sem elhante, tanto quanto à m aneira de grafar apalavra quanto à capacidade de explicar por que as palavras são grafadas de formas diferentes.
O ensino-aprendizagem do sistem a escrito: olhando os hom ófonos não hom ógrafosAntes de ingressar na Educação Infantil, a criança já desenvolve suas primeiras
concepções sobre a escrita. Posteriormente, quando entra na escola, no período de alfabetização,acontece a aprendizagem da segmentação da cadeia da fala e da sílaba, o que perm ite que elarelacione essas unidades aos grafemas (Scliar-Cabral, 2001; 2003). Depois de escreveralfabeticam ente é que a criança começa a se apropriar de modo sistem ático da norma ortográfica.Por isso, acredita-se que cabe à escola o papel de auxiliar o aprendiz nesse processo, levando emconsideração que a ortografia é um dos passos, e não o começo e fim na aprendizagem da escrita.Não significa, entretanto, que se deva deixar a criança escrever sem pre do jeito que quiser. Épreciso que a escola, com o instituição, cumpra o seu papel de ensinar a ler e escrever, mas semdestruir ou ignorar o processo inicial. É possível que cada descoberta ocorra, m as se respeitandoo tem po de cada aprendiz, o espaço onde ocorre a aprendizagem, sendo condição que o professortambém dom ine os princípios.
Assim, a aprendizagem da codificação, nas séries que seguem a alfabetização, deve sercentrada nas regras de correspondência entre a realização dos fonemas e grafemas e naconstrução da memória lexical ortográfica das palavras prim itivas de maior freqüência de uso naescrita, quando o contexto for competitivo. A tarefa do aprendiz do sistema escrito não é fácil, pois,na maioria das vezes, as regras de codificação não são independentes do contexto. Portanto, serápreciso entender, inicialm ente, as regularidades, analisando as regras dependentes do contexto,seja ele fonético ou morfológico; e, posteriorm ente, o contexto competitivo, no qual estão incluídosos homófonos não homógrafos. Isso leva a perceber que a tarefa de quem está aprendendo osistema escrito envolve um a série de “habilidades”, ou seja, o aprendiz deverá ser capaz de refletira respeito da classe gram atical da palavra em análise; atentar para a posição do segmento sonorodentro da palavra; observar a tonicidade, entre outras. Deste m odo, juntando informações advindasdas próprias palavras com outras provenientes do contexto, professor e alunos, em um processode análise, depreenderão as regras que perm itirão entender a norma ortográfica, não apenasdecorá-la. É justamente esse aspecto, o puramente m ecanicista, que se deseja com bater, uma vezque ele está presente no cotidiano escolar tanto na forma com o é explorada a ortografia quanto naarquitetura dada, em geral, a este tópico nos livros didáticos.
Assim, a proposta é de uma concepção que leve em conta que ensinar e aprenderortografia devem acontecer de forma que as crianças possam gerar, criar e não apenas m em orizarpalavras e acumular regras, e que o professor, necessariamente, fará as intervenções durante oprocesso das descobertas realizadas pelos alunos. Para tal, o professor, que levará o aluno a
refletir durante seu processo de aprendizagem das regras ortográficas, precisa conhecer osprincípios do sistema alfabético do português do Brasil. Ao prom over a reflexão na escritaortográfica, alguns fatores devem ser levados em consideração: a variação sociolingüística, afreqüência de uso das palavras, a consciência tanto fonológica, morfológica quanto sintático-semântica. Aqui, será tratado apenas o aspecto semântico, tendo em vista o objeto deinvestigação.
Quanto à importância do significado para a aprendizagem da escrita ortográfica,Guimarães (1994) desenvolveu pesquisa que teve como objetivo averiguar experimentalm entecomo se desenvolve a compreensão da importância de considerações semânticas na ortografia,em sujeitos de diferentes graus de escolaridade/idade. Para investigar os homófonos nãohomógrafos, foi realizado um ditado seguido de entrevista para a justificativa, a fim de se verificarse o sujeito se preocupava em representar as diferenças de significados em palavras sonoramenteidênticas. Partindo dos resultados, a autora evidencia a necessidade de os professorestrabalharem a língua de uma forma reflexiva com os alunos a fim de que estes percebam a relaçãoque existe entre a escrita convencional e o significado. Alerta, entretanto, que não basta umtrabalho no qual se chame atenção para os aspectos semânticos e morfológicos, é precisopromover um espaço de ensino-aprendizagem no qual se leve os alunos a formular e descobrirregras subjacentes às formas, nas atividades de ensino propostas, a fim de enunciá-las e explicitá-las. Práticas assim tornarão m ais eficaz a com preensão da língua, facilitando a aprendizagem daescrita correta. Esta necessidade existe, pois a pesquisadora constatou que, embora haja umaevolução, de acordo com a escolaridade/idade, acerca da im portância do significado para a escritacorreta das palavras, m uitos alunos chegam ao final do Ensino Médio sem entender perfeitamentecomo ocorre a grafia diferente em homófonos. Além disso, apresentaram relativa dificuldade emform ular uma justificativa que explique por que grafaram dessa ou daquela m aneira um adeterm inada palavra com semelhança sonora. Portanto, é necessário que se organize oplanejam ento escolar, partindo dos conhecimentos já construídos pelos alunos, para que setrabalhe paulatinamente a relação entre ortografia e significado, um a vez que a escolarizaçãodesempenha um papel im portantíssimo para essa aprendizagem. Esta constatação evidencia quemais do que reforçar a grafia correta, é preciso levar o aluno a refletir sobre a sua escrita e,infelizm ente, “a escola, local por excelência de reflexão sobre a língua escrita, vem contribuindomuito pouco para que os sujeitos busquem essa relação, o que, conseqüentemente, tem retardadoa aprendizagem das grafias convencionais onde o significado é um fator discrim inante.” (op. cit., p.103).
Um a experiência em sala de aula: ensinando e aprendendo a grafar hom ófonos nãohom ógrafos
Acreditar que o ensino deve ser reflexivo, remete a uma postura diferenciada do professore, por conseguinte, exige uma metodologia de trabalho que promova a reflexão, discussão edepreensão do conhecimento sobre o sistema alfabético.
Dessa forma, desenvolveu-se um a pesquisa ação junto a 50 alunos de duas quartas sériesdo Colégio São Luiz (Brusque-SC). Inicialm ente, aplicou-se um pré-teste, para verificar oconhecim ento dos sujeitos sobre o assunto; posteriormente, os grupos, divididos em grupoexperim ento (GE) e controle (GC), foram submetidos à m etodologia diferenciada, masdesenvolvida pela m esma professora. Finalmente, aplicou-se o pós-teste, para verificar se houveou não diferenças significativas entre os grupos.
Os dados e resultados apresentados são uma comparação entre o pré e o pós-testerealizado pelos dois grupos. Ao todo são 1000 respostas quanto à grafia e 1000 justificativasproduzidas submetidas a uma análise quantitativa e qualitativa.
O prim eiro aspecto a ser discutido é o núm ero de acertos. No pré-teste, os grupos tiveramuma freqüência bem próxima: o GE obteve 304 acertos e o GC, 303. Entretanto, no pós-teste, oGC obteve 305 respostas corretas e o GE atingiu 405. Além disso, os dados revelaram que ossujeitos do GE, na sua grande maioria, grafaram corretamente 75% ou mais das palavras ditadas.Aplicado o teste quiquadrado, obteve-se X²cal = 6,378 e X²tab = 5,412, com nível de significânciaindicado por α = 2%. Estes dados apontam para a conclusão de que há diferenças significativasentre as turmas quanto ao número de acertos nos testes pré e pós.
Além da análise quanto ao núm ero de acertos, as palavras ditadas foram categorizadasquanto às diferentes m aneiras de serem grafadas, sendo as respostas agrupadas nestas seiscategorias: 1) correta: o sujeito grafou a palavra corretamente; 2) homófonos: o sujeito grafou ohomófono da palavra levando em consideração apenas o som ditado; 3) NILO (não internalizadano léxico ortográfico): o sujeito grafou um a palavra que não existe na língua portuguesa: isso sedeve à pouca leitura); 4) RNI (regra não internalizada): o sujeito grafou a palavra incorretamentepor não conhecer as regras de codificação; 5) PM (problemas m aiores): o sujeito grafou a palavraincorretam ente revelando problemas de sintaxe ou de percepção; 6) ECF (escreve com o fala): osujeito grafou a palavra como a fala, mostrando não estabelecer distinção entre fala e escrita.
Diferentemente do que ocorreu no pré-teste, os grupos também não apresentamcomportamento semelhante em relação às categorias 2, 3, 4 e 5, embora a m aior dificuldade nosdois grupos ainda resida na categoria 2. Pelo fato de os homófonos não homógrafos testaremcontextos competitivos, os sujeitos apresentaram relativa dificuldade para grafar com adequaçãoas palavras ditadas. No GE, observou-se uma significativa melhora neste aspecto, pois o índice deerros passou de 26,2% do pré-teste para 14,4% no pós-teste, sendo que as palavras que aindaapresentam m aior dúvida para esses sujeitos são sessões/seções e conserto/concerto. Já no GC,aumentou o núm ero de palavras grafadas corretamente nessa categoria, em bora com umpercentual bem pequeno, ou seja, passou de 22,6% para 24%. A diferença entre os dois gruposna categoria 1 e 2 revela que o trabalho com os homófonos não homógrafos foi um fator queauxiliou os alunos do G E a perceberem diferenças entre uma e outra grafia, o que ficará aindamais claro na análise das justificativas, pois não basta apenas saber grafar, é preciso tambémrefletir sobre os fatores que levam a optar por uma ou outra grafia.
Analisando a maneira de justificar a grafia, obtiveram-se 14 categorias: 1)Conhecimento dosentido; 2) Conhecimento dos princípios do sistema alfabético do português do Brasil; 3)Derivação;4) Freqüência de uso; 5) Conhecimento prévio da palavra; 6) Relação som versus leitura e escrita;7) Dúvida na grafia; 8) Desconhecim ento da palavra; 9) Não compreensão da diferença entrehomófonos não homógrafos; 10) Má internalização das regras grafêmico-fonológicas; 11) Ausênciade explicação; 12) Estratégia de preenchim ento; 13) Achism o; 14) Não sabe redigir a resposta. Ográfico 01 estabelece um a comparação, por categorias, entre os grupos:
GRÁFICO 01 - Com paração entre as justificativas dadas pelos dois grupos no pós-teste
350
300
250
200 G E
150 G C
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ca tegoria s ju stifica tivas
FONTE: dados da pesquisadora
A categoria 1 (conhecimento do sentido) é a que aparece com m aior freqüência no GE,perfazendo 58,4% das justificativas as quais foram produzidas por 23 sujeitos, que a usaram emmédia 12,6 vezes. O fato de os sujeitos justificarem a grafia pelo conhecim ento do sentido éextremamente significativo como resultado do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido
junto ao grupo, sobretudo, se se levar em conta que, no pré-teste, esses sujeitos usaram m uitopouco o conhecimento semântico na justificativa, com apenas 9 respostas produzidas por 6sujeitos, ou seja, houve um crescimento, nesta categoria, de 56,6%. A forma como a justificativapassou a ser elaborada tam bém sofreu m udança, pois os sujeitos apresentaram o significado dapalavra grafada ou os dois significados, a fim de mostrar por que um era adequado naquelecontexto, como se pode observar nestes exemplos: cauda – parte traseira com prida de animais eoutros; porque “despensa” com “e” significa um lugar onde guardam os os alim entos; acende com cé ligar a luz e ascender com sc é subir, elevar; eu sei que fraldar com “l” quer dizer botar fralda efraudar com “u” quer dizer rouba. Os sujeitos, ao elaborarem a justificativa, em geral, não sódestacaram o grafema que cria confusão na escrita como também elaboraram um conceito,levando em conta o aspecto que generaliza o homófono que está sendo definido.
No GC também houve um aum ento na freqüência, que passou de 43 justificativasproduzidas por 12 sujeitos para 55 elaboradas por 15 sujeitos. Entretanto, o crescimento foi bemmenor que o do outro grupo, atingindo 2,4%. Apesar de os sujeitos deste grupo terem trabalhadotambém com os homófonos não hom ógrafos, levaram em conta o conhecim ento semântico empoucos casos, o que talvez se explique pela maneira com o o m aterial didático utilizado por elesaborda esse assunto, ou seja, o significado é apresentado logo abaixo dos exem plos, sem perm itirque o aluno reflita sobre o exercício que realiza a cada par de hom ônimos trabalhados. Quanto àmaneira de redigir a justificativa, quase não houve alteração entre o pré e pós-teste, com o seobservou no sujeito 11, que foi o que mais teve respostas nesta categoria nos dois testes, a saber,9 respostas no pré-teste e 10 no pós-teste. Por exem plo, no pré-teste, este sujeito justificou agrafia de esperto da seguinte forma: Se você é bem inteligente e, no pós-teste, esperto: inteligente.Essa retomada também pode ser observada nas justificativas elaboradas para a grafia dedescrição que, inicialmente, foi assim produzida: além da característica da velhinha... e no pós-teste: quer dizer as características da velhinha.
Os dados obtidos na categoria 1 são de extrem a im portância para a pesquisadesenvolvida, pois o fator discrim inante em hom ófonos não homógrafos da mesm a classegramatical foi observado pela grande maioria dos sujeitos do GE, o que aponta para a necessidadede um ensino que leve em consideração quais conhecimentos são necessários para trabalhar cadaconteúdo em sala de aula. Além disso, é preciso pensar em formas de ensino que sejamadequadas ao grupo no qual o trabalho é desenvolvido, mas que levem , especialmente, os alunosa refletirem sobre o que acontece naquela situação lingüística, como se pôde observar nadescrição do processo desenvolvido em sala de aula junto ao grupo experim ento.
Além desse aspecto, é importante observar que, no pré-teste, a maioria das respostasem am bos os grupos se concentrou na categoria 11; a categoria 7 apareceu igualmente nos doisgrupos. Outras três categorias que apareceram, nos 2 grupos, com maior número, foram a 5, a 13e a 14. Passa-se, então, a análise desses dados.
A ausência de explicação, categoria 11, continuou sendo um a das categorias com m aiorfreqüência no GC apesar de ter sofrido uma queda de 14% no núm ero de justificativas e 12% nonúmero de sujeitos que não souberam explicar a grafia. A média de justificativas por sujeito ficouem 4,45. Neste grupo, esta categoria era a que tinha a maior freqüência no pré-teste e, no pós-teste, ficou em segundo lugar. No GE, também houve uma queda, sendo de 27,6% no número dejustificativas e 60% no núm ero de sujeitos. A categoria 7 (dúvida na grafia) que, no pré-teste, teveuma freqüência bem próxim a entre os dois grupos, sofreu dim inuição quanto ao núm ero dejustificativas, passando de 54 para 28 justificativas no GC e de 50 para 10 justificativas no GE.Entretanto, no GC, o número de sujeitos que manifestou dúvida aum entou de 18 para 20, enquantono GE houve uma queda de 13 para 6 sujeitos.
A categoria 5 teve comportamento diferente nos grupos. No GE, o núm ero de respostasdim inuiu 13,2%, passando de 120 justificativas produzidas por 17 sujeitos para 54 elaboradas por 8sujeitos. Em uma análise intersujeitos, percebeu-se que aqueles que apresentaram m aiorfreqüência (média de 12 justificativas) foram os que não justificaram pelo conhecimento semânticoe o que o fez teve apenas 3 das justificativas enfocando o conhecim ento sem ântico. No GC, onúmero de justificativas aumentou 7,2%, passando de 41 respostas para 77, mas sofreu quedaquanto ao número de sujeitos que justificaram pelo conhecim ento prévio, ou seja, passou de 12sujeitos para 10. A categoria 13 (achism o) estava entre as cinco mais freqüentes em ambos osgrupos no pré-teste, embora com núm ero de ocorrências distintas entre eles. No pós-teste,
observou-se um com portamento inverso nos dois grupos. No GE, passou de 33 justificativasproduzidas por 10 sujeitos para 15 justificativas redigidas por 6 sujeitos, significando um a reduçãoem quase 50%. Já no GC, houve um aum ento de 51 justificativas redigidas por 9 sujeitos para 65elaboradas por 12 sujeitos. Este aum ento se deve, sobretudo, ao fato de os sujeitos 23 e 25 teremproduzido todas as suas justificativas nesta categoria. A últim a categoria, não sabe redigir aresposta, já apresentava um a diferença entre os dois grupos no pré-teste, sendo maior afreqüência no GC que no GE, ocupando, neste, a quarta posição quanto ao núm ero dejustificativas e, naquele, a segunda posição. No pós-teste, observando o núm ero de sujeitos, noGC, verificou-se que 18 deles tiveram suas justificativas inclusas nesta categoria, perfazendo umamédia de 7,3 ocorrências por sujeito. Comparando-se a freqüência em cada categoria, constatou-se que 26,4% das justificativas produzidas pelo GC se encaixam nesta categoria, que ocupa oprimeiro lugar neste grupo, o que não difere muito do pré-teste quando se verificou ser esta asegunda m ais utilizada pelos sujeitos. Já no G E, houve dim inuição quanto ao número dejustificativas, que passou de 40 para 18 ocorrências, apesar de o núm ero de sujeitos teraumentado, no pós-teste, passando de 10 para 14; entretanto a média de justificativas por sujeitodim inuiu de 4,0 para 1, 2, mostrando que em poucas situações os sujeitos não souberam redigir aresposta. Numa análise entre os sujeitos, verificou-se que aquele que apresentou o m aior númerode ocorrências (11) passou a ter 2 e o outro, que apresentou 9, não teve nenhum a. Analisando osdois grupos quanto às categorias: estratégia de preenchimento, achism o e não sabe redigir aresposta, observou-se que a freqüência quanto às justificativas dim inuiu no GE, mas aum entou noGC. Tal constatação aponta para um dos fatores de maior relevância nesta pesquisa: saberraciocinar sobre a forma de codificar as palavras que, em um grupo, continuou a ser umadificuldade.
Considerações finaisA experiência com hom ófonos não homógrafos aponta para várias conclusões, mas, para
este momento, será focada a questão metodológica, pois apresentou relevância para o ensino-aprendizagem do sistema escrito.
Para que o planejamento fosse operacionalizado, desenvolveu-se um a m etodologiaapoiada em atividades que promoveram reflexão e discussão durante a aprendizagem . Com oresultados do trabalho desenvolvido, verificou-se que: 1. a metodologia empregada favoreceu agrafia correta, mas especialm ente a maneira de justificá-la ao apresentar o elo, na grande m aioriados casos, entre a forma de grafar e a justificativa. Os resultados do pós-teste apontaram umaumento de 89 para 329 respostas com elo, o que revela não só a compreensão da distinção degrafias, com o também a capacidade de argumentar dos sujeitos; 2. a maioria das justificativas,depois da intervenção colaborativa, está centrada no conhecimento sem ântico, o que mostra umresultado positivo, pois o fator decisivo no fenôm eno tratado é a diferença de significado; 3. ossujeitos do GE não apenas internalizaram em seu léxico mental ortográfico muitos dos hom ógrafostrabalhados, com o também os seus significados, o que fez com que conseguissem explicar asdiferenças de grafia; 4. os alunos do GE com m aior dificuldade (25%) detectados no pré-testepassaram de 10 palavras com grafia correta para 17, o que é extremamente significativo; 5. ensinara pensar a m aneira porque um homófono é grafado possibilita a reflexão sobre outros fenômenoslingüísticos; 6. o aspecto lúdico favoreceu os resultados alcançados.
Por fim , vale ressaltar que, mais do que ensinar a grafar homófonos não homógrafos, estapesquisa favoreceu uma reflexão sobre a form a como a universidade está preparandoteoricam ente seus profissionais da educação para atuarem em sala de aula.
Referências BibliográficasGUIMARÃES, Gilda. A importância do significado na aquisição da escrita ortográfica. 112 f.Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Curso de Pós-graduação em Psicologia, UniversidadeFederal de Pernam buco, Recife, 1994.SCLIAR-CABRAL, Leonor. Guia para o educador: Princípios do sistema alfabético do português(versão mimeo), 2001._____________________. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. São Paulo :Contexto, 2003a.
_____________________. Guia prático de alfabetização, baseado em princípios do sistemaalfabético do português do Brasil. São Paulo : Contexto, 2003b.
O discurso oral e a construção social do discurso escrito
Ana Maria de Mattos GuimarãesUFRGS/UNISINOS
Pesquisadores de aquisição de linguagem oral reconhecem que o processo de letramen-to encontra-se em estrita relação com a construção social do discurso oral. Existe uma continui-dade processual entre aquisição e desenvolvimento de linguagem oral e aprendizagem da escri-ta.(Scarpa, 1987). Por outro lado, ao refletir sobre os processos de construção da escrita, Vy-gotsky (1987) mostra que o desenvolvimento da escrita não repete a história do desenvolvimentoda fala. Para ele, não existe uma transferência ou deslocam ento, no qual um estágio posteriorrepetiria a trajetória do anterior. Na verdade, entende que a criança, ao começar a aprender aescrever, apresenta, geralmente, capacidades necessárias para as atividades espontâneas, co-tidianas e inconscientes, envolvidas na fala e na interação, porém as capacidades necessáriaspara atividades não espontâneas, abstratas e conscientes estão apenas iniciando. Nesse senti-do, coloca a fala e a escrita como sistemas análogos, não idênticos, que se desenvolvem em di-reções opostas, m as dialéticas, em que cada sistema influencia o outro e se beneficia de seuspontos fortes. A relação entre esses estudos pode se encontrada na hipótese desenvolvida porSchneuwly (2002) de que a produção de textos escritos pressupõe a transformação do sistemajá existente da linguagem oral, através de processos de diversificação e complexidade. Parte doprincípio de que existe, no funcionam ento da linguagem, um certo núm ero de signos ou unidadeslingüísticas que agem sobre um contexto lingüisticamente criado. Essas unidades se tornammais importantes à medida que o texto ganha autonomia com relação à situação de produção,ou seja: “a apropriação dessas unidades funciona com o m ediadora, tornando possível e impondouma relação mais distanciada, mais refletida em relação ao próprio com portamento de lingua-gem materializado no texto.“(op.cit., p.59)
Ao adotar esse ponto de vista teórico, cabe retomar também a questão de com o a escolavê(revê) o letramento. Não se trata de relacionar aprender a escrever a grafar sons ou recorrer àsnormas gramaticais, mas construir uma nova inserção cultural, a partir de novos modos de discur-so ou de gêneros discursivos; de relação com os interlocutores, com temas e significados; novosmotivos para com unicar-se em novas situações. É nesse sentido que se desenvolvem os trabalhosa seguir. A construção dessa nova inserção cultural não é privilégio de um a faixa etária determ ina-da, mas, antes, é uma preocupação que deve estar presente em todas os interlocutores do pro-cesso ensino-aprendizagem da escrita. Essa interlocução é m ostrada no trabalho de Márcia Cor-rea, que recupera a história da aquisição da escrita de estudantes de Letras, futuros professores. Arecuperação das construções particulares de suas representações de escrita é vista como modode possibilitar retirar da obscuridade esse objeto e dar um novo sentido à escrita que se pretendeensinar e à forma como deve ser ensinada.
Por sua vez, os dem ais trabalhos têm o objetivo de mostrar com o pesquisas, na área dedesenvolvim ento da linguagem, podem ser trazidas para a realidade da escola e transpostas parauma reflexão pedagógica. Carmem Luci da Costa Silva parte do estudo da polifonia e dos modifi-cadores para evidenciar uma reflexão sobre o desenvolvimento lingüístico argumentativo da crian-ça no período pré-escolar, estabelecendo algumas pontes com o ensino de língua materna nas sé-ries iniciais. Já o trabalho de Luciene Juliano Simões examina descritivamente algumas proprieda-des bastante específicas da produção oral de crianças entre 2 e 8 anos de idade, no percurso porque passa a criança na aquisição dos fenôm enos de concordância nom inal de número e de codifi-cação do sujeito oracional. Dessa forma, revisita a noção de gram ática internalizada e sua relaçãocom interlocuções situadas e significativas. Finalm ente, o estudo desenvolvido por Ana Maria Gui-marães, a partir da aquisição de narrativas autônomas, mostra que a questão da referência espa-cial pode ser vista com o um utensílio da escrita, a ser considerado pela escola ao pensar o desen-volvimento da escrita, no sentido da construção/apropriação de um sistema de produção de lin-guagem.
ReferênciasSCARPA, E. Aquisição da linguagem e aquisição da escrita: continuidade ou ruptura. Cad. EstudosLingüísticos, Campinas, n. 14, p. 118-28, 1987.SCNEUW LY,B. L'écriture et son apprentissage: le point de vue de la didactique. Élém ents desynthèse. Pratiques, Metz, n. 115 e 116, p.237-253, dez.2002.VYGOTSKY, L.S. Pensam ento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
A argumentação na fala infantil
Carmem Luci da Costa SilvaUFRGS
Este trabalho representa a continuidade de pesquisas já desenvolvidas por Silva (1996;2000; 2001; 2002) sobre a argum entatividade presente na fala da criança, a partir da perspectiva dasemântica argumentativa de Ducrot, Anscom bre, Carel e colaboradores.
A argumentação é um tem a de bastante relevância nos estudos sobre a língua, podendoser postulada, por muitos, como um princípio constitutivo do dizer. Levando em conta esse fato,temos como objetivo mostrar as possíveis contribuições da Teoria da Argumentação, enquantoteoria enunciativa, para a compreensão das m anifestações lingüísticas da criança. Os dados serãoanalisados segundo as noções de polifonia e de m odificadores e servirão apenas como “am ostra”da argumentação presente no dizer da criança, com o propósito de refletirmos sobre aimportância da relação entre o eu e o tu para a constituição desse dizer.
Considerações teóricasNo percurso de desenvolvim ento da Teoria da Argum entação da Língua (TAL), a
vinculação dos trabalhos ao quadro de Saussure é reiterada na noção de que ser “estruturalista”em um domínio qualquer é “definir os objetos deste domínio uns em relação aos outros, ignorandovoluntariam ente aquilo que, na sua natureza individual, se defina apenas em relação aos objetosde outro domínio.” (Ducrot, 1987, p 67). Assim, nas várias fases da TAL, Ducrot e colaboradoresdefendem que o sentido dos enunciados é constituído não em referência ao extralingüístico ou aopensam ento, mas pelas relações que ligam os enunciados e os segmentos no interior dosenunciados, inclusive as palavras. Tais relações são de natureza argum entativa.
Além de situar a TAL no quadro estruturalista, Ducrot procura inserir seu estudo naLingüística da Enunciação, vinculando sua descrição semântica à perspectiva enunciativa deBenveniste, o que é apontado pelo próprio autor no capítulo Structuralisme, énonciation,communication (Ducrot, 1989), ao reconhecer, no trabalho deste sem anticista, o tratam ento dalíngua em uso e com o prática discursiva, marcada por relações intersubjetivas. Conform e Ducrot(1989, p. 160), a originalidade de Benveniste está no fato de ter visto que o sentido do discursonão se reduz à relação da língua, com o sistem a combinatório de signos, à situação material naqual o discurso é empregado, mas também nas atitudes intersubjetivas implicadas no discursointrínsecas ao sistema da língua. Desse modo, o sentido da palavra é dado pela relação instauradapor seu uso feita por um locutor.
Para Ducrot (1987), a enunciação é o acontecimento histórico (e, portanto, único) deaparecimento de um enunciado. Nesse sentido, a enunciação é um acontecimento, cujo produto éo enunciado. Com isso, concebe a Teoria da Argumentação na Língua com o preocupada eminterpretar o sentido dos enunciados/encadeam entos (entidades concretas) a partir da frase/bloco(entidades abstratas). Ao procurar dar conta dessa relação, concebe com o núcleo do sentido um“fazer” e não um “informar”. Falar não é descrever ou informar, mas dirigir tal fala para certasconclusões. Dizer “esse doce é bom” não é descrever o doce, é argumentar em favor do doce.Dessa form a, extingue a divisão, no sentido do enunciado, entre os aspectos objetivo e subjetivo,porque os enunciados não dão acesso direto à realidade, não a descrevem diretamente, visto que,se nós descrevemos a realidade (aspecto objetivo), fazem os isso por meio de um a atitude (aspectosubjetivo) e de um cham ado ao interlocutor (aspecto intersubjetivo). Assim, Ducrot unifica osaspectos subjetivo e intersubjetivo no que chama de valor argum entativo das palavras na língua.
Na Teoria da Polifonia, o tratamento da enunciação em Ducrot aparece vinculado àsdiferentes vozes que se configuram no enunciado. Nesse quadro, m ostra que a descrição daenunciação, constitutiva do sentido do enunciado, contém a atribuição da enunciação a váriasfiguras: sujeito falante (autor empírico, que não é levado em conta na descrição do sentido); locutor(aquele que se responsabiliza pela produção do enunciado) e enunciadores (diferentes pontos de
vista e atitudes manifestadas pelo locutor). Nessa concepção, o sentido do enunciado estaria nãosomente nos diferentes pontos de vista, que se m ostram através do locutor, mas também pelaposição do locutor frente aos enunciadores por ele evidenciados na produção do enunciado.
Com o propósito de descrever o sentido dos enunciados, Ducrot, no texto Polifonia yArgum entacion (1988), m ostra com o a noção de polifonia pode ser usada na TAL, relacionada àTeoria dos Topoi. Nessa versão da teoria, locutor e enunciador são apresentados como funções,reiterando, novamente, a posição de que o autor efetivo (produtor do enunciado) faz parte dascondições externas de sua produção e, por isso, não constitui objeto da descrição semântica. Oconceito de locutor mantém-se, pois é a quem se atribui a responsabilidade pela enunciação nointerior do próprio enunciado. Já os enunciadores são a fonte, origem, dos diferentes pontos devista expressos no enunciado.
Inserido, ainda, na Teoria dos Topoi, Ducrot (1997) define o enunciador como a fonte deum ponto de vista que consiste em evocar, a propósito de um estado de coisas, um princípioargum entativo, que cham a topos. Tal princípio argumentativo é universal, porque aceito em umacoletividade; geral, visto poder ser utilizado em várias situações e gradual, pelo fato de por emrelação duas escalas, duas gradações.1 Nessa concepção, evidencia que o sentido consiste emidentificar a função locutor em relação aos enunciadores.
A versão atual da Semântica Argumentativa, Teoria dos Blocos Semânticos, proposta porCarel e Ducrot, opõe-se à Teoria dos Topoi. Para Carel (1995; 1997; 1998; 2002) e Carel e Ducrot(2002), o sentido de um a entidade lingüística consiste em evocar um conjunto de discursos ou demodificar o conjunto de discursos associados a outras entidades. Nessa proposta teórica, o sentidodo encadeamento somente pode ser constituído pelos seus dois segmentos, os quais compõemuma interdependência semântica entre argum ento e conclusão. Isso form a um a unidadesemântica indecomponível, denominada bloco sem ântico.
Levando em conta essas noções, Ducrot (1995; 2002) mostra que certos tipos de palavrasfuncionam como um m odificador, agindo sobre a força argumentativa de outra, seja atenuandoseja fortalecendo essa força. Assim , o modificador não introduz nenhum termo novo nos aspectosque constituem a argum entação interna de determ inado termo, m as procura reorganizar osintagma com um a nova combinação. Isso pode ser visto no exemplo “problema fácil”, em que“problema” (X) tem sua argum entação interna (AI) atenuada (aspecto norm ativo: esforço portantoresolução”), enquanto “problema difícil” tem sua argum entação interna reforçada (aspectotransgressivo: esforço no entanto não-resolução).2
O percurso teórico empreendido até aqui servirá para evidenciarmos que, seargum entação está na língua, a criança, independentemente da faixa etária, constitui um locutor,que mostra elem entos argumentativos, orientando o alocutário para determ inadas conclusões. Porisso, ilustraremos, com dois episódios de crianças com idades bastante distintas, aargum entatividade presente em seus dizeres.
O dizer argum entativo da criança: um a pequena am ostraA partir de dois episódios, representativos de diferentes m om entos de aquisição da
linguagem, mostraremos a argum entação presente no dizer da criança, a fim de refletirm os acercada relação da criança com a língua e com o “outro”, pois acreditam os ser nessa relação queocorre a constituição de um sujeito que argum enta.
M odificadores e argum entaçãoEpisódio 1: Franciele (1;8.10) Situação: Franciele usa a expressão de xingam ento “droga” sempreque algo não dá certo em suas brincadeiras, o que a mãe seguidamente a repreende. Um dia acriança está brincando com a m ãe perto e algo dá errado em sua brincadeira. Então ela diz:*FRA: dó +...%com: a criança inicia a falar “droga”.
1 O aspecto gradual pode ser visto pelas formas tópicas “quanto MAIS estudo MAIS alta classificação no concurso” e“quanto MENOS estudo MENOS alta a classificação no concurso”.2 Os conectores portanto (donc) e no entanto (pourtant) são entidades teóricas, que indicam as relações argumentativasbásicas de um encadeam ento.
*MÃE: Franciele [! ]%com: a mãe repreende.*FRA: dóguinha.(=droguinha)3
Na situação acima, tem os que a argum entação interna de “droga” contém o aspectonormativo “frustração PORTANTO xingam ento”, que é atenuada pelo dim inutivo –inha. Entãotemos a argum entação interna “droguinha” como “frustração NO ENTANTO não-xingamento”. Issoevidencia que o dim inutivo –inha funciona como um m odificador, pois atenua o potencialargum entativo da palavra “droga”, iniciada pela criança, que, com a repreensão da mãe, reorientaargum entativamente o seu dizer. Gostaríamos de salientar que o estudo de Ducrot (1995; 2002)não prevê o uso de sufixos como m odificadores, mas apenas de palavras instrum entais; entretanto,a grande incidência de dim inutivos nos dados das crianças fez com que observássemos ofuncionamento dos mesm os. Isso nos levou a verificar uma relação argum entativa entre a base dapalavra plena e o sufixo dim inutivo, o qual parece funcionar como um modificador, uma vez queatenua a força argumentativa dessa base da palavra, o que pode ser observado com o umanegação atenuada dos sentidos evocados pela palavra plena. Tal fato pode ser visto pelaargum entação interna de “droga”, que possui o aspecto normativo, enquanto “droguinha” contém otransgressivo.
É interessante observar a importância da situação de enunciação, pois Francielereorganiza o seu encadeamento devido à fala do “outro” (mãe). Isso mostra que ela escuta a falado “outro” como repreensão, o que desencadeia a mudança em sua argumentação. Embora talfato seja pouco contemplado pela versão atual da TAL, acreditam os que, nessa perspectiva, osvalores argum entativos evocados nas palavras trazem as questões subjetivas e intersubjetivas,uma vez que é pelo discurso que aparecem as referências ao mundo.
Polifonia e argum entação
Episódio 2: Gustavo ( 5;4.15)
*CAR: tu já brigou com um amiguinho teu, com alguém ?*CAR: claro né xxx se [/] se incom odar as criança têm que brigar né*CAR: ah é?*CAR: e tu tem ami[//] muito amiguinho?*GUS: tenho quatro.*CAR: e como é que é o nome de um am iguinho teu?*GUS: Bruno.*CAR: ah então com o Bruno tu já brigou com o Bruno?*GUS: eu não[!] eu não # de tapa eu nunca brigo só converso com ele # eu digo assim ó
+/.*GUS: +”ah pára Bruno prá que fazer isso?
(...)*CAR: e com teu irmão tu briga?*GUS: claro né o meu irmão é mais grande ele me dá um bofetão nas minhas costas.*CAR: ele dá em ti?*GUS: dá.
3 O trabalho de transcrição do sistema CHILDES (Mac W hinney & Snow, 1991) foi adaptado para o português do Brasil noprojeto "Desenvolvimento da Linguagem da Criança em Fase de Letramento" (Guim arães, 1992). As marcações utilizadasneste estudo são: * : m arca turnos de fala dos partic ipantes da entrevista; %: marca a linha secundária (comentários,explicações sobre certas ocorrências da linha principal). xxx: indica algo que não se pôde ouvir ou entender; +”/.: - indicaque há citação na linha seguinte; +”. : indica que há citação na linha anterior; +”: m arca a fala citada; [!]: indica que apalavra precedente foi enfatizada; +...: indica interrupção de fala; #: indica pausa; [//]: indica repetição de expressões comreform ulação; [/]: indica repetição de expressões.
*CAR: por quê?*GUS: ah porque <eu só> [/] eu só digo um a coisa que <ele faz> [//] <ele fala> [/] ele fala
palavrão.
Nos enunciados de G ustavo, vemos que o locutor apresenta as perspectivas enunciativasde que “a criança incomodada (provocada) tem m otivo para brigar “(E1) e de que “criança nãoincom odada (provocada) não tem motivo para brigar” (E2). Esses enunciadores evocam o topos“provocação leva à reação”, mobilizando as formas tópicas “quanto MAIS provocação → MAISbriga” (FT1) e “quanto MENOS provocação → MENOS briga” (FT2). O locutor, ao usar aexpressão “eu não” duas vezes e de forma enfática, juntamente com o operador só (eu sóconverso com ele) mostra a voz de um enunciador E3 que evidencia o ponto de vista de que “comamigos não se briga”, evocando o topos “não há briga entre am igos” e m obilizando as formastópicas “quanto MAIS am igo → MAIS ausência de briga” (FT1) e “quanto MENOS am igo →MENOS ausência de briga” (FT2). Com isso, o locutor leva o alocutário a concluir que “brigarfisicamente é feio”, “não é aceitável socialm ente”, somente se discute. Os últimos enunciadosdestacados mostram novamente a m obilização do princípio argum entativo de que “provocação levaà reação”, quando evidencia a afirmação “claro né” à pergunta do alocutário “e com teu irm ão tubriga?” e, em seguida, coloca “o meu irmão é mais grande ele m e dá um bofetão nas minhascostas”. O locutor traz as vozes de E1 e de E2 para conduzir o alocutário a concluir que “brigarnão é um ato apreciável, a não ser quando provocado”, ou seja, “o indivíduo agredido tem direito àdefesa”. Também percebemos, na relação entre os enunciados destacados, os pontos de vista deque “com irmão se pode brigar” (E4) e de que “quando o agressor é maior tem -se mais direito àdefesa” (E5) , evidenciando a perspectiva “não se bate em quem é m enor, mesmo sendo agredido”(E6). Os enunciadores E5 e E6 evocam o topos “agressor grande garante mais o direito dedefesa” e mobilizam as formas tópicas “quanto MAIS grande o agressor → MAIS direito à defesa”(FT1) e “quanto MENO S grande o agressor → MENOS direito à defesa” (FT2). Assim como noepisódio de Franciele o “outro” é elem ento desencadeador da reorganização argumentativa dodizer, no de Gustavo, é o que evoca uma dada referência, a partir da qual a criança ancora a suaargum entação. Portanto, nos dois episódios, é a consecutividade interlocutiva do eu e do tu queconstitui o sentido argumentativo do discurso.
Argum entação, enunciação e ensinoAs análises com dados de crianças parecem mostrar algumas questões im portantes
ligadas à Teoria da Argum entação na Língua. Uma delas diz respeito ao fato de que as crianças,independentemente da faixa etária, valem-se de princípios argum entativos (topoi) para m ostraremdiferentes pontos de vista (enunciadores), orientando o alocutário para determ inadas conclusões. Aoutra está ligada à questão de que a análise do discurso infantil evidencia que as diferentes vozesreiteram determ inados topoi, como o de que “para chorar e brigar precisa haver motivo”. Tal usoreiterado de certos topoi, possivelmente, faça com que estes se coloquem como princípiosargum entativos mais gerais, conferindo m aior força argum entativa aos enunciados em queintervêm . Com relação aos modificadores, as análises empreendidas m ostram que a criançaconhece a argum entação inerente às palavras da língua, o que a possibilita relacioná-las, m uitasvezes, reorientando argum entativamente o seu dizer. Vim os, nos episódios, o quanto a atitude dointerlocutor é reconhecida pela criança, que não só confere consecutividade ao dizer do “outro”como também reformula o seu dizer pela escuta à fala desse “outro”. Por isso, consideram osinteressante levar em conta os estudos de Benveniste (1989) e Dufour (2000) acerca dessarelação eu-tu inerente à enunciação. Benveniste considera que a enunciação expressa uma certarelação com o m undo, concebendo como condição dessa mobilização e dessa apropriação, para olocutor, a necessidade de referir pelo discurso e, para o alocutário, a de co-referir. Dessa form a, osistema de referências do discurso adulto possibilita a criança co-referir no seu discurso,constituindo, nessa consecutividade interlocutiva, a argum entação. Para Dufour, o grupo eu-tu-eletraz, além da simultaneidade (sincronia), a consecutividade (diacronia), pois tal conjunto sincrônicotem, com o equivalente diacrônico, a sucessão de três alocuções. A alocução atual (eu) supõe,pois, sempre um a alocução anterior, já que o eu que fala só obteve sua posição de locutor atualpor ter sido um alocutário (tu) na alocução precedente. Com isso, vem os que o dizer (ele),contido na alocução do tu, é condição para a constituição do dizer do eu.
Essas considerações sobre a relação eu-tu com o necessária para a m obilização deprincípios argum entativos e de m odificadores pela criança são importantes para empreendermosuma reflexão acerca do desenvolvimento da linguagem argum entativa da criança no período pré-escolar e sua relação com o ensino de língua materna nas séries iniciais. De acordo com nossasanálises, pensamos que os professores em nível fundamental podem explorar os princípiosargum entativos presentes nas posições de seus alunos, a fim de construírem atividades que levem
em conta tais princípios, propondo, na situação de enunciação de sala de aula, umaconsecutividade interlocutiva, o que conferirá uma m aior contextualização ao trabalho e, com isso,uma maior possibilidade de as crianças argumentarem tanto na oralidade quanto na escrita.
Os trabalhos de Ducrot e colaboradores apresentam os aspectos subjetivo e intersubjetivoda linguagem (questões enunciativas) como relacionados ao valor argum entativo dos enunciados.Desse m odo, o em prego de uma palavra torna possível ou impossível os encadeamentosargum entativos do discurso, ou seja, sua continuidade. Por isso, consideram os relevante que osprofessores atentem para o que o aluno diz, dando continuidade a seus encadeam entosargum entativos, pois, como m ostramos, tanto o uso das vozes quanto o dos modificadoresocorrem na relação eu-tu da situação de enunciação (Benveniste, 1989), em que os sujeitos vãoconstituindo, justamente, a sua argum entação a partir dessa relação.
ReferênciasBENVENISTE, Emile. O aparelho formal da enunciação. In:_____. Problemas de lingüística geralII. Campinas (SP): Pontes, 1989, p. 81-90.CAREL. Marion. L’argum entation dans le discours: argumenter n’est pas justifier. Letras de Hoje.Porto Alegre: EDIPUCRS, 32 n.1,p. 23-40, mar. 1997._______. Argum entação interna aos enunciados. Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS, 37,n.3, p.27-43, set. 2002.______.Pourtant: Argumentation by exception. Journal of Pragmatics, 24, p.167-188, 1995.______. Predication et Argumentation. Fórum lingüístico. Universidade Federal de Santa Catarina.Florianópolis: Imprensa Universitária, v. 1, p.1-17, jun/dez 1998.CAREL, Marion. & DUCROT, Oswald . O problema do paradoxo em uma sem ânticaargum entativa. Línguas e instrumentos lingüísticos. Campinas, SP: UNICAMP, p.7-32. 2002.DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Revisão técnica da tradução Eduardo Guim arães. Campinas,SP: Pontes, 1987.______. Os internalizadores. Tradução Leci Barbisan. Letras de Hoje. Porto Alegre: EDIPUCRS,n.129 ,p.7-26, set. 2002.______. Les modificateurs déréalisants. Journal of Pragmatics, 24 ,p.145-165,1995.______. Structuralism e, énonciation, communication. In: DUCROT, Oswald. Logique, structure,énonciation: Lectures sur le langage. Paris: Les Éditions de Minuit, 1989.______. Polifonia y argumentacion.Cali: Universidad del Valle, 1988.______. La pragmatique et l´étude sémantique de la langue. Letras de hoje. Porto Alegre:EDIPUCRS, 32,n.1, p. 9-21, março de 1997.DUFOUR, Dany-Robert. Trindade e binariedade. In:___. Mistérios da trindade. Rio de Janeiro:Companhia de Freud, 2000, p. 13-65.GUIMARÃES, Ana Maria de Mattos. Desenvolvimento da linguagem da criança em fase deletramento. Porto Alegre: UFRG S, 1992. Projeto de Pesquisa.MacW HINNEY, B. & SNOW , K. The CHILDES project: tool for analysing talk. Carnegie MellonUniversity, 1991.SILVA, Carmem Luci da Costa. A polifonia no discurso narrativo infantil. Dissertação (Mestrado emLetras), Porto Alegre: UFRGS, 1996.______. “O desenvolvim ento da figura enunciativa de locutor em narrativas infantis.” In: Indursky F.& Campos, M. do C. (Orgs.). Discurso, Mem ória e Identidade . Porto Alegre: Sagra, 2000, p.287-295.______.Os princípios argumentativos subjacentes à polifonia da fala infantil. Letras de Hoje. PortoAlegre: EDIPUCRS, n. 126, p.97-126, dez. 2001.______. Argumentação e aquisição: o que revelam os “dizeres” da criança sobre essa relação?Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS, n.129,p. 193-205, set.2002.
Concordância nominal de número e a aquisição de regras variáveis
Luciene Juliano SimõesUFRGS/UNISINOS
Neste estudo, procuro reapresentar um a discussão há m uito enfatizada por todos aquelesque se dedicam à questão do letramento no Brasil – de que questões de bidialetalism o estãoimplicadas na entrada da criança brasileira em contextos nos quais a língua escrita, especialm enteem seus gêneros m ais legitimados e m ais form ais, ocupa lugar central.
Essa discussão, já antiga, teve formulação especialmente direta e didática em Soares(1986), livro no qual a autora tece uma série de argum entos na direção de dem onstrar que a escolaprecisa lidar com o fato de que há enorme distância lingüística entre as propriedades da fala, emcujo processo de aquisição a criança está ainda m ergulhada quando toma contato com o ensinoform al da leitura e da escrita, e as propriedades da dita norm a padrão, esta última intim amenteligada à concepção escolar de escrita, seja ou não tal concepção embaçada por conceitosherdados do prescritivismo e, em larga m edida, não só imprecisos mas, conforme já se discutiulargamente, politicamente comprometidos (ver Britto, 1997 e, especialmente, Signorini, 2001).
O ponto de partida aqui, no entanto, distingue-se daquele dos teóricos da educaçãolingüística. Em tais discussões, as propriedades gram aticais que marcam os dialetos padrão e não-padrão são conhecidas tão-somente a partir da pesquisa sociolingüística brasileira, estaconcentrada na descrição de dados de fala de falantes adultos ou, quando muito, púberes eadolescentes. Ou seja, pouco ou nada tem sido discutido sobre os reflexos da situação dialetalbrasileira na constituição de diferentes am bientes lingüísticos para a aquisição inicial e, portanto,para a fala e a gramática internalizada das próprias crianças em fase de letramento. A perguntaque m ove a pesquisa cujos resultados parciais são aqui apresentados é, portanto, a seguinte:considerando regras variáveis da gramática do português, como se dá sua aquisição? Isso porqueacreditamos ser essa pergunta, ainda que indagada no contexto dos estudos de aquisição da fala,extremamente relevante na construção de um conhecimento em pírico sobre a língua portuguesaque tenha relevância para aplicações ao ensino de língua materna.1
A regra variável de que tratamos na pesquisa é a concordância nominal de número.Julgamos este um tópico de m orfossintaxe especialmente bem talhado para levar adiante nossadiscussão. Prim eiro, está entre as propriedades da língua portuguesa que m ais se salienta nasavaliações lingüísticas dos falantes, que m anifestam com relação à regra extrema consciência dasrelações de estigma e prestígio de que se reveste. Além disso, a regra tem sido extensivamenteestudada no contexto da sociolingüística variacionista (Scherre, 1996a e b), de modo que já sesabe o quanto suas características na fala brasileira estão distantes daquelas preconizadas pelagramática e presentes nos gêneros escritos mais form ais. Por fim , pouco se conhece sobre seuprocesso de aquisição (dentre os raros estudos estão Cerqueira, 1994; Lamprecht, 1997; Capellarie Zilles, 2002).
Por razões de espaço, lim ito-me aqui a apresentar alguns resultados percentuaisrelevantes para a seguinte discussão: primeiro, desde muito pequenas, as crianças demonstramdiferenças em sua fala relacionadas à noção sociolingüística de estilo, evidenciando em suaprodução oral indícios precoces de socialização da linguagem; também, desde m uito pequenas, hádiferenças relevantes em termos do emprego de certos processos gramaticais da língua entre
1 Tal pesquisa é desenvolvida por mim em conjunto com Sim one Soares, Elaine Capellari, Leonor Simioni e Cristiane dosSantos; as duas prim eiras realizando dissertações de mestrado e as duas últimas sua iniciação científica. Agradeço suacontribuição na discussão das questões aqui envolvidas e na coleta e tratamento de dados além daqueles que são aquiapresentados.
crianças advindas de diferentes ambientes sociais, sendo a relativa diglossia ao longo decomunidades de fala portuguesa evidente já na fala de suas crianças pequenas. Vejamos de quemodo.
Nas tabelas 1 e 2, apresento resultados percentuais de levantamento realizadomajoritariam ente por m im no contexto de pesquisa m ais am pla sobre a aquisição da concordânciade número.2 Nesse caso, o levantamento toma os dados longitudinais de cinco criançasobservadas no contexto da constituição do Banco de dados DELICRI (Guimarães e Lamprecht,1995) . A coleta de dados teve lugar entre 1992 e 1996, majoritariamente em escola privada deEducação Infantil e Ensino Fundamental que era freqüentada por todas as cinco crianças incluídasneste levantam ento. As crianças são Carmela (4;3-8;5), Natália (5;4-8;10), Alexandra (4;8-8;6),Gabriel (5;9-9;0) e Matheus (6;2-9;0). A coleta constou de cinco visitas anuais à criança, nas quaissua produção de narrativas era gravada em áudio. A coleta das narrativas era realizada nasseguintes três condições: 1) relato pessoal – a criança era convidada pela entrevistadora a realizarnarrativa espontânea sobre algo que lhe tivesse acontecido; 2) história ficcional – a criança eraconvidada a recontar história que conhecesse por tê-la ouvido antes de um adulto (a maioria dashistórias contadas são contos tradicionais como O Chapeuzinho Vermelho, Cachinhos Dourados,Os Três Porquinhos; tam bém se registram ocorrências de histórias contadas pela professora nahora da rodinha, a partir de livros); e 3) história em seqüência – a criança era convidada a narrarhistória que lhe era apresentada em seqüências de quadros im pressos. As gravações foramintegralmente transcritas ortograficam ente, marcando a presença ou ausência de concordância denúmero pela seguinte notação: prim eiro eu tenho que ver as figura-0s, em que o artigo as foipronunciado com a m arca –s de plural, mas tal marca não ocorreu no substantivo figura (por isso atranscrição 0s, cf. Guimarães e Lamprecht, 1995).3
No levantam ento, realizei contagem dos sintagm as nom inais cuja concordância seguia aregra descrita nas gramáticas normativas, sendo marcada em todos os itens presentes em talsintagma. Tal tipo de marcação é glosado sob o rótulo padrão nas tabelas, e seu número absolutoaparece junto ao número total de sintagmas nom inais plurais atestados nas amostras. Note-se queos percentuais totais de m arcação padrão atingidos nas am ostras das crianças foi de 53%. Taisnúmeros não controlam diferenças percentuais de m arcação em diferentes ambientes lingüísticos,os quais, conforme Scherre (1996a), afetam a probabilidade de aparecimento da marcamorfológica. De qualquer modo, são relevantes para a discussão aqui – as crianças dem onstrammarcar variavelm ente a concordância de núm ero, seguindo as direções do uso que fazem osadultos da regra; a escola, no entanto, imporá outras exigências a sua escrita. Tal característica dafala dessas crianças, contudo, não poderá ser sim plesm ente apagada, e a escola deve estarpreparada para lidar com essa variabilidade.
Mais interessante do que esse percentual geral, entretanto, é a manifestação de que taiscrianças já demonstram conhecer as ligações entre uma aproximação estilística à norma padrão eo letramento. Dividindo os dados segundo as diferentes condições de coleta, obtém -se umainteressante diferença percentual. Todas as crianças marcam mais a concordância de número nascondições 2 e 3. Nelas, as narrativas estão de certo m odo ligadas a eventos de letramento de quetais crianças participaram; no caso das histórias ficcionais, por essas histórias participarem datransmissão geracional de uma tradição narrativa letrada e, no caso das histórias em seqüência,por estar um a espécie de livro diretamente presente na situação, livro a partir do qual a história setecia. Na condição 1, de narrativas espontâneas, as crianças falavam livrem ente de suas vidascotidianas; contavam como tinha sido seu aniversário, um passeio ao parque, um acidente no qualse machucaram, etc. As diferenças percentuais, favorecendo o uso da form a padrão nas condições2 e 3 aparecem na tabela na forma de contrastes entre a linha relativa ao relato pessoal e aquelaque diz respeito a contando história.
2 Do conjunto dos dados, o levantamento quantitativo referente a uma das crianças, Carmela, foi realizado por Capellari eestá publicado em m aior detalhe em Capellari e Zilles (2002).3 Esses dados estão integralmente disponíveis no banco de dados internacional CHILDES, através da Internet.
Tabela 1: Nom inais com concordância de número padrão nos dados de crianças em fase deletramento (5;0-9;0)
Padrão/Total %Relato pessoal 136/308 44,1Contando história 195/304 64,1Antes da primeira série 74/167 44,3Prim eira série e depois 254/445 57Total 328/612 53,5
Tabela 2: Nom inais com concordância padrão nos dados de meninos e meninas em fase deletramento
M eninas M eninosPadrão/T % Padrão/T %
Relato pessoal 99/204 48,5 33/104 23,5Contando história 123/164 75 72/140 51,4Antes da primeira série 51/113 45,1 23/54 42,5Prim eira série e depois 171/255 67 83/190 43,6Total 222/368 60,3 106/244 43,4
Outro dado relevante no que diz respeito a esses dados é que os percentuais de marcaçãopadrão são maiores nas coletas realizadas mais tardiamente, o que pode, evidentemente, estarsim plesmente relacionado à maior idade das crianças em tais entrevistas. Realizei, de qualquerform a, a divisão dos dados em dois períodos: antes e depois do ingresso da criança na prim eirasérie do Ensino Fundam ental, fase em que tais crianças passam a ser formalm ente alfabetizadas(a idade de ingresso varia pouco de uma criança para a outra, ficando por volta dos seis e meio,sete anos de idade). Tam bém esse recorte estabelece diferenças percentuais; todas as criançasutilizam m ais a forma padrão no conjunto de dados posterior ao ingresso na primeira série,conforme mostram as tabelas. Com relação a tal recorte, contudo, é interessante notar que adiferença é maior nas m eninas do que nos m eninos. A razão para tal disparidade de gênero nãopode ser sequer especulada devido às características dessa amostra, que não foi especialmentedesenhada para a investigação dessa questão. De qualquer forma, fica aí interessante indagaçãode pesquisa, principalmente considerando a conhecida correlação entre a categoria sexo e o usode variantes mais ou menos próximas ao padrão prestigiado, freqüente na pesquisa variacionista eatestada na pesquisa de Scherre sobre a concordância nominal no falar carioca (Scherre 1996b).
Parece, então, haver, já anteriormente à alfabetização, uma instalada situação de variaçãosistemática, na qual a criança lança mão de variantes estilísticas para distinguir um estilo cotidianode entrevista informal, no qual fala de seu dia-a-dia, do gênero ‘história’, no qual essas criançasdemonstraram um em prego distinto e mais padronizado dos recursos da língua. Além disso, ascrianças, especialmente as meninas, demonstraram aproximar-se mais do padrão em fases maistardias de sua aquisição da língua, talvez em virtude do contato mais direto com a escrita e, quemsabe, com o discurso m ais norm atizador da escola. Essas são, evidentemente, especulações;cumpre à pesquisa futura em torno do discurso infantil transformá-las em perguntas a seremperseguidas (ver, com relação à aquisição precoce da variação estilística, Andersen, 1990).
Por fim , é de extremo interesse comparar esses dados com resultados parciais obtidos porCapellari (2003), no contexto da produção de sua dissertação de mestrado, ainda em curso. Osdados exam inados pela autora neste trabalho dizem respeito a uma parte da coleta encetada porZilles (1992). Num de seus conjuntos, tal coleta tem como amostra um grupo de 18 crianças entre4 e 6 anos de idade, que freqüentavam um a escola pública de Porto Alegre, havendo, nessesentido um contraste entre os dois grupos de crianças – as crianças da coleta longitudinal aquiexaminada eram estudantes da rede privada. Naquele contexto, em situação de interação entreduas crianças, o percentual de uso da concordância padrão ficou em 16%; já num contexto deinteração entre a entrevistadora e cada uma das crianças, tal percentual foi um pouco mais alto,atingindo os 22%. Esse percentual está próximo apenas de um dos percentuais obtidos em meulevantam ento: aquele referente ao em prego de concordância padrão pelos m eninos em situação
de relato pessoal. Em todos os demais casos, os percentuais de emprego da regra padrão na falados sujeitos examinados no presente trabalho é mais elevado.
É claro que se deve ter em consideração o fato de serem apenas dois os m eninos aquiincluídos e que as am ostras, tanto a que examino como aquela que Capellari examina, não foramcontroladas em termos da homogeneidade de categorias sociais com o a profissão e a escolaridadedos pais das crianças. Ainda assim, tais diferenças percentuais, com percentuais por vezes
bastante baixos de emprego de formas de prestígio, clam am por investigações mais detidas, quebusquem entender de que modo a classe social, a ausência de vivências de letramento, entreoutros fatores, estão a elas relacionados. Enfim , é fundam ental que a pesquisa em aquisição dalinguagem dialogue com as questões de letramento, contribuindo, no que toca ao problem a dobidialetalismo, para proporcionar à escola conhecimentos mais claros sobre a língua que utiliza e,portanto, sobre a gram ática que internalizaram as crianças que lá estão.
ReferênciasANDERSEN, E. Speaking with style: the sociolinguistic skills of children. New York: Routlege, 1990.BRITTO, L. P. L.. A sombra do caos: ensino de língua X tradição gramatical. Cam pinas: ALB eMercado de Letras, 1997.CAPELLARI, E. A concordância nominal de núm ero na fala infantil. Porto Alegre: UFRGS, 2003.Mim eo.CAPELLARI, E.; ZILLES, A.M.S. A marcação de plural na linguagem infantil: estudo longitudinal.Revista da ABRALIN, vol. 1, n° 1, p. 185-218, 2002.CERQUEIRA, V. Que faz uma criança com a marca de plural? Um estudo da aquisição deconcordância nom inal no português. Atas do 1º Congresso Internacional da ABRALIN. Salvador:UFBA, 1994.GUIMARÃES, A.M.M.& LAMPRECHT, R.R. CHILDES Project: using CHILDES for BrazilianPortuguese. In: FARIA, I.H & FREITAS,M.J. Studies on the acquisition of Portuguese. Lisboa,Colibri, 1995. p. 207-214.LAMPRECHT, R. Aquisição da morfologia do plural por crianças bilíngües português-alemão. In: IEncontro de CELSUL, 1997, Florianópolis, Anais. Florianópolis, UFSC, 1997, vol. 1, p. 107-117.SCHERRE, M. Sobre a influência de três variáveis relacionadas na concordância nominal emportuguês. In: SILVA, G.M.; SCHERRE, M. (orgs.) Padrões Sociolingüísticos: análise defenômenos variáveis no português falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio: Tempo Brasileiro,1996a. p. 85-117._____. Sobre a influência de variáveis sociais na concordância nominal. In: SILVA, G.M.;SCHEREE, M. (orgs.) Padrões Sociolingüísticos: análise de fenômenos variáveis no portuguêsfalado na cidade do Rio de Janeiro. Rio: Tempo Brasileiro, 1996b. p.239-264.SIGNORINI, I. Construindo com a escrita “outras cenas de fala”. In: _____. (org.) Investigando arelação oral/escrito e as teorias do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 97-134.SOARES, Magda. Linguagem e Escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.ZILLES, A. A ordenação de sujeito, verbo e objeto no discurso narrativo de crianças de 4 a 6 anos.Tese (Doutorado em Letras). Porto Alegre: PUCRS, 1992.
O contexto escolar e o desenvolvimento da escrita
Ana Maria de Mattos GuimarãesUFRGS/[email protected] .br
Este artigo tem o objetivo de mostrar como pesquisas, na área de desenvolvimento dalinguagem, podem ser trazidas para a realidade da escola e transpostas para uma reflexãopedagógica, que conduza a m elhores resultados. Para tal fim , vale-se da questão de aquisição dereferência espacial em narrativas, vista como uma marca de autonomia narrativa, m ostrando comoé possível relacionar essa aquisição com considerações pedagógicas a respeito da construção daescrita.
Os dados do desenvolvim ento da linguagemO trabalho utiliza dados do Projeto DELICRI (Desenvolvimento da Linguagem da Criança
em Fase de Letramento,desenvolvido na UFRGS, no período de 1992 a 1998), que apresenta um alarga produção de narrativas por crianças entre 4;5 a 9 anos de idade. É possível, pela suaobservação, verificar a constituição da criança como narrador autônomo. Com o afirma de Lemos(1992): “... a aquisição da narrativa é um indício importante de uma nova relação da criança com alinguagem. É o mom ento em que ela não depende mais da interpretação/enunciado im ediato dooutro/interlocutor, em que a progressão de seu discurso já repousa sobre a sua própriapossibilidade de, interpretando o já dito, lançar o que está por dizer.” Isso mostra a passagem deuma narrativa construída com o interlocutor, denominada protonarrativa (Perroni, 1992) parauma narrativa construída somente pela criança para o interlocutor. Essa questão foi m uito bemexplorada em seus estágios iniciais por essa autora, que reconstitui o processo dedesenvolvim ento do discurso narrativo, a partir do acompanhamento de crianças de 2 a 5 anos.Nossa curiosidade foi procurar em idades m ais avançadas a continuidade desse processo.
Para tal, foram escolhidas duas crianças, um menino e uma menina, acom panhadaslongitudinalmente durante quatro anos: Gabriel, dos 5;5 anos aos 9;0 e Carmela, dos 4;3 anos aos8;5. Para fins deste trabalho, usaremos as narrativas pessoais e as ficcionais. Nossa análise tratoude “monólogos” narrativos (de Lemos, 1995), por supor uma monologização narrativa centrada nanarrativa da criança e não na interação adulto/criança. Nesse contexto, procurou-se integrar oestudo de pistas lingüísticas mais pontuais, definindo-se narrativa autônoma como aquela na qualpistas referenciais necessárias para sua com preensão estão presentes (Guimarães, Simões, Silva,1998).
A marca da autonomia narrativa investigada tratou de um a questão diretamenterelacionada à referência espacial: a presença de m oldura espacial. Um dos papéis do interlocutorno processo de construção conjunto de narrativas é orientar-se e/ ou orientar o parceiro comrelação ao cenário da narrativa. A m oldura espacial (Hickmann,1994, ou enquadramento espacial,no dizer de Batoréo, 2000) foi entendida com o a informação espacial mais im portante, presentegeralmente no início da narrativa, garantindo a informação de fundo que orientará espacialmentetoda a história. Na m aior parte das vezes, a introdução do personagem principal da narrativa ocorresim ultaneam ente ao estabelecim ento da moldura espacial, no início da narrativa (Guim arães,1999,Batoréo, 2000). Tal informação espacial pode, entretanto, estar ausente quando houverpressuposição de conhecim ento compartilhado do cenário com o interlocutor.
Orientou-nos a hipótese de que a narrativa autônom a se desenvolve concom itantementeao surgimento da moldura espacial, no momento em que o narrador criança se torna independentedo interlocutor e se preocupa em transmitir pistas referenciais que perm item a interpretação desua narrativa.
Na análise das narrativas de nossos dois informantes, o desenvolvim ento encontrado édiferenciado. Nos chamados relatos pessoais, o surgimento da narrativa sem ajuda do
entrevistador se dá, para Carmela, aos 5;5; entretanto a moldura espacial só apareceráestabilizada aos 5;10. A partir desse momento, estará sem pre presente em suas narrativas.
Gabriel tem uma produção narrativa que com eça aos 5;5 (época justamente em queCarmela narra de forma independente de seu interlocutor) e, aparentemente, narra sem ajuda dointerlocutor desde o início da coleta. Um a investigação mais aprofundada em seus textos, mostra,contudo, que sua primeira história é cheia de vazios, há a intenção de preencher a molduraespacial que não é cumprida :”eu estava no... no...correndo atrás de um futebol.”(5;5). Aos 6;0, é oentrevistador que esclarece o cenário da narrativa: embora, desde a primeira frase, Gabriel tenhamencionado um fundo (um dia eu fui no Parcão), o questionam ento do interlocutor ( lá no Parcão?)faz surgir outro cenário (lá na Redenção). De qualquer modo, fica evidente a existência de umamoldura. As histórias produzidas aos 6;5 e 6;7 são todas dialogadas, a partir de cenários propostospelo interlocutor. É apenas aos 7 anos que a narrativa é feita unicam ente pela própria criança, quese preocupa em situá-la espacialm ente. A partir de então, há sempre uma m oldura.
A produção de histórias ficcionais, isto é, daquelas que pressupõem recontagem, peloconhecim ento anterior da narrativa (explicitado em: “eu quero que tu me contes uma história que tulem bres e m e conta assim um a historinha que te contaram e que tu lembres...”, em entrevista deGabriel de 28 de setembro de 1993), aconteceu aproximadamente um ano após a coletalongitudinal ter iniciado. Esse período coincidiu, praticam ente, com o momento em que asnarrativas pessoais passaram a contar com molduras espaciais, apresentadas de formasemelhante aos adultos. Entretanto, o mesmo não ocorreu de imediato com as narrativas ficcionaisapresentadas. Só aos 7;7, Carmela estabilizará a ocorrência de m olduras e Gabriel, aos 7;11. Umaverificação m ais apurada das histórias contadas m ostrou que há m aior núm ero de hesitaçõesnessas narrativas, o que poderia ser aproximado a questões de m emória, sobretudo com históriaspouco conhecidas. No caso de histórias conhecidas (Chapeuzinho Verm elho foi escolhida duasvezes por Gabriel e três por Carm ela), a ênfase dada é diversa em cada um a das produções, e anecessidade de contextualizar a questão espacial é menor, pois, na maior parte dos casos, hápressuposição de conhecimento da mesma história pelo interlocutor. Essa pressuposição decenário com partilhado com o interlocutor está presente em outras histórias, com o em uma que serefere às aventuras ou desventuras de um rei que perde uma orelha. Contada em duas ocasiões, amoldura espacial está ausente, pois existe a pressuposição de que as histórias de reis ocorrem emseus reinos.
Por outro lado, este tipo de narrativa apresenta uma série de episódios ou de pequenasnarrativas que se encadeiam. Esses episódios podem ser diferenciados entre si pela sualocalização espacial diversa. Retomando o exem plo da história de Chapeuzinho Vermelho, oprimeiro episódio ocorre na casa de Chapeuzinho e sua m ãe; o segundo no caminho para a casada vovó e o terceiro na casa da vovó. Essas trocas de referência espacial devem ser sinalizadaspara o interlocutor, pois o fundo, o cenário m uda, e sua mudança é decisiva pra a compreensão dahistória.
Importante assinalar que, mesm o em histórias em que não houve m oldura espacial, emfunção de pressuposição de conhecimento compartilhado (com o em : “era uma vez uma m enininhadorm inhoca e daí estava de dia e ela não acordava...” – Carmela, 7;2 anos, em que a criançapressupõe o local ‘a sua casa”), as trocas de referências espaciais necessárias para acompreensão dos diversos episódios estão presentes (na cama> pra sala> no m eio da cozinha).
As narrativas pessoais foram também produzidas na m odalidade escrita, a partir doestím ulo: ”Agora, escreve essa historinha para nós”. Muitas dessas produções aparecem em formade desenhos. A primeira produção textual escrita de Carmela ocorre aos 6;3 e nela não aparecereferência espacial. Entretanto, sua segunda produção escrita, aos 6;7 (“Eu e minha prima fomosvê o fim i nosinema...”) a apresenta, o que segue ocorrendo nas próxim as três coletas. A molduraencontra-se ausente aos 7;7, quando a escrita se restringe a um a frase, sem referência espacial(“Fui assistir a luta de esgrima das m inhas primas.”) e aos 7;11, em que é escrita um a lista, sob otítulo “Meus presentes”. As produções seguintes vêm acom panhadas de uma localização espacial.
A trajetória da produção escrita de Gabriel é diversa. Sua primeira produção ocorre aos6;10, sem referência espacial, o que pode ser atribuído à pressuposição de conhecim entocompartilhado do local: ‘a m inha casa’(“Meuerm ão e m inhaerm ão estava jogando xadres eeutireiumapesadojogo.”, aos 6;10 anos). Todas as dem ais, no entanto, a partir de 7;11 (em
coletas intermediárias, aos 7;5, 7;7; 7;9, o sujeito optou por desenhar suas histórias), apresentammoldura espacial, tipo “ondia no Ginazio do ipa eu peguei um..”.
A comparação com as narrativas orais produzidas na mesm a ocasião, mostra que, tantopara Carm ela, como para Gabriel, a moldura espacial aparece na forma escrita quando a criançaconcebe sua produção escrita realmente como uma narrativa que transcreve a partir dos principaisfatos contados no oral. No caso específico de Carm ela, a modalidade escrita acontece quando asmolduras espaciais já se mostravam estabilizadas no oral e sua ausência em dois m omentosposteriores da produção escrita pode significar que não houve a preocupação de relatar osmesmos fatos do oral, pois, nos casos em que não aparece m oldura, também não há narrativa.Com Gabriel, a produção escrita acontece simultaneamente com a estabilização da presença damoldura espacial no oral. Em sua primeira narrativa escrita, contudo, não há m oldura, o que podeser atribuído à pressuposição de conhecim ento do local pelo interlocutor.
Embora as trajetórias individuais de nossas crianças sejam diversas no que toca à questãoidade, apresentou-se um padrão com um de desenvolvim ento: um primeiro m omento em que amoldura espacial apareceu sem a intervenção do interlocutor (ainda que de form a não sistemática)e um segundo, em que ocorreu a estabilização da presença de moldura espacial. A escrita dasnarrativas aconteceu simultaneamente a esse segundo momento, com a presença da moldura.
Conseqüências pedagógicas para a construção do discurso escritoA relação entre processo de letramento e a construção social do discurso oral (sobretudo
narrativo) é tema de vários estudiosos. A escola seria culpada pela ruptura desse processo, por teruma visão fragmentária e descontextualizante da linguagem e da aprendizagem , já que insiste ementendê-lo como de com plexidade cumulativa. Ao contrário, trata-se de um processo de construçãoque envolve idas e vindas, reorganizações, reestruturações, com o sujeito em interação e inter-relação com o outro, o mundo e a própria linguagem. Ainda que, ao refletir sobre os processos deconstrução da escrita, Vygotsky (1987) coloque a fala e a escrita como sistem as análogos, nãoidênticos, que se desenvolvem em direções opostas, refere o caráter dialético dessa relação, emque cada sistema influencia o outro e se beneficia de seus pontos fortes, mas também otransforma e o modifica. Por sua vez, Lentin (1996) entende que a criança passa do falar-pensar apensar-ler-escrever sem rupturas, desde que tenha havido interação verbal com adultos e que acriança já seja capaz de dominar o sistema sintático da língua indispensável para a abordagem dotexto escrito.
Ao adotar o ponto de vista teórico de que é possível pensar-se em um a relação processualentre oral e escrito, cabe retomar também a questão de como a escola vê (revê) o letramento. Énesse sentido que escolhemos a questão do desenvolvimento da narrativa infantil, com ênfase nasreferências espaciais. Através deste ponto particular, querem os reiterar que capacidadesnecessárias para atividades de escrita, que não sejam espontâneas, mas mais abstratas edependentes de planejamento, devem ser devidamente desenvolvidas pela escola. Consideramosa construção da referência espacial com o um a dessas capacidades dependentes de planejamento,e que constitui um utensílio da escrita, na medida que ajuda a traçar o quadro de referências deum texto. Entretanto, essa questão espacial não faz parte do elenco de aprendizagensdesenvolvidas na escola, na área da escrita.
A questão da referência espacial pode ser vista, no funcionamento da linguagem , dentrodo elenco citado por Schneuwly (1991) de signos ou unidades lingüísticas que agem sobre umcontexto lingüisticam ente criado e que adquirem importância à medida que o texto ganhaautonom ia com relação à situação de produção. Parece que essa possibilidade de análise daprodução escrita operacionaliza o conceito de m ediação simbólica por m eio das unidadeslingüísticas textuais, perm itindo que se pense em uma prática de aprendizagem textual maisprodutiva. Ora, mesmo que se planeje, para a situação escolar, uma abordagem minimam entenormativa e se entendam as condições de produção dos textos, é preciso refletir sobre uma teoriade aprendizagem da escrita que perm ita ir além do fato de que “escrever se aprende escrevendo”.Schneuwly (2002) m ostra que se aprende a escrever a partir da apropriação dos utensílios daescrita, no sentido vygotskiano de que essa apropriação perm ite transformar a relação com opróprio processo psíquico da produção de linguagem (Vygotsky, 1987). Visto sob esse enfoque,referência espacial pode ser tratada como um desses utensílios.
Tem-se a convicção de que, na medida em que os conceitos de linguagem e de ensinoenvolvem indivíduo, história, cultura e sociedade, um a relação dinâmica entre desenvolvimento denarrativas na oralidade e a sua produção como uma atividade de letramento, respeitadas asdevidas diferenças, contribui para um trabalho efetivo de ensino-aprendizagem de língua materna.A questão abordada trata do desenvolvimento da escrita, no sentido da construção de um sistemade produção de linguagem , no caso, da escrita, que considere o papel da intervenção da escola.Isso nos leva a um outro tipo de pesquisa, que se proponha a seguir cortes de alunoslongitudinalmente, considerando as diferentes modalidades de intervenção na escrita, assim comooutros fatores que possam influenciar seu desenvolvim ento, simultaneamente à evolução dacapacidade de escrever, manifesta no produto texto.
Nesse sentido, é preciso ainda falar um pouco sobre a questão da transposição didáticapara o ensino da produção de textos, tendo em vista a preocupação de partir de uma atividade
globalizante, em que se estruturem diversas atividades particulares, de forma que tais atividadestenham um sentido para os aprendizes. Isso significa a preocupação de integrar a problemática das
aquisições da escrita em um quadro mais completo e mais complexo. Daí a pertinência daspropostas desenvolvidas pela teoria interacionista sócio-discursiva, que propõe essa tarefa a partir desua concepção de gênero de texto (Bronckardt, 1998; Schneuwly e Dolz, 1999).
Se quisermos dar conta da transposição didática das questões particulares da referênciaespacial, sobretudo no que respeito à m oldura espacial e à troca de referentes, temos que nosdeter em seqüências narrativas, que podem fazer parte de vários gêneros textuais, seja, porexemplo, um a novela, um a peça de teatro, um diálogo, ou um conto. A seqüência didática que seseguiria 1 estaria apoiada em um gênero de texto2 que apresentasse seqüências narrativas.
Propõe-se, pois, que a questão da referência espacial seja vista como um utensílio daescrita, a partir da proposta de que se deve considerar o desenvolvimento da escrita no sentido daconstrução/apropriação de um sistema de produção de linguagem, nele incluindo a intervenção daescola.
ReferênciasBATORÉO, H.J. O desenvolvim ento da noção de espaço no português europeu. Lisboa: Fund.Calouste Gulbenkian, 2000.BRONCKART, J.P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: EDUC, 1999.CARDOSO, C.J. A socioconstrução do texto escrito: uma perspectiva longitudinal. Campinas:Mercado de Letras, 2003.GUIMARÃES, A.M.M.; SIMÕES, L.J; SILVA, C.L.C. À procura de m arcas da narrativa autônoma.Letras de Hoje, Porto Alegre, n. 112, p. 289-98, jun. 1998._________. Desenvolvimento de narrativas: introdução de referentes no universo textual.Linguagem e Ensino, Pelotas, v. 2 , n.2, p. 91-108, jul.1999.________, SIMÕES,L.J. Reference in children’s narrative: Brazilian Portuguese data. Cahiersd’acquisition et de pathologie du langage.33(22), p.65-82, Paris, 2000.HICKMANN,M. Spatial reference in French children's narrative. Trabalho apresentado no I LisbonMeeting on Child Language, Lisboa, jun. 1994.LEMOS, C.T.G. Prefácio. In: PERRONI, MC. Desenvolvim ento do discurso narrativo. São Paulo:Martins Fontes, 1992._____. Língua e discurso na teorização sobre a aquisição de linguagem. Letras de Hoje, PortoAlegre, n. 102, p. 9-28, dez. 1995.LENTIN, L. A dependência do escrito em relação ao oral: parâmetro fundamental da primeiraaquisição da linguagem. In: CATACH,N.(org.) Para uma teoria da língua escrita.São Paulo: Ática,1996. p. 113-121.PERRONI, M. C. Desenvolvimento do discurso narrativo. São Paulo: Martins Fontes, 1992.SCHNEUW LY, B. Diversification et progresion en DFLM: l’apport des typologies. Etudes deLinguistique Appliquée. p.131-41. Juil-sept 199._________ L'écriture et son apprentissage: le point de vue de la didactique. Éléments de synthèse.Pratiques, Metz, n. 115 e 116, p.237-253, dez.2002.______ e DOLZ, J. Os gêneros escolares : das práticas de linguagem aos objetos de ensino.Revista Brasileira de Educação,11, p. 5-16.1999.SOARES, M. Letram ento: um tem a em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.VYGOTSKY, L.S. Pensam ento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
1 Schneuwly (1991) entende a seqüência didática com o um a unidade de trabalho escolar, constituída por um conjunto deativ idades que apresentam um núm ero lim itado e preciso de objetivos e que são organizadas a partir de um projeto deapropriação de dim ensões constitutivas de um gênero de texto.2 Schneuwly e Dolz (1999) propõem uma reavaliação do conceito de gênero, de forma a implicar um a tom ada deconsciência de seu duplo papel: com o objeto, gênero a aprender e com o instrumento, portanto, gênero para com unicar.
Representações de escrita: esse obscuro objeto do desejo
Marcia Cristina CorrêaUFSM
m.correa@ zaz.com .br
Este trabalho teve por objeto de análise a escrita/escrever, entendida com o um processointerativo, social, histórico, dialógico, baseado na produção de sentido. Nessa perspectiva, estudaro processo da escrita/escrever pressupõe a análise da relação estabelecida, social eideologicamente, do sujeito/aluno com o objeto escrita. A partir disso, o objetivo traçado dizrespeito à análise das representações de escrita/escrever de um grupo de alunos do Curso deLetras-UFSM, futuros professores de língua. Essa análise valeu-se da perspectivasociointeracionista dos estudos da linguagem , de Vygotsky (1991, 1998a, 1998b) e de Bakhtin(1981, 1997). Por sua vez, a m etodologia do trabalho fez uso da abordagem qualitativa depesquisa, constituindo um estudo do tipo etnográfico (Erickson, 1990).
Referencial teóricoO referencial teórico do presente trabalho foi inscrito na perspectiva sociointeracionista dos
estudos da linguagem , de Vygotsky (1991, 1998a, 1998b, 1998c) e de Bakhtin (1981, 1997) ebaseado na concepção de representação social (Jodalet, 2002).
Em função da concepção de escrita adotada neste trabalho, as perspectivas congruentesde linguagem de Vygotsky e de Bakhtin foram referentes fundam entais. Am bos pautam suasanálises no pressuposto de que, para esclarecer um fenôm eno, é necessário observá-lo emprocesso. Além disso, apresentam um a visão totalizante da realidade, que compreende o homemcomo um conjunto de relações sociais. Dessa form a, o entrelaçam ento de sujeito e objeto, não aabordagem isolada de cada um, é que fundam enta suas teorias.
O conceito de interação social é um ponto com um entre Vygotsky e Bakhtin, principalmenteao que se refere ao percurso que os signos e as práticas sociais descrevem ao serem apropriadospelo indivíduo, no seu processo de desenvolvim ento e inserção social. Nesse sentido, amonologização da consciência, para Bakhtin, e o processo de internalização, para Vygotsky,possuem o mesm o referente teórico da precedência do social para o individual.
Nessas abordagens, está implícita a mediação do outro e do signo, uma vez que odesenvolvim ento das funções superiores ocorre em dois momentos, o primeiro, social e o segundo,individual. Nos dois mom entos mencionados, há a utilização do recurso da mediação através daexperiência sociocultural e do signo. Portanto, o conceito de mediação é fundam ental paracompreender o processo vygotskyano de internalização e o conceito bakhtiniano de instânciasinterativas.
Por sua vez, o trabalho de Bakhtin perm ite um a releitura das idéias de Vygotsky e umaampliação das articulações entre os processos pessoais e interpessoais e os processos históricos,culturais e ideológicos. Bakhtin enfatiza o caráter interativo da linguagem, base de todas as suasform ulações, pois, para ele, não há possibilidade de compreendê-la se não pela sua naturezasócio-histórica, tanto no que diz respeito à gênese como no que determ ina o seu funcionamento.Esta afirmação está na essência das bases que pautaram a análise do processo deescrita/escrever neste trabalho.
Cum pre lembrar tam bém que o conceito de representação é entendido a partir de Jodalet(2001). Para a autora, as representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as forjame dão um a definição científica ao objeto por elas representado. As representações chamadassociais são, desta forma, fenômenos com plexos sempre ativados e em ação na vida social.Reconhece-se que as representações sociais – enquanto sistema de representação que regemnossa relação com o m undo e com os outros – orientam e organizam as condutas e ascomunicações sociais.
Neste sentido, representar, ou mesmo se representar, corresponde a um ato depensam ento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto, que pode ser um a pessoa, uma coisa,
uma idéia, uma teoria, etc, tanto real quanto im aginário ou mítico. Observa-se, assim, que não hárepresentação sem objeto, um a vez que toda representação, de qualquer maneira que seespecifique seu sentido, é a representação de algum a coisa. O que alguém diz ou escreve podeinformar ao observador sobre as representações que ele tem das coisas e dos fenômenos quetrata. Na verdade, quando fala, o locutor não só traduz o modo pelo qual vê o m undo, como aindaexpõe a si m esmo. O “eu” que fala o faz em função das representações que partilha com osmem bros do grupo social ao qual pertence.
Na concepção de Jodelet (2001), a representação é caracterizada como uma form a desaber prático ligando um sujeito a um objeto. Dessa form a, a representação social é sem pre arepresentação de algum a coisa (objeto – neste trabalho, a escrita) e de alguém (sujeito – futuroprofessor).
Essa fundamentação teórica teve a função de fio condutor para o desenvolvimento dotrabalho. Por um lado, serviu de base para organização das oficinas (interação social, m ediação edialogismo), contexto no qual foi realizada a coleta de dados. Por outro lado, o referente teórico foium elem ento fundamental para a análise das representações de escrita dos sujeitos da pesquisa.
M etodologiaA m etodologia do trabalho fez uso da abordagem qualitativa de pesquisa, constituindo um
estudo do tipo etnográfico (Erickson, 1986, 1990, 1996). Essa abordagem foi o referente que traçouos rumos do trabalho e perm itiu que a investigação, em todas as suas etapas, ganhasse corpo eunidade. Destaco, dos pressupostos etnográficos, os procedimentos de coleta (observação,gravação, entrevistas) e análise de dados (unitarização, categorização e asserções empíricas), quepossibilitaram o desenvolvimento deste trabalho de maneira coerente com a base teórica adotada.
A partir de oficinas1 para alunos do Curso de Letras da Universidade Federal de SantaMaria, foi oportunizada uma reflexão – pensar, falar e escrever - sobre escrita/escrever, viaresgate da história da escrita de cada sujeito e construção das representações particulares doescrever. No desenvolvim ento dessas atividades, foram selecionados os sujeitos focais e realizadaa coleta de dados para a pesquisa. Para a coleta dos dados, foram utilizados diferentesinstrumentos: questionários inicial e final; gravação (áudio) das oficinas; textos escritos e entrevistaindividual (gravada em áudio).
Análise dos dadosA partir dos procedimentos de unitarização (para chegar às unidades de análise) e
categorização, as representações de escrita/escrever dos sujeitos da pesquisa foram organizadasem três categorias: “Escrever”, “Aprender a escrever” e “Ensinar a escrever”.
Em relação à Categoria 1 - “Escrever” , os alunos fizeram depoim entos quefundamentaram a subcategoria “Escrever de acordo com o modelo escolar”, sustentada pelasasserções: “Escrever é sinônimo de redação”; “O motivo de se escrever é para ser avaliado”; “Nãohá interlocutores para o que se escreve” e “Escrever é uma atividade desagradável”.
A verbalização dos alunos em relação ao “escrever”, referente às atividades de escritasdesenvolvidas durante a vida escolar, apresenta características extremamente negativas, conformeas asserções confirmam. A partir do que os alunos falaram e do que escreveram , escrever é umaatividade vinculada exclusivamente ao espaço escolar. Nesse contexto, a escrita não éconsiderada um processo interativo, pois o papel do interlocutor é anulado, e, também, para osalunos, a finalidade de escrever era para serem avaliados (pelo professor). Em função disso, elesconsideram que escrever, na escola, é uma atividade desagradável.
Nas produções finais, texto final e entrevistas, os alunos refletiram sobre as atividades deescrita/escrever realizadas nas oficinas. Nesse contexto, eles “escreveram” e “falaram” sobre umprocesso diferente daquele apresentado na escola. A partir disso, foi gerada a segundasubcategoria, “Escrever além do modelo escolar”, com as respectivas asserções: “Houve reflexãosobre escrita/escrever”; “Havia interlocutores para os textos escritos” e “Escrever foi um a atividadeprazerosa”.
1 As oficinas foram realizadas no período de março a julho de 2001, com 15 encontros, totalizando 30 horas
Analisar a escrita/escrever, tomando por base as asserções referentes a este contexto,perm ite uma aplicação dos pressupostos sociointerativos, de Vygotsky e de Bakhtin. A partir dainteração entre os alunos, houve a reflexão sobre escrita/escrever. Além disso, nas atividadesdesenvolvidas nas oficinas, foi gerado um processo interativo, pautado na m ediação do outro comointerlocutor dos textos dos colegas.
Nesse sentido, os alunos escreveram os seus textos para que esses fossem lidos peloscolegas. Atribuindo à escrita, dessa forma, o fundam ento básico da linguagem, segundo Bakhtin,ou seja, para a palavra nada é m ais terrível que a irresponsividade (a falta de resposta).
Esse processo interativo possibilitou a alteração de atitude dos sujeitos em relação aosseus textos e, também, aos de seus colegas. Com isso, apresentaram uma m udança de atitudedos sujeitos com a escrita, um a vez que passaram a entendê-la, e utilizá-la, como um processointerativo, dialógico, ideológico e histórico. Em decorrência dessa postura, chegaram até a afirmarque escrever, no contexto das oficinas, foi uma atividade prazerosa.
Quanto à Categoria 2 “Aprender a escrever” , foram geradas duas subcategorias:“Aprender a escrever em casa” e “Aprender a escrever na escola”.
Em relação ao aprender a escrever em casa, os depoimentos dos alunos foramcaracterizados positivam ente, conforme a asserção “Aprender a escrever em casa foi um processoprazeroso”. Para eles, a escrita/escrever, neste espaço, foi interativa, significativa e,principalmente, pautada na m ediação do outro, que agiu com o facilitador da aprendizagem .Destaco que, para os sujeitos da pesquisa, escrever em casa era um a atividade m otivada pelodesejo de aprender. Para concretizar esse desejo, contavam com a participação do outro(pai,mãe), que os orientavam, o que, pelo carinho empregado, gerou confiança na criança.
Por outro lado, no contexto escolar, o aprender a escrever foi descrito de form a bastantenegativa, conforme a asserção “Aprender a escrever na escola não foi um processo prazeroso”.Em relação a esse espaço, há uma direta relação de oposição com a m aneira como foi descrito oaprender a escrever em casa. Na escola, houve uma anulação das características positivas,referentes ao prim eiro espaço. Nesse sentido, na escola, aprender a escrever não foi prazerosoporque, para os alunos, escrever, nesse contexto, não era um processo interativo, nem dialógico e,muito menos, mediado pelo outro.
A caracterização negativa do aprender a escrever na escola decorre, principalmente, desseúltimo aspecto citado. Para os sujeitos da pesquisa, desde as séries iniciais, houve a presença doavaliador, que se sobrepunha ao mediador, na perspectiva de Vygotsky, e ao interlocutor, paraBakhtin. Para os alunos, escrever era cumprir tarefas a fim de serem avaliados (ortografia egramática). Portanto, a escrita/escrever, nesse contexto, não tinha significado, era um processomecânico (“de dedos e mãos”, como afirma Vygotsky, 1998).
Em relação à Categoria 3 “Ensinar a escrever” , os alunos fizeram depoim entos quefundamentaram a subcategoria “Ensinar a escrever”, com a asserção “Ensinar a escrever é rompercom o m odelo de professor que tive”, e a subcategoria “Ensinar a ensinar a escrever”, baseada naasserção “Ninguém ensina a ensinar a escrever”.
Quanto ao primeiro aspecto citado, os sujeitos estabeleceram parâmetros referentes àimagem dos professores que tiveram e essa im agem foi rejeitada. Para eles, não serve dereferência para o ensinar a escrita/escrever.
Além disso, os sujeitos da pesquisa constataram que a única referência que eles tinham doensinar é justam ente a partir da imagem de professor que eles rejeitaram e, assim, depararam-secom uma situação preocupante, para futuros professores, já que não tinham construído um a novareferência para ser utilizada no futuro.
Na verdade, eles sabiam o que não queriam fazer, ou seja, não queriam reproduzir omodelo que tiveram, entretanto, estavam “perdidos” em relação ao parâmetro a ser adotado paraensinar a escrever. As suas afirmações sobre ensinar a escrever foram baseadas na negação domodelo que tiveram e, também, na constatação de que não “receberam” outro modelo parasubstituir o anterior.
Quanto ao segundo aspecto, “Ensinar a ensinar a escrever”, a reflexão realizada apontapara “dificuldades” na relação dos alunos de Letras-UFSM, futuros professores de língua, com oobjeto escrita/escrever. A partir disso, eu construí a representação do aluno do Curso de Letras-UFSM em relação ao objeto escrita/escrever. Estabeleci a representação de sujeitos queafirmaram não gostar de escrever e que escrevem somente o que lhes é solicitado, quase sempre
para algum tipo de avaliação. Em geral, não gostam do que escrevem, são bastante críticos emrelação a sua produção e, principalmente, têm receio de fazer circular os seus textos. Entretanto,em relação à leitura, a relação dos sujeitos da pesquisa é m uito diferente, eles a consideram comouma atividade prazerosa e lêem com freqüência.
Considerações finaisCom o resultado das análises, através da história de cada sujeito, aluno do Curso de
Letras, fica evidenciado o fato de que, com o passar dos anos escolares, o “desejo” de escreverdim inui/desaparece, e o objeto escrita/escrever torna-se obscuro, uma vez que essa atividadepassa a ser um processo mecânico, sem significado, sem m otivação e sem necessidade na vidado aluno. Os resultados obtidos perm item verificar que, sem intervenção de propostasinteracionistas, os futuros professores não conseguirão romper com o modelo da reprodução:“ensino como aprendi”, com isso, perpetuando o ciclo do “desprazer” da escrita.
Ressalto que, nessa abordagem, dois princípios fundamentais devem alicerçar o referentede ensinar a escrever: o papel do mediador e a concepção de escrita/escrever. O professor deveassum ir o papel de m ediador/facilitador do processo de aprender a escrever, e, nessa perspectiva,agir com o um dos interlocutores do aluno.
Com relação à concepção de escrita/escrever, entendo que ela seja a pedra de toque pararefletir sobre o processo de ensinar a escrever, a fim de buscar alternativas para melhorá-lo. Semuma concepção clara do objeto escrita, com o pode o professor ensinar, eficientemente, o aluno aescrever?
Para isso, penso que um caminho viável seria o de dar, à escrita/escrever, o valorsim bólico, histórico, ideológico, social que decorre da concepção de linguagem baseada nospressupostos de Vygotsky e de Bakhtin. Portanto, pensar a escrita/escrever como um lugar deinteração/interlocução e produção de sentido.
Da análise das representações do “ensinar a escrever”, que os sujeitos apresentam, euconstruí, da mesma form a, a representação do aluno do Curso de Letras-UFSM em relação aoobjeto escrita/escrever. Assim, estabeleço a representação de um sujeito “perdido” entre areferência de aluno e a referência (provável) de professor de língua. Esse aluno não conseguiuestabelecer um elo entre os dois pontos referidos: “ser aluno” e “ser futuro professor”. Nos relatos,conforme já foi discutido, é recorrente a idéia de que, no Curso de Letras-UFSM, eles não estãosendo preparados para ensinar. Em relação a isso, considero que possa ser uma falha do Curso,em função de não ter possibilitado a “quebra” de atitude (passiva) em relação ao modelo dereprodução perpetuado.
Mantendo um a postura coerente ao referencial teórico adotado, afirmo que, no meuentender, todos os aspectos referentes ao escrever, ao aprender a escrever e ao ensinar aescrever devem ter, como ponto inicial e principal de discussão, a concepção de escrita/escrevercomo processo social, interativo, dialógico e histórico. A partir dessa postura, acredito que hajauma possibilidade de alteração na chamada crise da escrita na escola.
ReferênciasBAKHTIN, Mikhail. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e filosofia da linguagem . São Paulo : Hucitec,1981._____. Estética da criação verbal. 2.ed. São Paulo:Martins Fontes, 1997.ERICKSON, Frederick. Qualitative methods in research on teaching. In: W ITHORCK (ed.).Handbook of research in teaching. Nova York: Macmillan Publishing, 1986._____. Qualitative methods in research. Teaching and learning . 2: 89-125, Nova York: MacmillanPublishing Com pany, 1990._____. Ethnographic m icroanalysis. In: MCKAY, Sandra Lee; HORNBERGER, Nancy.Sociolinguistic and language teaching. Cambridge:Cambridge University Press, 1996.JODALET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: _____ (Org.) Asrepresentações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001.p.17-44VYGOTSKY, Liev et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem . 3.ed. São Paulo :Ícone,1991.VYGOTSKY, Liev. A formação social da m ente. São Paulo : Martins Fontes, 1998a._____. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo : Martins Fontes, 1998b.
_____. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins Fontes, 1998c.
Leitura e escrita de crianças surdas não alfabetizadas
Vera Lucia Andrade ManziniSandra Helena Andrade Monaco
Fátima Saad XimenesCristina Elaskar de Almeida
Simone Soares FontesMaria Cristina da Cunha Pereira
PUCSPm ccp h y@ terra .com .b r
Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da atividade de leitura, bem como aprodução das prim eiras narrativas escritas, em crianças surdas de 3:0 a 7:0 anos de idade, alunasda Educação Infantil de uma escola especial em São Paulo, o Instituto Educacional São Paulo.1
Embora pesquisas recentes demonstrem a capacidade criativa dos surdos e apossibilidade de constituirem sentido, tanto na leitura como na escrita, predomina, ainda, umarepresentação do aluno surdo como deficiente lingüisticam ente e, portanto, incapaz decompreender o que lê e de expressar com clareza um a idéia por escrito.
Tal imagem parece decorrer, entre outros motivos, do fato de que, vinda de famíliasouvintes, usuárias da linguagem oral, a maior parte das crianças surdas, embora chegue à escolacom alguma linguagem, desenvolvida na relação com os familiares, geralmente não apresenta umalíngua constituída.
A língua, na modalidade oral, usada pelos pais, é inacessível aos filhos surdos, e, por outrolado, a Língua de Sinais é desconhecida para a grande parte dos pais ouvintes. Nesse cenário,pode-se dizer que, de m odo geral, as crianças surdas chegam à escola sem língua, e com poucoconhecim ento de mundo, constituído com base nos canais visual e m otor. Este conhecim ento,geralmente, não é interpretado e/ou com partilhado em casa devido à barreira da comunicação quese estabelece entre os familiares e a criança.
Ao ingressarem na Educação Infantil do Instituto Educacional São Paulo, as criançassurdas são expostas à Língua Brasileira de Sinais e, nesta exposição, são privilegiadas atividadesdiscursivas, com o diálogos, relatos e narrativas de histórias. É neste contexto tam bém que se dá oinício do trabalho de leitura e de escrita.
Um dos objetivos gerais da Educação Infantil é desenvolver o letramento e nãopropriamente a alfabetização.
A m aior preocupação dos professores da Educação Infantil do IESP é ampliar oconhecim ento de mundo dos alunos, bem como os usos da escrita. Cabe a eles também o papelde “intérprete” entre a Língua Brasileira de Sinais e o português escrito.
Toda escrita que permeia o mundo escolar da criança (bilhetes e avisos para as mães,listas de alunos, cartazes etc...) é valorizada e interpretada pelo professor. Por acreditar naimportância dos alunos surdos perceberem a função social da escrita, os professores os expõem adiferentes portadores de textos, como receitas, jornais, histórias, regras de jogos, bem comoconstroem, com eles, textos com base nos relatos de finais de sem ana e de passeios, porexemplo. O conteúdo dos textos é trabalhado tanto pelos instrutores como pelas professoras,usando a Língua Brasileira de Sinais.
Consideram os que a prim eira escrita significativa que a criança percebe é o seu próprionome. Segundo Ana Teberosky (2001), os nom es têm para as crianças o sentido de um texto
1 O Instituto Educacional São Paulo – IESP - faz parte da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios daComunicação – DERDIC – da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Do IESP fazem parte três programas:Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Fundam ental Alternativo, que atende alunos com acentuada defasagem narelação idade-série escolar.
completo. Inicialmente é trabalhado o próprio nome do aluno, que vai se am pliando para o nomedos am igos do próprio grupo, da professora, dos familiares e dos profissionais que trabalham comela.
Por serem crianças surdas, o conjunto de letras que compõe seu nom e é, também ,representado pelo alfabeto digital. Para cada letra existe um a configuração de mão correspondentepara representar as letras do alfabeto e esse alfabeto digital é utilizado pelos surdos para“soletração” de nomes, endereços, nomes de livros, entre outros.
A criança é exposta todos os dias ao seu nome, durante a rotina escolar, identificando qualo am igo que faltou e quais as crianças que estão presentes. No grupo 1 (crianças de 3 anos deidade) os nom es, escritos com letra bastão, são apresentados em cartelas e digitados, no prim eiromom ento, pela professora.
Percebemos que as tentativas espontâneas de digitação dos nom es são anteriores àescrita dos mesmos.
Durante todo esse início de trabalho, diariamente as crianças são estimuladas a escreverseus nomes. A produção escrita inicialmente se caracteriza por garatujas, “bolinhas”, dando lugarao aparecimento de pseudo letras e, finalm ente, algumas letras.
Nos grupos de crianças m ais velhas (de 5 a 7 anos de idade), elas escrevem seus nom ese os nomes dos am igos sem m odelo. Aparecem , também, tentativas de escrita dos nomes comletra cursiva.
Para que essa construção assim se constitua, fazem parte da rotina escolar atividades quepossibilitam a com paração das letras que compõem o nome, letras que se repetem, que sediferenciam e o número de letras. Tal exposição perm ite que a criança perceba a presença dasletras no mundo que a cerca, seja nos rótulos de embalagem, nos outdoors, cartazes, jornais,revistas, livros e nos textos produzidos na escola.
A palavra escrita não se restringe somente aos nom es próprios. Aos poucos a criança vaitrabalhando e desenvolvendo suas hipóteses, utilizando outras palavras, com o, por exem plo, a listados animais vistos no zoológico, um a lista de compras, dos ingredientes de um a receita, entreoutros.
Existem outras situações de escrita, como, por exem plo, os relatos de finais de semana.Essa atividade, por ser sistemática, produz efeitos construtivos evidentes, mostrando, semana asemana, como a criança está lidando com a escrita. As crianças tornam-se também bem maissoltas, isto é, com confiança e livres para experimentar suas hipóteses durante a escritaespontânea.
Desde que entram na escola, as crianças possuem uma agenda e esta serve como meiode comunicação entre os pais e a professora. Além desta agenda, cada criança possui um cadernode desenho grande e nele é pedido que ela registre o que fez no sábado e no dom ingo. Esteregistro ocorre por m eio de desenhos, colagem (de ingressos, de embalagens ou de algum outromaterial referente ao que a criança quer relatar). Os pais são orientados a incentivar seus filhos aregistrar, por meio de desenhos, algo im portante que aconteceu com a criança, no fim de sem ana
ou nas férias, ou até m esmo durante a semana. Nesses m omentos são orientados a servir deescriba para os filhos, registrando em português uma idéia expressa por eles em Língua de Sinais.
Este trabalho visa, principalmente, envolver a fam ília no processo de aquisição da leitura eda escrita de seus filhos. No relato de final de semana, o papel da família é m uito importante e,quanto mais ela se envolve, melhor é o progresso e o interesse da criança.
Cada criança tem a oportunidade de mostrar seus desenhos e a escrita da mãe, contandoe dando significado à escrita desta.
Quando a criança traz o caderno, o seu registro é visto por todos e ela conta para oscolegas o que fez. Percebemos que a constância desta atividade faz com que a criança m elhore(aperfeiçoe) seu relato no que se refere à organização, à m aior complexidade de detalhes e aoaumento de tempo de narrativa.
A criança planeja e organiza seu relato para que ele se torne cada vez mais com preensívele interessante para os amigos e para a professora.
Ocasionalmente, o relato de uma criança é semelhante ao de outra e nesse mom ento elaé incentivada a perceber que as palavras se repetem e são iguais ou quase iguais, mas o relato édiferente.
A repetição desta atividade e a constância com que algum as palavras aparecem nasescritas das frases, tais como brincar, bola, televisão, bolo, aniversário, possibilitam às crianças oreconhecim ento dessas mesmas palavras em outros textos e contextos.
A professora torna-se escriba dentro da sala de aula e escreve na lousa uma frase que acriança conta. Nessa ocasião a professora procura usar o pronom e pessoal (eu) para que, ao fazera leitura, a criança possa fazer uso correto da estrutura do português.
Depois que todas as crianças passam por esse processo, a professora procura questioná-las sobre o que foi escrito. Por exem plo: ”Quem foi passear de carro com o papai?” Depois aprofessora pode também perguntar onde elas acham que estão escritas determ inadas palavras,como por exemplo, papai, carro etc.
Após essa atividade, as crianças são incentivadas a fazer seu próprio registro escritoespontaneam ente, sempre com base no desenho (a lousa já foi apagada).
Um a atividade um pouco diferente é a escrita de frases, não na lousa, mas em tiras depapel. Após a escrita, a professora pode pedir para às crianças que procurem sua própria frase.Pode pedir tam bém que recortem as palavras dessa frase (todos os elem entos). Essas palavrasrecortadas são guardadas dentro de uma “caixa de palavras”, que foi anteriorm ente confeccionadapelas crianças.
As palavras podem servir para construção de outros relatos pelas próprias crianças.Quanto aos relatos de passeios, a professora e o instrutor de sinais exploram tudo o que foi
visto durante o mesmo.Como já foi referido anteriormente, a professora assume o papel de escriba do grupo e
constrói junto com o mesmo um texto que registra os acontecimentos mais significativos dopasseio.
O que é “dito” pelas crianças surdas é escrito em português. Aparecem então asdiferenças na estrutura e no uso das categorias gramaticais e na forma de expressão de idéiasentre as duas línguas, português escrito e Língua Brasileira de Sinais (vocábulos X sinais)
A língua de sinais se caracteriza como sendo um a língua visual/espacial ( o uso doespaço é transformado em português).
A criança surda vai captando e tomando posse dessas regras do português na interaçãocom o outro e com o português escrito.
Em relação à leitura, as crianças das salas iniciais (de 3 a 5 anos de idade) começam aperceber e “ler” o seu nom e, através de brincadeiras e atividades que prom ovem esta identificação.É com o nome que a criança com eça a dar seus prim eiros passos no grande universo que a escritarepresenta.
Gradualmente, o aluno começa a identificar outras palavras, que sempre sãocontextualizadas de acordo com a vivência e o interesse do aluno.
Em algum as atividades, a leitura representa papel im portante para que a criança participeda m esma. Por exemplo, após um passeio ao Zoológico, as crianças escolheram os animais quemais gostaram de observar. O nome de cada animal foi escrito em cartelas e colocado ao lado daminiatura correspondente. As cartelas então foram retiradas e cada criança sorteou uma. Ela,então, “lia” e pegava a m iniatura correspondente.
A criança tam bém é estimulada a ler a lista de com pras dos ingredientes de uma receita, alista de alunos de outro grupo etc.
Aos poucos, a criança vai am pliando a sua “leitura” para identificar frases que sempre sãoescritas para o aluno.
Nos grupos de crianças entre 6 a 8 anos de idade, é feito um trabalho mais detalhado esistemático com os textos elaborados pelo grupo juntam ente com o professor.
À m edida que vai sendo confeccionado o texto, professora e alunos fazem a leitura,atribuindo sentido. A leitura desse texto é trabalhada com diferentes estratégias. Por exem plo, oprofessor sinaliza alguns vocábulos e pede que as crianças os localizem no texto; solicita a leiturade algumas frases, destacando palavras significativas para as crianças.
Após a apresentação do texto em cartaz ou na lousa, as crianças recebem o mesm odigitado. É interessante como algumas crianças, ao receberem o texto, já o significam e fazem asua própria leitura. Algumas crianças, após uma única leitura do professor, são capazes de ler otexto. Outra observação feita ao longo do trabalho foi que as crianças com maior facilidade paramem orizar as estruturas apresentam também um melhor desempenho na escrita.
Outro trabalho de leitura desenvolvido na educação infantil é com livros de histórias.Estes são objetos presentes nas salas de aula desde quando as crianças ingressam na
escola, no programa de atendimento a bebês.Os instrutores surdos, assim como as professoras, relatam histórias para os alunos,
usando a Língua de Sinais e é na situação de contar histórias que se observam os primeirosrelatos dos alunos, bem como as prim eiras tentativas de “leitura”.
Os momentos de leitura se caracterizam como uma atividade sistemática na rotina dassalas de aula. O início da atividade é m arcado pela colocação na porta de um cartaz confeccionadoanteriormente pela professora e pelos alunos em que é pedido que a atividade não sejainterrompida.
Em relação à “leitura”, em todos os grupos, observa-se preferência pelos livros maisconhecidos. Quando pegam um livro novo, os alunos folheiam e alguns descrevem, com sinais, asfiguras nele contidas. No entanto, quando o livro é conhecido, eles demonstram m aiorenvolvimento, e alguns apresentam pequenos relatos, muitas vezes incorporando fragmentos dosrelatos apresentados anteriormente pela professora. Algumas crianças procuram palavrasconhecidas no texto, outras apresentam vocalizações e outras, ainda, apresentam nom eaçõesoralm ente ou na língua de sinais.
Em relação aos efeitos da atividade de leitura nas crianças da Educação Infantil, o registrodas professoras e gravações de Video-Tape perm item observar m udanças quanto à postura deleitor, tempo de concentração na leitura e no estabelecimento de relações entre a Língua Brasileirade Sinais e o português escrito.
No decorrer do trabalho de leitura, percebem os que a constância da atividade e amanutenção dos livros são fatores que propiciam mudanças rápidas, tanto na postura das criançascomo no desenrolar da atividade, tais como:
- cuidado ao folhear o livro;- tentativa de digitar algum as palavras;- demonstração de emoção e sentimento ao “ler” o livro;- aumento no tempo de “leitura”.
Ainda em relação à leitura, desde a prim eira classe da Educação Infantil, as professoraslêem os nom es dos livros que são apresentados às crianças. Aos poucos as crianças começam anomear, com sinais, os livros, com base na figura da capa ou, quando o livro é conhecido, emalgum fragmento da história. Algumas crianças digitam o título sem, no entanto, demonstraremcompreensão. Na m edida em que vão incorporando os sinais, a digitação é substituída pelo usodos sinais.
Algum as produções dos nomes dos livros podem ser observadas nos exem plos a seguir.Para pedir o livro “Paz”, m uitas crianças sinalizam GUERRA, já que, na capa do livro, há a figurade um tanque de guerra. G ., de 4 anos, ao lhe ser mostrado o livro ”Gato com frio”, fez o sinal deFRIO antes de ser dada qualquer referência ao nom e do livro. Quando Larissa (4 anos) viu o livro“Passarinho Dico”, fez o sinal de CHUVA, parecendo se lembrar de que viu chuva nessa história noano anterior.
No final da Educação Infantil, a maioria dos alunos consegue ler o título dos livrostrabalhados. Assim, um aluno do último grupo, para solicitar o livro “Caracol viajante”, usou ossinais de VIAGEM e de CARACOL.
Concluindo, consideram os que, m esmo não alfabetizadas, as crianças surdas vãoconstruindo seu conhecim ento de escrita, evoluindo na direção do português e na organização dorelato escrito. O professor deve ser o estimulador para que as crianças se arrisquem na leitura ena escrita e para que a atividade seja prazerosa e não frustrante. Há crianças que se negam aescrever e não devem ser obrigadas, mas sim incentivadas para que, em uma próxim a vez, sesoltem . Deve valorizar o acerto, respeitando a produção da criança e deixando que ela construa asua própria escrita.
Esse movimento do professor é im portantíssimo para que a criança possa adquirirconfiança suficiente para se arriscar nessa empreitada tão difícil como a de construir a sua escrita.Ela vai perceber que não vai ser cobrada em uma escrita convencional.
A escrita parece para a criança como uma estratégia (além do desenho) para registrar oque vivenciou e a função desta escrita vai ficando cada vez mais clara.
Percebemos que estas atividades perm item à criança a satisfação de compartilhar com oscolegas fatos prazerosos que vivenciou.
Quanto à família, os pais vão reconhecendo no filho o interlocutor cada vez mais capaz decontar fatos e compreender coisas que acontecem no seu dia a dia e no do outro (vivência demundo) e que eles podem também ter a oportunidade de participar deste caminho estimulante eprodutivo de seus filhos.
ReferênciasTEBEROSKY, A. Psicopedagogia da linguagem escrita. 9a ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2001.
Sistema SignWriting: por uma escrita funcional para o surdo
Marianne Rossi StumpfUFRGS/[email protected] .br
A maioria dos autores estudiosos da escrita dos surdos descreve que m uitas dasdificuldades das crianças surdas, em relação à escrita, são ocasionadas pela falta que têm, amaioria dessas crianças, de um a língua efetiva, pois crescem sem adquirir uma língua de sinais, oque poderia lhes possibilitar um efetivo sistema de comunicação. Acontece que m uitas dascrianças surdas, em sua maioria filhas de pais ouvintes, só entram em contato com aquela quepoderia ser sua língua natural, a língua de sinais, de forma lim itada e tardia.
Para esses autores, uma m aior com preensão da necessidade de uso da língua de sinais, aimplementação de procedimentos que favoreçam o uso precoce da língua de sinais pelas famíliase, ao mesmo tem po, a utilização, pelos professores de surdos, de metodologias apropriadas noensino do português escrito, são a resposta correta às necessidades escolares dos surdos.
Nós, educadores surdos, dizem os que esses procedim entos são corretos, mas de formaalguma suficientes. O que nós propom os é uma mudança bem mais radical, com base nasinvestigações psicogenéticas da aprendizagem da escrita e da leitura que tiveram início em fins dadécada de 70. Tais investigações fizeram com que as propostas didáticas, a partir de então,estivessem centradas em fazer, da criança e da classe escolar, sujeitos ativos, participantes eprotagonistas do processo de aprendizagem. O sujeito surdo, para poder desem penhar esse papel,precisa de sua língua de sinais, aquela que ele pode adquirir e usar plenam ente.
Segundo Ferreiro “a noção de alfabetização se define historicamente: hoje não basta saberler e escrever textos simples. É necessário saber usar a Internet, poder navegar e realizarprocessos de busca de informações confiáveis e satisfatórias. É preciso saber circular pordiferentes tipos de textos com facilidade, poder tomar decisões com base no que se lê”. (Ferreiro eTuberosky, 1999).
A escola é o espaço privilegiado, que deve proporcionar aos seus alunos as situaçõesnecessárias a essas interações significativas com a linguagem escrita que darão início econtinuidade ao processo de alfabetização.
“A escrita de língua de sinais é a representação do sistemalingüístico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua essa dotada detodos os elem entos constitutivos: gramática, semântica, pragmática,sintaxe e outros que a fazem instrum ental lingüístico pleno dos surdos, edemanda ser estudada em sua forma escrita, nas práticas de ensino comofortalecedora do uso da LIBRAS e, tam bém, como referencial para aaprendizagem do português escrito”. (Karnopp, 1994).
Nós, surdos, quando lutamos pela língua de sinais e pelo direito de termos professoressurdos em nossas escolas, estam os lutando por um grau maior de independência. Um grau queestamos aptos a exercer. Os surdos entendem como fracasso a educação que receberam erecebem. Poucos chegam ao ensino médio. A maioria, depois de m uitos anos de escola, sai delacomo um analfabeto funcional.
O processo de aquisição da escrita pelo surdo é pouco conhecido e tem gerado diferentesestudos, tanto para o ensino quanto para o processo de construção da escrita. A escrita de línguade sinais, por motivos que certamente não são os da lógica, tem sido ignorada pelas escolas desurdos.
“A solução para a escrita dos surdos consiste em fazer com que ossinais lexicais da língua com a qual eles se comunicam sejam convertidosem texto. Para isso é preciso substituir o código alfabético que m apeia afala, por outro código que mapeie os sinais, código quirêm ico ou código
dos sinais como, por exemplo, o sistema SignW riting”. (Capovilla eRaphael, 2001).
O sistema SignW riting que representa as unidades gestuais fundamentais, suaspropriedades e relações, tem com o ponto de partida a língua de sinais dos surdos. É um sistemanotacional de características gráficas esquemáticas, constituído de um rico repertório de elem entosde representação das principais características gestuais das línguas de sinais. Ele representaunidades gestuais, e não unidades sem ânticas, por isso pode ser aplicado a qualquer língua desinais dos surdos. Na verdade, já é usado em m ais de 30 países.
As produções que seguem foram realizadas por crianças surdas que trabalharam com aautora deste artigo em um projeto de pesquisa sobre alfabetização pelo sistema SignW riting.
A criança surda tenta expressar sua fala, que é sinalizada, pelo desenho das m ãos, fazendo ossinais
As crianças, quando iniciam seu processo de alfabetização, caracterizam o primeiro níveldo processo por uma busca de critérios, para distinguir os modelos básicos de representaçãográfica: escrita e desenho.
Ao observar crianças surdas, nesse nível de aprendizagem , quando participantes de umaescola com professor e alunos que interagem em língua de sinais, elas tentam desenhar as m ãosjunto aos desenhos dos objetos. No prim eiro dia, mostrei para as crianças um livro: “A Raposa e aCegonha” e contei a história em LIBRAS, depois conversamos sobre a história em língua de sinaise então pedi que eles desenhassem a história. Desenharam mãos sinalizando e os personagens.
Figura 1: uma casae mãos fazendo o sinal de casa
Figura 2: sinal de loboFigura 3: sinal de comere desenho de um prato
Na produção seguinte, observamos a tentativa da criança em utilizar letras ao par comdesenhos das m ãos, que não se constituem em desenhos do objeto. A arbitrariedade associada àlinearidade caracterizam uma etapa da alfabetização. A criança está sendo alfabetizada emportuguês, mas representa também sua língua de sinais de uma form a espontânea.
Figura 4: alfabeto manual
Produções de crianças em fase de alfabetização pelo sistem a SignW ritingAo trabalhar com crianças surdas, selecionei exercícios de SignW riting junto a fotos,
desenhos ou ações e conversamos em sinais, associando as imagens aos sím bolos escritos.Inicialm ente o aluno aprende a forma manuscrita da escrita de língua de sinais, depois começa autilizar o Programa SignW riter no com putador. A forma manuscrita oferece maior dificuldade pela
pouca exposição dos alunos ao código das mãos. A construção do sinal por escrito ofereceoportunidade de discutir a configuração dos sinais, o que contribui para aperfeiçoar o uso daLIBRAS.
Para exem plificar o que afirmam os no parágrafo anterior, um aluno desenhou o objeto bolana figura 5, na figura 6 produziu o símbolo de SignW riting que corresponde às configurações dasmãos do sinal “bola” e, na figura 7, desenhou o sinal de jogar “futebol” com a seta que correspondeao símbolo de movimento no sistem a SignW riting.
Figura 5: desenho debola
Figura 6: sinal de bola Figura 7: sinal de futebol
Na figura 8, uma aluna desenhou o “dedo indicador” ao lado do símbolo correspondenteem SignW riting.
Figura 8: dedo indicador
Foi pedido, na quinta aula de aprendizagem do sistema SignW riting, um trabalho de textocom uma ilustração. Um aluno escreveu em SignW riting e escolheu a form a vertical, pois já leu olivro “Cachos Dourados”, em SignW riting, que apresenta as frases na posição vertical. Nas frasesproduzidas pelo aluno, não vemos o grupo dos símbolos de contato, mas já percebem os o uso devários tipos de símbolos de movimentos. Fiz a distribuição de folhas com desenhos para cada umadas crianças surdas, para que elas escrevessem um a redação. Através disso, observei que ascrianças surdas ainda não aprenderam todos os símbolos, ainda faltavam alguns. Percebi tambémque algum as crianças surdas inventaram alguns símbolos que combinam com o sinal.
Figura 9: Redação em escrita de língua de sinais
Uma outra aluna, também na quinta aula de SignW riting, escreveu o texto a partir dailustração selecionada. No entanto, não apresenta a frase vertical ou horizontal, mas os sinaissoltos no texto. Ela utilizou apenas um símbolo de contato e um de movimento.
ConclusãoA aprendizagem do SignW riting, pelos estudantes surdos, perm ite uma m udança radical de
atitude frente à escrita – a percepção “não posso”, “não com preendo” – “não consigo” – “não gosto”– “sempre escrevo errado”, passa a ser “eu posso” – “eu consigo compreender” – “se eu estudar,vou aprender”.
A aprendizagem da escrita ocorre de form a bastante rápida, conforme o exemplo da quintaaula, em que alguns alunos já conseguiram escrever um texto.
A escrita de sinais pode proporcionar um decisivo aporte em relação a um currículorealm ente diferenciado para os surdos e que atenda às suas reais necessidades e possibilidades.
A aquisição da escrita em sinais pode funcionar com o suporte para a aprendizagem doportuguês escrito.
ReferênciasCAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W . D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua deSinais Brasileira, Volum e II: sinais de M a Z. São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 2001.KARNOPP, Lodenir Becker. Aquisição do Parâmetro Configuração de Mão na Língua Brasileira deSinais (LIBRAS): estudo sobre quatro crianças surdas, filhas de pais surdos. Dissertação(Mestrado em Letras). Curso de Pós- Graduação em Letras. Porto Alegre: PUCRS, 1994.FERREIRO, Emilia e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: ArtesMédicas Sul, 1999.
Leitura e escrita de surdos universitários
Lodenir Becker KarnoppULBRA
IntroduçãoO objetivo inicial deste trabalho é investigar aspectos da situação lingüística de surdos que
estão em contato constante com duas línguas (língua de sinais e língua portuguesa) no contextouniversitário. Desta forma, não se pode deixar de considerar as práticas de leitura e escrita nalíngua portuguesa, a exposição à língua de sinais e as práticas de tradução de uma língua paraoutra.
Contribuições da Lingüística (Appel & Muysken, 1987; Quadros & Karnopp, 2004; Kyle &W oll, 1985), dos Estudos Culturais em Educação (Costa, 2000) e dos Estudos Surdos (Skliar, 2003;Souza, 1998; W rigley, 1996) têm possibilitado um melhor entendimento das questões relacionadasao tem a proposto. O recorte aqui apresentado inclui depoim entos de surdos sobre a línguaportuguesa e a língua de sinais, sobre as práticas de leitura, escrita e tradução e sobre arelevância social da com unidade surda. Tais depoim entos evidenciam a enorme generalidade doproblema, introduzem algumas perplexidades e produzem algumas reflexões sobre concepções delíngua, cultura e identidade, que são expostas e discutidas no presente artigo.
Línguas em contatoEntre as m uitas formas com que se apresenta o bilingüismo, há uma que desperta
interesse especial. É o bilingüism o em que uma das duas línguas apresenta uma larga tradiçãoescrita, enquanto a outra foi tradicionalm ente ágrafa. O presente trabalho apresenta o caso queenvolve línguas de m odalidades diferentes: uma oral-auditiva, com vasta tradição escrita eprestígio social; outra de modalidade visual-gestual, com um sistema de escrita recente e comrecente reconhecim ento na sociedade.
A maioria dos surdos que estão na universidade contam com intérpretes de língua desinais durante as aulas. Tanto na universidade quanto nas escolas de surdos, eles lidam comtextos escritos em língua portuguesa, conseqüentemente a leitura e a produção de textos sãoaspectos que envolvem uma situação bilíngüe. Tal situação interfere nos processos de leitura eescrita e marca de form a singular, ainda que com inflexões diferentes, a construção de sentidos dotexto. A situação bilíngüe pressupõe processos de tradução de uma língua para outra, requerconhecim ento lexical, gramatical e discursivo das línguas envolvidas.
Se considerarm os bilíngüe somente o indivíduo que possui domínio igual e nativo de duaslínguas, estaremos por certo excluindo a grande m aioria. O cerne das discussões sobre obilingüismo está na explicação dos diferentes contextos, a partir dos quais a condição de bilíngüese estabelece, bem com o do nível de controle e uso de ambas as línguas em ambientescomunicativos distintos (Heye, 1999, p. 187).
De forma geral, por bilingüism o entendemos a situação em que coexistem línguas demodalidades diferentes (LIBRAS e língua portuguesa, no caso do Brasil) como meio decomunicação num determ inado espaço social, ou seja, um estado situacionalm ente com partilhadode uso dessas duas línguas. A abordagem educacional com bilingüismo estabelece que o trabalhoescolar deve ser feito em duas línguas, com privilégios diferentes: a língua de sinais como aprimeira língua (L1) e a língua da comunidade ouvinte com o segunda língua (L2). A condição debilíngüe, no entanto, se modifica na trajetória de vida de pessoas surdas e assume diferentescontornos em relação ao domínio e à variação de uso de ambas as línguas.
A experiência de tradução/interpretação decorre de mem bros de comunidades bilíngües.Com base em Larossa (s.d.), estendemos a definição de traduzir/interpretar a qualquer fenôm enocomunicativo e enfatizam os que a experiência de tradução/interpretação, sobre os problem as datradução, ou sobre a possibilidade/im possibilidade de tradução, não tem somente a ver com o que
acontece na mediação entre as línguas, mas se am plia a qualquer processo de transmissão ou deinterpretação de sentido.
Universitários surdos, leitura e escritaUniversitários surdos convivem com uma situação lingüística singular. Propõe algo além
de um ensino bilíngüe, propõe um a pedagogia da diferença. Esse grupo tem reivindicado adescentralização política, o reconhecimento de sua cultura e de sua língua e uma educaçãobilíngüe, com intérpretes da língua de sinais.
Nos depoimentos de Pedro (P) e Eva (E)1, surdos universitários, gravados em fita de vídeo etraduzidos posteriormente pela autora deste artigo, encontramos inicialm ente um relato sobre ascondições de acesso às línguas envolvidas no processo de aquisição ou aprendizagem dessaslínguas. A língua de sinais foi, para a m aioria dos surdos, adquirida fora do contexto escolar. Alíngua portuguesa, por outro lado, foi privilegiada e ensinada durante toda a vida escolar dosalunos, sendo que os relatos evidenciam os traumas e as dificuldades na relação com essa línguado ouvinte. Mesmo para os surdos que permaneceram na escola e chegaram à universidade, otrauma é sempre ressaltado, conforme depoimentos a seguir:
P (14:36): Sabe aquele ensino de língua portuguesa (LP), cheio de regras, baseado nagramática tradicional? (...) Somente na faculdade eu tive um ensino diferente e, então, eupude entender m elhor o objetivo do ensino de LP, através da lingüística. Eu estudeiportuguês durante toda m inha vida escolar e eu odiava, tinha trauma mesmo! (...) Oensino de LP via regras é opressivo! É preciso aprender português através da leitura delivros e da prática de escrita...
E (15:37): ...respeitando o surdo, claro! É preciso ensinar português que respeite a culturae a identidade surda! Sabemos que já há iniciativas neste sentido, alguns profissionais jáestão realizando um trabalho nesta direção!
P (16:25) (...) Eu percebo que na m inha história escolar, eu perdi muito tem po com aquelaforma de ensino. Desde a 3ª série até o final do II Grau, eu sem pre estava emrecuperação! Eu me considerava burro por isso! Quando eu achava que tinha conseguidoaprovação, lá vinha a recuperação em Língua Portuguesa, e o m eu sentimento defrustração, sentindo-me burro novamente!
E (16:25) Veja só a minha experiência: eu odiava português, porque durante as sériesiniciais eu não via a função da escrita, pois só estudávam os a estruturação de frases:Quem? O quê? Com o? Quando? Por quê? E eu odiava! Era só vocabulário e frases! Nãoconseguia entender português! Era um absurdo! Foi com aulas particulares que eucomecei a entender português e a gostar de ler... fui acostumando! Eu fiquei emrecuperação só em Matemática e Ciências, em português eu passava! Pode?[Risos](Fita 1: Diálogos Traduzidos, 2004)
Em um a breve análise dos depoim entos acima, encontramos que o sentimento em relaçãoao aprendizado da língua portuguesa é de incapacidade, de frustração. Além disso, estáregistrado que a escola para surdos, de forma geral, está preocupada essencialmente com oensino das norm as da gramática da língua portuguesa, dando à leitura um espaço m ínimo. Noensino da língua portuguesa, o foco é o ensino do vocabulário, de estruturas fixas de frases. Oensino é descontextualizado, não há língua em funcionamento, pois o ensino de portuguêsapresenta-se ao aluno sem função social, sem contexto de uso. Como conseqüência, os alunosnão praticam a tradução da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa, não praticam aleitura, nem a escrita, pois não são desafiados a isso.
Por outro lado, há apontamentos claros quanto à necessidade de mudança de perspectiva,quando Pedro propõe: “É preciso aprender português através da leitura de livros e da prática de
1 Pedro e Eva: nom es fictícios
escrita...” e Eva enfatiza “...respeitando o surdo, claro! É preciso ensinar português que respeite acultura e a identidade surda!”
Claro está que a primeira reivindicação que surge é a descentralização política, ou seja,que a língua de sinais seja considerada, na escola e na Universidade, como a língua do surdo eque, a partir daí, eles tenham a oportunidade de receber a educação formal nas duas línguas. Asegunda proposta é a mudança de perspectiva no ensino de língua portuguesa, ou seja, que aspráticas de tradução, de leitura e de escrita sejam o foco de um a língua em funcionam ento, de um alíngua em uso. Que o ensino não seja somente uma repetição de palavras descontextualizadas,mas que transcenda o nível vocabular e frasal. Quando Eva questiona Pedro “Qual é a tuaproposta para que os alunos escrevam melhor?”, eles iniciam a seguinte discussão:
P (2:09) É preciso interesse, incentivo, materiais diversificados...
E (2:20) Material sim ... m as eu penso que o melhor seria as escolas possibilitarem oacesso à informática, à internet, incentivando por exemplo a pesquisa, na rede, de temasrelacionados aos surdos. Acho que a form a como se aprende língua: o professorescrevendo no quadro as palavras e o aluno copiando, não cria situações de aprendizado,de interesse por parte dos alunos. Penso que as escolas poderiam proporcionar salas debate-papo (chat) entre alunos de diferentes escolas. Isso é um uso da língua que osalunos têm interesse...
P: (2:49) Isso é muito, muito importante!! !
E: (3:03) ...através do Chat os alunos poderiam realizar projetos conjuntos, debater,discutir...
P: (3:15) Isso me fez lem brar de minha irmã. Ela é surda, usa perfeitamente a língua desinais, participa sem pre da com unidade de surdos de Maceió. Ela, no entanto, nãogostava do português e tinha dificuldades para escrever. Um dia, m inha irm ã resolveucomprar um computador, pois estávamos discutindo a possibilidade de a gente secomunicar via e-mail, chat... com outros surdos. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul,eu e m inha irmã nos comunicávam os via e-m ail e chat, mas no início m inha irm ã escreviade form a muito resum ida, som ente palavras, a comunicação era truncada. Eu entendia oque ela queria dizer, mesm o de forma tão resumida. Ela foi tentando se com unicar comoutros surdos, foi usando e praticando a escrita via computador (e-mail, chat) e foi seapropriando da escrita na língua portuguesa, formando frases, perguntas, entendendomelhor as mensagens também.Esses dias, eu estava conversando com um amigo surdo (N.), que também tem uma irm ãsurda, e o caso é o m esmo, igualzinho...Ou seja, ela com eçou a ter contato com outrossurdos através da internet, começou a se comunicar m ais, a praticar a leitura e a escrita,apropriando-se do português escrito. Antes ela só usava palavras, hoje ela produz frases epequenos textos. No início era assim: “Oi! Tudo bem?” e parava por aí; a comunicaçãoera lim itada.O fato é esse: à medida em que eu com eço a me comunicar com outros surdos eu meaproprio do uso das palavras em diferentes contextos – eu leio a tua mensagem, percebo osignificado e com eço a usar nos m eus textos. Um exemplo: eu sem pre encerrava minhasmensagens escrevendo ‘tchau’; um dia, um amigo escreveu ‘até m ais’. Eu m e assusteicom aquelas palavras, nunca tinha visto aquela forma, mas percebi que era uma forma dedespedida. A partir daquele momento com ecei também a usar ‘até mais’ para m e despedirdos amigos.
E (4:47) Mas a gente tem também um problema... o problema da tradução. Às vezes, umsurdo que sinaliza perfeitamente, de forma clara e fluente, é desafiado a escrever aquiloque sinalizou. Aí parece que há uma barreira, pois m uitas vezes não conseguim os passarpara o português aquilo que expressam os em sinais. Claro, isso depende de prática... tudobem!
Outra coisa: quando usamos muito o celular e a internet, começamos a ser econôm icos,resumidos. Usamos, por exemplo: ‘tb’ para ‘tudo bem’, ‘cm ’ para ‘com o’, ‘vc’ para ‘você’ eassim por diante. É uma gíria dos internautas e a gente vai criando com o objetivo deeconom izar, agilizar a comunicação.Além do celular, do computador, há também a televisão. Penso que todos os filmesbrasileiros, novelas, etc... deveriam ter legenda. É uma forma de aprender. Às vezes, édifícil na primeira vez, m as na segunda, terceira vez, vamos acostumando e aprendendo,pois vam os relacionando o texto com as im agens. As im agens, os desenhos, associadoscom a legenda vão proporcionando entendimento ao que lemos e assistimos.
P (06:06) Sim, sim . Conversando com alguns surdos, percebo que alguns preferemintérprete de língua de sinais na tela da TV, outros preferem legenda. A legenda é boaporque ajuda no aprendizado do português, mas nem todos entendem, nem todos sãoalfabetizados. Também o problema do intérprete é que a im agem é muito pequena, nocanto da tela, e os intérpretes resumem muito, são de São Paulo [diferenças dialetais]2!Talvez o melhor sejam as duas opções: legenda e intérprete!
(Fita 1: Diálogos Traduzidos, 2004)
No diálogo acima traduzido, há inicialmente a perspectiva de que língua e ensino delíngua portuguesa relacionam-se diretamente com o uso, num a concepção funcionalista. Nestesentido, a forma de fazer uso dessa língua, que em presta símbolos gráficos para traduzir sinais, éatravés de form as visuais, que inclui internet, e-mails, telefone (mensagens escritas), televisão comintérprete e legenda, livros que associem imagens, texto e a escrita de sinais (SW ). Há exemplosque com provam as afirmações feitas, quando Pedro cita que sua irmã [surda] com eçou a serelacionar diferentem ente com a língua portuguesa quando com eçou a se comunicar com ele ecom outros surdos, via chats e e-mails. O mesmo acontece com irm ã de um outro colega. Nãoestamos defendendo, com isso, que cada surdo precise de um com putador, de um telefone (TDD)ou de TV legendada para apropriar-se da língua portuguesa. Estamos, sim , defendendo práticasde leitura e escrita num a perspectiva sócio-histórica em que a relação entre escrita e valoressocioculturais são enfatizados.
Há clareza do problema encontrado e das dificuldades vivenciadas pelos surdos, ou seja,os surdos iniciam a alfabetização de uma língua escrita que tem base sonora, que representa ossons da fala. Por outro lado, eles salientam a importância do aprendizado da escrita da língua desinais (SW ), pois essa representa os símbolos visuais das línguas de sinais.
A apropriação da língua através do contexto de uso da m esm a é explicitado quandoPedro afirm a que aprendeu novas expressões, novas palavras, construiu frases, formou textos emum contexto efetivo, natural, de uso da língua. Esse contexto de uso da língua, que emprestasímbolos gráficos para traduzir sinais, pressupõe tradução, interpretação e construção de sentidosde um texto. Eva salienta:
Mas a gente tem também um problema... o problem a da tradução. Às vezes, umsurdo que sinaliza perfeitamente, de forma clara e fluente, é desafiado a escreveraquilo que sinalizou. Aí parece que há um a barreira, pois muitas vezes nãoconseguimos passar para o português aquilo que expressamos em sinais. Claro,isso depende de prática... tudo bem!(Fita 1, C (4:47): Diálogos Traduzidos, 2004)
Em geral, no contexto escolar, busca-se uma correspondência estreita entre a línguaportuguesa e a língua de sinais, subordinando os sinais à estrutura sintática da língua portuguesa;conseqüentemente a língua de sinais é artificializada, funcionando com uma “alternativa” oudicionário, e a escrita do português é imposta aos surdos sem considerar a diferença lingüística ecultural dos mesmos. O ensino de língua portuguesa também é artificializado, sem contexto deuso, sem práticas de tradução, leitura e escrita.
2 O texto entre-colchetes contém comentários da autora deste artigo.
Além disso, Souza (2000) alerta para o fato de que, como membros de uma sociedade(ouvinte), tendem os a naturalizar a presença da escrita, como se ela tivesse existido em todas asépocas e com o se tivesse sido entendida da mesm a forma em todos os tempos. O espíritomassificador dessas práticas acaba por fixar uma única forma lingüística, silenciando as tradiçõestecidas em outra variante – e m esmo em outra língua, como é o caso dos surdos. Emconseqüência, é em udecida a poesia em sinais, são silenciadas as histórias, “põe-se paraadorm ecer a memória popular, imobilizam-se as m ãos e as narrativas que os sinais tecem ”(Souza, 2000, p. 87).
Por fim , para escaparem da ridicularização da língua de sinais e de seus bens culturais, deações intolerantes e até proibitivas, os surdos se organizam em comunidades, buscando ofortalecimento da língua de sinais, da identidade e da cultura surda.
ReferênciasAPPEL, R. & MUYSKEN, P. Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: Ariel, 1987.COSTA, Marisa.V. (Org.) Estudos culturais em educação: mídia, arquitetura, brinquedo,biologia,literatura, cinema... Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS, 2000.HEYE, J. Línguas em contato: considerações sobre bilingüismo e bilingualidade. In: CABRAL, L. G.;MORAIS, J.(orgs.) Investigando a linguagem.: ensaios em hom enagem a Leonor Scliar Cabral.Florianópolis: Mulheres, 1999.KARNOPP, L. Fita 1: Diálogos Traduzidos, 2004. (manuscrito)KYLE, J. G. & W OLL, B. Sign Language: The study of deaf people and their language. Cambridge:Cambridge University Press, 1985.LARROSA, J. Leer es traducir: Notas sobre la condición babélica de la lengua. (Manuscrito).QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir. B. Língua de sinais brasileira: estudoslingüísticos. Porto Alegre : ArtMed, 2004.SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Trad. GianeLessa. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.SOUZA, Regina Maria de. Que palavra que te falta? Lingüística, educação e surdez. São Paulo:Martins Fontes, 1998W RIGLEY, O. The politics of deafness. W ashington: Gallaudet University Press, 1996.
Reflexões sobre a aquisição do português escrito comosegunda língua de uma criança surda
Ana Cristina Guarinello
A elaboração deste trabalho originou-se da minha inquietação com relação à aquisição dalíngua portuguesa em sua m odalidade escrita por sujeitos surdos. Com o fonoaudióloga, nosúltimos dez anos de prática clínica, venho repensando questões sobre a surdez e as diferentesconcepções de linguagem que caracterizam o trabalho com sujeitos surdos. Durante minha práticaclínica fonoaudiológica, trabalhei com vários sujeitos surdos que tinham m uita dificuldade parautilizar a língua portuguesa, porém, geralmente dominavam a língua de sinais, o que fazia com quese comunicassem basicamente por m eio desta língua. Intrigava-me o fato de as construçõesescritas dos surdos serem bastante diferentes da escrita dos ouvintes. Parecia-m e que este fato serelacionava com as metodologias educacionais empregadas com esses sujeitos, que sebaseavam, muitas vezes, em estratégias descontextualizadas e repetitivas. Além disso, foi possívelobservar que m uitos estudos destacavam as dificuldades e as diferentes construções escritas dossurdos; alguns se detinham na sua escrita considerada "atípica"; outros na interferência da línguade sinais nas construções escritas; outros na condição da surdez, e havia, ainda, os querelacionavam a escrita a técnicas pedagógicas inadequadas. Porém , poucas eram as propostaspara o desenvolvimento da escrita. Deste modo, m uitos surdos continuavam com dificuldades paraaprender a ler e a escrever, e um grande número deles não tinha acesso a práticas discursivassignificativas que os levassem a dominar a linguagem escrita.
Com o conseqüência dessa m inha inquietação, o objetivo deste trabalho foi analisarproduções escritas de sujeitos surdos com base na lingüística textual, principalm ente à luz doconceito de referenciação com o proposto por Koch e Marcuschi (2002) e o de retextualização,como apresentado por Marcuschi (2001). Esse ramo da lingüística foi escolhido para a análise dosdados, pois perm itiu que se fizesse um diagnóstico a respeito da estruturação dos textos dossurdos, abordando principalmente a coesão e a coerência. Após esse diagnóstico que dem onstrouquais as estratégias de progressão referencial, progressão tópica e coerência que os sujeitossurdos dessa pesquisa utilizaram, apresento o processo de retextualização, que, na maioria doscasos, se fez necessário para construir o sentido dos textos e aproxim ar do português padrão otexto original escrito pelo surdo. A proposta também está embasada em uma concepção delinguagem que privilegia diferentes trocas sociais e jogos interativos. Nessa concepção, o sujeitosurdo é percebido como ativo, e o outro, no caso deste trabalho, a terapeuta, tem o papel deintérprete, ou seja, é ela quem dá forma e sentido às produções da criança e intervem paratransformar o texto.
Na elaboração deste trabalho considera-se que a construção da linguagem escrita ocorrepor meio de um processo, e que neste a interferência de um adulto letrado é condição necessária,já que o adulto é que irá orientar, mediar, atribuir sentido à escrita das crianças. É por m eio dessaconstrução conjunta de conhecimentos, do conhecim ento de mundo e do conhecimento partilhado,que os textos fazem sentido para quem os lê. Cabe ressaltar que, geralmente, quem trabalha comsujeitos surdos tem dificuldades para identificar o processo de aquisição da linguagem escrita,parece esquecer que a escrita é um m eio de grande potencial social na interação, e que alinguagem se constitui pelo trabalho dos sujeitos que participam de processos interacionais. Todosesses fatos demonstram a necessidade de analisar não só o produto, mas o processo deconstrução de produções escritas de sujeitos surdos, levando em consideração o papel do outro naconstrução escrita.
A metodologia utilizada para desenvolver a investigação e a apresentação dos dados destetrabalho ancora-se em um a concepção discursiva de linguagem que privilegia diferentes trocassociais e jogos interativos. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da escrita das crianças nãosegue um cam inho único e igual, ao contrário, passa por um processo de im previsibilidades ediferenças. Nessa concepção, o sujeito surdo é percebido como ativo e singular, e o outro, – no
caso deste trabalho, eu m esma – terapeuta/investigadora –, tem o papel de intérprete e de parceirana constituição do português escrito, ou seja, atribui form a e sentido às produções da criança,intervindo, quando necessário, para transformar a escrita de forma a aproxim ar o seu texto doportuguês.
O corpus deste estudo longitudinal é composto por produções escritas de um sujeito surdo,com 15 anos de idade. Todas as produções foram coletadas em terapias fonoaudiológicasindividuais, nas quais atuei como co-autora. Para priorizar a natureza interativa da linguagem, foramutilizados diferentes tipos de textos escritos em jornais, gibis, livros, revistas, apresentando ao sujeito,poesias, contos, fábulas, receitas, experiências, entrevistas etc. Em todas as sessões procurou-seenfatizar a escrita em contextos significativos, nos quais o sujeito fosse capaz de interiorizar a LínguaPortuguesa e perceber sua funcionalidade. Após o térm ino de cada produção, eu solicitava que osujeito relesse seu texto e modificasse o que achasse necessário. Em um último mom ento, eu reliao texto e o retextualizava em um a versão escrita final, tentando modificar o m ínim o possível dotexto original. Durante esse processo de releitura eu perguntava ao sujeito por meio da fala ou dalíngua de sinais as palavras que eu não havia entendido, ou o que ele quis dizer com determ inadafrase. O sujeito então m e explicava sua idéia e eu preenchia as lacunas que faltavam, m odificavaestruturas truncadas, introduzia a pontuação, enfim , aproxim ava o texto do português padrão,reconstruindo sentidos que aproximassem o leitor e o autor. O trabalho consistia na (re)construçãoconjunta de um texto em português, usando as idéias do sujeito e o m eu conhecimento de língua.Essa atividade tornou-se fundam ental, pois, segundo Geraldi (1997), é a mediação que irá perm itirque o sujeito se transform e pelo fato de dispor, cada vez que lê, de outras possibilidades deescolha de estratégias de dizer o que tem a dizer.
Na análise, prim eiramente apresenta-se a reprodução do texto escrito pelo sujeito e, emseguida, a análise do texto do sujeito com o viés da lingüística textual. A retextualização émostrada em um último momento, enfatizando quais operações foram necessárias para que o textose aproxim asse do português padrão. Esse trabalho irá dem onstrar que eu tive parcelas deresponsabilidade na escrita do sujeito, atuando com o agente participante de atividades e nosprocessos de apropriação da língua portuguesa e das práticas sociais.
Com o afirma Koch (2003), o texto se constitui de um conjunto de pistas destinadas aorientar o leitor na construção do sentido. Para fazer essa construção, o leitor deve preencherlacunas, formular hipóteses, testá-las, encontrar hipóteses alternativas, ou seja, inferir. Essainferência requer conhecimentos prévios, partilhados etc., e esses conhecim entos eramcompartilhados por m im e pelo sujeito desta pesquisa. Cabe ressaltar que nós construímos umtexto em parceria, já que qualquer coisa que façam os com outras pessoas nos processosinterativos dependerá de informações, interesses, conhecimentos, culturas, situações, normas,línguas compartilhadas; assim, essa base comum foi fundamental para a construção dos sentidosde nossos textos.
A seguir analiso o texto produzido pelo sujeito Uriel1, de 15 anos, que na época cursava a7ª série, e, na seqüência, mostro a retextualização dessa produção escrita, fruto de um trabalhoem parceria. Esse texto se refere a um relato da vida deste sujeito.
1 - Eu sou surdo.2 - Minha mãe nasceu o filho é surdo, era o filho é nome Uriel .3 - O m édico tirou o bebê, cordão umbilical enrolado pescoço quase morreu.4 - O bebê ficou surdo.5 - O levo para casa, a m ãe não sabe o bebê e surdo.6 - A mãe falou Uriel ! Uriel ! eu não escutei eu está dormiu.7 - A mãe pensei o Uriel é surdo, a irmã tam bém sabe o Uriel surdo.8 - A mãe falou e melhor levo para o São Paulo, a irmã ficar aqui com tia.9 - Outro dia a mãe levou para São Paulo.10 - O m edico falou o uriel é surdo. Levou fono, pescologecia, professora11 - Eu foram o colégio é surda ! Em 3 anos até 8 anos.12 - 8 anos eu foi o colégio é ouv inte.13 - Talvez o ouvinte despreze o eu .14 - Eu sou triste quando despreze.15 - Talvez eu em bora o colégio TIA PAULA16 - Eu vou colégio o Integral.
1 N om e fic tíc io .
Quanto à coesão seqüencial, observa-se que esta é feita tanto pela recorrência de tem posverbais, principalm ente no passado, com o pela pontuação. Cabe ressaltar que, na linha 5, /o bebêé surdo/ e na linha 8, /a m ãe falou é melhor/, Uriel não colocou o acento no verbo /é/, o que podecausar certo estranham ento nos leitores e inclusive causar prejuízo na coerência. Ainda comrelação aos verbos, nota-se inconstância com relação aos tempos verbais, já que ora os utilizacorretamente, como na linha 3 /o médico tirou o bebê/, na linha 4 /o bebê ficou surdo/, na linha 6/eu não escutei/, ora utiliza o tempo verbal inadequado, com o na linha 7 /a mãe pensei/, na linha 11/eu foram / e na linha 12 /8 anos eu foi/. Também se percebe que Uriel vem utilizando corretamenteas preposições, como na linha 5 /levou para casa/, na linha 8 /para o São Paulo/. Em outrosmom entos, porém, não fez uso das mesmas, como na linha 10 /levou fono, pescologecia,professora/, e na linha 11 /eu foram o colégio/. Esses fatos demonstram que Uriel está fazendoreflexões sobre a língua.
Também se percebe a continuidade tópica e o emprego de termos de um mesm o camposemântico, como /médico, cordão umbilical/. É essa progressão textual que garante a continuidadedos sentidos do texto.
Uriel tam bém utilizou m arcadores de relações espaço-temporais na linha 9, quandoescreveu /outro dia/, na linha 11, quando escreveu /em 3 até 8 anos/, na linha 12, quando escreveu/8 anos eu foi colégio/ e na linha 14 escreveu /quando/. Na linha 7, Uriel fez uso do operadordiscursivo /também/ e do modalizador /talvez/, nas linhas 13 e 15.
Cabe ressaltar, também, que, por meio desse texto, é possível compreender como Uriel sesente em relação à sua surdez, já que, nas linhas 13 e 14, escreveu que /talvez o ouvinte desprezeo eu. Eu sou triste quando despreze/, mostrando para o leitor que talvez já tenha passado porsituações de preconceito e desprezo com relação aos ouvintes e que essas situações oentristecem . Interessante notar a estratégia que Uriel utilizou quando se referiu a si mesmo, nalinha 13, já que deveria ter dito /talvez o ouvinte me despreze/, mas, como ainda não possui odomínio das regras da língua portuguesa, usou apenas o pronom e pessoal "eu".
Quanto à coerência, por m eio da interação com Uriel foi possível entender perfeitamentetodo o seu texto. Notou-se que ele utilizou expressões mais elaboradas que nos prim eiros textosque produziu, o que dem onstra que ele está refletindo sobre o uso do português. Assim, aretextualização dos textos se m ostrou, entre outras, uma atividade importante para que Urielpercebesse o funcionamento do português.
TEXTOORIGINAL2 RETEXTUALIZAÇÃO TIPO DE
OPERAÇÃO ELIMINAÇÕES SUBSTITUIÇÕES ACRÉSCIMOS/ALTERAÇÕES
1 - Eu sou surdo.2 - Minha m ãenasceu o filho ésurdo, era o filhoé nome Uriel.3 - O médico tirouo bebê, cordãoum bilical enroladopescoço quasem orreu. O bebêficou surdo.4 - O levo paracasa, a mãe nãosabe o bebê esurdo. 5 - A mãefalou Uriel! Uriel!eu não escutei euestá dormiu.
1 - Eu sou surdo.2 - Minha m ãe estavagrávida, o filho nasceusurdo, seu nom e era Uriel.3 - O médico tirou o bebê, ocordão um bilical estavaenrolado no pescoço, o bebêquase morreu e ficou surdo.4 -A m ãe levou o bebê paracasa, ela não sabia que eleera surdo. 5 - A m ãe falouUriel ! Uriel ! e eu nãoescutei, eu continueidormindo. 6 - E ela pensou:O Uriel é surdo e a minhairm ã também sabia que euera surdo.
1.a
2.a linha 93.a
4.a
5.a 6.a linhas4, 5, 6, 9,10, 12, 137.a linha 2, 3,4, 6, 7, 9, 108.a
9.a
2 - é, o filho4 - o 7 - o, aqui10 - em
2 - nasceu o filho-ofilho nasceu, énom e- seu nome4 - Levo-levou, am ãe-ele, sabe-sabia,o bebê e –ele era5 - está dorm iu-continuei dorm indo6 - mãe pensei-elapensou, sabe-sabia,o uriel-eu
2 - estavagrávida.3 - o, estava,no, o bebê e4 - m ãe, o bebê,que 5 - e6 - e, e a m inha,que, era
Obs.: Cada coluna deve ser lida na vertical. Na prim eira coluna, lê-se o texto original escrito pelo sujeito. Na colunaretextualização, lê-se o texto modificado por nós. Na coluna tipo de operação, estão explicitadas as operações deretextualização feitas nos textos. Nas três últim as colunas (acréscim os/alterações, elim inações e substituições) serãomostradas as modificações entre o texto original e o texto retextualizado.
2 O quadro de retextualização será m ostrado apenas a título de demonstração, cabe esclarecer que som ente um pedaço dotexto foi retextualizado para esse trabalho.
Na retextualização, algumas operações propostas por Marcuschi (2001) foram utilizadas, comoa 6.a operação - reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação sintática eencadeam entos - na linha 4 /O levo para casa, a mãe não sabe o bebê e surdo/, principalmentecom relação à concordância; desta forma a frase foi transformada em /A m ãe levou o bebê paracasa, ela não sabia que ele era surdo/. A 7.a operação - tratamento estilístico com seleção denovas estruturas sintáticas e novas opções léxicas - foi utilizada nas linhas 2, 3, 4, 6. Foramnecessárias também algumas substituições, principalm ente no que concerne à concordânciaverbal, troca de anáfora nominal de repetição lexical por anáfora pronominal e modificações deartigos para preposições.
Para concluir, ao longo de dois anos de acompanhamento de um adolescente surdo, sujeitodesta pesquisa, foi possível realizar um trabalho de construção do português escrito em parceria.Meu objetivo era participar na produção e não simplesmente aprovar ou corrigir os textos. ComoGeraldi (1997), considerei a produção de textos ponto de partida de todo o processo deensino/aprendizagem da língua, pois é no texto que a língua se revela em sua totalidade. Em umprimeiro momento, o sujeito escreveu seu texto sem minha interferência, porém, durante asproduções, o sujeito e eu partilhamos a experiência de produzir um texto em português. Debatemosidéias e discutimos a melhor forma de expressá-las em português, ou seja, interagimos, e, juntos,trabalhamos na construção dos sentidos desses textos. Em um segundo momento, por meio daprática dialógica, retextualizamos os textos, aproximando-os cada vez mais do português.
De acordo com as análises mostradas neste trabalho, o domínio do português escrito sóacontecerá por meio de seu uso constante; assim os surdos, como os ouvintes, precisam teracesso aos diferentes tipos de textos escritos; além disso, o trabalho com a escrita deve partirdaquilo que esses indivíduos já possuem, ou seja, da língua de sinais, pois é esta língua que darátoda a base lingüística para a aprendizagem de qualquer outra língua. Deste m odo, as dificuldadesencontradas no português escrito dos surdos podem ser referenciais para um trabalho com aescrita com o segunda língua, já que não se trata apenas de ensinar a língua escrita, m as de usá-la, ou seja, fazer com que ela funcione como recurso para interação e interlocução, de maneira queo sujeito possa manipular a língua portuguesa nas suas várias possibilidades.
ReferênciasGERALDI, J. W . Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1997. KOCH,I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003.KOCH, I. V.; MARCUSCHI, L. A. Estratégias de referenciação e progressão referencial na línguafalada. In: ABAURRE, M. B. M.; RODRIGUES, A C. S. (Org.). Gramática do português falado.Campinas (SP): Unicamp, 2002. v.8.MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.
Distúrbios fonológicos: perfil fonológico e inteligibilidade de fala
Ana Paula Fadanelli RamosULBRA
Gabriela Lucas PergherULBRA
Jair MarquesUTP
Lisiane CollaresUTP
Luciana CarreirãoUTP
Este capítulo discute aspectos da definição de distúrbio fonológico a partir da análise dedois estudos, um sobre o perfil fonológico e outro sobre a inteligibilidade de fala dos sujeitosportadores desses distúrbios. As questões norteadoras desses estudos foram:- O que define a fonologia no distúrbio? Existe diferença do atraso fonológico?- O quão ela é prevalente numa amostra de crianças com aquisição fonológica atípica?- O que é inteligibilidade de fala? Como medi-la?- O que a inteligibilidade de fala pode dizer sobre a dicotomia atraso versus distúrbio?
Para iniciar a discussão dessas questões apresentamos dois estudos que julgamoscomplementares e, por isso, escolhidos para integrar este capítulo.
Estudo 1- Perfil Fonológico de um G rupo de Crianças em Aquisição Atípica: Atraso ouDistúrbio?
Nesta seção, é a apresentada a síntese dos trabalhos de Pergher (2003) e Carreirão(2004) os quais utilizaram os dados fonológicos de 49 crianças, cuja coleta de fala se deu em doismom entos: 20 sujeitos por RAMO S (1996) e 29 por PERGHER (2003).
Atraso ou Distúrbio?O trabalho de LAMPRECHT (1995) sintetiza grande parte do que a literatura nacional e
internacional discute acerca da distinção entre atraso e distúrbio, valendo-se fonologiaautossegmental. A caracterização fonológica é sintetizada em duas categorias do seguinte m odo:
Atraso –Nesta categoria foi considerado, basicam ente, um quadro de final de aquisição delíquidas, sobretudo do segmento /r/ , apagamento de consoantes em finais de sílaba (/s/ ou /r/),redução do encontro consonantal, dessonorização e anteriorização de fricativas palatais, ouseja, os processos que podem ser suprim idos após aos 4 anos de idade, considerando acronologia oferecida por trabalhos como Yavas, (1988); Lamprecht (1990), Hernandorena(1990), Miranda (1996) entre outros.
Os casos que não se encaixaram nesta descrição foram analisados como distúrbio, a partirdos seguintes critérios: Presença de muitos processos fonológicos - aqui não apenas o núm ero de processos, mas a
qualidade deles foi analisada. Na verdade, nosso critério foi processos envolvendo m uitasclasses sonoras, já que separamos na análise os processos de substituição de líquidas, porexemplo, por segmento, o que poderia falsificar um a indicação de muitos processos;
Inversão na troca de traços - consideram os o que é m ais freqüente na literatura fonológica nadireção da troca, como afirma Lam precht (1995). Assim, por exemplo, uma troca de velar oudorsal para o ponto alveolar é mais com um que o inverso, ou mesmo um a troca de uma líquida
não-lateral para lateral é m ais freqüente do que o contrário. Exemplos em nossa amostraseriam:
/ r/-> /g/ - o ponto alveolar é trocado por dorsal. Em termos de traços propostos porMota (1996) para o português, seriam colocados como (1)
(1) [ + soante, coronal , + anterior ] -> [ -soante, dorsal]/ l/ -> /r/ - o modo lateral é trocado para o não-lateral conforme em (2)(2) [ + contínuo ] -> [- contínuo]
Assim, nos exemplos acim a, há um sentido contrário na direção da troca usualm ente feitapor crianças em aquisição típica de linguagem e amplamente com provado nos estudos defonologia da PUCRS, já citados, e que abrangeram m ais do que 400 crianças.
Alteração de traços de raiz. Os traços de raiz preconizados por Clements e Hume (1995) são[soante], [aproximante] e [vocóide]. Eles revelam a natureza das grandes classes fonológicas(obstruintes, líquidas, nasais, vogais, sem ivogais). Assim, qualquer troca num desses traçosrepresenta um a alteração fonológica m ais severa, como está no exem plo (1) referente à trocade /r/ para /g/, identificada em nossa amostra como plosivização/posteriorização de /r/, e nosdemais casos, de plosivização de líquidas. Por isso, a análise em separado desses processosna amostra.
Procedim entos m etodológicosOs responsáveis pelas 49 crianças assinaram termos de consentimento livre e esclarecido
a partir da exposição das autoras acerca dos objetivos das pesquisas e dos procedimentos decoleta, autorizando a publicação dos dados, reservados os direitos de sigilo e voluntariado. Ossujeitos abrangem uma faixa etária de 5 a 10 anos e são provenientes dos municípios de PortoAlegre, Santa Maria e Canoas. Todos apresentavam queixa de aquisição fonológica atípica tendosido avaliados pelos seguintes procedimentos:
- Coleta da fala pelo instrumento de avaliação fonológica da criança (Yavas et al., 1991) epela conversação espontânea;
- Avaliação do sistema sensório-motor oral para detecção de alterações motoras orais. Talavaliação incluiu análise da m orfologia, da movimentação voluntária e das funções orais;
- Observação de outros aspectos evolutivos, como demais componentes da linguagem ,cognição, desenvolvimento psicom otor e condições auditivas. Esta observação foi feitaatravés de profissional experiente em desenvolvimento infantil (a primeira autora) e,quando necessário, foram solicitados exam es complementares como, por exem plo,auditivo, psicológico e neurológico. Assim , foram elim inados sujeitos com outros distúrbiosde desenvolvimento que não o fonológico.A análise da fala se deu pela análise contrastiva de cada fone-alvo com posterior
identificação do processo fonológico que atingia o m esmo. Propositalm ente, foram separados osprocessos envolvendo as distintas líquidas, pela grande diferença evolutiva das m esmas noprocesso de aquisição.
Uma vez identificados os processos em cada sujeito, foram feitas duas análises: aprevalência de cada processo na amostra, em termos absolutos e estatístico, e a análise intra-sujeito do perfil fonológico, a partir da tipologia proposta em Lam precht (1995). Após a identificaçãoe atribuição de tal tipologia a cada sujeito, foi feita um a análise percentual e outra estatística darelevância de cada característica na amostra pelo teste estatístico de proporções.
A análise da prevalência foi calculada em termos de freqüência do processo na amostra desujeitos, assim se buscou saber quantos dos 49 sujeitos possuíam a característica. A seguir, foiaplicado um teste proporção estatística na am ostra, analisando a prevalência significativa com omaior do que 0,05 (ou 50%), em um nível de significância de = 0,05 (5%). Os resultados foramsignificantes para p < = 0,05.
Resultados e DiscussãoNo quadro 1, apresentam os a prevalência dos processos fonológicos na amostra e os
resultados da análise estatística implementada.
Quadro 1 - Análise da prevalência de processos fonológicosProcessos Prevalência
n=49Estatística
zP
1.Redução do Encontro Conosonantal 45 5,8571 0,0000*2. Apagamento de líquida final /r/ 37 3,5714 0,0002*3. Substituição de líquida intervocálica /r/ -> /l/ 23 -0,4286 0,6659-4. Apagamento de líquida intervocálica /r/ 29 1,2857 0,0993*5. Anteriorização de fricativas Palatais 17 -2,1429 0,98396.Semivocalização de líquida /r/ ->[y] [w] 14 -3,000 0,99877. Posteriorização/plosivização de /r/ 5 -5,5714 1,00008.Anteriorização de plosivas velares 2 -6,4286 1,00009. Semivocalização de líquida: /l/->[y] 2 -6,4286 1,000010. Apagam ento de líquida lateral: /l/ 4 -5,8571 1,000011.Substituição de líquida intervocálica: /R/ -> /l/-/r/ 4 -5,8571 1,000012 .Apagam ento de líquida não lateral: /R/ 4 -5,8571 1,000013. Plosivização de Fricativas 2 -6,4286 1,000014 . Semivocalização: /R/ ->([y] 3 -6,1429 1,000015 . Anteriorização de líquida: // ->[l] 5 -5,5714 1,000016. Posteriorização/Plosivização de // 1 -6,7143 1,000017 Interdentalização de /s/ and /z/ 1 -6,8143 1,000018.Desafricação 2 -6,4286 1,000019.Dessonorização 7 -5,0000 1,000020. Apagam ento de fricativa final 8 -4,7143 1,000021 Palatalização de /s/ 4 -5,8571 1,000022Metátese 4 -5,8571 1,000023 Apagam ento de Plosiva Inicial 1 -6,7143 1,000024 Apagam ento de Africada Inicial 1 -6,7143 1,000025. Posteriorização de /t/ /d/ e /b/ 2 -6,4286 1,000026. Apagam ento de sílaba átona 1 -6,7143 1,000027.Sem ivocallização de líquida palatal 4 -5,8571 1,000028. Substituição de /l/ por /r/ 1 -6,7143 1,000029. apagam ento de fricativa inicial 1 -6,7143 1,000030. plosivização de nasal 1 -6,7143 1,0000
Um teste de proporção estatística foi aplicado na am ostra, demonstrando que aprevalência significativa foi maior do que 0,05 (ou 50%), em um nível de significância de = 0,05(5%). Assim os resultados significativos estatisticam ente estão m arcados com um asterisco (*). Apartir desses critérios, os processos 1, 2 e 4 foram estatisticamente significativos.
Do ponto de vista fonológico, o fato demonstra que o perfil estatisticam ente significativona amostra combina com o que Lamprecht (1995) descreve como atraso fonológico. Cabe ressaltarque o perfil m ais freqüente relaciona-se ao de dificuldade de aquisição do segmento maiscomplexo, o tap (Mota, 1996; Ramos, 1996; Miranda, 1996; Vidor,2001) e da estrutura silábicamais complexa, o encontro consonantal (Ram os, 1996). Outro aspecto importante é que oprocesso 3, com alta freqüência, em bora não seja estatisticamente significante, também abrange otap.
Em relação aos segmentos afetados por processos, é possível oferecer uma ordem defreqüência: /r/ > /š/, /ž/> /b/, /d/, /g/, /v/, /z/ > //> /R/, /l/ e /s/. Vê-se, nessa ordem , a freqüência detendências que podem ser traduzidas em trocas de traços (substituições) ou no apagamentodesses fonemas. No entanto, pode-se observar um a diferença im portante entre a freqüência dealteração do /r/ (estatisticam ente relevante) e dos fonemas fricativos palatais (/š/, /ž/) (não
significativo estatisticamente), que em números absolutos atingiu 17 dos 49 sujeitos da pesquisa,portanto, com freqüência menor do que 50%, mas muito superior (duas vezes mais) à freqüênciade alteração da sonoridade (8 sujeitos). Esta observação tenta deixar claro o quão a amostrademonstra um perfil de atraso (Lamprecht, 1995), no qual o tap é o segm ento mais afetado. Omesmo pode ser verificado no trabalho de Mota (1996) em relação à freqüência de alteração destesegmento em oposição aos demais. Este perfil também é descrito como freqüente em outrostrabalhos, que inclusive se dedicaram a estudar de m odo específico a aquisição dos róticos(Miranda, 1996; Vidor, 2001) ou de aquisição fonológica geral (Hernandorena, 1995) ou desviante(Keske, 1998).
A partir dos dados é possível sintetizar a freqüência percentual do núm ero de sujeitoscom atribuição de atraso (A) e a freqüência da atribuição de distúrbio ( D).
Figura 1 – Distribuição percentual dos processos fonológicos/fonéticos ‘a’ e ‘d’
D29%
A71%
O teste de significância para com paração entre duas proporções (proporção deprocessos A e D) mostrou que p = 0,0001, ou seja, considerando-se o nível de significância de 5%( = 0,05), pode-se concluir que existe diferença significativa entre a proporção encontrada nosdois grupos (A e D), pois p < = 0,05.
ConclusõesA partir do trabalho desenvolvido nesta pesquisa é possível concluir:- O perfil fonológico encontrado na amostra investigada com bina com o descrito na
literatura com o de final de aquisição fonológica;- Os processos fonológicos mais prevalentes são os que envolvem a classe de líquidas,
sobretudo o rótico alveolar simples, e as estruturas silábicas complexas, com o o final de sílaba(coda) e os encontros consonantais;
- O grupo indica uma prevalência significativa de atrasos fonológicos considerando ataxonom ia de Lamprecht (1995).
Estudo 2- Avaliação da Inteligibilidade de Fala no Distúrbio Fonológico: Criação de itenspara um a Escala
A Fonoaudiologia, na construção de seus caminhos como ciência, busca o melhoramentode seus métodos, conceitos, princípios e orientações teóricas, apoiando-se em áreas queoriginalmente a compuseram e atualmente a permeiam com contribuições valiosas.
A fonologia, área da lingüística, em seus estudos de aquisição da linguagem infantil, serviude base para a Fonoaudiologia pensar os processos fonológicos e sua presença na aquisiçãotípica e atípica. A presença de processos fonológicos na fala infantil, principalm ente em uma idade
na qual já seria esperado um domínio do sistem a fonológico da língua, pode prejudicar ainteligibilidade da fala, podendo até mesm o torná-la completamente ininteligível (Stampe, 1973).
Segundo Yavas e Lamprecht (1990), a inteligibilidade da fala é passível de sofrerinfluências de m uitas variáveis, o que a torna bastante difícil de ser mensurada. Essas variáveispodem ser: a freqüência de fonemas alterados, a variabilidade destes erros e a semelhança entre osom-alvo e a realização pelo falante. Em relação ao ouvinte, o conhecimento do falante e docontexto e a experiência do ouvinte com a fala desviante também podem interferir nainteligibilidade.
Embora o trabalho de Yavas e Lamprecht (1990) tenha, de certa forma, criado uma escalade inteligibilidade de fala baseada em Hodson e Paden (1983), havia ainda a necessidade depadronização estatística de itens para uma escala de inteligibilidade viabilizando a análisequantitativa e qualitativa do prejuízo à inteligibilidade. Isto perm itirá avaliar o im pacto que osprocessos fonológicos podem acarretar à comunicação, contribuindo assim, à prática clínicafonoaudiológica.
Portanto, o objetivo desta pesquisa foi criar itens para um a escala de amostras de falasque possibilitem a julgadores a avaliação a classificação da inteligibilidade de fala de crianças comdistúrbios fonológicos.
Os objetivos específicos são:- Testar a fidedignidade dos itens criados para a escala pelo método do reteste;- Analisar qual a interferência do tipo de processo fonológico na avaliação da
inteligibilidade da fala com distúrbio;- Investigar se o conceito ininteligibilidade é pertinente à fala com distúrbio fonológico.
Outros objetivos foram cobertos pelo estudo, m as não serão mencionados aqui peloespaço deste artigo.
Procedim entos M etodológicosEste estudo está inserido no projeto de Distúrbios Fonológicos: caracterização, avaliação e
terapia, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da ULBRA sob o protocolo 107/2002, assimcomo, tam bém aprovado pelo com itê de ética da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Portanto,os responsáveis pela amostra de julgados e os julgadores da fala das crianças receberam termosde consentimento livre e esclarecido para autorizarem a pesquisa, após esclarecimentos sobre osprocedimentos de coleta, benefícios da pesquisa, ausência de riscos, os direitos de sigilo evoluntariado.
Am ostraA população julgadora foi composta de adultos brasileiros, homens e mulheres, na faixa
etária entre 18 e 39 anos, de audição normal, com escolaridade de nível fundam ental, médio esuperior. A faixa etária dos juízes foi estabelecida em 18 anos, considerando como o início daadultez e até 39 anos, para não haver risco de os julgadores sofrerem de presbiacusia (perda deaudição por envelhecim ento natural). Quanto à normalidade da audição dos juízes foi aferidainformalmente, com pergunta direta ao julgador se havia perda auditiva comprovada e testagemtambém informal durante a entrevista inicial1.
A amostra é de 103 adultos (52 homens e 51 mulheres), são falantes nativos do Portuguêse nenhum deles conhecia ou mesmo teve algum contato ou conversa com qualquer uma dascrianças ouvidas no teste de inteligibilidade.
Os fonoaudiólogos, profissionais e/ou estudantes, pelo conhecimento e experiência com afala desviante, não com puseram esta amostra. Também evitaram-se grupos de professores deensino fundamental, que possuem larga experiência com crianças pequenas, embora um ou outrosujeito possa ter composto a amostra, como se verá nos resultados.
A população julgada é de crianças brasileiras, meninos e meninas, na faixa etária de 4 a 9anos, com distúrbios fonológicos e com aquisição fonológica concluída, provindas de ambientes
1 Se o julgador demonstrasse dificuldade em compreender qualquer pergunta com enunciados com o: "O quê?”, eraelim inado da amostra. Além disso, cuidou-se para que o volum e do aparelho preparado para a audição, estivesse emintensidade confortável para cada julgador.
monolíngües de Português. As crianças tinham capacidades de com preensão, aspectospsicológico e social, m ecanism os orais e de audição norm ais, assim com o nenhum problemaneurológico relevante à produção da fala. Estes dados foram aferidos por entrevista com osresponsáveis, terapeutas e em conversa com as próprias crianças.
A am ostra julgada foi composta de 6 (seis) narrativas espontâneas de crianças,caracterizadas acim a, um a narrativa com aquisição fonológica concluída e cinco apresentandoprocessos fonológicos descritos na literatura como com uns ao Português Brasileiro (PB) e, demodo especial, muito freqüentes em sujeitos com distúrbios fonológicos, conforme literatura jámencionada, tais com o: dessonorização; apagam ento de líquida final e redução de encontrosconsonantais; plosivização e os processos de alternância de ponto de articulação, como aanteriorização de fricativas palatais e a anteriorização de plosivas velares.
Assim , podemos resum ir os sujeitos da pesquisa em relação aos percentuais deocorrência dos processos fonológicos presentes, segundo a classificação de Yavas et al. (1991),realizados sobre a transcrição da narrativa coletada e editada para a pesquisa:
Sujeito 1 – Dessonorização:Realização de plosivas, fricativas ou africadas sonoras como surdas. Cem por cento
(100%) de dessonorização e não possui qualquer outro processo fonológico.
Sujeito 2 – Anteriorização de Plosivas Velares:Substituição de consoantes plosivas velares (/k/ e /g/) por consoantes alveolares (/t/ e
/d/). Cem por cento (100%) de anteriorização de plosivas velares e não possui qualquer outroprocesso fonológico.
Sujeito 3 – Plosivização, Apagam ento de Líquidas Inicial- Final- Intervocálica,Sem ivocalização e REC:
Este sujeito apresenta como processo de base a plosivização, que é a substituição deuma fricativa ou de um a africada por um a plosiva, presente em sessenta e cinco por cento (65%)de sua narrativa coletada. Os trinta e cinco por cento (35%) restantes constituíram-se em outrosprocessos, basicamente com alterações em fricativas: apagam ento de fricativas em ISIP e ISDP,africação, substituição de / m / e de / ĵ / por / ñ / e uma (1) produção correta de / č /. Ele apresentatambém os processos de apagamentos de líquidas inicial, intervocálica e final, cinqüenta por cento(50%); semivocalização de líquidas (substituição de uma líquida lateral e/ou não-lateral por umglide), trinta e seis por cento (36%). Pôde ser observado a ocorrência de metátase (01).
Sujeito 4 – Aquisição Fonológica Concluída:Não há presença de processos fonológicos em cem por cento (100%) da amostra de fala.
Sujeito 5 – Anteriorização de Fricativas Palatais:Substituição de consoantes fricativas palatais (/š/ e /ž/) por consoantes alveolares (/s/ e
/z/). Cem por cento (100%) de anteriorização de fricativas palatais e não possui qualquer outroprocesso fonológico.
Sujeito 6 – Apagam ento de Líquida Não-Lateral Intervocálica e Final e REC:Apagam ento de líquida não-lateral em final de sílaba dentro e/ou no final da palavra e
apagam ento de líquida não-lateral intervocálica que ocorre entre duas vogais. Apresenta, ainda,Redução de Encontro Consonantal. Este sujeito apresenta cem por cento (100%) destesprocessos.
Instrum entos de Coleta Mídia digital (CD) com a gravação editada de amostras de narrativas espontâneas
de 6 (seis) crianças auxiliadas por figuras que form avam quadros de seqüênciaslógicas
Questionário (instrum ento) composto de questões de identificação e decaracterização da amostra julgadora, tais como: nome, sexo, idade, profissão,número de filhos e suas faixas etárias. E ainda, de uma tabela para a marcação
das respostas julgadas de acordo com a escala criada para a avaliação dainteligibilidade de fala.
A escala foi composta de cinco itens:1. Nada Com preensível;
(não é possível entender as palavras ditas e também o sentido da mensagem)2. Pouco Com preensível;
(é possível entender poucas palavras com dificuldade, mas não o sentido damensagem)
3. Compreensível;(é possível compreender algumas palavras e é possível entender parte dosentido da mensagem)
4. Muito Compreensível;(é possível entender a m aior parte das palavras, não todas, e é possívelentender o sentido da mensagem )
5. Totalmente Compreensível;(é possível entender todas as palavras e o sentido da mensagem)
M étodos de Análise Estatística Instrumento Quantitativo:
Teste Qui-quadrado: Teste para a análise da dependência das questões em relaçãoà escala:
Método do Reteste: Testes para a Avaliação da significância e fidedignidade daescala, utilizando a Correlação de Spearman (R) e oCoeficiente (alfa) de Cronbach (Cronbach, 1951).
Instrumento Qualitativo:Análise qualitativa da relação das respostas à escala com as dem ais variáveislevantadas.
Procedim entos para Construção do Instrum ento de Fala para o Julgam entoPara a coleta das narrativas foram utilizadas quatro seqüências lógicas apresentadas
cada um a em quatro quadros de figuras, com temáticas de vida diária. As figuras eramapresentadas para as crianças e após, solicitado que elas inventassem um relato sobre asmesmas.
Após a gravação das narrativas no Minidisc, as mesmas foram ouvidas e transcritas paraa análise do conteúdo e cálculo da porcentagem de processos fonológicos apresentados em cadafala. A transcrição e identificação dos processos foram realizadas por dois colaboradores. Foramexcluídas da análise palavras que revelassem pronúncias congeladas e, em conseqüência, nãorepresentativas da fonologia da criança.
A seguir, as mesm as narrativas foram gravadas no computador, no qual foram tratadascom o software de tratamento de som Sound Forge 6.0. Depois de editadas, as narrativas foramtransferidas para um CD, em seqüência, com um intervalo de 20 segundos entre cada am ostra defala. A narrativa contada por cada criança não era a mesma, em bora a temática fosse comum pelaidentidade de figuras apresentadas. A fala de cada crianças formou um a am ostra de quarentasegundos de fala espontânea no CD.
As narrativas das crianças com distúrbios foram bastante pobres em extensão,criatividade e vocabulário, exigindo, desta forma, uma edição mais cuidadosa para unir as três ouquatro narrativas contadas e perfazer, assim , os quarenta segundos que estabelecemos comomínimo. A edição também foi executada para a extração de possíveis ruídos que dificultassem ojulgam ento dim inuindo a audibilidade; de períodos de silêncio; da fala do interlocutor, para nãogerar pistas aos julgadores; e para que todas as seis narrativas tivessem o mesm o tem po (40segundos) e a m esma quantidade de palavras (85 - oitenta e cinco), preservando o sentido.
A seqüência gravada no CD para a prim eira apresentação aos julgadores foi: S1, S2, S3,S4, S5 e S6. Já a seqüência para o Reteste, segunda apresentação das narrativas aos julgadores,após 3 m eses da primeira, foi alterada no CD, para evitar o risco dos julgadores lem brarem daordem de marcação do seu primeiro julgamento, a qual foi: S3, S6, S5, S1, S4 e S2.
S1 S2 S3 S4 S5 S6ESCALAT R T R T R T R T R T R
Nada compreensível - - - - 79 79
Além da alteração na ordem de apresentação, as marcações das respostas noquestionário foram feitas pela pesquisadora, também no intuito de evitar que os julgadoreslem brassem a ordem anteriormente marcada.
Procedim entos de Coleta com os JulgadoresPrim eiramente, as amostras de fala foram apresentadas para um grupo de 103 julgadores,
distribuídos da forma mais igualitária possível nas variáveis sexo, idade e escolaridade. Após trêsmeses de intervalo, as mesmas amostras foram apresentadas aos mesmos 103 julgadores. Esteintervalo entre um julgamento e outro ocorreu para que fosse avaliada a fidedignidade dos itenscriados para uma escala de Likert.
Estas amostras foram apresentadas aos adultos julgadores, em diferentes com binações,acompanhadas do questionário com perguntas de identificação e caracterização dos julgadores,além das questões diretas sobre a inteligibilidade das narrativas apresentadas, formatadas naescala já m encionada. A inteligibilidade de cada narrativa foi classificada pelos julgadores em umdos 5 (cinco) níveis, independentem ente dos demais.
Os julgadores receberam a mesm a instrução nas duas apresentações: “vocês ouvirãofalas de seis crianças e, após ouvir cada um a deverão classificá-la em um dos níveis da escala járeferida. No momento da apresentação e do julgam ento, se os julgadores tivessem dificuldade emsaber qual nível marcar, um a folha com a explicação acima descrita era mostrada a eles.
Resultados e DiscussãoA seguir, apresentam -se os resultados dos julgamentos dos sujeitos, lem brando que S1 é
dessonorização; S2 – Anteriorização de Plosivas Velares; S3 – Plosivização, Apagam ento deLíquidas, Semivocalização e REC; S4 – Aquisição Fonológica Concluída; S5 – Anteriorização deFricativas Palatais e S6 – Apagamento de Líquida Não-Lateral e REC:
Tabela 1 – Freqüências de resultados das questões segundo a escalaQUESTÕES
- - - - - -Pouco compreensível 02 02 09 09 24 24 - - 03 03 11 11Compreensível 51 51 64 62 - - - - 63 62 57 56Muito compreensível 50 50 30 32 - - - - 37 38 35 36Totalmente compreensível - - - - - - 103 103 - - - -T = Teste ; R = Reteste
Como é possível observar na tabela 5 acima, as atribuições a S1 feitas pelos juizes nãoapresentaram variação do teste para o reteste. Nenhum dos julgadores atribuiu os níveis NC e TCpara a fala deste sujeito com dessonorização. Apenas 2 julgadores o classificaram como PC (2%);contudo, a maior freqüência de atribuições ficou entre C e MC (50% e 50% respectivam ente).
A dessonorização é um processo bastante com um tanto na fala com distúrbios quanto naaquisição típica (Lamprecht 1986, 1990; Yavas 1988; Yavas et. al, 1991; Panhoca 1995, 1996;Ramos 1996; Mota, 1995, 1996; Fronza 1998). Alguns autores a colocam como causadora degrande alteração na fala e, por conseqüência, na inteligibilidade da fala, baseado, principalmente,no PCC (Percentual de Consoantes Corretas) proposto por Shriberg e Kwiatokowski (1982) quedemonstra maior grau de severidade nos DF (Keske-Soares, 2001).
No entanto, outros como Chiat (1994) e Casella (2002) não consideram que adessonorização cause grandes alterações na inteligibilidade. A primeira autora afirma que asonoridade é um traço menos estável e que possui fraca conexão com os traços semânticos e, porisso, o prejuízo na fala seria menor. Já a segunda autora coloca a cronologia como razão para amenor interferência deste processo na inteligibilidade de fala. Afirma que, por ser um processomais tardio, ou seja, de supressão mais tardia, até cinco anos segundo Yavas (1988), parece maistolerável aos ouvintes. Em seus resultados, o sujeito com dessonorização variou entrecompreensível com a fala do terapeuta e totalmente compreensível, tanto para leigos quanto paraas estagiárias.
Os resultados desta pesquisa para S1 corroboram o que dizem as autoras acim a sobre oprocesso de dessonorização e a inteligibilidade e também com a afirm ação de Lamprecht (1995)sobre a mudança de som ente um traço term inal (o traço [sonoro]) ser natural e não representar umdano grave à inteligibilidade.
A praticam ente igualdade na classificação dos juízes para S1 com o C e MC tambémpoderia ser atribuída a fatores fonéticos não percebidos pelo ouvido hum ano. Panhoca (1995)comenta, na interpretação de seu estudo fonético de desvozeam ento em crianças com distúrbiosfonológicos, que a análise acústica revela tentativas e aproximações que dem onstram umconhecim ento lingüístico do traço [sonoro] que não conseguem produzir. No entanto, essastentativas, redundâncias e sobreposições de pistas fazem com que o ouvinte aceite as produçõescomo corretas. Isso perm ite supor que muitos dos julgadores podem não ter percebido adessonorização em toda sua magnitude.
No julgamento da narrativa de S2, ficou mais evidente sua classificação como C, comuma pequena variação de 2 julgamentos do teste para o reteste. Foi bastante alta tam bém asatribuições a MC (30%) e somente 9 juízes o perceberam como PC (9%).
Chiat (1994) afirma que ponto de articulação possui forte conexão semântica, o que otorna mais estável, causando m aior estrago à inteligibilidade quando há o rompimento dessasconexões, no caso, a substituição do ponto velar pelo alveolar.
Autoras como Mota (1996) e Ram os (1996) apontam a alternância de ponto como umprocesso mais inicial, com aquisição a partir de 2:6 anos até mais ou m enos 3 anos, segundoYavas (1988) e, portanto, causaria m aior estranheza ao ouvido do interlocutor, além de causarhomoním ias, por exem plo, dizer /tato/ querendo dizer /kato/ ou /tapa/ para /kapa/. Lamprecht(1995) afirm a que essa troca (com o) É característica da aquisição tanto típica quanto atípica,demonstrando sua força no processo aquisitivo. A autora ainda ressalta que a direção inversa datroca (de alveolar para velar ) é que seria m ais característica da aquisição atípica. Portanto, parecerelevante, em próximas pesquisas, testar a inteligibilidade de sujeitos com este tipo de troca e verse o estranham ento do ouvinte será o mesmo ou não da troca de velar para alveolar já testadanesta pesquisa.
Os resultados de S3 foram exatamente iguais no teste e no reteste, concentrando-sesomente nos níveis NC e PC. De todos os 103 julgadores, setenta e sete por cento (77%)considerou S3 como NC.
Nos resultados de S3 é possível observar que a quantidade de processos, em bora aprincípio não fosse alvo de análise neste estudo, é uma variável que influencia na inteligibilidade,pois S3 apresenta não só plosivização, mas também processos com líquidas e outros menosexpressivos e foi o sujeito que obteve a mais baixa avaliação, ficando somente entre NC e PC. Noentanto, se compararmos seus resultados aos de S6, que tem somente processos com líquidas efoi avaliado com o C e MC, observa-se que o tipo de processo também é uma variável de m uitainterferência na inteligibilidade.
Yavas e Lamprecht (1990) em seu estudo não possuem sujeitos com plosivização,portanto não foi possível estabelecer uma relação com seus resultados relativo a variável tipo deprocesso versus inteligibilidade. Todavia, no que se refere a variável quantidade de processos, háuma concordância nos resultados, pois os sujeitos que apresentaram o m aior número deprocessos foram considerados pelos juízes com o os mais ininteligíveis, naquele estudo.
O sujeito 4, ao contrário de S3, obteve 100% dos julgamentos como TC, tanto no testecomo no reteste. Este sujeito demonstra a efetividade da escala aplicada.
S5 obteve classificações semelhantes às de S2, com um a pequena diferença nasatribuições para PC (9 em S2 e 3 em S5) que se reverteram para MC neste sujeito. Tanto S5quanto S2 são sujeitos que apresentam processos de alternância de ponto de articulação. Adiferença é que S2 obteve mais atribuições com o PC do S5, pois /š/ e /ž/, sons alterados em S5,são m ais tardios na evolução (Hernandorena, 1995) e, portanto, possivelmente mais toleradospelos ouvintes (Casella, 2002).
Um equilíbrio entre os níveis centrais da escala (PC, C e MC) é possível ser observadonos julgamentos para S6. A classificação ficou m ais concentrada em C; no entanto, não se podedesconsiderar os 34,5% m arcados como MC nem tão pouco os 11,7% em PC. Excetuando S3, emrelação aos dem ais sujeitos, S6 foi quem obteve maior núm ero de atribuições com o PC, tanto noteste como no reteste. Esses achados, de certa forma, questionam os de Casella (2002) e a
hipótese de que os processos envolvendo líquidas, por serem mais tardios e mais comuns naaquisição do PB, sejam m ais tolerados. Aqui parece que a variável quantidade de processos podeestar presente (Yavas e Lam precht, 1990).
Enquanto a plosivização é menos freqüente nos dados oferecidos pelo perfil fonológicodo prim eiro estudo, as alterações de ponto, sobretudo de fricativas palatais, são m ais freqüentes,em conjunto com processos atingindo líquidas (principalm ente o tap) e estruturas silábicas. Hásemelhança nos resultados dos julgam entos da inteligibilidade nas falas com processos dealternância de ponto e envolvendo líquidas, os quais são os mais comuns em DF. Isso levanta umquestionam ento fundamental ao conceito de inteligibilidade atribuída à população com DistúrbiosFonológicos (Grunwell, 1990). Há duas hipóteses, ou a população com DF não é ininteligível, ouseja, é um conceito incorreto, ou apenas um pequeno sub-grupo (5%) possui este traço. A respostaparece estar na continuidade das pesquisas de inteligibilidade de fala frente a familiares eestranhos.
Quanto à análise da fidedignidade dos itens testados, a avaliação de fidedignidade daescala pela correlação de Spearm an e pelo teste de significância dem onstrou que todas ascorrelações entre o teste e o reteste foram significativas a um nível de significância de =0,005(5%), pois para todos itens da escala p>. O coeficiente (alfa) de Cronbach também apresentouvalores acim a de 0,7, indicando que o reteste reproduziu os resultados estatísticos do teste. Issoconfere confiança aos itens da escala apresentada neste trabalho.
ConclusõesConsiderando os objetivos propostos no estudo 2 e analisados neste capítulo, podemos
responder que:- Quanto ao tipo de processo fonológico, a plosivização apresentou-se como o processo
mais danoso à inteligibilidade de fala;- Os itens criados para a escala apresentaram-se fidedignos;
- O conceito de ininteligibilidade é questionável à fala com distúrbios se não houver umadefinição clara do perfil fonológico considerado como critério para tal definição. Este estudo sugerea utilização do termo inteligibilidade dim inuída, já que tal atribuição não depende apenas datipologia fonológica, aqui apenas um tipo (plosivização) dem onstrou afetar muito a inteligibilidade,mas tam bém da escuta feita pelo interlocutor, que é um aspecto não analisado neste capítulo.
Considerações FinaisEste capítulo apresentou, de certo modo, dois estudos complem entares, pois enquanto o
primeiro estudo demonstrou que a prevalência de processos fonológicos atingindo líquidas(sobretudo o tap) e estruturas silábicas com plexas é m aior na população com distúrbios, o segundoindica que tal prevalência questiona o conceito de ininteligibilidade atribuído à fala dos sujeitosportadores desses distúrbios. A fala considerada mais ininteligível no estudo 2 é uma das menosprevalentes no estudo um. Assim, ou atribuímos o conceito de ininteligibilidade a um pequenogrupo de crianças com distúrbio ou atribuímos o conceito de distúrbio a um pequeno grupo.
A taxonom ia de Lam precht (1995) parece indicar o segundo caminho com o o maisprovável, uma vez que a prevalência da tipologia distúrbio pela análise autossegm ental é m enor naanálise estudada. Talvez um pequeno grupo, com fonologia de natureza distinta da aquisiçãofonológica típica, pode ser visto pelo interlocutor estranho como portador de fala ininteligível.Assim, am bos estudos indicam que os distúrbios, do ponto de vista da teoria fonológica, sãomenos freqüentes do que parecem e que estes poderiam ser ininteligíveis ao interlocutor estranho,mas compreensíveis aos conhecidos.
Já, por outro lado, os atrasos comporiam a m aior parte do grupo que chega à clínicafonoaudiológica e que, possivelm ente, não tem um feedback negativo de sua fala, pois ointerlocutor, conhecido ou não, parece compreender mais sua fala, como indica o estudo 2.
Tais resultados indicam a necessidade de pesquisas futuras da inteligibilidade a partir daótica da interação, já que outros resultados do estudo 2, não relatados aqui, indicam que adisposição e o conhecim ento do m undo infantil por parte do interlocutor é fundam ental nainterpretação da inteligibilidade.
ReferênciasCARREIRÂO, L. Perfil fonológico de crianças em aquisição fonológica atípica: atraso oudistúrbio.Dissertação (Mestrado), Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2004.CASELLA, L. A relação entre inteligibilidade de fala e processos fonológicos. Monografia deGraduação. Curso de Fonoaudiologia na Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2002.CHIAT, S. From Lexical Access to lexical output: what is the problem for children with impairedphonology? In YAVAS, M.S. (ed) First and Second Language Phonology. Singular PublishingGroup, San Diego, Califórnia, 1994. p.107-133.CLEMENTS, G.N.; HUME, E. The internal Organization of Speech Sounds. In: GOLDSMITH. (ed)Handbook of Phonological Theory. Oxford, Blackwell, 1995, p.245-306.CRONBACH, L. Coefficient alfa and the internal structure of tests. Psycometrika. V.16, p.297-334,1951.FRONZA, C. de A. O domínio do traço [+sonoro] e do nó de ponto de C na aquisição normal doportuguês brasileiro. Letras de Hoje. Porto Alegre: EDIPUCRS, v.33, n.2, p.141-150, jun. 1998.GRUNW ELL, P. Os desvios fonológicos evolutivos numa perspectiva lingüística. In: YAVAS,M.(org) Desvios fonológicos em crianças: teoria, pesquisa e tratamento. Porto Alegre: MercadoAberto, 1990. p.51-82.HERNANDORENA, C.L.M. Aquisição da fonologia do português: estabelecimento de padrões combase traços distintivos. Tese (Doutorado em Letras). Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católicado Rio Grande do Sul, 1990.HERNANDORENA, C. L. M. Sobre a descrição de desvios fonológicos e de fenômenos daaquisição da fonologia. Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 30, n. 4, p. 91-110, dez. 1995.HODSON, B.; PADEN, E. Targetin intelligible speech: a phonological approach to rem ediation. SanDiego: College-Hill Press, 1983.KESKE, M. Um modelo de terapia com base fonológica para crianças com desvios fonológicosevolutivos. Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 33, n. 2 , p.107-114, jun. 1998.KESKE-SOARES, M. Terapia fonoaudiológica fundam entada na hierarquia implicacional dostraços distintivos aplicada em crianças com desvios fonológicos. Tese (Doutorado em Letras).Porto Alegre: PUCRS, 2001.LAMPRECHT,R.R. Perfil de aquisição normal da fonologia do português: descrição longitudinaldecrianças de 2;9 a 5;5. Tese (Doutorado em Letras). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica doRio Grande do Sul, 1990.LAMPRECHT, R. R . A aquisição fonológica norm al e com desvios fonológicos evolutivos: aspectosquanto à natureza da diferença. Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS v. 30, n. 4, p. 117-125,Dez. 1995.MIRANDA, A.R. Aquisição do ‘r’: uma contribuição à discussão sobre seu status fonológico.Dissertação (Mestrado em Letras). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande doSul, 1996.MOTA, H. B. Descrição de desvios fonológicos pela fonologia não-linear. Letras de Hoje, PortoAlegre: EDIPUCRS, v. 30, n. 4, p. 127-135, Dez. 1995.MOTA, H. B. Aquisição segmental do português: um modelo implicacional de com plexidade. Tese(Doutorado em Letras). Porto Alegre : Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996.PANHOCA, I. Análise espcetrográfica do desvozeamento de consoantes obstruintes em criançasem idade escolar. In: MARCHESAN, I. Q.; ZORZI, J.; DIAS, I. Tópicos em Fonoaudiologia. v.II. SãoPaulo: Lovise, 1995. p.51-82.PANHOCA, I. Sobre o distúrbio articulatório e o vozeamento de consoantes obstruintes. De quaiscrianças estamos falando: In MARCHESAN, I.Q.; ZORZI, J.; DIAS, I. Tópicos em Fonoaudiologia.v.III. São Paulo: Lovise, 1996. p. 295-326.PERGHER, G.L.Prevalência dos Processos Fonológicos em Crianças com DesviosFonológicos/Articulatórios de 5 a 11 anos do Município de Canoas. Trabalho de Conclusão deCurso de Fonoaudiologia, Universidade Luterana do Brasil, Canoas, 2003.RAMOS, A.P.F. Processos de Estrutura Silábica em Crianças com Desvios Fonológicos: umaabordagem não-linear. Tese (Doutorado em Letras). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica doRio Grande do Sul, 1996.SHRIBERG, L.; KW IATKOW SKI, J. Phonological disorders: a procedure for assessing severity ofinvolvement. Journal of Speech and Hearing Disorders, v.47, p.256-270, 1982.
STAMPE,D.A . Dissertation on natural phonology. Tese (Doutorado). Chicago University, 1973.VIDOR, D. Aquisição das líquidas não-laterais por crianças com desvios fonológicos evolutivos:descrição, análise e com paração com o desenvolvimento normal. Letras de Hoje, Porto Alegre:EDIPUCRS, v. 36, n. 3, p. 715-720, Set. 2001.YAVAS, M. Padrões na aquisição da fonologia de português. Letras de Hoje, Porto Alegre:EDIPUCRS, v.23, n3, p. 7-30, Dez. 1988.
YAVAS, M. (org.) Desvios Fonológicos em crianças: teoria, pesquisa e tratamento. Porto Alegre:Mercado Aberto, 1990.YAVAS, M.; HERNANDORENA, C. L. M.; LAMPRECHT, R. R. Avaliação fonológica na criança:reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.YAVAS, M.; LAMPRECHT, R.R. Os processos e a inteligibilidade na fonologia com desvios. In:YAVAS, M. Desvios Fonológicos em crianças: teoria, pesquisa e tratam ento. Porto Alegre: MercadoAberto, 1990.
A escrita de crianças, jovens e adultos em perspectiva
Cátia FronzaUNISINOS
Os próximos quatro artigos têm como objetivo apresentar diferentes situações de escrita,da alfabetização nas séries iniciais à produção escrita de jovens e adultos, inclusive na relação que severifica entre o dom ínio da escrita e o desempenho em testes metafonológicos.
Cátia de Azevedo Fronza (UNISINOS), em "Reflexões sobre aspectos de aquisiçãofonológica na escrita de alunos de séries iniciais", chamará atenção para dados de escrita decrianças de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundam ental, destacando semelhanças e diferençasem relação à aquisição de fala por crianças de 2 a 4 anos. Joaquim Inácio Lunckes (UNISINOS),em "Textos em contexto", analisa a escrita de duas crianças bilíngües (português-alem ão) desegunda série do Ensino Fundamental de Salvador do Sul (RS), ressaltando com o o professorpode ajudar a criança a superar problem as de variação dialetal a partir da relação entre sons eletras da ortografia convencional, sem desconsiderar a linguagem falada pela comunidade local.Noely Klein Varella (UNISINOS), em "A questão fonológica na escrita por jovens e adultos",destaca, na fase inicial de alfabetização de seus sujeitos, a ocorrência de hipóteses que refletemaspectos fonético-fonológicos da língua, o desconhecimento da norma ortográfica, a construção deregras e a compreensão da segmentação das frases em palavras. É com o olhar da fonologia queDeisi Vidor e Gabriela Menezes de Freitas (PUCRS), no artigo "A consciência fonológica emadultos alfabetizados", analisam o desem penho de adultos já alfabetizados em testesmetafonológicos. A partir da identificação de tais desem penhos, as autoras apresentam dados quepodem responder se a consciência fonológica é condição necessária e suficiente para a aquisiçãoda escrita.
Os autores alertam para a im portância de o educador-alfabetizador estar atento àscaracterísticas de seus alunos, compreendendo-as e auxiliando-os para que o processo deaquisição da linguagem , bem como seu uso, transcorra de modo construtivo. Estudos como essessão de extrema relevância para o professor, porque indicam o conhecimento que crianças, jovense adultos possuem sobre sua linguagem e como aprendem , perm itindo a organização de propostasde ensino mais adequadas.
Reflexões sobre aspectos de aquisição fonológica na escrita dealunos das séries iniciais
Cátia de Azevedo FronzaUNISINOS
catia@ mercurio.unisinos.br
Este trabalho visa apresentar dados de pesquisas desenvolvidas na UNISINOS a partir dosestudos Textos nas séries iniciais: evidências fonológicas e Produção de textos nas séries iniciais:evidências fonológicas e de textualidade, sob a coordenação desta autora. Além desses dados,inserem-se reflexões resultantes de trabalhos de Conclusão do Curso de Letras da Universidade,com o fim de refletir sobre o que se verifica na produção escrita de crianças das primeiras séries doensino fundam ental.
Textos nas séries iniciais: evidências fonológicas 1
Inicialm ente, apresentam-se alguns dados do estudo desenvolvido de 2000 a 2001. Fazemparte da investigação textos escritos por 66 crianças da 1ª série do ensino fundam ental quepertenciam a três escolas da rede privada do m unicípio gaúcho de São Leopoldo. Com uma coletamensal, de m aio a novem bro de 2000, foram obtidas sete produções para cada criança, chegandoa um total de 326 textos digitados e analisados. As produções foram espontâneas, na presençadas pesquisadoras, mas com orientação inicial das professoras das turmas, as quais, através dequestionam entos e discussões, referiam -se ao tema a ser desenvolvido. As palavras escritas emcada texto encontram-se digitadas em ficha específica que contém dados do informante.Diferenciadas de acordo com a forma alvo e a forma escrita, as palavras alteradas foramclassificadas, adaptando-se a term inologia de Cagliari (1997).
Num levantamento geral das alterações encontradas, o gráfico 1 ilustra o percentualverificado nas produções de cada escola, conforme o texto produzido (A a G, correspondendo aosmeses de coleta).
Gráf ic o 1 - Perc entual de palav ras alteradas nas 1as . s ér ies(SJ, SL e SD)
G
E
C
A
0 10 20 30 40 50 60
SJ SL SD
No gráfico 1 verifica-se que o texto A, produzido em m aio, revelou, em todas as escolas,um percentual de alterações superior a todos os outros. Observando-se os dados, fica evidente aprogressão das crianças na produção de seus textos. No texto G não houve um percentual dealterações superior a 27%. Apesar disso, percebem-se diferenças percentuais entre as escolas e
1 Outras reflexões sobre esse estudo encontram-se em Fronza e Gerem ias (2002); Fronza e Varella (2003) e Fronza(2003).
entre os textos de cada escola. Ora, são escolas diferentes, alunos diferentes e textos produzidosa partir de propostas variadas.
Com o já se disse, as alterações foram classificadas a partir da proposta de Cagliari (1997).Depois de identificados os tipos de alterações, prestou-se atenção aos casos de maior ocorrência.Assim, o gráfico 2 apresenta as alterações m ais freqüentes nos 326 textos de 1ª série.
Gráfico 2 - Alterações mais freqüentes/escola
3025201510
50
SJ SL SD
TF UIL MES JUNT AG
De acordo com a ordem das escolas (SJ, SL e SD), as 5 alterações mais freqüentes são:a) TF, UIL, MES, AG e JUNT2; b) UIL, MES, TF, AG e JUNT; e c) UIL, MES, TF, JUNT e AG,respectivamente. Nas últimas posições estão, para todas as escolas, JUNT e AG. No SJ e no SL,aparece primeiro AG, seguida de JUNT; no SD ocorre o inverso. Percebe-se que, para as trêsescolas, as 5 alterações mais encontradas são as apresentadas pelo gráfico 2. Isso revela que asdiferenças em relação ao alvo na escrita podem representar um padrão possível para os textosproduzidos pelas 66 crianças de 1ª série deste estudo.
Para melhor com preender as alterações, citam-se como exem plos: de TF, abre abri,ba lde baude; de UIL, c im ento s imento, encaixe encaiche; de MES, pane la pane,barco braco , anim ais anim asi; de AG, água agua, lápis lapis; e de JUNT, tem que tenque, um monte umonte.
Outros estudosNesta seção serão apresentados dados sobre dois trabalhos realizados por graduandas do
curso de Letras da Unisinos, que investigaram a produção escrita de alunos de 1ª e de 2ª séries.Em seguida, serão discutidos também dados parciais da pesquisa Produção de Textos nas sériesiniciais: evidências fonológicas e de textualidade, iniciada em 2001, sob coordenação desta autora.Apesar das diferenças m etodológicas, vale a pena apresentar tais dados, pois se percebemsemelhanças entre as 3 pesquisas.
Schenckel (2000) analisou 6 atividades de produção escrita de 2 meninos e de umamenina de 1ª série, e de outros 3 informantes de 2ª série, dois meninos e uma menina,pertencentes a uma escola de classe média, no m unicípio de Campo Bom.
Soares (2003) coletou dados de escrita de 25 alunos de 2ª série, que freqüentavam um aescola de classe baixa, no município de Campo Bom . Os dados foram obtidos a partir da produçãode 3 narrativas baseadas em figuras.
Fronza (2002), obteve dados de 227 crianças (de 2ª, 3ª e 4ª séries) de 3 escolas da redeprivada de ensino de São Leopoldo, as mesmas que participaram da pesquisa descrita na seção 1.Foram realizadas 8 coletas, de maio a novem bro de 2002, a partir de produções textuaisespontâneas, seguindo os procedimentos adotados na pesquisa com 1ª série. A finalidade foiverificar quais características se assemelhariam às 1ª séries e como ocorre a evolução da escritanas séries iniciais. Obteve-se um corpus de 1649 textos.
2 TF (Transcrição Fonética); UIL (Uso Indevido de Letra); MES (inclui aqui Modificação na Estrutura Segmental, quando serefere à alteração num único segm ento/letra, e Modificação na Estrutura Seqüencial, quando a alteração ocorre numaseqüência de segm entos/letras, normalm ente na m esma sílaba); AG (Acentuação Gráfica); e JUNT (Juntura intervocabular).
Com o o objetivo foi comparar os resultados dos estudos, apesar das diferençasmetodológicas, o gráfico 3 mostra o percentual de alterações de maior ocorrência.
Gráfico 3 - Percentual de alterações mais freqüentes para os 3estudos
25
20
15
10
5
0AG JUNT MES TF UIL
Schenckel (2000) Fronza (2002) Soares (2003)
As mesm as alterações já identificadas no primeiro estudo, ilustradas pelo gráfico 1, são asmais freqüentes nas 3 pesquisas. Fronza (2002) apresenta a seqüência de UIL > TF > MES >JUNT > AG. No estudo de Schenckel (2000), observa-se UIL > JUNT > MES > AG > TF. Soares(2003) registra MES > UIL > TF > JUNT > AG. A freqüência de cada alteração muda em cadapesquisa, mas a MES aparece entre as 3 alterações de maior ocorrência. Isso se verifica tambémem Fronza (2000), tendo a MES em 3º lugar em uma escola e, em segundo, nas outras duas.
Apresentam-se aqui dados sobre a identificação das alterações que incluem as coletas de1 a 5.
A diferença em relação aos dados anteriores, vistos nos gráficos 2 e 3, é quanto àsalterações mais freqüentes. A partir de agora se consideram 4 das alterações, não registrando asocorrências de JUNT, por não mostrarem quantidades tão significativas quanto as destacadas nográfico 4.
Gráfico 4 - Alterações mais freqüentes SD
160
140
120
100
80
60
40
20
0MES AG UIL TF
2a. Série 3a. Série 4a. Série
Observando o gráfico 4, tem-se acesso a inform ações sobre a quantidade (não percentual)de alterações realizadas ao longo das 5 coletas (representadas em colunas) pelas três séries(escola SD) que participaram do estudo. Em bora o gráfico sirva de demonstrativo da situação dostextos, é preciso levar em conta que, em determ inadas coletas, as crianças podem ter escrito maise talvez por isso apresentem maiores índices de alterações. As ocorrências apontam a MES com ouma das alterações mais recorrentes nas produções dos alunos, estando em 2º lugar. Assim ,podemos perceber que a 2a série apresenta valores bastante elevados, se comparados aos da 3a eda 4a séries na m aioria das produções. A exceção da Acentuação Gráfica (AG) sobressair-se na 4a
série pode estar ligada tanto ao nível de desenvolvim ento da escrita dos alunos, com o ao númerode linhas escritas, ou seja, se há mais linhas de texto, há mais probabilidades de alterações. Nessegráfico verifica-se, ainda, que os casos de UIL e de TF não chegam a 90 ocorrências, enquanto AG
supera as 180, e MES ultrapassa 140 ocorrências. Assim , pode-se dizer que, em primeiro lugar,estão as ocorrências de AG, seguidas das de MES, das de UIL e das de TF.
180160140120100
80604020
0
Gráfico 5 - Alterações mais freqüentes SJ
MES AG UIL TF2a. Série 3a. Série 4a. Série
A escola SJ apresenta basicamente os mesm os dados da escola SD, com a MESfigurando entre as alterações mais realizadas. A diferença está nos números indicativos. Percebe-se que, nesta escola, as três séries, na maioria das coletas, apresentam um a redução do númerode alterações em relação à prim eira e à última coleta. Com o citado anteriorm ente, isso pode estarligado ao número de linhas escritas pelos alunos, mas também pode ser um forte indicativo deevolução na escrita. Além disso, percebe-se que, desta vez, é a 3a série que, em algum as coletas,acaba se sobressaindo, provavelm ente pelas mesm as razões apresentadas nas referências aosdados da 4a série da escola SD. No gráfico 5 identifica-se a m esma hierarquia do anterior: AG >MES > UIL > TF.
140
120100
80
604020
0
Gráfico 6 - Alterações m ais freqüentes SL
MES AG UIL TF2a. Série 3a. Série 4a. Série
Nos dados referentes à escola SL estão os números mais baixos de alterações,ultrapassando apenas em 2 coletas a marca de 100 ocorrências de MES. Isso é bastantesignificativo, pois, mesmo nas séries em que as crianças costumam escrever mais, ou seja, na 3a ena 4a séries, por estarem mais habituadas à escrita, a m édia de alterações se mantém. Além disso,no que se refere à MES, podemos notar que, outra vez, a 2a série apresenta mais ocorrências.Esse fato vai ao encontro da idéia de que é nos primeiros contatos da criança com a escrita que severifica m aior número de alterações de MES. Isso acontece porque ela ainda não está fam iliarizadacom o sistem a convencional de escrita e faz analogias que nem sem pre dão conta daquilo que étido com o m odelo. Essas analogias, que podem ter origem fonológica, acabam transformando apalavra a ponto de, em m uitos casos, não ser possível identificar seu significado, sobretudo seisolada de contexto. O gráfico 6, comparado ao 4 e ao 5, apresenta uma variação na hierarquia dealterações: MES > AG > UIL > TF.
Voltando-se para os gráficos 4, 5 e 6, verifica-se que das quatro alterações maisfreqüentes, 3 delas (AG, UIL e TF) referem-se diretamente às convenções ortográficas. A MESconsiste em casos de substituições, não-realizações, reorganizações e inserções de segm entos,possibilitando novas palavras e/ou novos significados. Tais ocorrências são consideradas de
natureza fonológica (Varella, 1993), porque levam a mudanças de significado devido àsinterferências na estrutura da sílaba e da palavra. Concordando com Scliar-Cabral (2003), percebe-se, nos contextos de MES, que os grafemas3 assumem os valores dos fonemas que devemrepresentar, m arcando a distintividade que lhes é peculiar.
Considerações finaisApesar de a quantidade de alterações ser bem inferior ao total de possibilidades, como
ilustra o gráfico 1, é im portante lem brar que o domínio da ortografia é gradual. Nas oportunidadesde observar a língua escrita, através de reflexões sobre suas características, mais consciênciasobre as convenções o aluno adquirirá. Dois fatores parecem ser a origem das alterações deortografia: a existência de um a relação entre a m odalidade oral e a escrita da língua e anecessidade de obediência às convenções ortográficas. É imprescindível que o professor saibalidar com am bos os fatores. Esta autora vem se dedicando ao estudo do primeiro fator, pois temencontrado, nas produções escritas de seus informantes, dados significativos que mostramsemelhanças com o que se verifica na fala de crianças de 2 a 4 anos. Em vista disso, está sendoimplementada a pesquisa A produção de vogais e de consoantes por crianças de 2 a 10 anos:evidências de fala e de escrita, com o objetivo de verificar se, na escrita das mesmas crianças,reaparecerão estruturas faladas por elas e registradas durante a fase dos 2 aos 4 anos. Acredita-se que, ao adquirir a escrita, a criança utiliza estratégias semelhantes às utilizadas na aquisição defala. Nesse estudo, que acompanhará, longitudinalm ente, 10 crianças, pretende-se investigar se ahipótese procede, assim com o responder a questões que ainda carecem de esclarecimentos.Como destaca Abaurre (1992, p. 44), a escrita é um espaço im portantíssimo de m anifestação dasingularidade dos sujeitos. Perceber e entender com o se dá a reconstrução da linguagem que seutiliza da form a escrita é papel de todo educador e, em especial, do lingüista que se dedica àeducação. Vale lembrar o que diz Heinig (2003, p. 11), quando salienta que “(...) o educador é umser em constante estágio de aprendizagem”, pois deve estar sem pre atento ao que ocorre em tornode si, com seus alunos, para entender o que acontece e poder agir positivamente nesse contexto deensino e aprendizagem.
ReferênciasABAURRE, Maria Bernardete Marques. Os estudos lingüísticos e a aquisição da escrita. In.: IIEncontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem, 1992, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre:PUCRS, 1992. p. 5-49.CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e lingüística. 4 ed. São Paulo: Scipione, 1997.FRONZA, Cátia. A teoria da otim idade e a aquisição da escrita: uma possibilidade de análise.Comunicação apresentada no XVII ENCONTRO NACIONAL DA ANPO LL, Gramado, 2002.FRONZA, Cátia de Azevedo. Textos nas séries iniciais: evidências fonológicas – resultadosprelim inares. In: II Congresso Internacional da ABRALIN, 2003, Fortaleza. Anais... Fortaleza:Im prensa Universitária/UFC, 2003. p. 103-105.FRONZA, Cátia de Azevedo; GEREMIAS, Verena. Características fonológicas presentes naalfabetização. In.: VI Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada, Belo Horizonte. Anais... BeloHorizonte: VI CBLA (CD-ROM), v. 1, 2002. p. 1-10.FRONZA, Cátia de Azevedo; VARELLA, Noely Klein. Aspectos fonológicos nos textos de criançasem alfabetização. Textura, n. 8, p. 39-48, 2003.HEINIG, Otilia Lizete de Oliveira Martins. Apresentação. In.: SCLIAR-CABRAL, Leonor. Princípios dosistem a alfabético do português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2003. p. 11.SCHENCKEL, Luciane. A relação da fala com a escrita durante o processo de alfabetização.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Letras). São Leopoldo: UNISINOS, 2000.SCLIAR-CABRAL, Leonor. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. São Paulo:Contexto, 2003.SOARES, Solange Maria Lauck. A influência da fala na escrita padrão dos alunos de 2ª série doensino fundam ental. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Letras). São Leopoldo:UNISINOS, 2003.
3 Na definição de Scliar-Cabral (2003, p. 27), “um a ou m ais letras que representam um fonema”.
VARELLA, Noely Klein. Na aquisição da escrita pelas crianças ocorrem processos sim ilares aos daaquisição da fala? Dissertação (Mestrado em Letras), Porto Alegre, PUCRS, 1993.
Bilingüismo e alfabetização
Joaquim Inácio [email protected]
IntroduçãoMais uma vez a alfabetização aparece como objeto de discussão, até pelo fato de ela ser o
grande problema da educação em nosso país, no qual a globalização discrim ina e exclui, cada vezmais, as pessoas não alfabetizadas, negando-lhes oportunidades e colocando-as à m argem domercado de trabalho e, conseqüentemente, do consum o, do lazer e da dignidade. Entre osdiscrim inados encontram-se alunos falantes de outra língua, como, neste estudo, da língua alem ã,e alfabetizandos do português. Há uma luz no final do túnel e esta luz não deve ser a do trem queestá por vir em nossa direção para nos atropelar, m as a centelha de uma possibilidade de avançare sair da obscuridade.
O presente estudo tem, como sujeitos, os alunos da 2ª série, do ano de 2001, um a dasturm as com m aior núm ero de crianças na escola onde atuo: sete meninas e onze meninos,totalizando 18 alunos, que foram acom panhados por m im , desde julho de 2000, quandofreqüentavam a 1ª série no m esmo estabelecimento de ensino. Destes, apenas dois eramrepetentes na série e quatro repetiram a primeira série. Entre eles, havia dois alunos nãoalfabetizados, que foram promovidos para a série pela idade avançada em relação aos dem ais eque estavam sendo encaminhados para um atendimento especializado. A grande maioria, dozealunos, vinha estudando junto desde a pré-escola, compondo a prim eira turma desse nível nesseestabelecimento de ensino.
Assim, o estudo se deu a partir do levantamento do diagnóstico da realidade, observações,pesquisas, entrevistas, análise de textos produzidos pelos alunos, buscando sempre um afundamentação teórica coerente ao proposto e um (re)olhar constante à prática docente.Apresento, pois, estudo relacionado à alfabetização no português, de crianças bilíngües, natentativa de responder às questões: O que leva um aluno bilíngüe, num a igualdade de condições, aser bem sucedido em seu processo de aquisição da linguagem escrita do português? Quemudanças ocorrem na alfabetização de crianças, quando o professor acredita em suasconcepções, que se aprende a ler, lendo e a escrever, escrevendo?
Um olhar sobre o contextoDurante o primeiro sem estre de alfabetização de 2000, quando freqüentavam a 1ª série, a
professora utilizava a cartilha com o grande aliada, para desenvolver seu trabalho, seguindo-a,cronologicamente, dando ênfase à palavração e às famílias silábicas que apareciam nos textosestudados. A partir de julho do m esm o ano, este trabalho sofreu uma séria mudança com a trocada professora regente da classe, que tinha contrato emergencial. A cartilha passou a ser apenasuma das fontes de estudo, e as atividades de alfabetização davam-se a partir de textos darealidade das crianças. Para os alunos foi um a mudança radical, por não acreditarem que os seusescritos e os textos da sua realidade, do seu contexto, teriam algum valor na aprendizagem. Istotambém se refletiu na atitude dos pais, que pensavam da m esm a forma, colocando em dúvida ametodologia adotada.
Na primeira semana de aula, propus que escrevessem um texto relacionado à grande festaque é realizada, anualmente, na comunidade, no mês de julho. “Das gild net”!, ou seja, “Isto nãovale”! foi a expressão que ouvi de alguns alunos e que se repetiu por diversas vezes nos m esessubseqüentes. Apesar de a maioria aceitar e achar bastante desafiadora a proposta, dúvidas haviaquanto ao seu valor frente à alfabetização. Mesmo assim, aceitaram o desafio e, com base nasinformações que estavam no cartaz de divulgação da festa, afixado no quadro mural do corredorda escola, mais as inform ações que traziam a respeito da m esma, foi escrito um texto coletivo. Osalunos foram desafiados a perceber que o cartaz continha informações específicas da festa
daquele ano, importantes para auxiliar em nossa tarefa: m esmo m uitos deles ainda não dom inandoa leitura e a escrita, sabiam que aquele cartaz era relacionado à festa.
Concluída a tarefa de escrever o referido texto, foi muito grande a satisfação deles pelofato de conseguirem lê-lo com mais facilidade do que os textos da cartilha, por conhecerem o seuconteúdo. Já sabiam a ordem em que as idéias se apresentavam e quando não conseguiam ler“realmente” o que estava escrito, ocorria leitura com partilhada (Solé, 1998), validada pelo professorou pelos colegas.
Com o a troca de professor se deu de forma meio abrupta, visto que tive que assum irimediatamente a turma, a professora anterior havia dado com o tema algumas palavras que eles jáconseguiam ler e até escrever para que formassem frases. Entre essas apareceu a palavra “ema”referindo-se à ave. No entanto, o termo “ema”, no dialeto da comunidade, significa “balde”. Assim ,entre os escritos da turma, apareceu um aluno que escreveu: “A ema está cheio de água” com aintenção de querer expressar “O balde está cheio de água”. Conhecendo a realidade desse aluno eda língua falada na comunidade, aceitei com o correta a frase, pois houve comunicação entre oescritor e o destinatário, neste caso, aluno e professor, ambos bilíngües. O aluno valeu-se derecursos com unicacionais para expressar o seu entendimento em relação à palavra “ema” que, noseu dia-a-dia, está presente em seus afazeres dom iciliares, enquanto que o significado pretendidopela professora fica totalmente descontextualizado até pelo fato de a ave ser desconhecida nacomunidade e na região. O sentido da proposta era, essencialm ente, voltado à representaçãográfica da palavra. Outro exemplo foi o de uma aluna que, ao escrever uma frase sobre a vaca,usou a palavra “fuda” para expressar a idéia de “pasto”. Assim escreveu: A vaca dá leite e come‘fuda’. Conversando com ela, percebi que ela não conhecia a palavra pasto em português e achoucorreto usar a expressão em alem ão, um a vez que ela a ouve diariamente.
É preciso valer-se dos modelos sociolingüísticos da cultura local, sem querer extingui-los, afim de que os alunos possam alcançar o seu letramento, a partir de uma interação entre as duasculturas. O professor, quando intervém, não o faz com o intuito de substituir um saber, neste caso,local, por outro que seja formal. Oferecer oportunidades que possibilitem que esses conhecimentosfossem ampliados ou reformulados, foi uma constante nesse processo. Assim, os conhecimentossão ampliados e não substituídos.
O texto em contextoTransformar a sala de aula em um am biente desafiador e aconchegante, ao mesm o tempo,
tem exigido a aplicação de diversas e diferentes atividades, resguardadas pelas concepçõesdesenvolvidas no curso de Pedagogia da UNISINOS, sempre marcadas pela construção,desconstrução e reconstrução, frente ao pretendido. Dessa form a, sempre tive o cuidado de,segundo afirm a Vigotsky (1991), ter presente que “A escrita há de ser importante para a vida”, alémde propor atividades afins, em que os alunos usassem a escrita significativa e, na m edida dopossível, contextualizada, atendendo ao que afirm a Curto (2000, p.69):
A linguagem escrita serve para isso. Isso é o que nossos alunos devem aprender acompreender e a produzir. E não há outra forma senão fazê-lo cotidianamente. Em nossa proposta,na escola, sempre se deveria ensinar a aprender linguagem escrita com significado explícito: textospara fazer algo útil, tal como nós, adultos, o fazemos.
Essa ação se deu pelo fato de observar como alguns alunos estavam reagindo frente àsatividades propostas e, também, pelo espanto de encontrar apenas um terço dos alunosalfabetizados na metade do ano letivo e, ainda, lim itados em suas produções textuais, com frasescurtas, descontextualizadas, refletindo lições cartilhadas.
Ler diariamente para os alunos foi uma constante, na pretensão de colocá-los em contatocom a linguagem escrita. Não o fazia aleatoriamente, mas tendo o cuidado de escolher obras devalor literário, a exemplo das histórias de Monteiro Lobato, dos irmãos Grimm , Hans CristianAndersen, Ruth Rocha, Neusa Junqueira, Sílvia Orthoff, entre outros. Essa leitura acontecia deform a prazerosa para o aluno, pois este curtia o desenrolar dos acontecimentos, com chances departicipar ao incentivá-los a assumir uma postura reflexiva, buscando ativar conhecimentos prévios,estabelecer previsões e formular perguntas acerca do texto (Solé, 1998). Poucas vezes eramrealizadas atividades escritas, de interpretação, visto que a m esma se dava após a narração,quando, oralmente, os alunos comentavam a história lida.
Possibilitava aos alunos que assumissem, perante a turma, a condição de narrador,podendo ler textos ou histórias de sua livre escolha. Também podiam fazê-lo apenas para oprofessor, em forma de leitura compartilhada. Estas atividades eram controladas em fichasindividuais, nas quais eram anotadas as obras lidas e a data, para um a futura compilação dedados. Inicialm ente, m uitos alunos resistiam, lendo apenas aqueles textos já “decorados” nacartilha, mas desafiados a buscar outros textos, mesmo da cartilha, em páginas mais avançadas,foram adquirindo confiança e coragem para ousar. Inúmeros foram também os textos trazidos decasa, contidos em livros que haviam sido de irmãos mais velhos e até dos pais e/ou familiares.Algum as vezes, era escolhido, por votação, aquele que m ais agradara a m aioria, para a realizaçãode atividades afins.
Seguidam ente, os alunos eram desafiados a realizar suas produções textuais, tendoliberdade para escrever, independentemente de a escrita ser silábica ou alfabética, uma vez que amaioria não estava alfabetizada ainda. Percebi que sentiam m ais segurança quando realizavam atarefa de escrita em grupo e proporcionei atividades, nas quais escreviam em duplas, trios ougrupos maiores. Essa insegurança era reflexo das famílias que não aceitavam a idéia de os alunosescreverem tentando, usando letras que conheciam e/ou de que identificavam o valor sonoro.
Os pais, mesmo tendo conhecim ento dos procedimentos por m im adotados, insistiam emquerer que seus filhos escrevessem as palavras corretamente, interferindo diretamente noprocesso, comprometendo-os, em parte. Como os alunos já tinham algum conhecimento sobre aescrita, consegui contornar a situação, uma vez que procurava sem pre encorajar aqueles quetinham algum a dúvida frente à escrita de um a palavra desconhecida. Havia também entre a turmaum clima de ajuda m útua, em que procuravam se ajudar e pedir ajuda àqueles que se encontravamem estágios m ais avançados.
A maioria das atividades de produção textual era voltada às situações do contexto, em queos alunos escreviam a partir de situações de seu conhecim ento, valendo-se de atributos adquiridospelas atividades de leitura que eu realizava. Muitos textos simples e bonitos foram surgindo aolongo do tem po, a exemplo daqueles que analiso neste relato. Foi a partir da hipótese de reuni-losem um livro que surgiu a idéia de criar um “caderno de textos do contexto”, no qual os alunostinham total liberdade de escrever suas histórias, sem a interferência direta do professor nem dospais. Esse caderno circulava livrem ente entre os alunos. Escrevia quem tinha vontade de escrever,sobre os mais diversos assuntos de seu contexto.
Outra prática adotada foi a de trabalhar com poem as. Aproveitamos poem as de SérgioCaparelli, Mário Q uintana, Vinícius de Moraes, José Paulo Paes, Machado de Assis, HenriquetaLisboa, Cecília Meireles, entre outros.
O ferecer diversos volumes da literatura infantil foi outro passo decisivo para atingir oproposto. Criamos um a biblioteca em nossa sala de aula, que não servia com o único “canto deleitura”, pois esta podia ser realizada nos mais diferentes espaços da sala de aula, em que havia aexposição de textos em cartazes e um mural com embalagens de produtos industrializados, deconsumo das fam ílias. Enfim , criamos um am biente alfabetizador significativo que as criançasconstruíam e reconstruíam periodicamente, a exemplo do que nos expõe Araújo (2001, p. 144),“(...) é preciso que a ação docente se dê no sentido de provocar múltiplas interações das criançascom os materiais que estão em exposição e, mais que tudo, propondo situações de uso dalinguagem escrita”. Para a autora, não há um único ambiente, mas ambientes alfabetizadores, emque as crianças vão aprendendo a ler o m undo a partir daqueles em que vivem.
Assim também deveriam ser os ambientes alfabetizadores na sala de aula, trazendo toda acomplexidade das experiências vividas pelas crianças, que, apesar de mergulhadas na oralidade,em suas vivências, especialmente as de trabalho, vão compreendendo a importância de saber ler apalavra. E se a escola cria am bientes alfabetizadores tão ricos quanto os am bientesalfabetizadores da vida, o exercício de escrita pode gerar um processo de tomar a palavra (Araújo,2001, p. 157).
Igualm ente, promovia a discussão de receitas que as famílias dos alunos usavam para asmais diferentes ocasiões do seu dia-a-dia e, algumas vezes, após eleger por maioria de votos, umaentre as que traziam, púnham os a “m ão na massa”, produzindo, conforme era instruído, emparceria com a servente da escola, que nos auxiliava no manejo dos acessórios da cozinha.
Num a perspectiva de dialogicidade, procurava estabelecer um desafio constante em minhasala de aula. Uma aluna, em dado mom ento, perguntou: “Professor, por que você pergunta tanto”?
Fiquei impressionado com a observação e, ao m esmo tem po, muito satisfeito. Procurei estender aconversa, na tentativa de saber o porquê de sua inquietação frente aos m eus constantesquestionam entos, enquanto m ediador do processo, ao que ela observou: “Ora, o senhor deveriaensinar e dizer como são as ‘coisas’ e não responder perguntando!”. Falei para ela que um a dasmelhores formas de se avançar no conhecimento é fazendo um a reflexão sobre aquilo que se temcomo correto e acabado e que o conhecim ento não é algo que pode ser transferido do transm issorpara o receptor. Assim, se eu respondesse simplesm ente às incertezas, isso não ocorreria, um avez que haveria um a simples troca do incorreto pelo correto, sem construção do conhecimento.
A fim de com provar o proposto, selecionei dois textos de alunos, escritos no caderno de“textos livres” da 2ª série, com posterior análise e discussão dos avanços evidenciados noconhecim ento do português. As suas famílias falam a língua alem ã no dia-a-dia, na comunicaçãoentre si, com vizinhos e demais pessoas da comunidade, inclusive em suas manifestaçõesreligiosas, as orações eram feitas em alemão. Com o exem plo, em uma pesquisa realizada,apareceu, como universal, por ser do conhecim ento e uso da todos os alunos da turma, a oração:“Ich bin klein, mein Hertz is rein, kann Niemant drinn wohnen wie Jesus alein”, que traduzidosignifica “Eu sou pequeno(a), meu coração é limpinho. Só pode morar dentro, Jesus Cristosozinho”.
Texto 1
Texto 2
Nos textos apresentados, predom inam “erros” puram ente convencionais, comuns à escritade qualquer falante do português, na fase inicial de alfabetização, não sendo exclusivos de textosde falantes da língua alemã. Além disso, a acentuação e a pontuação são aquisições tardias(Teberoski, 1994).
Casos com uns de trocas de letras de falantes de língua alemã não são observados,evidenciando o uso de, praticamente, todos os fonem as opostos, a exemplo de /p/ e /b/; /t/ e /d/; /k/e /g/; /s/ e /z/, entre outros.
Quanto à questão do não emprego dos dois “erres”, observa-se que crianças brasileirastambém cometem esse tipo de “erro”, a exem plo do que nos afirma Miranda (1998, p. 123): “Aslíquidas não laterais (‘r-fraco’ e ‘r-forte’) são apontadas pelas pesquisas de aquisição da fonologiacomo as consoantes de domínio mais tardio”. Sua aquisição tam bém não se dá de forma linear.“No português, e nas línguas ibéricas de m odo geral, há uma distribuição assimétrica dos ‘r’s, fortee brando, que contrastam unicamente em posição intervocálica (caro/carro, foro/forro, era /erra)”(op. cit., p. 124). Esse fato observa-se também na língua escrita.
Os textos são relatos, não há o ficcional. Nota-se que, em ambos, há um encadeam entonatural das idéias, em que o aluno narra os acontecimentos, em um a seqüência lógica. Pode-seafirmar que compreenderam a função que a escrita exerce na vida das pessoas, uma vez querealizam uma real descrição daquilo que ocorreu, possibilitando um a verdadeira compreensão paraquem , eventualm ente, for ler seus textos. A intenção era escrever, sob forma de texto, o contexto,espontaneam ente.
Ainda não empregam corretamente a letra m aiúscula nos substantivos próprios; em algunscasos, porém, empregam os verbos nos tempos adequados. Percebe-se que há concordâncianom inal e verbal entre as expressões. Convém dar destaque ao emprego dos sinais de pontuaçãoque está satisfatório para um aluno de 2ª série, empregando corretamente as vírgulas e os pontosfinais, com exceção de alguns casos e de algum as frases m uito extensas. Ocorre tam bém adistribuição dos textos em parágrafos e a tentativa de usar os parênteses para dar explicação adeterm inadas expressões.
Considerações geraisO desem penho apresentado por esses alunos pode ser considerado satisfatório para a
série que cursavam, levando em conta as suas condições socioculturais e enquanto alunosbilíngües (bidialetais). Não eram alunos que tinham melhor rendim ento em sala de aula, mas osque não apresentam a tão mítica troca de letras, comum aos falantes de língua alemã. Havia, na
turm a, alunos que liam relativamente melhor, no entanto, não gostavam muito de escrever e, porisso, talvez, esse problem a se fez presente com mais freqüência.
Há muito ainda a aprender para essas crianças, mesmo que suas produções textuais sedestaquem em relação aos dem ais. Ao aluno não cabe apenas aprender a língua escrita, mas simaprender a linguagem escrita, sentindo a importância que a leitura e a escrita exercem na vida do
ser humano: estar alfabetizado, numa ótica de letram ento.O fato de os dados terem sido coletados em um a escola do interior, em um a comunidade
de colonização alemã, oriundos da região do Hunsrick, no sul da Alem anha, traz contribuições paraas reflexões sobre a linguagem escrita que mostram os percursos da criança em realidadesdiferentes socioculturalm ente. O fracasso escolar, nesses grupos, não têm sua causa nobilingüismo. Cabe ao professor assumir o seu papel frente a essa realidade e cham ar para si aresponsabilidade de elim inar estereótipos negativos, oferecendo atividades que ajudem a superaras dificuldades com uns para esses casos. Requer também preparo especificamente voltado aquestões bilíngües, pelo fato de, na m aior parte das vezes, ser ele tam bém bilíngüe. O seu sotaque“carregado” não se diferencia do apresentado pelo aluno.
Não há, pois, receitas prontas para essas situações, cabendo ao professor assumir um apostura, quebrar paradigmas ultrapassados em relação à alfabetização, na busca de o alunocompreender a função da linguagem e não apenas identificar os códigos da leitura e da escritauma vez que “os problemas de evasão e reprovação estão imbricados intimamente com os códigoslingüísticos e o meio social de onde o aluno surge” (Sitya, 1998, p. 103).
Analisar os escritos de alunos bilíngües, que obtêm sucesso na escola, para, a partirdesses, consideradas as intervenções realizadas pelo professor, estabelecer ações para aplicar emcom unidades bidialetais, vem a favorecer o índice de alfabetização, uma vez que, comprovadaa interferência da língua alemã no aprendizado da língua portuguesa, pode-se estabelecer novosparadigm as frente a essas situações.
ReferênciasARAÚJO, Mairce da Silva. Ambiente alfabetizador: a sala de aula como entre-lugar de culturas. In:GARCIA, Regina Leite. Novos olhares sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001. p. 139-159.CURTO, Lluís Maruny et al. Escrever e ler: como as crianças aprendem, e como o professor podeensiná-las a escrever e a ler. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.MIRANDA, A. M. A aquisição das líquidas não-laterais no português do Brasil. Letras de Hoje.Porto Alegre, n. 112, p. 123-131, jun. 1998.SITYA, Celestina Vitória Moraes. Variações da estrutura da língua e estrutura etnográfica. RevistaLíngua e literatura, Frederico W estphalen, v. 1, n. 1, p. 95-113, ago. 1998.SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: ArtMed,1998.TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: perspectivas psicológicas e implicações educacionais.São Paulo: Ática, 1994.VIGOSTSKY, Lev S. A form ação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
O comportamento da nasal na linguagem escrita de crianças,jovens e adultos
Noely Klein VarellaUNISINOS
Pesquisas sobre a linguagem escrita são im portantes para o professor por razões teóricase práticas, pois revelam o conhecim ento que crianças, jovens e adultos têm sobre linguagem ecomo aprendem, perm itindo a organização de propostas de ensino m ais adequadas. A questãoortográfica constitui preocupação de professores, m uitas vezes evidenciada em uma posturapersecutória (Morais, 1998), ante o aluno; paralelam ente, outros vêem o aprendizado e o uso dalíngua escrita a partir de situações em que aceitam o “erro” como percurso da aprendizagem,considerado o princípio de que a escrita deve ser significativa.
Nos textos coletados para este estudo, comumente assim acontece, ocorrem mais acertosque erros. É necessário deixar claro que os “erros” não constituem problemas, mas possibilidades,ou seja, não são dificuldades insuperáveis ou falta de capacidade dos sujeitos, nem os acertosocorrem casualm ente (Fronza, 2001). Confirm am posicionamentos de Cagliari (1997) e Morais(1998), quando afirmam que tudo faz parte de um processo de aprendizagem da escrita,revelando a reflexão do aluno e a forma de interpretar o fenômeno que estuda.
Com o destaca Abaurre (1992, p. 44), a aquisição da escrita é um m om ento particular deum processo mais geral da aquisição da linguagem. Através do contato com a representaçãoescrita da língua que fala, o sujeito reconstrói a história de sua relação com a linguagem. Acontemplação da forma escrita da língua perm ite que ele reflita sobre a própria escrita, chegando,muitas vezes, a manipulá-la conscientemente, de uma m aneira diferente daquela pela qualmanipula a própria fala. A escrita é, assim, um espaço a mais, importantíssimo, de manifestação dasingularidade dos sujeitos. Nesse sentido, perceber e entender com o se dá a reconstrução dalinguagem que utiliza a forma escrita, é papel de todo educador e, em especial, do lingüista que sededica à educação.
Tradicionalm ente, “erros” de escrita têm sido classificados ortograficamente, tomando,como referência, a escrita convencional das palavras. Por exemplo, ao escrever ‘cadera’ para‘cadeira’, dizia-se que houve om issão da letra ‘i’, não relacionando a alteração ao ditongo (ditongocrescente que passa a m onotongo) (Collischonn, 1999). Considerava-se que a aprendizagemocorria através da visualização e da memorização das letras que compõem a palavra. Aprender aescrever era considerado um processo puramente visual.
A aquisição do código escrito não acontece, no entanto, sim plesm ente, por mem orização,mas requer, para compreensão do processo, análise e reflexão sobre a forma fonológicasubjacente à escrita. O sistem a de escrita do português, para ler e escrever, é alfabético: a cadasom corresponde um código, isto é, uma letra ou grafema. Nesse sentido, a adoção de um aclassificação dos “erros” de escrita quanto a aspectos de natureza fonológica e ortográfica(fonéticos, puramente convencionais, de segmentação, hipercorreção) possibilita ao alfabetizadorsuportes teóricos para com preender o processo pelo qual o aluno passa no percurso daaprendizagem. O conhecimento dessas questões traz im plicações pedagógicas para as quais oprofessor precisa estar atento, pois requerem a organização de situações de ensino adequadas ànatureza dos “erros”. Com preender a lógica que há por trás da form a com o os alunos escrevempossibilita intervenções mais adequadas e a organização de atividades específicas àsnecessidades de quem escreve. Constituem, assim, indicadores do que sabem e não sabem e,conseqüentem ente, apontam rumos para a ação docente. A natureza fonológica das alteraçõesconstatadas pressupõe o desenvolvimento de atividades relacionadas à fonologia, sendoimprescindível a relação com a consciência metalingüística para organizar estratégias quepossibilitem desenvolver a consciência de texto e de ortografia. A consciência fonológica assumepapel relevante para o acesso à língua escrita (Varella, 1996).
Considerando a questão fonológica, o propósito deste estudo é apresentar uma análisedas ocorrências de nasal, em posição final de sílaba dentro da palavra e entre palavras. Os dadosforam coletados no acervo das produções de 2ª e 3ª séries, investigadas na pesquisa de Fronza(2001), UNISINOS; escritas de 1ª série, na dissertação de Varella (1993), e em textos de jovens eadultos, do Program a de Alfabetização Solidária, desenvolvido pela UNISINOS, de 1997 a 2001.Foram observados, nessas produções, diferentes tratamentos no registro da nasal nos contextosque lhe são peculiares. O corpus das pesquisas é constituído de textos cuja escrita, espontânea ouinventada, opõe-se à cópia, porque, naquela, a criança pode expressar tudo o que conhece sobreo sistema de escrita no aspecto formal e conceitual, revelando seu sistema fonológico subjacente.
Estudos sobre a aquisição das nasais m ostram que, na fala, ocorre a não-realização denasais em um a fase bem inicial: de 1;6 a 2;2 (Teixeira, 1980; Ilha, 1993) e de 1:6 a 1:8 (Freitas,2004) por crianças com desenvolvimento fonológico normal. Na escrita, tal fenômeno é visto commais freqüência. Nos meus estudos (Varella, 1993), este tipo de alteração foi observado como o demaior incidência. Nos textos das crianças de 2ª e de 3ª séries, em três escolas1 de São Leopoldo(Fronza, 2001), as palavras que apresentaram não-realização da nasal foram:
2ª série 3ª sériea) Escola L:vizinhança → visinhaça; mundo → mudo;síndica → chitica; tempo → temo;desconfiando → desconviano.b) Escola S:Não ocorreu a não-realização de nasal nessaturma.c) Escola J:Um gigante → um izgate; vende → vede;gigantesco → gigatesco; gigante → giga te;ninguém → nigem ; um monte → umote
seguinte → seguite; brincando → bricado;grande → grade; construir → costruir;construísse → costruise; ninguém → nigen.
andamos → adamos.
dorm indo → dormido; campainha → capinhaconseguiram → coseguiram; conversava →coversava; campainha → capainha;criança→ criaça.
Nas turmas de 2ª e 3ª séries, constata-se que há poucas ocorrências de não-realização danasal na escrita das crianças, observando-se que, na escola S, nos textos de 2ª série, não houvealterações dessa natureza e nos de 3ª série, apenas um caso. Nessa escola, houve intervenção daprofessora pesquisadora, através de sessões de estudo com os professores das séries iniciaissobre o fenômeno da escrita e sua relação com o ensino. Com o observo em m eus estudos(Varella, 1993), é provável que alunos de professores que tenham conhecim entos lingüísticosbásicos sobre a fonologia e sua relação com a escrita, apresentem menor índice de “erros”fonológicos em seus textos, devido à contribuição que esses saberes trazem para a práticapedagógica.
Pode-se observar, na 2ª série da escola L, a ocorrência da não-realização das letras ‘d’ e‘p’ em ‘desconfiando’ ‘desconviano’ e ‘tem po’ ‘temo’. As consoantes /d/ e /n/, /p/ e /m/possuem o m esmo ponto de articulação e, em comum, o traço fonológico – coronal, o que podeexplicar a alteração na escrita. Aplica-se, pois, à não-realização escrita da nasalização antes daconsoante /d/ e /t/, /p/ e /b/, estabelecendo-se, “em termos fonéticos, uma relação dehomorganicidade entre as consoantes” (Battisti e Vieira, 1999, p.163). A identificação de fatoresque m otivam tais realizações e a diferença em relação à escolaridade dos sujeitos são explicaçõescom base em pressupostos de aquisição da fonologia. A persistência de alterações fonológicaspode interferir na aquisição do sistema de escrita e de leitura quando a superação não ocorre nafase inicial da alfabetização, ou seja, até o final dos 1º e 2º anos de escolarização.
DiscussãoAo realizar o estudo, novas questões foram levantadas: a ocorrência do fenômeno tem
relação com a extensão da palavra? Com a tonicidade? Antecedendo alguma consoanteespecificamente? Com determ inada vogal? Observa-se alta freqüência na representação gráficada vogal /ĕ/, inclusive casos de substituição da vogal /ã/ por /ĕ/: baleco (balanço), pesedo
1As escolas são designadas por letras.
(pensando), meguera (mangueira). Seria essa ocorrência um indicador dos motivos de não-realização?
Em meu estudo longitudinal (Varella, 1993), foram encontrados 96 casos de alterações narealização escrita das nasais, em textos espontâneos de crianças de 1ª série, processo de maisalta incidência nas produções do grupo. Nas produções do grupo de jovens e adultos, foramconstatadas 82 alterações.
O estudo das nasais pode constituir-se de interesse para a com preensão desses casos eser indicador do que o professor alfabetizador requer na sua formação continuada. Nesse sentido,buscou-se analisar escritas de crianças e jovens e adultos em fase inicial de alfabetização.
Vogal seguida por ‘n’ e ‘m ’ em final de sílaba dentro da palavraEm relação ao ambiente ‘vogal seguida por ‘n’ e ‘m ’, em final de silaba dentro da palavra’,
foram constatados:
Tabela 1 – Número de ocorrências de não-realização de ‘n’ e ‘m ’ depois das vogaisSujeitos
Vogal a representarCrianças de 1ª série Adultos
/ã//e//ĩ//õ//ũ/
2822287
11
23381137
Observa-se, na Tabela 1, que, na representação gráfica das vogais /ã/, /ĕ/ e /ĩ/, ocorre commais freqüência a não-realização escrita da nasal. Há pequenas diferenças entre crianças eadultos, explicadas pelo fato de as primeiras repetirem palavras m ais vezes. Considerando os tiposde texto das produções – narrativas por crianças e cartas por jovens e adultos – observam-sediferenças no vocabulário, mais variado e criativo nos infantis.
Exem plos dessa relação:Crianças de 1ª série
/ã/ - plantinhapleatinha; elefanteelefate; m angueiram eguera; grandegrade;balançobaleco./e/ - dentrodetro; tentoutetou; dentedete; pensoupessou; um presente→utesete./ĩ/- fugindo→fugido; brincadeira→bricadeira; dom ingo→dom igo; ninguém→ niguem ;pintinhos→pitinhos./õ/ - monte→mote; encontrou→em cotrou; assombrada→a sobada; comprou→copro;onça→oca./ũ/ - juntos→ jutos; nem um pouquinho→ nenhupoquinho; nunca→nuca; afundou→afudou; umleão→u leam.
Adultos/ã/ - lembrança→lem braça; grande→grade; Santo Antônio→satatoiho; tanquinho→taquinho;ansiosa→assiosa./e/ - clientes→clietes; dezembro→dezebro; fazenda→ fazeda; dentro→deto; tempo→tepo./ ĩ/ - afindo→afido; ninguém →niguem; invejosa→ivejosa; estou indo→toidu; brincar→brica./õ/ - comprar→copara; com paciência→co pasieca; redonda→redoda./ũ/ - algum→ algus; denuncia→ denucia; um dia→u dia; um braço→u baço; nunca→nuca.
Os exemplos acima m ostram que a não-realização de nasais de transição ocorre depoisdas cinco vogais nasalizadas em final de sílaba dentro de palavras. Entre palavras observam-secasos precedidos por /õ/ e /ũ/, especialm ente ‘um’ e ‘com ’.
Vários casos de substituição da vogal /ã/ por /ĕ/ foram constatados na escrita de crianças.Um a provável explicação pode ser, em termos fonéticos, pelo fato de a nasal /ã/ estar maispróxima do contexto articulatório da vogal /e/ que do da vogal /a/.
Nasal seguida de consoante em início de sílabaTabela 2 – Núm ero de ocorrências de não-realização de ‘n’ e ‘m ’ seguidos de consoante em início desílaba
SujeitosConsoante seguinte
Crianças de 1ª série Adultos
/p//b//t//d//k//g//f//v//s//z//š//ž//l/
25
272217400
180001
56
14298510
140000
As ocorrências de não-realização de nasal, observadas na Tabela 2, m ostram que sãomais freqüentes antecedendo as plosivas /t/, /d/ e /k/ e a fricativa /s/, nas produções de crianças de1ª série, e, predominantes, em textos de jovens e adultos, antes de /d/, /t/ e /s/. Exemplos são:
Crianças de 1ª sérieAntes das consoantes
/b / - assombrada → a sobada; embora → ebora./p /- emprestava → eprestava; sempre → sepre; comprou → copro./d/ - quando → quando; andando → andedo; grande → grade; um dia → udia./t/ - interrom peu → iteropeu; sentiu → setiu; monte → mote; elefante → elefate; pintinhos →
pitinhos./g/ - mangueira → meguera; ninguém → niguem; domingo domigo./k/ - brincar → bricar; brincadeira → bricadeira; nunca → nuca./s/ - balanço → baleco; espantalho → epatalho; crianças → criaças; pensando → pesedo;
onça → oca./l / - um leão → u leam.
Não ocorreram casos de não-realização de nasal antes da representação dos fonem as /f/,/v/, /z/, /ž/, /š/, /R/.
AdultosAntes das consoantes
/b / - dezem bro → dezebro; um braço → u baço./p/ - tempo → tepo; com prar → copara; um pouco → u pogo./d/ - fazenda → fazeda; aprendo → apredo; mando → mado; estou indo → toidu; dizendo →
dizedu./t/ - dentro → deto; somente → somete; Santo Antônio → satatoiho; agradecim ento →
agradecimeto./g/ - ninguém → niguem; engraçada → egraçada./k/ - brincar → brica; nunca → nuca; tanquinho → taquinho./s/ - lem brança → lem braça; principalm ente → presipalm ente; paciência → pasiesa; atenção
→ atensãu; presença → presesa./v/ - invejosa → ivejosa.
Não ocorreram casos de não-realização de nasal antes da representação dos fonemas /f/,/z/, /ž/, / š /, /l/, /R/.
Para com preender esse processo, há necessidade de considerar outros fatores como:extensão da palavra, tonicidade e sonoridade da consoante inicial da sílaba seguinte à da nasal.
Quanto à extensão da palavra foram observados 50% de casos do total coletado nostextos de crianças de 1ª série. Em textos de jovens e adultos, constatou-se 71% de ocorrências,aspecto a considerar nas práticas pedagógicas, portanto. Várias são as explicações. As criançasou jovens e adultos podem encontrar mais dificuldade de analisar palavras longas em fonem as quena análise fonêm ica de palavras curtas, ou seja, refletem um a lim itação na habilidade dereconhecer, em sílabas faladas, os respectivos fonemas. Essa reflexão envolve o ato de escrever.Como resultado, pode haver, mais freqüentemente, a não-realização de fonemas em palavrasextensas.
Em relação à tonicidade, verificou-se que, em 38 % das palavras dos textos infantis,ocorreu a não-realização da nasal em sílaba tônica, evidenciando maior freqüência em sílabasátonas. Em textos produzidos por jovens e adultos, 48% foram evidenciados em sílaba tônica. Há,pois, pequenas variações entre os dois grupos nesse aspecto.
Treim an (1993, p. 204) afirma que o efeito da tonicidade sobre om issão de consoantes éimportante por três motivos. Primeiro, os resultados mostram que escrever não é somente um atentativa de reproduzir seqüências m emorizadas de letras. Se assim fosse, as crianças nãoomitiriam letras que simbolizam fonemas em sílabas tônicas menos freqüentem ente que aquelasque simbolizam fonemas em sílabas átonas. Em sentido amplo, escrever é uma tentativa derepresentar form as fonológicas das palavras. Fonemas em sílabas tônicas são mais salientes queos de sílabas átonas e, por isso, provavelmente, mais fáceis de serem escritas. Segundo,características da sílaba como um todo, preferencialmente as de vogal, são responsáveis pelosefeitos da tonicidade. Terceiro, as não-realizações de consoantes em sílabas átonas nãosustentam a idéia de que as falhas das crianças na representação de fonemas reflitam falhas nasua pronúncia. Embora essas consoantes estejam habitualmente presentes na fala, nem sem preseriam registradas na escrita.
Outro fator a considerar refere-se à não-realização de nasais seguidas por consoantessurdas ou sonoras. Treiman (op. cit., p. 217), em estudo sobre a aquisição do Inglês, conclui que émais com um a não-realização da nasal em palavras que iniciam por fonemas consonantais surdos(traço m enos sonoro) na sílaba seguinte, com o, ocorre, por exemplo, no Português, em: ‘nuca’(nunca), ‘dete’ (dente), ‘jutos’ (juntos), ‘cepre’ (sem pre). No presente estudo, na escrita dascrianças ocorreram 60% de casos de não-realização da nasalização antes de consoantes surdas,o que parece confirm ar as conclusões de Treim an (op. cit.). Nas produções de jovens e adultos,diferentem ente, predom inam as omissões diante de consoantes sonoras, aproximadamente 67%.
O elevado número de não-realizações da nasalização em final de sílaba dentro da palavranão ocorre em final de sílaba final de palavra. Nessa posição, são observadas transcriçõesfonéticas ou de fala, tanto em produções infantis como de jovens e adultos (‘pulam ’ ‘pulão’).Explica-se o fato, pois, ao escreverem palavras do primeiro caso, as crianças ou jovens e adultosfocalizam suas hipóteses sobre o nível fonêmico, preferencialmente ao nível fonético. O queexatamente as faz escreverem, por exem plo, ‘plata’ ao invés de ‘planta’? Segundo Abaurre (1992)e Treim an (1993), as crianças consideram a vogal nasalizada sim ilar à não nasalizada. Usam oque lhes parece ser apropriado para escrever /ã/, por exem plo. Para Treiman (op. cit., p. 214),esses erros provêm de uma lacuna no desenvolvim ento da consciência fonológica.
Pesquisas desenvolvidas por Zorzi (2003) sobre a realização de surdas e sonoras naescrita, que se aplicam ao presente estudo, apontam que os dados obtidos em sua pesquisa
só se tornaram possíveis através de avançados recursos tecnológicos,vêm reforçar a hipótese de que as imagens acústico-articulatóriasderivadas deste padrão pouco consistente de articulação podem, por suavez, também ser pouco definidas, dificultando a identificação, ou tom adade consciência, pela própria criança, de que fonem a estaria elaproduzindo nas palavras que deve escrever. A esta dificuldade noprocesso de análise fonêmica, resultando num a consciência fonêm icanão m uito clara, podemos adicionar possíveis dificuldades quanto aconhecer, com exatidão, quais letras correspondem exatamente a quaissons” (op. cit., p.15).
Considerações finaisCom o foi possível constatar, as alterações ortográficas envolvendo não-realizações de
nasais em final de sílaba dentro da palavra, relacionam-se a questões fonológicas e ocorrem deuma m aneira sistemática, sendo m ais significativas devido a alguns fatores discutidos nesteestudo. Supõe que o sujeito não estaria conseguindo realizar, de uma maneira mais precisa, umaanálise fonológica. Isto quer dizer que, ao analisar os fonem as das palavras que possui e elepróprio pronuncia, não consegue definir, com clareza, os sons que deve escrever.
As alterações constatadas orientam para mudanças na prática do alfabetizador,
pressupondo conhecim entos básicos de fonética e de fonologia para o desem penho de suasfunções docentes. Para compreender as escritas das crianças, necessita conhecer uma boa parteda fonologia ou sistema de sons do português, pois a escrita da criança tende a ser consistente,dentro de padrões sistem áticos, não apresenta “absurdos” e a superação não funcionaimediatamente, mas quando muda a sua concepção (Read, 1986), construída através da interaçãocom o objeto de conhecim ento e da análise e reflexão sobre a linguagem escrita. Um trabalho deconscientização fonêm ica, ou seja, de dar-se conta consciente e detalhadam ente de quais sonscompõem as palavras relacionando-os às letras que servem para escrevê-los, pode ajudar asuperar o processo.
ReferênciasABAURRE, Maria Bernardete Marques. Os estudos lingüísticos e a aquisição da escrita. In.: IIEncontro Nacional sobre aquisição da linguagem, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: PUCRS,1992. p. 5-49.BATTISTI, Elisa; VIEIRA, Maria José Blaskovski.O sistema vocálico do português. In: BISOL, Leda(org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.p. 159-194.CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 1997.COLLISCHONN, Gisela. A sílaba em português. In: BISOL, Leda (org.). Introdução a estudos defonologia do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999. p. 91-123.FREITAS, Gabriela Castro Menezes de. Sobre a aquisição das plosivas e nasais. In:LAMPRECHT, Regina Ritter et al. Aquisição fonológica do Português: perfil de desenvolvimento esubsídios para terapia. Porto Alegre, Artes Médicas, 2004. p. 73-81.FRONZA, Cátia de Azevedo. Produção de textos nas séries iniciais: evidências fonológicas e detextualidade. Projeto de Pesquisa, UNISINOS, 2001.ILHA, S. E. O desenvolvim ento fonológico do português em crianças com idades entre 1:8 a 2:3.Dissertação (Mestrado em Letras), PUCRS, Porto Alegre, 1993.READ, Charles. Children’s creative spelling. London, England: Routledge & Keagan, 1986.TEIXEIRA, E. R. A study of articulation testing with reference to portuguese. Dissertação (Mestradoem Letras). University of London, Londres, 1980.MORAIS, Artur Gomes de. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática,1998.TREIMAN, Rebecca. Beginning to spell: A study of first-Grade Children. New York, Oxford: OxfordUniversity Press, 1993.VARELLA, Noely Klein. Na aquisição da escrita pelas crianças ocorrem processos fonológicossim ilares aos da aquisição da fala? Dissertação (Mestrado em Letras). Program a de Pós- Graduaçãoem Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993. VARELLA,Noely Klein. Consciência fonológica e aquisição da linguagem escrita. Palavra como/vida, SãoLeopoldo, v. 5, n. 42, p. 7-8, ago. 1996.ZORZI, Jaim e Luiz. As trocas surdas sonoras no contexto das alterações ortográficas. Disponívelem www.cefac.br. Acesso em 23 de novembro de 2003.
A consciência fonológica em adultos alfabetizados
Gabriela FreitasPUCRS
[email protected] .brDeisi Marques Vidor
PUCRSdeisividor@ terra.com.br
Este trabalho teve como tema central a consciência fonológica em adultos alfabetizados. Apartir da observação do desem penho de adultos alfabetizados em um teste de consciênciafonológica (CONFIAS, 2003), foram investigadas as habilidades metafonológicas desses sujeitos,buscando-se evidenciar se o fato de estar alfabetizado garante um bom desempenho nesse tipo deinstrumento de avaliação.
A consciência fonológica é a representação consciente das propriedades fonológicas e dasunidades constituintes da fala (Morais, 1989), que perm ite a identificação de rim as, de palavras quecomeçam ou term inam com os m esmos sons, e de fonem as que podem ser m anipulados para acriação de novas palavras. Trata-se da “Consciência dos sons que compõem as palavras queouvim os e falamos” (Cardoso-Martins, 1991, p. 103).
Conforme garantem Moojen et al. (2003, p.11),A consciência fonológica envolve o reconhecimento, pelo indivíduo, deque as palavras são formadas por diferentes sons que podem sermanipulados, abrangendo não só a capacidade de reflexão (constatar ecomparar), m as também a de operação com fonem as, sílabas, rimas ealiterações (contar, segmentar, unir, adicionar, suprim ir, substituir etranspor). Portanto, as habilidades metafonológicas podem ser divididasem três tipos: consciência da sílaba, das unidades intrassilábicas e dofonema.
O objetivo desta pesquisa foi observar o desempenho de adultos alfabetizados em umteste de consciência fonológica e comparar o desem penho desses adultos ao de crianças em fase deaquisição da escrita.
Foram sujeitos deste estudo 18 informantes adultos, divididos segundo o grau deescolaridade (Quadro 1). Esses sujeitos foram em parelhados quanto ao sexo, sendo 9 do sexofeminino e 9 do sexo masculino, com idades entre 20 e 60 anos.
Quadro 1 - Inform antes da pesquisa
Escolaridade:1o grau Escolaridade: 2o grau Escolaridade: 3o grau3 mulheres 3 mulheres 3 m ulheres3 homens 3 homens 3 homens
Para a realização da com paração do desempenho dos adultos com o das crianças, foramobservados os desem penhos de 13 informantes em fase de aquisição da escrita, que estavamcursando a 1a série do ensino básico e se encontravam já em hipótese de escrita alfabética, comidades entre 7:0 e 7:8. Esses informantes fazem parte da pesquisa de Freitas (2004), que utilizou omesmo instrumento de avaliação da consciência fonológica.
Foi utilizado o teste CONFIAS – Consciência fonológica: instrumento de avaliaçãoseqüencial (Moojen et al., 2003), elaborado para testar a consciência fonológica em criançasfalantes de português brasileiro. Esse instrumento apresenta-se de acordo com as tarefas expostasno Quadro 2, a seguir.
68,5
64,1
59,8
Quadro 2 – Tarefas do CONFIAS (Moojen et al., 2003)
Nível da sílaba Nível do fonem aS1 – SínteseS2 – Segm entaçãoS3 – Identificação de sílaba inicialS4 – Identificação de rimaS5 – Produção de palavra com a sílaba dadaS6 – Identificação de sílaba medialS7 – Produção de rimaS8 – ExclusãoS9 – Transposição
F1 – Produção de palavra que inicia com o som dadoF2 – Identificação de fonema inicialF3 – Identificação de fonema finalF4 – ExclusãoF5 – SínteseF6 – SegmentaçãoF7 – Transposição
Os dados foram analisados atendo-se para o desem penho geral no teste, desempenho nosníveis da sílaba e do fonema e desempenho nas diferentes tarefas propostas. O desem penho dosgrupos foi com parado, possibilitando a observação da existência ou não de diferenças entre osgrupos pesquisados.
De acordo com a análise realizada, pôde-se observar que, entre os adultos, o desempenhono teste como um todo melhorava com o increm ento da escolaridade, conforme pode serobservado no Gráfico 1, a seguir.
Gráfico 1: Desempenho dos sujeitos adultos conforme a escolaridade
706866646260585654
1 grau 2 grau 3 grau
Quando separadas as tarefas referentes à sílaba e ao fonema, foram observados osresultados expressos no Gráfico 2.
Gráfico 2: Desempenho dos sujeitos adultos conforme a escolaridade de acordo com a tarefa
3840
30 21,8
38,6
25,5
39,8
28,6
20
10
01 grau 2 grau 3 grau
Sílaba Fonem a
Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que as tarefas que envolvem o nível da sílabasão mais fáceis de serem resolvidas por todos os sujeitos, independentemente da escolaridade, do
62,8
24,4 25,5
que as tarefas que envolvem o nível do fonema. Além disso, não há grandes diferenças entre odesempenho dos três grupos (prim eiro, segundo e terceiro graus) quando analisamos as tarefasque envolvem sílaba, enquanto pode-se verificar uma diferença m aior na pontuação entre osgrupos quando a tarefa envolve o fonema, em bora ambas progridam com o incremento do ensinoform al. Daí pode-se inferir que o nível do fonema é que faz a diferença nos dados analisados comoum todo, com o mostra o Gráfico 1.
Ao serem comparados com as crianças, os adultos apresentaram um desem penho geralum pouco acima destas, como se pode ver no Gráfico 3.
Gráfico 3: Comparação do desempenho geral entre crianças e adultos
64,564,4
64
63,5
63
62,5
62Crianças Adultos
Quando separados os desempenhos em tarefas que envolvem sílabas e fonemas,observa-se que a m aior diferença entre crianças e adultos está no nível do fonem a, em bora osadultos apresentem um desem penho ligeiramente maior em ambos os níveis (Gráfico 4).
Gráfico 4: Comparação do desempenho entre crianças e adultos, conforme a tarefa
38,340
30
38,8
20
10
0C rianças Adultos
Sílaba Fonema
Em suma, a com paração possibilitou observar que o desempenho de crianças e adultosnão difere substancialmente, sendo o nível do fonema o m ais problemático para am bos. Esseresultado possibilita inferir que, um a vez alfabetizados, os sujeitos não apresentam m uita variaçãoem seu desempenho em tarefas de consciência fonológica. No entanto, pode-se também constatarque, no nível do fonem a, a escolaridade age com o um incrementador do desempenho emconsciência fonêm ica.
De acordo com estes resultados, podem os dizer que o desem penho de adultos altamenteescolarizados não difere, em essência, nem de outros adultos menos escolarizados, nem decrianças em nível silábico-alfabético. Além disso, os resultados dem onstraram que, em boraalfabetizados e experientes em tarefas de leitura e escrita, os adultos tiveram o mesmo tipo dedificuldade encontrado pelas crianças. Sendo assim , concordam os com Morais, Mousky e Kolinsky(1998), que concluem que a relação entre a consciência fonológica e a aquisição da escrita é de
causalidade recíproca, ou seja, um nível m ínim o de consciência fonológica facilita a aquisição daescrita que, por sua vez, contribui para o desenvolvim ento e aprim oram ento das habilidadesmetafonológicas. A consciência fonológica pode ser vista como um facilitador (F. Yavas, 1989;Haase, 1990) para a aquisição da escrita, que proporciona o aprim oram ento das capacidadesmetafonológicas. Assim, consciência fonológica e aquisição da escrita estão ligadas para facilitaruma a outra.
ReferênciasCARDOSO-MARTINS, Cláudia. A sensibilidade fonológica e a aprendizagem inicial da leitura e daescrita. Cadernos de Pesquisa, v. 76, p. 41-49, fev. 1991.FREITAS, Gabriela Castro Menezes de. Consciência fonológica e aquisição da escrita: um estudolongitudinal. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada) - Pós-Graduação em Letras, PontifíciaUniversidade Católica do Rio Grande do Sul, 2004.HAASE, Vitor. Consciência fonêmica e neuromaturação. Dissertação (Mestrado em LingüísticaAplicada) - Pós-Graduação em Letras, PUCRS, Porto Alegre, 1990.MOOJEN, Sônia; LAMPRECHT, Regina; MAROSTEG A, Rosangela; FREITAS, Gabriela;SIQUEIRA, Maity; BRODACKS, Raquel; COSTA, Adriana e GUARDA, Elisabet. Consciênciafonológica: instrumento de avaliação seqüencial – CONFIAS. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.MORAIS, José. Phonological awareness: a bridge between language and literacy. In: SAW YER,Diane; FOX, Bárbara. Phonological Awareness in Reading: the evolution of current perspective. Berlin:Springer , 1989. p. 31 – 51.MORAIS, José; MOUSTY, Philippe, KOLINSKY, Régine. W hy and how phonem e awareness helpslearning to read. In: HULME, Charles, JOSHI, R. M. Reading and Spelling: development anddisorders. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1998. p. 127-151.YAVAS, Feryal. Habilidades metalingüísticas na criança: uma visão geral. Cadernos de EstudosLingüísticos. Campinas, v. 14, 1989.
Um paradigma alternativo de aquisição da linguagem
José Marcelino PoerschPUCRS
A atividade com redes neuroniais artificiais tem sido impulsionada pela descoberta de queo cérebro humano processa a informação de forma distinta de um computador digital convencional.O cérebro humano constitui um sistema de processamento altamente complexo, não-linear eparalelo; ele organiza os neurônios de tal forma, a perm itir que certos processamentos se realizemmuito m ais rapidam ente do que o m ais rápido com putador digital hoje existente. Uma redeneuronial constitui um dispositivo projetado para m odelar a maneira como o cérebro realizadeterm inada tarefa; essas redes podem ser simuladas mediante um programa em um computadordigital (inteligência artificial clássica) ou m ediante componentes eletrônicos que aprendem(inteligência artificial moderna). O interesse do conexionism o está em fazer com que a m áquinaaprenda. Para alcançar esse objetivo, as redes neuroniais empregam uma interligação maciça deunidades de processamento, unidades semelhantes a neurônios. Assim, uma rede neuronialconstitui um processador de distribuição em paralelo m unido de um a propensão natural paraarmazenar conhecim ento experiencial e torná-lo disponível para o uso. Em primeiro lugar, esseconhecim ento é adquirido a partir do ambiente através de um processo de aprendizagem. Emsegundo lugar, as forças de conexão entre os neurônios (os pesos sinápticos) são utilizados paraarmazenar o conhecimento adquirido. A m odelagem em redes constitui recurso do paradigm aconexionista para trazer argumentos para a afirmação de que a aquisição/aprendizagem, em geral,e a aquisição da linguagem, em particular, são o resultado de um a aprendizagem a partir deinsum os externos que vem do m eio ambiente e/ou de estímulos intermediários que se originam dasunidades que m ediam as unidades de entrada e de saída, sem precisar apelar para a existência deregras inatas. Não quer isso dizer que a modelagem constitua um artifício central do conexionismo.O mais im portante nesse paradigma é a nova explicação que os processos cognitivos recebem apartir dos avanços da neurociência. Integram esta Sessão Temática Coordenada os seguintestrabalhos: 1. A construção do signo verbal, uma visão conexionista (José Marcelino Poersch); 2.Análise Semantica Latente (LSA): o m istério do significado verbal (Carlos Ricardo Rossa); 3. Otratamento adequado do conexionism o (PTC): algumas considerações sobre a proposta deSmolensky (Adriana Angelim Rossa); 4. Contribuições do paradigm a conexionista à Teoria daOtim idade (OT) (G iovana Ferreira Gonçalves Bonilha).
Embora não constitua o objetivo prim ário desta sessão tem ática, devem os registrar oreconhecim ento pela solidariedade e benevolência de certos estudiosos da ciência da cognição emquerer integrar o conexionismo (conhecido com o o campo das redes neuroniais) ao simbolismo (amente é um manipulador de símbolos). Verificam os esse interesse nas palavras do conferencistaGary Marcus (veja o resum o de sua conferência no caderno de resumos do VI ENAL), seguindo aorientação de seus mentores acadêm icos, Pinker e Smolensky. A bem da verdade, o paradigm aconexionista não está aí para ocupar um a posição “subsim bólica”, para constituir um m odelocomplementar m as sim para constituir um paradigm a alternativo de cognição, partindo depremissas radicalm ente opostas ao paradigm a sim bólico. Devem os também reafirmar que nãocompete ao simbólicos (Smolensky, 1988) dizer qual é o Proper treatm ent of conectionism (otratamento adequado a ser dado ao conexionism o) e, menos ainda, de m ostrarem-se benevolentesem querer integrar conexionism o e ciência cognitiva: “I attempt to integrate conectionism withsymbolic approaches to cognition (Marcus, 2003).
No resumo de sua conferência plenária, Gary Marcus afirmou que o conexionismo aceitacomo premissa ser a m ente uma grande rede de neurônios trabalhando juntos em paralelo(“connectionism argues that the m ind is a large network of neurons working together in parallel”).Sem querer polem izar, pois nosso objetivo é outro, faz-se a pergunta “Como pode a mente(realidade metafísica, espiritual) ser constituída de uma rede de neurônios (realidade física,material)?”
Esta sessão temática pretende trazer alguns aspectos teóricos e práticos de umparadigm a alternativo de cognição.
A construção do signo verbal na visão conexionista
José Marcelino PoerschPUCRS
poerschjm @pucrs.br
IntroduçãoLinguagem, língua e fala constituem três termos que recebem conceituações claramente
distintas em Saussure (1971). A linguagem é a faculdade que os humanos possuem de secomunicarem através de signos verbais duplamente articulados (Martinet, 1971). Ela possui umlado social, a língua, e um lado individual, a fala, sendo im possível conceber um sem o outro. Alíngua constitui um sistem a de signos (com léxico e sintaxe) depositado nos cérebros de umconjunto de indivíduos (Saussure, 1971, p.23) e serve de norma para as diversas manifestações dalinguagem, isto é, os atos de fala. A fala , contrariamente, constituiu um ato individual de vontade ede inteligência que estrutura os signos num determ inado tempo e espaço e constitui a mensagemna com unicação lingüística. O signo da língua é distinto do signo da fala; um é interno (signolingüístico) e o outro é externo (signo sem iológico); entre os dois existe um a interdependência e,juntos, formam o signo verbal.
O objetivo desta comunicação é trazer dados para a afirmação de que o signo lingüístico,em vez de constituir um símbolo pronto, estático (paradigm a simbólico), no qual um conceito seune a um a representação sonora, armazenado na nossa mente, constitui um a realidade dinâm ica,na qual o conceito está em constante formação e se codifica (engram a) no cérebro em forma detraços distribuídos em paralelo e se une a traços sonoros igualmente distribuídos. Essa uniãoform a um a rede interneuronial de ligações (paradigm a conexionista) que perm ite a que traços deexpressão ativem automaticamente traços de conteúdo (Hjelmslev, 1969) e vice-versa.
As duas faces do signo verbalAnalisemos a com unicação de duas pessoas através de um ato de fala. Comunicar
significa tornar algo comum entre os parceiros da comunicação. O que se torna com um, o que vaido aparelho fonador do locutor ao aparelho auditivo do ouvinte, é uma seqüência de sons queconstitui a mensagem , um a estrutura física de formas de uma substância sonora. Tudo o quetemos para a comunicação lingüística é essa mensagem, m ensagem que pressupõe um códigocomum.
Fisicam ente, quando duas pessoas se com unicam, o que é sensível é o fato de o locutoremitir sons (fonação) transmitidos pelo ar em forma de ondas sonoras (transmissão) e captadospelo locutário (audição). É essa seqüência sonora, que se torna comum aos dois, que possibilita ocontato entre ambos. Esses sons, realidade física, referem-se a algo metafísico, abstrato, asidéias, os conceitos. Essas idéias ou conceitos constituem um a representação intelectual (mental)de objetos, objetos que podem consistir de coisas, fatos ou sentimentos. O conceito difereessencialmente de uma imagem, im pressão sensorial de um determ inado objeto. Enquanto oconceito é universal, é um a abstração, constitui uma generalização, se aplica a muitos objetos, éimaterial, a imagem é particular, se refere a um só objeto, é material. Assim, de caneta (objeto paraescrever) tenho um conceito; da caneta com a qual escrevo estas linhas tenho uma imagem.
Todo conceito é formado a partir de abstrações da realidade da qual nos apropriam osatravés de imagens diversas, segundo a clássica afirmação de Aristóteles: “Nihil est in intellectuquod prius non fuerit in sensibus” 1. Há tantos tipos de im agens quantos forem nossos sentidos:visuais, gustativas, olfativas, táteis e auditivas. Conhecer um objeto é representá-lo na m ente. Osconceitos podem se originar tanto da percepção de um só tipo de sentido quanto de vários.
Há um conceito específico que consiste na abstração de traços auditivos, os sons.Denominá-lo-emos de “representação sonora”, constituído de uma estrutura fonemática cuja
1 “Nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos”.
instanciação produz palavras. Em outros termos, é o que Saussure denom inou, equivocadamente,de im agem acústica. Analisando a seqüência sonora de um a determ inada palavra, sabemos quecada pessoa ou até a m esma pessoa, em repetições várias, produz realidades diferentes, emterm os acústicos. No entanto, cada ouvinte concorda que a palavra proferida é a mesm a. Cadaprolação de uma seqüência sonora constitui um a instanciação dos mesm os fonem as, abstraçõesde sons que contém os m esmos traços sonoros.
Signo Lingüístico (interno)Tanto na m ente do falante quanto na do ouvinte, conceitos acham-se associados a
representações sonoras. Tanto o conceito quanto a representação sonora constituem um produtode abstração e estão unidos na m ente por um vínculo associativo; essa união forma o signolingüístico. Esse signo constitui uma realidade m etafísica. Uma vez estabelecido esse vínculo,numa determ inada língua, o signo form a um a realidade inseparável. Saussure (1971) passou adenominar o conceito de significado e a representação sonora (imagem acústica) de significante eafirma (p.23) que “os signos lingüísticos, embora sendo essencialm ente psíquicos, não sãoabstrações; as associações ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui alíngua, são realidades que tem sua sede no cérebro”. O signo de Saussure constitui aconceituação m oderna de signo.
Signo semiológico (externo)A definição moderna de signo não corresponde à conceituação tradicional (clássica)
apresentada por Santo Agostinho (apud Barthes, 1975, p.39) “Um signo é uma coisa que, além daespécie ingerida pelos sentidos, faz vir ao pensamento, por si só, qualquer outra coisa”. O signo,na acepção clássica, denomina-se de signo semiológico. É algo físico (símbolo) que representaoutra coisa física (objeto) para alguém (pensamento). O signo interno é o interpretante do signoexterno. Este não resulta da união das duas realidades envolvidas; m as entre elas estabelece-seuma relação triádica, bem definida por Pierce (1972, p. 94 a 134) e bem ilustrada por um triângulopor Ogden & Richards (1972, p.32). Os elementos dessa relação são: o representamem (palavra),o objeto representado (coisas, fatos, sentimentos) e a referência (a representação). Esse signoexterno, físico, tem por finalidade m ediar a comunicação, unir os parceiros da comunicação atravésde uma substância material que pode ser sonora (fala), gráfica (texto escrito), gestual (língua desinais) ou tátil (código Braile). Portanto, independe da substância utilizada; o que im porta é queessa substância seja sensorial, captável por um de nossos sentidos. A finalidade do signo interno éservir de decodificador do signo externo; o signo externo serve como mediador entre os parceirosda comunicação.
O signo lingüístico revisto a luz do conexionism oO paradigm a conexionista analisa o signo de maneira diferente do sim bólico em diversos
aspectos. Pela lim itação de espaço, som ente focalizaremos um aspecto: a emergência do signo. Osigno lingüístico, em prim eiro lugar, não existe na mente com o uma entidade real, armazenadaduradouram ente. O signo emerge, em determ inado momento, localizado distributivam ente emdiversos lugares do cérebro, através de sinapses. Sinapses são espaços entre dois filamentosinterneuronias, axônio e dentrito, onde acontecem , sob a influência de elem entosneurotransm issores, reações quím icas. Essas reações acarretam alterações na força dassinapses; são os neurônios que captam e armazenam os dados enviados, através dos sentidos, aocérebro, em forma de imagens. No caso do signo verbal, temos registros sonoros (palavras) eregistros do m undo circundante em forma de traços cujo conjunto, de form a ad hoc, fazem surgirconceitos. Todos os traços registrados nos neurônios são necessariamente ligados entre si(ligações neuroniais) formando complexas redes. Quando um neurônio (ou um conjunto deneurônios) é estim ulado, ele ativa automaticamente, devido à força das sinapses, outro neurônio(ou conjunto de outros neurônios). É essa ativação (e no exato momento da ativação) que fazemergir um signo.
Outros aspectos da linguagem recebem novas interpretações ou explicações frente àconceituação conexionista do signo. Merecem referência especial a relaçãopensam ento/linguagem. O pensamento, a substância de conteúdo, o sentido, é analógico eabstrato e, segundo os sim bolistas, se armazena na m ente. A linguagem , a forma de expressão, é
digital e concreta. Como e aonde se dá a passagem de um para outro? Por outra, os signos sãorealidades abstratas, estáticas e prontas, armazenadas na mente. Ora, o abstrato não ocupaespaço. Com o é que pode ser arm azenado em algum lugar, principalmente se esse lugar nãoconstitui uma realidade concreta? Se os signos não podem ser armazenados na mente,certamente o serão no cérebro. Para estarem no cérebro devem , logicamente, revestir-se desubstância material; para isso, eles devem ser conceituados de forma diferente. Para ficarem
revestidos dessa materialidade , eles devem emergir no cérebro, no mom ento em que os dados deum conceito (engram ados neuronialm ente) forem ligados a dados sonoros. Isso significa que ossignos internos não existem como uma realidade pronta, mas emergem de forma ad hoc e temexistência efêm era na memória transitória.
ReferênciasBARTHES, Roland. Elem entos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 1975.HJELMSLEV, Louis. Prolegomena to a theory of language. Madison: The University of W isconsinPress, 1969.MARTINET, André. Elementos de lingüística geral. Lisboa: Sá de Costa, 1971.OGDEN, C.K.; RICHARDS, I.A. O significado de significado. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.PIERCE, Charles Sanders. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix, 1972.SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1971.
Análise semântica latente (lsa): o mistério do significado verbal
Carlos Ricardo Pires RossaPUCRS
O paradigm a LSA é uma teoria e um método que explica o significado das palavras a partirda com putação de dados estatísticos aplicados a um grande corpus de texto. A idéia básica dateoria é que existe um a estrutura latente no padrão de uso das palavras, ou seja, a informaçãoreferente aos contextos de palavras onde uma determ inada palavra ocorre ou não ocorre, forneceum conjunto de restrições que determ ina a sim ilaridade do significado das palavras.
Por essa estrutura latente ser uma estrutura rígida, ela pode ser expressamatematicam ente. A LSA está baseada numa técnica matem ática de decomposição de matrizes,chamada de decomposição de valor unitário (SVD). Após processar um a grande am ostra delinguagem capaz de ser lida pela m áquina (texto eletrônico), a LSA representa as palavrasutilizadas na amostra e coloca os grupos de palavras contidas num a frase, parágrafo ou textomaior, num espaço semântico de alta dimensionalidade. O espaço sem ântico é uma representaçãoda grande quantidade de texto. Cada termo, cada texto e cada nova com binação dos termospossui um vetor de representação de alta dimensionalidade. Ao comparar dois term os estamoscomparando o co-seno do ângulo entre os vetores que representam os term os. Essa comparaçãoocorre no espaço semântico.
O modelo da LSA utiliza uma grande quantidade de texto eletrônico para “aprender” eadquirir a experiência necessária para calcular o vetor das palavras. O m odelo utiliza um tipo deaprendizado associativo que conecta cada tipo de uma palavra específica. A palavra é associadacom outra palavra em todos os lugares em que ela aparece, em cada parágrafo que ela aparece.
De acordo com Landauer, Foltz e Laham (1998), a LSA pode ser concebida de duasform as: (a) como uma maneira prática para se obter estim ativas para substituição do usocontextual de palavras em grandes segm entos de texto e de tipos de semelhança de significadosentre as palavras e segmentos de textos que podem ser refletidos nessas relações e (b) como ummodelo de processos com putacionais e de representações que subjazem grande parte daaquisição e utilização de conhecimento.
Se pensarmos como um m étodo prático para a caracterização estatística do uso lexical, aLSA produz medidas de relações palavra-palavra, palavra-segmento e segm ento-segmento quepodem ser relativam ente bem co-relacionadas com vários fenômenos cognitivos hum anos queenvolvem associação ou semelhança semântica. Essa correlação tem que ser o resultado do m odode como a representação do significado das pessoas é refletida na escolha das palavras dosprodutores de um texto e/ou vice-versa, ou seja, suas representações refletem a estatística do quelêem e ouvem.
A LSA com o um processo computacional é capaz de captar e inferir relações no usocontextual das palavras dentro de um segm ento de um discurso. Não se trata de umprocessamento natural da linguagem nem de um program a de inteligência artificial. A LSA nãoutiliza dicionários, redes sem ânticas ou gramáticas, ela utiliza o input fornecido a partir do textoeletrônico e define as palavras como sendo um a seqüência única e as separa em um espaçosemântico. Por não ser um program a de inteligência artificial, a LSA possui algum as lim itações. Elanão reconhece a ordem das palavras, relações sintáticas ou lógicas nem m orfológicas. Assimsendo, frases do tipo John killed Mary e Mary killed John, são interpretadas pela LSA como sendoiguais e o valor do co-seno atribuído a elas é 1.0, o que indica que as frases são semelhantes. Naverdade, o que a LSA diz é que as palavras ‘John’, ‘killed’ e ‘Mary’ ocupam , no espaço sem ânticoescolhido, uma relação de proxim idade que faz a interpretação ser 1.0 para o co-seno. Entretanto,ela consegue extrair significados distintos de frases muito parecidas, às vezes defendidas porgramáticos renomados com o sendo de igual sentido. Frases do tipo: You should go on a diet if you
are not feeling well. e You ought to go on a diet if you are not feeling well recebem um valor de co-seno de 0.98, o que indica que são muito próximas, mas não iguais.
Ainda, duas palavras podem ser bastante parecidas no seu significado, porém raramenteaparecem em uso em um mesmo contexto, porque são sinônim as. Para a LSA elas são tratadascomo tal, pois são agrupadas bem próximas uma da outra.
O cálculo do co-seno entre dois vetores é uma representação m atemática que possibilita acomparação sem ântica entre palavras e segmentos m aiores do texto. A com paração entre asinformações de base textual é possível até mesmo diante da situação de não haver palavra algumacomum presente nos contextos. O valor do ângulo dos vetores (θ) pode variar entre 0 e π , o co-seno de θ pode variar entre -1 e 1. O co-seno é interpretado pela LSA como a sem elhança entrevetores, levando em conta seus comprim entos.
A LSA faz a análise de um texto utilizando duas etapas distintas: a associação e acondensação.
Na etapa de associação ou correlação, a LSA gera uma matriz de ocorrência de cadapalavra em cada sentença ou parágrafo. As linhas da matriz representarão tipos de eventosunitários, ou seja, as palavras; as colunas dessa m atriz representarão os contextos onde essaspalavras ocorrem. As células da matriz representam a freqüência de cada palavra em umdeterm inado contexto. Contexto pode ser entendido como o documento (frases ou parágrafos)fornecido ao m odelo. Após estabelecer um valor (peso) para cada célula, o modelo executa asegunda etapa do processo. Através de uma técnica matemática de decom posição de matrizeschamada de decomposição de valor unitário (SVD), a matriz é decomposta e um espaçodim ensional abstrato é criado. Esse espaço é o espaço semântico, onde cada palavra e cadadocumento são representados como vetores ou pontos. A escala SVD faz a decomposição damatriz.
A figura 1 representa a redução da dim ensão através de SVD. Figura1: Ilustração esquem ática da redução da dimensão através de SVD
Fonte: Landauer e Dum ais (1997)
Na figura 1a as fileiras representam as palavras tipo type, as colunas representam oscontextos onde as palavras ocorrem e as células (x) são transformadas em freqüências nas quaisuma determ inada palavra aparece em um determ inado contexto. Nas figuras 1b e 1c as colunassão fatores ortogonais artificiais resultantes dos dados examinados e as células (y e z) sãoresultantes da combinação linear de todos os dados na matriz do contexto de uma forma ótimapara a reconstrução dos padrões de sem elhança entre as palavras em um número menor dedim ensões.
A SVD é apropriada para os modelos computacionais matemáticos, pois é através da
redução da dim ensionalidade que se podem obter os m aiores efeitos de indução de aprendizadoindireto. A SVD fornece uma medida natural, obtida pela decomposição da m atriz e não umamedida artificialm ente construída e já pré estabelecida por um modelo simbólico, por exem plo.
ReferênciasLANDAUER, T ; FOLTZ, P ; LAHAM, D. Introduction to latent semantic analysis. DiscourseProcesses, n.25, p.259-84, 1998.LANDAUER, T ; DUMAIS, S. A solution to Plato’s problem: The Latent Semantic Analysis theory of theacquisition, induction and representation of knowledge. Psychological Review, n.104, p.210-40,1997.
Algumas considerações sobre a proposta de Smolensky: otratamento adequado do conexionismo
Adriana Angelim RossaPUCRS
O objetivo desta apresentação é o de “desm istificar” algumas falácias teóricas em relaçãoao paradigm a conexionista que foram construídas com astúcia e maestria por Smolensky, em suaproposta de tratar adequadamente o conexionismo. Teceremos considerações ao longo de nossadiscussão que são frutos de reflexão, debates em sala de aula e estudo sobre o assunto.
Smolensky constrói a argumentação para sua proposta de tratamento do conexionism obaseado exclusivamente em simulações com putacionais.Tal estratégia tem por objetivo nãoconsiderar os achados da neurociência e nem m encionar dados em píricos provindos da psicologiacognitiva, por exemplo. Além disso, as simulações ainda podem ser consideradas como a partemais “frágil” do paradigm a conexionista. Sua potencialidade para sim ular questões relativas àcognição humana, especialmente quanto à linguagem, está apenas começando a ser explorada.
Devemos lem brar que as redes neuroniais típicas da simulação conexionista são redesnão-naturais que têm com o base o que os neurocientistas revelam sobre a arquitetura e ofuncionamento cerebral. Elas são construídas com componentes eletrônicos que usam chips nolugar de neurônios, tam bém valem–se de ajustes de pesos entre as conexões de seus nódulos emsubstituição às conexões sinápticas que interconectam os neurônios no cérebro. As redes tambémrespeitam o processamento distribuído em paralelo típico do funcionam ento cerebral.
As redes conexionistas não utilizam regras internas em sua arquitetura, exatam ente ooposto das redes de base tradicional (simbólica). O input de um modelo tipicamente conexionistacorresponde a valores atribuídos às unidades de input da rede. Esses valores numéricoscorrespondem à codificação ou representação do input para a rede, segundo Smolensky (1988).Aqui se faz necessário um comentário. Devem-se distinguir os termos codificação (engramação) erepresentação. Achamos justo que falemos em representação ao considerarmos o paradigm asim bólico e ao levarm os em conta a com unicação entre m áquinas (a linguagem das m áquinas). Noentanto, devemos ter cautela ao falarm os de representação mental relacionada ao cérebrohumano. Para o cérebro, o que há de verdade é a engramação de dados de form a difusa em redesassociativas, de processamento distribuído em paralelo.
O rápido e crescente desenvolvimento das sim ulações baseadas em m odelos não-sim bólicos parece “assustador” para Sm olensky. Sua proposta tom a vulto a partir da idéia de queé precipitado delegar qualquer validade ou poder para o conexionismo. O momento, segundo oautor, é oportuno para tentar articular os objetivos do paradigm a, a hipótese fundamental detestagem da abordagem conexionista e sua possível relação com outras teorias das ciênciascognitivas. O autor considera essa tarefa bastante árdua, uma vez que o term o “conexionismo”abarca referenciais teóricos m uito distintos que estão pouco desenvolvidos. Gostaríamos queSmolensky m encionasse alguns exemplos dessas teorias. Também seria interessante que elejustificasse sua rejeição pela validade ou poder do paradigm a, através de fatos e dados naliteratura sobre o assunto. Tratam -se de constatações “éticas”, juízos de valor, que não têmrespaldo teórico.
O Tratamento Adequado do Conexionism o (PTC no original) é, segundo Smolensky, um aform ulação coerente da abordagem conexionista que a coloca em contato com um a outra teoriaem ciência cognitiva de m odo especialmente construtivo. O PTC, de acordo com o autor, é umatentativa de formular o conexionismo como forte o suficiente para constituir-se uma das principaishipóteses cognitivas, como um a abordagem ampla o suficiente para enfrentar muitos e difíceisdesafios, e plausível o suficiente pra resistir uma série de objeções, em princípio. O PTC pareceser a única alternativa de “salvação” do conexionism o diante de um júri de sim bolistas. Smolensky
esforça-se ao máximo pleiteando um nível subsim bólico, o qual não é nem de todo conceptual emterm os da tradição, nem neuronial em term os conexionistas.
Se o PTC conseguir atingir os objetivos acima m encionados, ele também facilitará averdadeira proposta: avaliar a adequação científica do paradigma conexionista de servir comopoder computacional para modelar a com petência hum ana e com o m ecanism o com putacionaladequado para simular o desempenho cognitivo humano.
Para Smolensky, o PTC é um a resposta para aqueles que são a favor ou contra oconexionism o, ou para aqueles que desejam um ecumenismo entre sim bolism o e conexionismo.Para alguns que defendem a abordagem tradicional para a modelagem da cognição e para os quetrabalham com Inteligência Artificial, há uma possibilidade de considerarem úteis os sistemasconexionistas. Para outros das mesmas áreas, o conexionismo está fadado ao insucesso por nãooferecer nada de novo, ou por não apresentar explicações cognitivas a contento, ou simplesm entepor não ser neurologicamente plausível.
Parecem-nos extrem am ente contraditórias muitas considerações de Smolensky quanto aopoder com putacional do conexionism o. Por exemplo, ele diz que ainda é muito obscura aadequação da m odelagem conexionista para realizar tarefas de alto nível cognitivo (comparando-se ao poder computacional da modelagem simbólica), porém afirm a que é muito provável que osmodelos conexionistas poderão oferecer contribuições para a modelagem do desem penhocognitivo humano, tão significativas quanto aquelas oferecidas pelo simbolism o. Ora o simbólicoparece ter a resposta para a m elhor m odelagem da cognição humana, ora o conexionism o“Smolenskiano”.
Smolensky não com unga da possibilidade explanatória do nível neuronial, este é m uitobaixo, m uito básico, acaba por ferir o nível conceptual (nível alto) da tradição. Ele literalm ente dizque é melhor não construir os princípios da cognição em termos conexionistas, baseados no nívelneuronial. Interessantemente, ele nega um dos fundam entos do paradigma: a construção dacognição humana se dá no cérebro em níveis neuroniais! Ele também afirm a que seu PTC estámais explicitam ente relacionado ao nível conceptual do sim bolism o do que ao nível neuronial. Oconexionism o parece servir apenas para a implementação de modelagens que utilizampressupostos simbólicos, que não se despojam dos símbolos e das regras. Inteligentemente, oautor defende o subsímbolo e conjuntos de subregras (restrições leves) em contraposição àsregras rígidas do simbólico.
O que pensam os disso: regras são regras, rígidas ou leves! A mudança de nom enclaturanão altera sua natureza.
O nom e Paradigma Subsimbólico quer sugerir, segundo Smolensky, as descriçõescognitivas constituídas de entidades que correspondem as constituintes dos sím bolos usados noparadigm a simbólico. Aqui nos parece novam ente que a troca de termos não afeta o real valor daspalavras, estamos falando da mesm a coisa com um outro nome. Temos agora os traços finos quecompõem os signos com o os constituintes do “símbolo Sm olenskiano”. Esta é uma distinçãosemântica, segundo o autor, que deve ser acompanhada de uma distinção sintática. Ossubsímbolos são com putados numericamente, estatisticamente, aos moldes conexionistas. Trata-se de estender a mão direita para um paradigm a e a mão esquerda para a outra abordagem ,desculpem-nos a metáfora.
O nível de análise cognitiva do subsimbólico é mais baixo do que o do simbólico, declara oautor. Em seguida, esse nível mais baixo deve ser desconsiderado por que é importante que osmodelos conexionistas sejam analisados em um nível mais alto (como o do simbólico). E concluique, mesmo havendo a distinção: simbólico/nível superior e conexionismo/nível inferior de análisecognitiva, os dois paradigmas oferecem modelos cognitivos que podem ser considerados demúltiplos níveis! Não conseguimos acom panhar devidamente o raciocínio de Smolensky, talvezjustam ente pela impossibilidade intrínseca de amalgamar as duas visões teóricas. Ele tentaconciliá-las a todo instante.
Ao tratar de representações no seu pressuposto nível subconceptual, Smolensky atribui àmodelagem com putacional de Rumellhart e MacClelland (1986) o título indevido de subconceptual,e passa a tratar qualquer abordagem conexionista de abordagem subsimbólica.
Notamos um reforço constante da idéia de que a semântica das unidades da redesubsimbólica, está muito m ais ligada ao simbólico quanto aos processos de níveis superiores do
que aos de nível neuronial. Já, por sua vez, a sintaxe das redes subsimbólicas está mais“sujeitada” ao nível neuronial.
Parece bastante óbvio que ao considerarmos regras ou restrições estamos diante depressupostos simbólicos que só podem im plicar serialidade. Mas com o aceitarmos que taisafirmações que apontam aparentemente para direções opostas possam fazer parte de umaproposta que pretende dar o tratamento devido ao conexionism o?
Na conclusão de seu artigo, Sm olensky declara que o objetivo da pesquisa subsimbólica
não deveria ser o de substituir o simbolismo, m as sim o de explicar as fraquezas e virtuosidades daatual teoria simbolista, para que fosse possível esclarecer como a computação simbólica podeemergir de uma com putação não-simbólica (im aginamos que se trate do conexionism o real). Eletambém menciona o fato de que é possível que construtos do nível conceptual possam em ergir apartir da computação subconceptual. Podemos inferir que Sm olensky sabe do poder dasmodelagens conexionistas, contudo não consegue descartar suas fortes raízes simbólicas.Magicamente, Smolesnky sugere que seu PTC resolve o paradoxo acima, fornecendo o modelopara estudar como um sistema cognitivo pode ser rígido e flexível ao mesm o tempo!
As regras são frutos de nossa reflexão, do nosso debruçar sobre regularidades eirregularidades que podem ser mapeadas pelo nosso sistema cognitivo. As regras são frutos detratamento estatístico, uma computação natural de nosso cérebro. Não precisamos de regras ourestrições para o aprendizado ocorra, necessitam os de exposição, de inputs, para que sejamanalisados os dados de modo estatístico.
Smolensky conhece m uito bem as modelagens computacionais, especialmente assim bólicas, e esse mérito é indiscutível. Devemos ter cautela, contudo, ao entrarmos em contatocom seu artigo. Há m uitas contradições e premissas falsas em relação ao conexionism o. Lim itamo-nos a este pequeno escopo apresentado, tentamos preservar os verdadeiros fundam entosconexionistas e livrá-los do rótulo indevido de subconceptual.
ReferênciasRUMELHART, D. E.; McCLELLAND, J. L. On learning the past tenses of English verbs. In: D. E.Rumelhart ; J. L. McClelland (Eds.) Parallel distributed processing: Psychological and biologicalmodels. v. 2, The MIT Press, Massachusetts, 1986.SMOLENSKY, P. On the proper treatment of connectionism. Behavioral and brain sciences, USA,n 11, p. 1-74, 1988.
Contribuições do paradigma conexionista à Teoria da Otimidade
Giovana Ferreira Gonçalves BonilhaUFRGS/PUCRSgfgb@ terra.com.br
IntroduçãoAo estabelecer a relação Teoria da Otim idade (OT) e paradigm a conexionista, não se deve
inferir que a Teoria da Otim idade seja conexionista. A Teoria da Otim idade é vista aqui com o maisuma ferramenta de análise e descrição lingüística. O fato de apresentar alguns aspectosdefendidos pelo paradigm a conexionista, com o: abandono total do mecanismo de regras eprocessamento em paralelo, inevitavelm ente a aproxim a desse paradigma, ao m esmo tem po que adistancia do paradigm a simbólico calcado na aplicação de regras.
Entendo a OT como um avanço na forma que a descrição da língua pode ser evidenciada.Se existe um modelo teórico que possibilita a análise e a descrição das línguas de um a form a maisaproxim ada das pesquisas desenvolvidas por outras áreas de investigação científica, por queinsistir em usar m odelos baseados em regras e em processamento derivacional? Por que continuarentendendo as análises gramaticais com o a aplicação sucessiva de regras, se as pesquisasbaseadas na modelagem conexionista já estão avançadas o suficiente para evidenciar a coerênciado modelo?
No presente trabalho, procuro tecer comentários sobre as relações existentes entre aTeoria da Otim idade e o paradigma conexionista, propondo associações entre ambos, bem comosugerir reform ulações na teoria com base em aspectos conexionistas que ainda não foramcontemplados pela OT.
Teoria da Otim idade e conexionism oPrince & Smolensky (1993) fazem referência à associação entre Teoria da Otim idade e
Conexionismo nos Cap. 1 e 10. As semelhanças, basicam ente, giram em torno do uso do processode maxim ização de harmonia. De acordo com os autores, na maxim ização de harmoniaconexionista, em um a certa classe de rede conexionista, o conhecimento da rede consiste em umquadro de restrições conflitantes e violáveis que operam em paralelo para definir a harm onianumérica de representações alternativas. Quando a rede recebe um input, ela constrói um outputque inclui a representação de input, aquele que m elhor satisfaz sim ultaneam ente o quadro derestrições – isto é, que tem harmonia m áxim a, no entanto, a OT utiliza representações sim bólicas,e não valores num éricos, fazendo em ergir a idéia de uma hierarquia de restrições e da dom inaçãoestrita.
Conform e Prince e Sm olensky (1997), a otim ização é um dos princípios das redesneuroniais que pode contribuir em muito para as teorias formais da gram ática. Nas redes, esseprocesso de otim ização considera valores numéricos, pesos entre as conexões. A ativação éiniciada através de um determ inado input, cujo padrão de ativação fica fixado na própria rede. Arede produzirá um output que apresenta o padrão de ativação mais harmônico, ou seja, otim izado,contendo o input. Esse padrão é escolhido a partir das várias conexões neuroniais que sãoacionadas, é maxim izado de acordo com as exigências tipicam ente conflitantes de todas asrestrições – implícitas nas sinapses - na rede.
Para Prince & Smolensky (1993), a OT evidencia que princípios conexionistas podem serconsiderados em um a teoria gerativa – a maxim ização de harmonia – e que representaçõessim bólicas podem ser consideradas no processamento – conexionism o subsimbólico.
Prince e Smolensky (1997, p. 1606) reforçam essa idéia, pois, para os autores, a OTtambém configura o processamento que ocorre em níveis mais altos, pois a otim ização ocorresobre representações sim bólicas discretas. Portanto, há um processamento que considera valoresnuméricos, no nível mais baixo, e há um processamento, no nível mais alto, considerandoestruturas simbólicas – restrições – maxim izadas pelo processo de dominação estrita.
Minha proposta, no entanto, contrária a essa visão “ecumenista” dos autores, entende aTeoria da Otim idade – pós Gramática Harmônica - apenas com o um m odelo de descrição e análiselingüística, não compartilhando a idéia de dois níveis de processam ento diferenciados, umsim bólico e outro conexionista. Proponho que o cham ado nível m ais alto de processamento existeapenas enquanto formalização lingüística e, portanto, defendo o m odelo de conexionism oelim inativista. O conexionismo subsimbólico de Smolesnky (1988) parece tentar aproxim ar os doisparadigm as, no entanto, entendo que essa aproxim ação deve ser considerada enquanto “lançarmão” da arquitetura proposta pelas ciências do cérebro na tentativa de se propor um a teoria deanálise lingüística em assonância aos achados da neurociência.
Contribuições do paradigm a conexionistaProponho, aqui, algumas associações entre o conexionism o e a Teoria da Otim idade que
vão além do processo de maxim ização de harmonia já referido por Prince & Smolensky (1993) ePrince & Smolensky (1997).
A plasticidade do modelo conexionista e as possíveis alterações nos valores das ligaçõesentre as unidades da rede conduzem à idéia de que uma hierarquia de restrições, ou seja, umagramática, nunca estará totalm ente pronta, fixada, pois sem pre será suscetível a mudanças emseu ordenam ento, dependendo de fatores externos e internos.
Se, de acordo com o m odelo conexionista, as informações se apresentam de formadistribuída, através das conexões entre os m ilhares de neurônios, pela OT, as restrições tambémfuncionam de forma distribuída, pois são consideradas sob um a mesm a hierarquia, ao mesm otempo, sendo violadas ou não pelo output atestado como form a ótim a.
Um outro aspecto que devo salientar, considerando a aproxim ação entre Teoria daOtim idade e conexionismo, relaciona-se à aplicação de algoritmos de aprendizagem para explicitaro processo de aquisição da linguagem. As sim ulações conexionistas utilizam algoritmos que irãoalterar os pesos das conexões, durante o processo de aquisição, para que um output possaemergir, tendo por base um determ inado input. A OT também utiliza algoritmos de aprendizagempara evidenciar o processo de aquisição da linguagem .
As restrições da OT correspondem às sinapses feitas entre as unidades neuroniais, oordenamento de restrições está relacionado com o peso atribuído a cada ligação, já o padrão deativação que em erge após a m axim ização dos valores da rede é o candidato escolhido com o formaótima.
Quanto à função Gen, proponho que pode ser entendida como a capacidade de se criarpadrões de ativação, vários padrões podem em ergir das ativações que são feitas na redeneuronial. A escolha de um determ inado padrão – Eval - será feita de acordo com os pesosatribuídos às conexões, que caracterizam a hierarquia de restrições que configurará amaxim ização harm ônica. É interessante observar que as funções Gen e Eval estão ambasinterligadas com o “padrão de ativação”, pois é ele a produção escolhida dentro de um quadropotencial de padrões possíveis, dependendo do estabelecim ento das forças entre as unidades –ranqueam ento de restrições.
Restrições com pondo a G U?Apesar de ter base no paradigma conexionista, a OT também está apoiada na gram ática
gerativa. Desta, retira a idéia da Gramática Universal e propõe que as restrições são inatas,fazendo parte da GU. As simulações com putacionais desenvolvidas no conexionism o têm sidocapazes de evidenciar que não existem regras inatas, o mesmo, portanto, pode ser estendido comrelação às restrições.
Sugiro, no presente trabalho, que o inatismo possa ser entendido na OT como um apotencialidade, ou seja, as restrições estariam “potencialmente presentes” na gram ática doaprendiz. Essa nova proposta altera a visão atualmente assumida pela Teoria da Otim idade paradescrever e analisar dados referentes à aquisição da linguagem.
Outro ponto que proponho repensar é a form ulação dos algoritmos de aprendizagem queconstituem o modelo. Esses consideram que todas as restrições fazem parte da hierarquia e que aaprendizagem ocorre através do reordenam ento de restrições. Se as restrições correspondem àsconexões feitas entre os neurônios e se o ordenam ento surge da atribuição de pesos dada a essasconexões, é preciso refletir sobre com o as modificações nos padrões de conectividade - nova
conexão, perda da conexão existente e alteração no valor das conexões - podem ser consideradasna aplicação dos algoritm os de aprendizagem utilizados pela OT. Não poderíam os considerar quenovas conexões corresponderiam a restrições que surgem na gramática? Que a perda da conexãorepresentaria a desativação completa da restrição, fazendo com que essa fosse elim inada dahierarquia? Incitação e inibição significariam movim entação no ordenamento de restrições?
Aplicação dos conceitos – aquisição do sistem a consonantal do PBDe acordo com o modelo conexionista, o fonema não existe enquanto representação, está
distribuído no cérebro em pequenos pontos acionados para a sua constituição. Assim tambémentende a OT, pois o fonema existe enquanto um ordenam ento específico de restrições demarcação interagindo com restrições de fidelidade que torna possível a sua produção. Com basenos pressupostos conexionistas, sugiro que, de acordo com a OT, o fonema só existe fragmentadoem diferentes restrições que o constituem somente enquanto interagem, ou seja, um a restriçãosozinha, fora de um a hierarquia, nada significa.
Em (1), observem-se as “representações” do fonem a no paradigm a conexionista e naTeoria da Otim idade.
(1)a) Paradigma conexionista b) Teoria da Otim idade
/fonema/ /fonema/ = output escolhido como form a ótim a
ò ò òu n id ad e1 u n id ade2 u nid ade3
u n id ad e4 u n id ad e5 u n id ade6
ò ò òHx = {R1}>>{R4}>>{R3}>>{R2,R5}
Em (1a), a “representação” conexionista evidencia que o fonema é constituído pelainteração – conexão – entre as unidades 1 a 6, ou seja, a unidade 1 ou a conexão da unidade1com a unidade 5 não configuram o /fonema/, é preciso considerar todas as conexões estabelecidaspara configurá-lo. Em (1b), o fonema emerge do ordenamento entre as restrições R1 a R5, ou seja,a restrição R1 por si não caracteriza a escolha do output /fonema/.
Seguindo a m odelagem conexionista, o conhecimento gram atical consiste na ativação devárias conexões entre neurônios, ou seja, não está guardado em um a entidade abstrata cham adamente. Assim tam bém entende a OT, pois a fonologia não reside na representação subjacentenem em restrições estanques, mas na interação de restrições que constituem um a hierarquia. Essahierarquia é que, dependendo do enfoque dado pelo analista, irá expressar, para fins de descriçãoe análise lingüística, a fonologia de uma determ inada língua.
ConclusãoO presente trabalho retomou a associação existente entre OT e conexionism o no que
concerne à maxim ização de harmonia – conforme salientado por Prince & Smolensky (1993) – ebuscou estabelecer outras relações entre os dois m odelos, associando os princípios da OT aosmecanismos que atuam no processamento conexionista.
Considerando as alterações sofridas no modelo standard e o avançar das pesquisas, omais importante é buscar entender para aonde a OT está caminhando. Minha proposta é que a OTdeve cam inhar em direção ao paradigm a conexionista. O que procuro, na verdade, é proporreformulações na Teoria da Otim idade que vão ao encontro de sua origem, desvinculando-a deaspectos gerativistas.
ReferênciasPRINCE, Alan, SMOLENSKY, Paul. Optimality Theory - Constraint Interaction in GenerativeGram mar. RuCCs Technical report 2, 1993.______. Optim ality: From Neural Networks to Universal Gram mar. Science, v. 275, p. 1604 – 1610,1997.
SMOLENSKY, Paul. On the proper treatment of connectionism. Behavioral and Brain Sciences, 11,p. 1 – 74, 1988.
Competência e autoria na linguagem escrita: perspectivascomplementares de análise no processo e nas dificuldades de
aprendizagem
Jerusa Fumagalli de SallesUFRGS/UNIFRA
jerusa@ via-rs.netCleci Maraschin
Rochele Paz FonsecaUFRGS
rochele.fonseca@ terra.com .brDenise Inazacki Rangel Perusso
FEEVALE
Dado o rápido avanço tecnológico que caracteriza a sociedade atual e as crescentesdemandas do mercado de trabalho, a competência na linguagem escrita torna-se cada vez m aisfundamental. O sucesso ou fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita pode ser entendidocomo função da interação de uma série de fatores, dos quais podem os destacar os biológicos, oscognitivos e os psicossociais.
A competência em leitura será analisada neste artigo do ponto de vista cognitivo. Dentre osprocessos cognitivos subjacentes a esta competência podem os destacar as habilidades delinguagem, de memória, de elaboração de inferências, do processamento auditivo e, maisespecificamente, as habilidades de processam ento fonológico (com o consciência fonológica).Questões relacionadas aos fatores subjacentes à aprendizagem e às dificuldades de leitura, e acaracterização dos tipos de dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita ainda despertamuma série de discussões.
No que concerne à relação entre competência e autoria, a linguagem escrita, além de seruma atividade cognitivo-lingüística extremamente complexa, também pode ser analisada naperspectiva de transformação do sujeito que a domina e dela faz uso efetivo. Desta forma, cabepensar com o as redes sociais de leitura e de escrita operam no sentido da inclusão-exclusão,propiciando que os sujeitos possam exercer, ou não, uma função de autoria. O aprendizado dalinguagem escrita perm ite ao aprendiz um a nova ferramenta com a qual irá raciocinar e representaro mundo, além de influenciar nos seus processos cognitivos de modo a ampliar os seus lim ites eseus modos de operação (Correa, Spinillo e Leitão, 2001).
O domínio com petente do código escrito, embora necessário, não garante a inserção doindivíduo em uma rede social de leitura e escrita. A competência, quando exercitada em umcontexto social que dê sentido a esta linguagem escrita, produz como resultado uma posição deautoria.
O presente texto, com base na sessão coordenada apresentada no 6º Encontro Nacionalde Aquisição da Linguagem - ENAL, tem com o objetivo apresentar e discutir estudos originados emdiferentes campos de atuação, que têm como tema a aquisição e desenvolvim ento da linguagemescrita e as dificuldades neste processo. Nos propom os a analisar a questão dos processos ehabilidades que constituem a com petência em leitura, bem como o papel que este novoaprendizado tem na vida do sujeito.
Inicialm ente, Jerusa Salles tratará dos processos cognitivos envolvidos na leituraproficiente e nas dificuldades de aprendizagem da leitura, com base em m odelos daNeuropsicologia e Psicologia Cognitiva. Rochele Fonseca, dentro do m esmo paradigm a teórico,explanará sobre a contribuição da habilidade de processamento inferencial para um a leitura
competente e Denise Perusso discutirá o conceito de dislexia, diferenciando-o das dificuldades deleitura associadas a distúrbio do processamento auditivo central, dentro de uma perspectiva deavaliação multidisciplinar. Por fim , Cleci Maraschin tratará das relações entre alfabetização escolare letramento, discutindo a possibilidade de autoria e inserção dos sujeitos nas redes sociais deleitura e escrita.
O processo de leitura com petente: análise com parativa entre bons e m aus leitoresA leitura é um a atividade m ental extrem amente com plexa, que pode ser definida e
investigada sob vários ângulos, dependo da perspectiva teórico-m etodológica. A PsicologiaCognitiva e a Neuropsicologia (ou m ais especificamente a Neuropsicolingüística) focalizam aanálise dos processos neurocognitivos subjacentes à habilidade de ler, tanto no leitor competentecomo no leitor iniciante e nos distúrbios de leitura. Além de servir como referência para avaliação einterpretação dos problem as na aprendizagem da leitura, tais modelos teóricos têm estabelecidobases para a intervenção.
Ao examinarm os a aprendizagem da leitura dentro do espaço escolar, entendemos queesse processo não condiz apenas com habilidades de decodificação de letras em sons, masenvolve m uitos fatores, como a metodologia de ensino-aprendizagem adotada pelo professor, arelação professor-aluno estabelecida em sala de aula, as habilidades neurocognitivas das crianças,o contexto sócio-cultural fam iliar, entre outros. Nesta primeira parte do artigo vam os nos concentrarnos aspectos cognitivos, ressaltando a visão de Roazzi (1999) de que é impossível dissociartotalmente, do ponto de vista psicológico, os elementos supostamente cognitivos daquelesrelacionados às regras de interação social e de estruturação do contexto no qual estão inseridos ossujeitos.
Vista sob o enfoque da Neuropsicologia e Psicologia Cognitiva, a competência em leiturapode ser definida com o a combinação de dois componentes principais: (1) precisão e rapidez noreconhecim ento das palavras, indispensáveis para perm itir que o leitor dedique o máximo derecursos cognitivos aos processos de com preensão; e (2) capacidades cognitivas e lingüísticas,necessárias para compreender uma m ensagem escrita (Braibant, 1997). Portanto, o leitor
proficiente é aquele que apresenta uma leitura fluente (precisa e automática) e com compreensão.Conforme os modelos cognitivos de leitura de dupla-rota (Ellis, 1995), o reconhecimento de
palavras pode ocorrer, pelo menos, de duas maneiras: por meio de um processo visual direto (rotalexical) ou através de um processo envolvendo m ediação fonológica (rota fonológica). No leitorhábil, as duas rotas estão disponíveis e podem intervir paralelamente na identificação de palavras,porém a rota lexical é fundamental para a competência em leitura, por caracterizar-se pelo acessodireto ao significado. A precisão e a rapidez na leitura de pseudopalavras indica a funcionalidadeda rota fonológica, enquanto que o uso da rota lexical é inferido pela habilidade de leitura depalavras irregulares.
Após os processos m ais básicos de leitura, com o identificação e extração de significado depalavras individuais, outros processos operam ao nível da frase e da organização global ou daestrutura temática de todo um texto. A automaticidade no reconhecimento de palavras éconsiderada condição necessária para a com preensão de um texto, apesar de não ser suficiente(Alégria, Leybaert e Mousty, 1997).
Com base nos estudos inseridos em um a perspectiva cognitiva, é possível comparar ascaracterísticas dos bons e dos maus leitores. Os bons leitores tendem a fazer menos uso docontexto para com preender a leitura, já que possuem habilidades proficientes de identificação daspalavras em um texto. Eles tendem a usar o contexto na leitura para descobrir o significado depalavras que não conhecem . Seu reconhecimento de palavras é automático, exigindo mínim acapacidade de memória de trabalho. Adicionalmente, os leitores proficientes apresentam boashabilidades de consciência fonológica, habilidade metalingüística de identificação doscomponentes fonológicos em uma unidade lingüística e de manipulação intencional destescomponentes (Gom bert, 1992).
Por outro lado, os maus leitores usam o contexto de forma com pensatória, para descobrirque palavra poderia estar no local daquela que ele não consegue ler. Nesta estratégia de“adivinhação”, usando pistas visuais parciais para reconhecer as palavras, o reconhecimento émuito incompleto e/ou errôneo. A compreensão de leitura geralmente encontra-se prejudicada, poisa lentidão e o esforço nos processos mais básicos de reconhecim ento e com preensão de palavras
acabam por sobrecarregar a capacidade de m emória. Uma habilidade de memória fonológicaeficiente é essencial para habilitar o leitor a m anter uma representação precisa dos fonem asassociada com letras, bem como devotar o máximo de recursos cognitivos para os processos dedecodificação e compreensão (W agner, Torgesen, Rashotte et al., 1997).
Para a análise dos subprocessos da habilidade de leitura - fluência, precisão e uso deestratégias fonológicas versus lexicais no reconhecimento de palavras, compreensão de leitura -necessitamos de instrumentos de avaliação que tenham por base um aporte teórico consistentedos processos e do desenvolvimento da leitura. A Psicologia Cognitiva e a NeuropsicologiaCognitiva buscam ultrapassar a mera descrição dos distúrbios de leitura para poder chegar àinterpretação dos m ecanismos a eles subjacentes. Baseando-se em m odelos teóricos, nacomparação do desempenho do indivíduo em tarefas diferentes, na análise dos tipos de erros e notempo de resposta, procuram identificar as estratégias subjacentes ao processo.
As crianças com dificuldades de leitura ou os m aus leitores apresentam dificuldades noreconhecim ento de palavras escritas (Torgesen, 2000) e falhas no processam ento fonológico dalinguagem (Pennington, 1997), como consciência fonológica e m em ória de curto-prazo verbal(Mayringer e W immer, 2000, Jong, 1998). A inter-relação entre consciência fonológica e leitura éconsenso na literatura. A hipótese interativa pressupõe que haja uma relação recíproca entre estasduas habilidades (Morais, 1985), ou seja, decodificar requer correspondência grafema-fonema econsciência fonêmica. Por outro lado, a aquisição da leitura propicia m elhor consciência daestrutura fonológica da linguagem .
A classificação e a descrição das dificuldades de aprendizagem da leitura é aindacontroversa. São tantas as nom enclaturas propostas e descrições das características das criançasque fica difícil saber quando nos referimos à m esm a síndrome e quando tratamos de quadrosdiferentes. Apesar das diferentes term inologias propostas para as dificuldades específicas deleitura, vários autores (Pinheiro, 1995; Selikowitz, 2001; García, 1998) as colocam comoequivalentes às dislexias de desenvolvimento. Com base no estudo das dislexias adquiridas, asdislexias de desenvolvim ento foram classificadas em fonológicas, de superfície e m istas (Ellis,1995; Morais, 1996). Nas dislexias fonológicas há incapacidade de decodificação fonológica grave,que acarreta um desem penho m uito ruim na leitura de estímulos não familiares e depseudopalavras. São tam bém observadas dificuldades em tarefas de m em ória de trabalhofonológica e consciência fonológica. Nas dislexias de superfície ocorrem dificuldades naconstrução de um léxico ortográfico, gerando leitores lentos e cuja leitura de palavras irregulares émuito deficitária. Outras crianças apresentam dislexias mistas, na qual o desenvolvim ento dos doisprocessos – fonológico e lexical – está comprometido.
Optam os por adotar aqui uma postura interpretativa do desempenho da criança em leitura,tentando elucidar as estratégias subjacentes a esse processo, ao invés de discutir as controvérsiasdas definições e diagnóstico das dificuldades de aprendizagem da leitura. Para ilustrar os váriosprocessos cognitivos que se interrelacionam em uma leitura proficiente e os processos subjacentesàs dificuldades de aprendizagem da leitura, serão apresentados estudos de casos de criançasconsideradas com dificuldade de aprendizagem da leitura, comparando-as ao grupo de leitorescompetentes. A avaliação das habilidades de leitura foi feita através da tarefa de leitura de palavrasisoladas (Salles, 2001; Salles e Parente, 2002a), que inclui estímulos regulares, irregulares epseudopalavras, variando em extensão. As palavras reais variam em freqüência de ocorrência nalíngua. Para analisar a compreensão de leitura textual foram usados reconto de história lida equestionário de com preensão de leitura da mesm a história (Salles, 2001; Salles e Parente, 2002b).Os recontos foram enquadrados em um a de cinco categorias propostas. Foram também aplicadastrês tarefas de consciência fonológica.
Os quatro casos apresentados de crianças com dificuldade de aprendizagem da leiturafreqüentavam a segunda série do ensino Fundam ental de escolas da rede pública estadual, sendoque os três prim eiros (D, M e R) eram m eninos de nove anos de idade, que repetiram uma vez aprimeira série. O último era de uma menina (F) de 8 anos e 4 m eses, não repetente. D.desempenhou corretamente 53,34% da tarefa de leitura de palavras isoladas. Leu precisamente75% das palavras regulares e das pseudopalavras, mas apenas 10% das irregulares. Emcompreensão de leitura textual, acertou apenas 20% do questionário de com preensão de leitura efoi enquadrado na categoria I de reconto de história lida, ou seja, reproduziu frases desconectadas.Nas tarefas de consciência fonológica, ele atingiu escores de 60% em aliteração e em exclusão
fonêmica e 75% em rima. Este caso pode ser interpretado com o apresentando um padrão dedisléxico de superfície, no qual há comprometim ento no desenvolvimento da rota lexical (escoremuito baixo na leitura de palavras irregulares).
O caso M. apresentou 55% de acertos na tarefa de leitura de palavras. Leu maisprecisamente pseudopalavras (70%) e palavras regulares (65%) do que palavras irregulares (30%).Atingiu a menor categoria (I) no reconto de história lida e acertou 40% do questionário sobre ahistória, dem onstrando dificuldades na com preensão de leitura textual. Desem penhoucorretamente 60% da tarefa de aliteração, 75% da de rim a e apenas 20% da tarefa de exclusãofonêmica. Esta criança apresenta um padrão misto de dislexia, cujos déficits são estendidos paraambas as rotas de leitura, especialm ente a rota lexical. Há também dificuldade em tarefas deconsciência fonêm ica.
R. atingiu 61,6% de acertos na leitura de palavras isoladas. Seu desempenho foi superiorpara estím ulos regulares (75%) e pseudopalavras (70%) em relação às palavras irregulares (45%).Atingiu a categoria III no reconto de história lida, relatando os elem entos da história referentes aoproblema e sua resolução, sem explicitar as relações causais entre os eventos. No questionárioacertou apenas três das dez questões propostas. Apresentou dificuldades nas tarefas deconsciência fonológica, com escores de 30%, 55% e zero, em aliteração, rima e exclusãofonêmica, respectivamente. Com base na leitura de palavras, conclui-se que R. apresenta umpadrão de dislexia de superfície, com comprom etimento no desenvolvim ento rota lexical. Noreconto de história foi superior aos dois primeiros, mas seu desempenho ainda sugere dificuldadesem compreensão de leitura textual, especialm ente pelo escore no questionário.
O último caso apresentado (F.) acertou 53,3% da leitura de palavras isoladas e reconheceumais precisam ente palavras regulares (60%) e pseudopalavras (65%) do que palavras irregulares(35%). Demonstra, portanto, um padrão de disléxico m isto, com dificuldades em ambas as rotas,mais acentuada na rota lexical (leitura de palavras irregulares é m enos precisa do que a depseudopalavras). Em compreensão de leitura textual atingiu a categoria II no reconto de histórialida, ou seja, relatou alguns eventos presentes na história original, m as com muitos acréscimos ouredefinições, sendo pouco fiel à história, e respondeu corretamente 40% do questionário. Osescores nas tarefas de aliteração, rima e exclusão fonêm ica foram, respectivamente, 70%, 45% e20%.
O grupo de leitores competentes foi com posto por quatro crianças, três meninas e ummenino, com média de idade de 8 anos e 2 m eses, freqüentando a 2ª série do EnsinoFundamental. Este grupo apresentou elevado desem penho na leitura de palavras regulares (M =96,25%), irregulares (M = 88,75%) e pseudopalavras (M = 82,5%). Com base nestes dados,conclui-se que eles usam de forma proficiente ambas as rotas de acesso ao léxico, principalmentea lexical (leitura de palavras reais m ais precisa do que de pseudopalavras). No reconto de histórialida foram enquadrados nas categorias mais elevadas (IV e V), caracterizadas por reproduçõesglobais da história, com certa articulação entre as idéias e presença de inferências. Este grupoapresentou, portanto, uma boa compreensão de leitura textual e desem penho elevado em tarefasde consciência fonológica (Média de acertos em rima, aliteração e exclusão fonêmica,respectivamente, de 75%, 85% e 90%).
Os casos com dificuldade de aprendizagem da leitura apresentados sugerem que estascrianças dem onstram com prometim ento no desenvolvimento/uso de ambas as rotas de leitura,principalmente na lexical. A compreensão de leitura textual mostra-se defasada, tanto na tarefa deresposta a questões de múltipla escolha, quanto na reprodução oral do texto lido. Estes resultadoscorroboram a idéia de que a identificação das palavras é necessária para com preender um texto,embora ela não seja suficiente (Alégria et al., 1997). Foram observadas, ainda, dificuldades nodesempenho de algumas tarefas de consciência fonológica, quando comparado ao grupo deleitores competentes.
É importante salientar que não se quer afirmar que estas crianças estudadas comdificuldades de aprendizagem da leitura sejam disléxicas, mesm o porque a bateria de avaliaçãousada está incompleta para diagnóstico. Nosso objetivo foi identificar os déficits subjacentes aodesempenho em leitura, com base em um m odelo teórico dos processos envolvidos na leitura, eusar esta análise para direcionar as estratégias de intervenção a serem aplicadas nestas crianças.Considerando os estudos internacionais sobre as dificuldades no aprendizado da leitura, ainstrução em consciência fonológica tem se mostrado efetiva, especialmente quando com binada
com tarefas de leitura (Hatcher, Hulme e Ellis, 1994). Porém, a extensão das conclusões para ascrianças brasileiras deve ser feita com cautela, em função das diferenças encontradas entre ossistemas de escrita alfabéticos.
As crianças com dificuldades de aprendizagem da leitura estudadas parecem estardesenvolvendo habilidades de reconhecim ento de palavras por rota fonológica, porém aindapermanece deficitária a construção de um léxico ortográfico que as perm ita acesso direto aosignificado. Share (1995) defende a teoria da lexicalização da rota fonológica, o que parece nãoestar ocorrendo nestes sujeitos. Este autor propõe a hipótese de que cada encontro dedecodificação bem sucedido com um a palavra não familiar provê uma oportunidade para adquiririnformação ortográfica, que é o fundamento do reconhecimento de palavra competente. Destaform a, a consciência fonológica, intim amente relacionada ao desenvolvim ento da rota fonológica,parece realmente im portante para a construção de ambas as rotas de leitura, como propõem Stuarte Coltheart (1988).
Manis, Seidenberg, Doi, et al. (1996) sugerem que o padrão de disléxico de superfície(m aior comprom etimento da rota lexical) é melhor descrito como um atraso de desenvolvim entogeral m ais do que com o um padrão de leitura desviante, decorrente de habilidades fonológicasdeficitárias com binadas com inadequadas experiências de leitura. W itter (1996) destaca ainfluência do ambiente sociocultural mais próximo em que vive o leitor e do am biente da própriaescola no processo de aprendizagem da leitura. Diante destas questões, compreendem os que asdificuldades de aprendizagem de leitura e de escrita não têm sua origem apenas nascaracterísticas individuais dos alunos, mas, também em fatores relacionados à fam ília, à escola eaos contextos sociais.
A competência em leitura é um a habilidade psicolingüística influenciada por vários fatores,dos quais salientamos os cognitivos. Podem os lançar a hipótese de que as dificuldades de leituraencontradas nos casos estudados parecem estar m ais relacionadas a questões extrínsecas(exposição a materiais escritos) do que intrínsecas à criança, já que as habilidades básicas dereconhecim ento fonológico de palavras estão presentes, sendo semelhantes às crianças maisnovas com desenvolvimento típico. A inserção da linguagem escrita no contexto social da criança eo uso efetivo das habilidades de leitura farão do leitor iniciante um leitor proficiente.
O papel do processam ento de inferências na com preensão textualO processo de leitura competente engloba não apenas as habilidades lingüísticas formais,
ou seja, os componentes gram aticais da linguagem escrita: fonologia, morfologia, sintaxe esemântica. Concerne, ainda, às habilidades cognitivo-lingüísticas pragmáticas. Uma análise desteprocesso à luz da Neuropsicologia e da Psicologia Cognitiva rem ete ao estudo do conceito deespecialização hem isférica, ou seja, da noção de que cada metade do cérebro assume funçõescognitivas específicas, desenvolvida a partir de dados oriundos de pacientes com lesãoneurológica.
A dicotomia entre hem isfério esquerdo (HE), reconhecido historicamente como dom inantepara a linguagem, e hem isfério direito (HD) é caracterizada, atualm ente, por um certo consenso noque tange às especializações hem isféricas de diferentes funções cognitivas. O HE éreconhecidam ente considerado como responsável pelo conhecim ento e pelo pensamentolingüísticos, pelo raciocínio analítico, assim como pelo funcionam ento da mem ória verbal e deaspectos de expressão e recepção da linguagem. Em contrapartida, o HD é relacionado comfunções distintas, tais como, percepção visuoespacial, inteligência social e em ocional ereconhecim ento de expressões faciais (Critchley, 1962; Gold e Kertesz, 2000; Joanette, Goulet eHannequin, 1990; Joseph, 1996). Quanto à linguagem , as especializações hem isféricas giram emtorno da demarcação de seus componentes estruturais (Bogen, 1997). Apesar do significado(semântica) ter representação em am bos hemisférios, o lado esquerdo do cérebro é responsávelpelos dem ais aspectos estruturais, como a fonologia (combinação dos sons para a formação depalavras), a morfologia (regras de formação lexical) e a sintaxe (regras de organização de frases).O HD, no entanto, responsabiliza-se pelos aspectos funcionais da com unicação oral e escrita, ouseja, a pragm ática. Embora cada hemisfério apresente diferentes especializações, a comunicaçãoefetiva é considerada, por Brownell, Gardner, Prather e Martino (1995), um produto dofuncionamento complementar de ambos.
A partir da meta-análise de dados obtidos por diversos estudos, Paradis (1998) relaciona acompetência lingüística estrutural e a com petência lingüística pragm ática com a lateralizaçãohem isférica, no uso norm al da linguagem . A prim eira faz referência à interpretação literal dosignificado das sentenças, à medida que é independente do contexto, sendo sua interpretaçãosemântica derivada do significado explícito das palavras e da estrutura gramatical inerente àform ulação das frases. Ela está associada às habilidades lingüísticas específicas do hem isfériocerebral esquerdo. A segunda diz respeito às regras do discurso, englobando regras depressuposições e inferências, assim como quaisquer aspectos extra-sentenciais dependentes docontexto comunicativo. É chamada pelo autor de com petência paralingüística, por estar associadaao processamento da com unicação, que inclui tanto aspectos da linguagem verbal quanto da não-verbal (prosódia, por exemplo).
Esta diferenciação entre competências lingüística e pragm ática está relacionada àimportância de am bos os hemisférios para o uso normal da linguagem na com unicação diária dosindivíduos. Para que haja um entendim ento mútuo entre interlocutores através de um discurso oralou escrito, torna-se essencial, além da com preensão e da expressão literal adequada da forma dalinguagem utilizada (sintaxe, morfologia e fonologia), o processamento receptivo e expressivo deaspectos não-verbais ou paralingüísticos. Assim, a partir destas habilidades comunicativaspragm áticas e prosódicas, o indivíduo pode apreender as mensagens que não são explicitadas porseu interlocutor, por considerá-las óbvias.
Este aspecto funcional do componente pragm ático da linguagem reflete-se em diversashabilidades e situações comunicativas escritas. Dentre as funções comunicativas específicas doHD, encontra-se o processamento de inferências. Segundo Gutiérrez-Calvo (1999), as inferênciasconsistem em representações mentais que o leitor ou ouvinte constrói na compreensão de umtexto ou discurso, a partir da aplicação de seus próprios conhecim entos às indicações explícitas damensagem. As informações explícitas, conectadas a conhecimentos prévios relevantes aoentendimento do conteúdo lingüístico, induzem à inferência, ou seja, à compreensão deinformações im plícitas, por relação ou associação causal, temporal, espacial, semântica oupragm ática. Todos os tipos de discurso não-literais, como humor, metáforas (figura de linguagemna qual o significado de uma palavra ou frase é substituído por outro significado conotativamentesemelhante) e atos de fala indiretos (intenções expressas indiretamente na m ensagem verbal),requerem o processamento de inferências contextuais.
As habilidades pragm áticas e de processam ento de inferências são fundam entais emtarefas de compreensão e produção de narrativas. Joanette e colaboradores (1990) m encionamque este processamento está relacionado aos aspectos de coesão e coerência, principalmentequando a com preensão do texto dependente do contexto é necessária, como em textos de humor,sarcasmo e ironia. Além disso, também é im portante para tarefas de encontrar a moral em fábulas,pois, para tanto, é necessário sintetizar e interpretar informações implícitas do discurso. McDonald(2000) acrescenta a realização de inferências com o um processo requerido para a com preensãoda perspectiva dos interlocutores nos discursos escritos.
A com preensão desta perspectiva é discutida na teoria de atos de fala, formulada porSearle (1969; 1979). Este pressuposto baseia-se na visão de que a linguagem é umcomportamento intencional. Assim , a m ensagem verbal não está lim itada à transmissão deinformações literais, m as também é utilizada para comunicar um a intenção. Deste modo, háintenções implícitas em algumas expressões comunicativas, tais como, ordens, pedidos,promessas, desejos ou afirmações. As diferentes intenções comunicativas são denom inadas, peloautor, atos de fala, considerados as unidades básicas da com unicação humana. Searle (1969)salienta que freqüentemente o que é expresso, ou seja, o conteúdo da mensagem, significa maisdo que realm ente é dito. Neste contexto, o autor contrapõe os atos indiretos e os diretos, sendoestes últimos considerados os casos mais simples de significação, nos quais o falante tem aintenção de que o ouvinte com preenda a m ensagem exatamente com o ela lhe é dita. Ao contrário,nos atos de fala indiretos, o falante comunica ao ouvinte informações implícitas além daquelasexplícitas, utilizando-se das informações verbais e não-verbais de base, por eles compartilhadas,assim como das capacidades de inferência que o ouvinte deve apresentar. Por exemplo, quandouma mãe vê seu filho entrando em casa com os sapatos sujos de lama e diz: “- Meu filho, olhe,você está sujando toda a sala! ”, ela não está solicitando que ele olhe a sala, mas sim que tire ossapatos sujos.
A inferência exigida para o entendim ento de textos está baseada predom inantem ente naassociação de informações contextuais com o conhecimento prévio do indivíduo. Assim, podem-seidentificar fatores determ inantes para o processam ento inferencial tanto no texto quanto no leitor.Os fatores do texto englobam a presença de implicações – palavras ou frases indutoras deinferências, relevância da informação im plicadora na estrutura hierárquica de coerência textual e adistância no texto – quantidade de informações que podem ser inferidas a partir das informaçõesexplícitas. Os fatores do leitor correspondem aos conhecimentos prévios de mundo que estepossui, assim como à sua capacidade de memória de trabalho (mem ória operacional).
A realização de inferências ocorre quando se ultrapassa o significado literal de um texto(Harley, 2001). A linguagem não literal é processada em três estágios. No primeiro, o sentido literalé apreendido. No segundo, ocorre uma comparação entre o significado literal e o contexto para severificar a consistência do primeiro com o últim o. No terceiro estágio, caso o significado literal nãoseja condizente com o contexto, o significado metafórico é a alternativa cognitiva de escolha.Glucksberg, Gildea e Bookin (1982), todavia, concluíram, em sua pesquisa sobre compreensão demetáforas, que há um processamento simultâneo dos significados m etafórico e literal. Embora hajacontrovérsias quanto à seqüência de processos cognitivos, evidencia-se que, para a compreensãode uma m etáfora, é necessário um certo afastamento do significado concreto das palavras que acompõem para que os conceitos a elas correspondentes sejam tratados em um nível abstrato.Exemplificando-se estes processamentos, menciona-se a seguinte sentença componente de umtexto: “Minha mãe chorou sobre o leite derramado”. Neste caso, não ocorreu o fato concreto doleite derramado, mas sim esta realidade foi utilizada como uma m etáfora para conotar oarrependimento da mãe.
As inferências podem ocorrer durante a com preensão do texto ou durante suarecuperação. No primeiro mom ento, elas são processadas na recepção da m ensagem escrita, ouseja, elas são construídas. No segundo m om ento, seu processam ento se dá após a recepção damensagem, quando o leitor se recorda do texto, reconstruindo-o.
Além do momento de ocorrência, para o entendim ento de uma leitura com petente, torna-se, ainda, im portante o estudo de sua classificação (Belinchón, Rivière e Igoa, 1996; Gutiérrez-Calvo, 1999; Harley, 2001). Há dois critérios que a norteiam , possibilitando a categorização deinferências quanto ao valor de verdade que assum em ou à sua função na com preensão da leitura.De acordo com o primeiro critério, podem ser lógicas ou pragm áticas. As inferências lógicas sãoaquelas baseadas em regras form ais (exemplo: Luisa tinha três balas e deu uma à Carla.Inferência: Logo, Luisa ficou com duas balas). As pragmáticas correspondem ao conhecim ento querepresenta a realidade de m odo provável, não sendo totalmente certas (exemplo: Luisa tinha trêsbalas e deu uma à Carla. Inferência: Logo, Luisa é uma criança que se relaciona bem com seuspares.). A partir do segundo critério, as inferências podem ser conectivas ou elaborativas. Asconectivas dão coerência local à m ensagem escrita, mediante o estabelecimento de uma relaçãosemântica entre unidades lingüísticas (exemplo: Minha vizinha caiu do décimo andar. Seus amigosestavam tristes no funeral. Inferência: Ela m orreu.). As elaborativas são opcionais, à medida queapenas ampliam as inform ações textuais explícitas (exemplo: Minha vizinha caiu do décimo andar.Inferências possíveis: Ela morreu. Ela está hospitalizada. Ela salvou-se com pequenas lesõescorporais.).
Esta habilidade de processar inferências pode ser avaliada através dos seguintes métodos:medidas de ativação e m edidas de m em ória. Nas prim eiras, a compreensão de informaçõesimplícitas é detectada durante seu processam ento. As tarefas m ais comum ente usadas são as demensuração do tem po de leitura de um a frase implicadora ou indutora de inferência textual ou dedecisão lexical – o tempo de decisão do leitor se um conjunto de letras forma ou não uma palavracom significado, após a apresentação de uma frase indutora. As medidas de mem ória detectamcomo as inferências ficaram armazenadas, através, em geral, de tarefas de recordação livre e derecordação com pistas.
Estudos neuropsicológicos recentes apresentam resultados quanto à dificuldade deprocessamento de inferências na com unicação escrita. Hamm e Hasher (1992) verificaram queindivíduos sem lesão cerebral têm m enor facilidade na habilidade em discussão quando ela érequerida na compreensão de textos do que na conversação diária. Os portadores de lesão de HDtambém processam mais inferências nos discursos orais do que nos escritos, demonstrando umamelhora quando as m odalidades auditiva e visual são apresentadas simultaneamente.
A partir desta discussão teórica, depreende-se que, para um leitor ser eficaz nacompreensão de um texto, deve ser capaz de realizar inferências suficientes quantitativa equalitativamente. As informações textuais devem ser representadas subjetivamente, para que,possuindo habilidades com petentes de reconhecim ento das palavras, compreensão de frases etextos, o indivíduo possa completar esta atividade mental complexa que é o ato de ler.
Dislexia ou transtorno de aprendizagem associado ao distúrbio do processam ento auditivocentral?
Tentando evidenciar o contexto interdisciplinar de cada sujeito, nas concepções de Saúdee Educação, o processo de aprendizagem aparece nas mais variadas teorias e formas para tentarexplicá-lo. No entanto, em poucos casos as idéias dos estudiosos elucidaram o pensam ento e aaprendizagem com o relacionados à cooperação, à contextualização cultural e aos processosmentais superiores, como tentativa de evidenciar a dialética mente/cérebro.
No processo de aprendizagem, a conexão apropriada entre os vários sentidos também fazcorrelacionar a am plitude da percepção no desenvolvim ento cognitivo e sua central im portância naaquisição da linguagem. Neste sentido, Luria (apud CARVALHO, 2000, p.10) afirma que há umaimportante relação entre os fenômenos cognitivo e perceptual, já que “uma vez reconhecido que apercepção é uma atividade cognitiva complexa, que emprega recursos auxiliares, deve-se alterarnoções clássicas de percepção como sendo um processo não mediado que depende unicam entede leis relativamente sim ples”.
O cérebro e as atividades superiores complexas são estrutura e função imprescindíveispara a compreensão das relações dinâm icas e de significância da aprendizagem . Para terconhecim ento dos procedimentos relacionados ao processo de aprendizagem e seus distúrbios énecessário reconhecer, de acordo com Tabaquim (2002, p.59), que “as m anifestações são, namaioria das vezes, reflexos de funções alteradas ou disfunções em áreas de recepção (input),processamento (cognitivos–interativos), expressão (output) das informações principalm ente emrelação à linguagem e ao m ovim ento intencional”. Assim, quando o processo de aprendizagem éinterrompido ou não apresenta subsídio suficiente para efetivar uma aprendizagem eficiente, diz-seque está ocorrendo uma dificuldade neste processo.
Quirós (1992) define a dificuldade na aprendizagem como a discapacidade do processo,causado por problem as nos processos especificam ente hum anos. É, pois, fundam ental para oconhecim ento das dificuldades de aprendizagem, ter noção, não somente do processo sócio-interacional, m as também do processo neuropsicológico ocorrido nas funções m entais superiores,para, assim , fazer uma relação dialógica entre todos os fatores que se apresentam.
No Brasil, dados atuais confirmam, conform e Ciasca (apud GIACHETTI E CAPELLINI,1995), que o percentual de crianças com histórico de fracasso escolar ou dificuldade deaprendizagem é alarm ante. As dificuldades de aprendizagem por origem meramente acadêmicaatingem cerca de 40% da população que freqüenta as séries de alfabetização, um índice bemmaior do que os 10% que aparecem dentro do diagnóstico de escolares com Transtorno deAprendizagem.
O Transtorno de Aprendizagem mais evidente diz respeito ao específico de leitura -Dislexia, que tem um diagnóstico mais especificado na doutrina vigente e conceituação discutidapelos comitês de saúde m undial. No entanto, outro transtorno que tem aparecido com freqüênciaem escolas pode ser classificado dentro dos Transtornos gerais de Aprendizagem , e refere-se avários comprom etimentos associados ao distúrbio do processamento auditivo central. Tal evidênciaocorre em poucos diagnósticos e, por isso, muitas vezes é o Transtorno de Aprendizagemenquadrado como associado a outra dificuldade.
A Dislexia ou transtorno específico de leitura, de acordo com o DSM-IV (1995), é definidacomo um distúrbio neurológico de origem congênita que acom ete crianças com potencialintelectual norm al, sem dificuldades sensoriais, com situação educacional oportunizada, mas quenão conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a habilidade de leitura e ou escrita. OCID-10 (1993) salienta que é um com prom etim ento específico e significativo no desenvolvimentodas habilidades de leitura, o qual não é unicamente justificado por idade m ental, problemas deacuidade visual ou escolaridade inadequada, acometendo, de acordo com Nico et al. (2000), 5%das crianças em idade escolar.
Os casos de Transtornos de Aprendizagem mais intrigantes, na área escolar, dizem
respeito à Dislexia de desenvolvimento, visto que existe um grande núm ero de Transtornos deleitura sem etiologia adquirida. Para uma caracterização geral, a Dislexia torna-se mais evidente noperíodo entre 6 e 8 anos, quando crianças com QI total médio (em torno de 85 para a escala deW eschler) ou acima da m édia apresentam um a dificuldade atípica em aprender a ler, escrever,soletrar e, m uitas vezes, calcular, quando depende da habilidade de leitura e sua interpretação. Háa dificuldade nas habilidades metalingüísticas, que de acordo com os estudos de genéticamolecular e comportamental, indicam ser de origem hereditária. Foram encontrados nos indivíduosdisléxicos alterações no cromossoma 6, responsável pela configuração genética da habilidadeortográfica e atenção fonológica, e no cromossoma 15, responsável pela configuração genética dedecodificação de fonem as e reconhecim ento de palavras (GRIGORENKO et al., 1997).
Sabe-se que o indivíduo disléxico apresenta dificuldades no processamento auditivocentral e visual central, visto que as habilidades decorrentes de cada aspecto sensorial são básicospara a leitura. Acredita-se que o processamento e a integração das informações auditivas sãoextremamente necessários à leitura em voz alta, recrutando o feedback e input auditivo noprocesso de leitura. Da mesma forma, é im portante na leitura silenciosa, porque exigesubvocalização e resgate de informação auditiva estocada na mem ória de trabalho.
Os resultados dos exames do processam ento auditivo central em sujeitos disléxicos podeevidenciar déficits de decodificação fonêm ica; de associação auditivo-lingüística; de integraçãointer-hem isférica (BELLIS, 1996), de organização de saída (eferência) e de função não-verbal(ALVAREZ et al., 2000). Desta form a, como a Dislexia envolve fatores relacionados à percepçãoauditiva, é m uito claro que em identificações prévias possa-se não considerar que o sujeito venha aapresentar Transtorno de aprendizagem com associação específica a dificuldades perceptivas, taiscomo o Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processam ento Auditivo Central.
O Processamento Auditivo Central não está relacionado unicamente à capacidade deouvir, mas também, conform e Katz e W ilde (1999), com atividades relacionadas às habilidades dedetecção do som, localização, reconhecimento, discrim inação, memória, compreensão e atençãoseletiva. Além dessas, outras habilidades auditivas foram estudadas, tais como: fusão ou síntesebiaural, separação biaural, aglutinação, figura-fundo (PAGE, 1985, RUSSO e SANTOS, 1993),fechamento (RUSSO e SANTOS, 1993) e seqüencialização (RUSSO e BEHLAU, 1993).
Assim sendo, quando ocorre um déficit no processam ento da inform ação auditiva,decorrente da insuficiência de algum a das habilidades relacionadas, encontra-se o que a literaturaatual classifica com o Distúrbios do Processam ento Auditivo Central. Um déficit do ProcessamentoAuditivo Central está presente, portanto, quando o sujeito não é capaz de fazer uso pleno do sinalouvido.
Page (1985) salienta que crianças portadoras de disfunção auditiva, em virtude dasexigências escolares, são identificadas entre os 6 e 8 anos com m uitos problem as no desem penhoescolar, em especial no aprendizado da leitura, apresentando dom inância m anual esquerda oumista, ocasionalmente atrasos na história do desenvolvimento da linguagem oral, sem, no entanto,demonstrar quaisquer evidências de danos, sinais neurológicos ou inteligência fora dos lim itesnormais. Menciona, também, que crianças com Distúrbio do Processam ento Auditivo Centralapresentam um histórico de boa saúde, com exceção de infecções recorrentes da orelha média.
Um outro atributo comum em crianças com Distúrbio do Processam ento Auditivo Central éa dificuldade de ler e com preender o que foi lido. Norm almente demonstram dificuldade emfonemas, discrim inação de palavras e soletração. Podem confundir sons de palavras sim ilares e asregras de linguagem, que, geralmente, são aprendidas com dificuldade. No texto, podemapresentar troca de fonemas, omissão de palavras, erros nos tempos verbais.
Um estudo realizado pela PUCRS (PERUSSO, 2003), baseado em um a abordagemquantitativa de investigação, teve o objetivo de levantar as características diferenciais entre oTranstorno Específico de Leitura – Dislexia e Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbiodo Processam ento Auditivo Central. Investigaram-se as características neuropsicológicas de seissujeitos com Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento AuditivoCentral e/ou Dislexia, fazendo correlação entre achados com portam entais, psicopedagógicos efonoaudiológicos e a discapacidade apresentada na testagem neuropsicológica e audiológica,verificando as possíveis disfunções neurológicas. Para isso questionou-se:
Que elementos aparecem nos resultados das avaliações psicopedagógica, fonoaudiológica eneuropsicológica em sujeitos com Transtorno específico de Leitura – Dislexia e Transtorno deAprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento Auditivo Central?
Que elem entos diferenciam -se nos resultados das avaliações de sujeitos disléxicos e sujeitoscom Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processam ento Auditivo Central?
Quais as relações que devem ser realizadas entre os resultados das avaliações para umdiagnóstico diferencial entre Dislexia e Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio doProcessamento Auditivo Central?
Quais as características mais evidentes em sujeitos com Dislexia e em sujeitos com Transtornode Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento Auditivo Central?
Fizeram parte desta pesquisa seis alunos participantes do laboratório de aprendizagem do1º e 2º anos do Ciclo II de formação, de um a escola m unicipal da cidade de Porto Alegre, com faixaetária de 9 anos e 8 m eses a 12 anos e 2 m eses, três meninos e três meninas, pertencentes àclasse econômica média baixa. Os seis alunos foram escolhidos dentre 41 alunos pertencentes aoLaboratório de Aprendizagem do Ciclo II da escola, que apresentavam Transtorno deAprendizagem principalmente relacionado à dificuldade de leitura e escrita, com características deinsistência na dificuldade de aprendizagem, com portam ento de desatenção, falta de compreensãode informações e nenhum histórico de dificuldades emocionais, neurológicas e sensoriais.
Os Instrumentos utilizados neste estudo compreenderam testes psicopedagógicos efonoaudiológicos, exam es clínicos, avaliação perceptiva cognitiva, neuropsicológica e audiológica.A prim eira etapa de avaliação com preendeu exame Otorrinolaringológico e Oftalm ológico,avaliação psicopedagógica, através de Teste de Ditado Balanceado, Teste de Leitura de SílabasComplexas (Moojen, 1999) e avaliação dos níveis de leitura, escrita e compreensão, e aplicação daescala W echsler de Inteligência para criança e do Teste Gestáltico Visuom otor de Bender. Aavaliação Neuropsicológica específica foi realizada através do teste elaborado por Tabaquim eCiasca (2001).
A bateria de Testes do Processamento Auditivo Central foi com posta de Teste de Fala comruído, Teste de Escuta com Dígitos, Teste de Logoaudiometria Pediátrica – PSI, Teste StaggeredSpondaic W ord (SSW ), Teste Pitch Pattern Sequence e DPS, envolvendo testagem de escutadicótica e monótica, cada qual tentando investigar lesões específicas no caminho da informaçãosonora do tronco encefálico até o córtex. Para complem entar a testagem audiológicacomportamental, realizou-se testagem eletrofisiológica, através do teste de Audiometria de TroncoEncefálico – BERA e Otoemissões Eletroacústicas – a OEA. Por fim , com o intuito de se obtermaiores informações sobre o comportamento e rotina escolar, efetivou-se um questionário para osprofessores-referência das turmas dos alunos participantes.
No questionário apareceram preocupações dos pais e professores quanto à dificuldade deleitura e de escrita dos alunos. As avaliações pediátrica, otorrinolaringológica, oftalmológica eneurológica não evidenciaram alterações que pudessem excluir a hipótese de diagnóstico emDislexia ou Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento AuditivoCentral. A avaliação psicológica, envolvendo verificação do Quociente de Inteligência (QI),demonstrou pontuação entre 85 e 107 pontos.
Na amostra, verificou-se que os sujeitos 3 e 6 apresentaram reduzida velocidade da leitura,alto núm ero de erros na escrita de palavras, envolvendo muitas substituições, om issões, inversões,transposições e contaminações, além de alterações em nível de sílaba e de fonema nashabilidades metalingüísticas de consciência fonológica. No entanto, todos os seis sujeitos, mesmoaqueles que apresentaram m enores dificuldades na testagem psicopedagógica, demonstraramdificuldades de ordem neuropsicológica, além de Distúrbio do processamento auditivo central.
Os sujeitos 3 e 6 apresentaram várias disfunções neurológicas envolvendo disfunçãotemporal, paríeto-occipital, têmporo-paríeto-occipital em ambos os casos e, ainda, disfunçãofrontal, no caso do sujeito 6. Os sujeitos 1 e 2 também apresentaram disfunção tem poral e o sujeito5 apenas disfunção paríeto-occipital. Com relação aos déficits auditivos apresentados por todos osparticipantes da pesquisa, observou-se déficit de decodificação e organização de saída, no sujeito1; somente organização de saída, no sujeito 2; dificuldade de mem ória auditiva de curto prazo, nosujeito 3; déficit de associação, no sujeito 4; déficit de organização de saída, no sujeito 5 e déficitde integração, no sujeito 6.
Os sujeitos 3 e 6 apresentaram, portanto, maiores problemas psicopedagógicos,
dificuldades nas habilidades m etalingüísticas e maior número de disfunções neurológicas, além dedéficits de Processamento Auditivo Central. Os outros sujeitos analisados apresentaram distúrbiodo Processamento Auditivo Central e uma disfunção neurológica, na maioria relacionada àdisfunção temporal. Assim, sugeriu-se que os sujeitos 3 e 6 apresentassem Transtorno Específicode Leitura – Dislexia, enquanto que os outros sujeitos, Transtorno de Aprendizagem associado aoDistúrbio do Processam ento Auditivo Central.
Com preendendo-se este estudo, entende-se que a complexidade para identificaçãoprecisa no diagnóstico diferencial da Dislexia se deve ao fato de que há ocorrência de altacomorbidade entre este acometim ento e o Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio doProcessamento Auditivo Central. Esta associação dificulta, portanto, o reconhecimento de criançasque apresentam Transtorno Específico de Leitura – Dislexia e crianças com Transtorno deAprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento Auditivo Central. Torna-se, portanto,muito complexo o diagnóstico diferencial entre Dislexia e Transtorno de Aprendizagem associadoao Distúrbio do Processam ento Auditivo Central, já que características dos dois quadros clínicossão sim ilares.
A partir do estudo, salienta-se que a suspeita de Dislexia deve levar à AvaliaçãoNeuropsicológica e Avaliação Auditiva Central, bem como à utilização de m edidas eletrofisiológicasque possam integrar uma avaliação conjunta com as evidências psicopedagógicas efonoaudiológicas. Assim, através do que foi observado nesta investigação, é possível que o sujeitocom característica e suspeita de Dislexia possa ter Distúrbio do Processamento Auditivo Centralcomo processo com órbido; o que não se remete aos sujeitos com Distúrbio do Processam entoAuditivo Central que podem, evidentem ente, não ter Dislexia. Conforme Bellis (1996), sabe-se quehá alta com orbidade entre os dois acometim entos, porém Distúrbio de Processamento Auditivocentral é passível de ser encontrado associado às dificuldades escolares de sujeitos que nãoapresentam Dislexia.
Dentre as conclusões deste estudo, a primeira e mais im portante remete à idéia de que umdiagnóstico diferencial entre Dislexia e Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio doProcessamento Auditivo Central precisa ser realizado com o auxílio das áreas fonoaudiológica,psicológica, psicopedagógica e neuropsicológica, constituindo-se em um diagnósticomultidisciplinar. Pode-se concluir tam bém que: as características comportamentais, clínicas,psicopedagógicas e fonoaudiológicas apresentadas pelos sujeitos disléxicos são sim ilares àsdemonstradas pelos sujeitos com Transtorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio doProcessamento Auditivo Central; a avaliação auditiva central é imprescindível para a verificaçãodas inabilidades auditivas relacionadas ao processamento da informação auditiva e para acompreensão das dificuldades escolares; as dificuldades perceptuais são evidentes no quadrodisléxico; a avaliação psicopedagógica e fonoaudiológica, envolvendo habilidades m etalingüísticas,decodificação e leitura, compreensão e nível de escrita, auxiliam na identificação do perfilacadêm ico do sujeito, bem com o ajudam na hipótese diagnóstica dos Transtornos deAprendizagem e a utilização de medidas eletrofisiológicas de avaliação são importantes paraconfirmar achados encontrados na avaliação auditiva comportamental.
Por fim , salienta-se a necessidade de mais pesquisas, no Brasil, envolvendo Dislexia eTranstorno de Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processam ento Auditivo Central, com ointuito de que se possam conhecer índices m ais fidedignos e estimativas contextualizadas àrealidade brasileira. Por conseguinte, em virtude dessa inter-relação de áreas, o diagnósticodiferencial entre esses transtornos ainda não pode ser adequadam ente padronizado ourelacionado a aspectos característicos específicos. Este diagnóstico perm anece muito maisrelacionado a critérios subjetivos, aspectos comportamentais e na relação entre dados einformações da funcionalidade neurológica, em cada caso. De acordo com Galaburda (1993) aDislexia não é apenas um problema para a área educacional, mas um complexo desencadeamentode dificuldades relacionadas a aspectos médicos e biológicos e suas conseqüentes repercussõespara toda a vida do sujeito. Parece mais evidente, após este estudo, que o diagnóstico dosTranstornos de Aprendizagem deva ser individualizado, sendo que cada caso apresenta m uitasform as de relacionar os achados encontrados. Por isso, fica clara a seriedade do diagnóstico emDislexia, longe das facilidades que m uitos protocolos encontram para rotulá-la.
Alfabetização e iletrism o: discutindo o espaço escolar da escritaA difusão social da escrita fez com que em ergissem novas classificações para nomear e
posicionar as pessoas, de acordo com o grau de intim idade ou de afastamento, de domínio ou dedesconhecimento dessa tecnologia de com unicação. Denominam-se escritores, autores, redatores,críticos literários os profissionais da escrita. Aliado a isso, após a institucionalização da escritacomo conhecim ento escolar, ela assum e um valor socialmente paradigm ático, e até m esmo quemnão tinha nada a ver com ela, nem mesm o sabia de sua existência, passa a ser definido com o“analfabeto”. Os desdobramentos tecnológicos e sociais da escrita constituíram condições para aemergência de novos nom es, tais como os “letrados” e os “iletrados”. Aqui, interessa-me discutirdois sentidos que marcam duas posições diferenciadas do conhecim ento da escrita: aalfabetização e o letramento.
Assistimos à transformação social dos sentidos atribuídos às palavras “escrita” e “leitura”,ou melhor, ao resultado da aquisição da escrita e da leitura; tal resultado deixa de ser denominadode “alfabetização” para ser chamado de “letramento”. Esse deslocamento não significa umasim ples troca de palavras, m as revela a emergência de uma nova conceituação de escrita e deleitura; reconfigura as capacidades cognitivas a elas atribuídas; questiona as práticas,institucionalizadas ou não, de seu ensino e aprendizagem; relaciona, de um a maneira diversa,oralidade e escrita; modifica as expectativas sociais de um contingente formado por esses novosleitores e escritores; outrossim , redefine as possibilidades sociais e cognitivas dos cham adosanalfabetos.
A expressão “alfabetização” definiu e consolidou um sentido, tanto à escrita, quanto àleitura, no transcurso do próprio processo de escolarização da escrita. Assim, a ação de escrever,com o decorrer do tempo, assume o sentido de uma habilidade de codificação do som à letra; e aação de ler, o sentido de uma habilidade inversa, ou seja, a decodificação da letra ao som. Essacapacidade, codificadora e decodificadora, que possibilita um a ajuda à m em ória, o acesso àinformação cotidiana, um a substituição da oralidade, desem penhou, desde a época do início dauniversalização da escola, até bem recentemente, um a importante função na sociedade. As novastecnologias da com unicação, desde o aparecimento da imprensa e, mais recentem ente, do rádio edos dem ais m eios de com unicação de m assas, vêm alterando esse estado de coisas, ao constituirmodos diferenciados de acesso à inform ação e à comunicação, principalm ente àquela m aiscotidiana. Esses modos diferenciados de acesso põem em questão o sentido, o uso e a validadeda escrita entendida somente como uma representação da fala.
Percorrendo a literatura, existe a possibilidade de demarcar a fenomenologia dessedeslocam ento. Encontram os os term os: iletrism o (Foucam bert, 1994); analfabetismo secundário(Viñao, 1993); analfabetismo funcional (Cook-Gumperz, 1991)1. Esse sintoma é observado, comperplexidade, em lugares onde se supunha existir uma cultura letrada: em sociedades onde aescolarização atinge a quase totalidade da população, em grupos sociais que freqüentaram algunsanos escolares. A subjetividade iletrada apresenta como traços m ais característicos, segundoViñao (op.cit.), a dificuldade de articular um discurso, seja oral ou escrito, sério e coerente; umatemporalidade fugaz, que se traduz em uma m emória prisioneira de um tem po presente, im ediato,sem conservação do passado ou antecipação do futuro; um a atenção muito curta e dispersa; aimpossibilidade de dar coerência e relevância seletiva a um a sobre-informação pobre,insignificante, trivial e contraditória; a insuportabilidade do silêncio (Ong, 1987); um consentim entonão crítico aos produtos da indústria cultural, um consumismo passivo e irreflexivo; a carência deuma metalinguagem que facilite a análise de qualquer discurso; a predominância do imaginar sobreo pensar, um afastam ento das redes sociais de escrita (Foucam bert, op.cit.).
Se, de um lado, o analfabetism o representa uma não-apropriação, um desconhecimento docódigo escrito – seja devido à predominância de uma cultura oral ou à exclusão do mundo dasletras –, de outro lado, o iletrismo consiste num afastamento da prática da leitura e da escrita, das
1 – Foucambert (1994) diferencia analfabetism o funcional de iletrismo. O analfabetismo funcional, para o autor, refere-se àperda do dom ínio das técnicas de correspondência grafo-fonéticas, decorrente da falta de exercício com as mesmas. Já oiletrismo se caracteriza pelo afastam ento das redes de comunicação escrita, pela exclusão do indivíduo das preocupaçõese respostas, contidas na elaboração da coisa escrita.
redes sociais de escrita. Neste último caso, apesar de conhecer o código alfabético e as regras desua construção, o sujeito se sente com o um estrangeiro em tal território. Ler e escrever constituematividades penosas, cansativas, de pouca ou nenhuma relação com seu cotidiano vivido: um aatividade praticamente dispensável para seu trabalho ou, até mesm o, para seu lazer. Os iletrados,mesmo sendo capazes de entender a escrita e produzir pequenos bilhetes, necessitam para issofazer tamanhos esforços que, se puderem, não recorrerão a qualquer texto.
Em suma, alfabetização e letram ento consistem em duas maneiras de posicionar-se frenteà escrita, que recorrem a estratégias e a operações cognitivas diferentes. Foucam bert (op. cit.) falaem duas “leituras”: a alfabética e a léxica. Para o autor, o leitor alfabético e o leitor léxico operamdiferencialm ente:
O primeiro procura na escrita os índices gráficos que correspondem aunidades fônicas; deve apreendê-los na seqüência correta para construir osignificante oral e trabalha então sobre o sentido, um pouco como alguémque escuta outra pessoa falar. O segundo antecipa o sentido que vaiencontrar. Formula, portanto, hipóteses sobre as formas escritas queaparecerão e vai em busca de um mínimo de índices para significá-la (p.29).
O deslocamento do sentido de alfabetização para letramento também se inscreve noconjunto das transformações decorrentes da relação entre a escrita e a fala. A alfabetização, emseu sentido escolar, tem atribuído à escrita o papel de uma representação da fala, reservando-lheuma função segunda e instrum ental. O privilégio da fala sobre a escrita pode ser apontado desde opensam ento grego: para Aristóteles, segundo Derrida (1973), a “essência” da fhoné seria a desim bolizar os estados da alm a, e a “essência” das palavras escritas, por sua vez, seria a desim bolizar as palavras faladas. Por ser a produtora dos primeiros símbolos, a voz teria com a alm auma relação de proxim idade im ediata, uma espécie de tradução natural. Segundo o m esm o autor,Saussure retom a a definição tradicional de escrita de Platão e Aristóteles, ao propor que a únicarazão da existência da escrita é a de representar a língua. Todo significante escrito seria derivado,não tendo função constitutiva, fosse ele técnico ou representativo.
A noção de subordinação da escrita em relação à fala pode ser concebida com odecorrente de um “fonocentrismo” – proxim idade absoluta da voz e do ser, da voz e da idealidadedo sentido – (Derrida, op.cit., p. 14), fonocentrismo esse que pode ser pensado como constitutivo deuma época, dos modos de conhecer e de escrever a história do mundo e das coisas.
Já a noção de letramento pode ser pensada como decorrente de uma m odificação narelação entre a escrita e a fala, ou seja, da desconstrução desse fonocentrismo. O conceito deescrita passa a com preender o de linguagem. Para Derrida (op.cit.), existe uma tendência atual dedesignar por escrita:
não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica, mastam bém a totalidade do que a possibilita; e a seguir, além da face significante, atém esmo a face significada; e, a partir daí, tudo o que pode dar lugar a um a inscriçãoem geral, literal ou não, e mesmo que o que ela distribui no espaço não seja daordem da voz: cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas também ‘escritura’pictural, musical, escultural, etc. (p. 11).
Se, na escola, a alfabetização se produz fundalm entalmente pela ênfase nos aspectosorais da escrita; e se esta for concebida com o uma técnica de codificação da fala – então pode-sepensar que essas relações configuram uma tríade de correspondências: oralidade-escolarização-alfabetização, por diferenciação em relação a uma segunda tríade: escrita-tecnologias da palavra-letramento. Poder-se-ia pensar, então, que a “alfabetização” estaria para a escolarização assimcomo o “letramento” estaria para a tecnologização da palavra.
Defendo, em trabalho de 1996 a idéia de que a escola constrói o que se poderia chamar deuma ecologia cognitiva da escrita escolar, que se caracteriza fundam entalmente por conservar aalfabetização como um a metáfora da oralidade. Comparemos um a passagem , retirada de umaconversa entre uma professora e um escolar de Primeira Série, com a citação de Viñao:
Yuri (7 anos) tenta escrever a palavra balão,após ter escrito a letra “b” e a letra “a” diz: “Só seio ‘ba’ de balão. Falta mais letras para term inar”. -Professor: “E bala?” –Yuri: “É o m esm o ba”. –Professor: “Podes escrever?” -Yuri: “Eu não melem bro” . – Professor: “E aqui (abelha) o queestá escrito?” -Yuri: “Balão.” -Professor: “Ondeestão as letras?” -Yuri: “A, a ... b, b ... e, e, e ... l,... pera aí, abelha” -Professor: “Por que mudastede idéia?” -Yuri: “Eu m e lem brei que é assimque se escreve abelha.”
Num a sociedade oral primária, quase todo oedifício cultural está fundado sobre aslem branças dos indivíduos. A inteligência,nestas sociedades, encontra-se m uitas vezesidentificada com a m emória, sobretudo com aauditiva (Viñao, op. cit., p. 77, grifo m eu).
A cultura oral se conserva fundamentalmente pela capacidade que seus m embros têm delem brar e de memorizar. A memorização das idéias produzidas oralmente privilegia a audiçãocomo sentido e com o fonte de conhecimento. Algum as características dos sons estão implicadasno que se poderia chamar de “psicodinâmica da oralidade”. A palavra falada só tem existênciaquando pronunciada e, paradoxalm ente, só existe quando se extingue, o que significa que o somresiste a qualquer atividade im obilizante. Essa dificuldade de guardar os sons fez com que fossemconstituídas algum as técnicas e procedim entos que ajudassem a sua m emorização, e aconseqüente possibilidade de lem brança, pela retomada de sua enunciação. Assim como Yuri, quesignifica sua atividade codificadora, m otivada pelo entrevistador, como lembrança.
A análise de um conjunto de sentidos escolares sobre a alfabetização faz supor que ofonocentrismo seja a principal característica da ecologia cognitiva escolar da escrita: ofonocentrismo se materializa, na escola, pela ênfase nos aspectos orais da escrita, pelacentralização da informação na pessoa do professor, pelos métodos que se fundam nafonetização, pela prevalência da escrita alfabética, pela m emorização de listas de palavrasiniciadas pela mesma letra, pela recitação das fam ílias silábicas e pelo ditado com o principalmodalidade avaliativa; enfim , por todas as técnicas e exercícios que levaram a conceituar a escritacomo um a transposição da fala. A própria escrita numérica tem sido pensada, nesta ecologia,como uma decorrência da aprendizagem da escrita alfabética, o que produz, pelo menos nasprimeiras séries estudadas, uma conceituação restritiva da escrita num érica – apenas comorepresentação da cardinalidade de uma coleção ou de um conjunto – sem levar em conta arepresentação do sistema posicional.
A discussão da relação do iletrismo com a escola, ou, mais especificamente, a do iletrismocom a alfabetização pode ser significativa. Se é verdade que os iletrados são parcela dosalfabetizados2, então parece lógico perguntar por que e em que m edida a alfabetização escolarpromove ou, pelo menos, não previne que parte de seus egressos, alfabetizados, assumam, frenteà leitura e à escrita, um a posição de não letram ento. Em outras palavras, será que a alfabetizaçãose constituiria em um a forma “infantil” do letramento? Seria uma forma primeira de inserção dosescolares no m undo das letras? Ou, ao contrário, a alfabetização e o letramento seriam de talform a diferenciados que a própria alfabetização poderia se constituir em um obstáculo aoletramento? O iletrismo, tal com o o fracasso escolar (aqui tom ado pela repetência e/ou evasão nasséries iniciais), poderia se constituir em um prognóstico das coordenadas da própria escolarizaçãoe não somente um azar de percurso, cujo diagnóstico tem -se lim itado às condições cognitivas eafetivas dos escolares?
Assim como a repetência e a alfabetização, o iletrismo pode ser produzido pela própriaescola; em outras palavras, existiriam condições concretas para a emergência de umasubjetividade iletrada, nas práticas, nos significados e nos m étodos de ensino da escrita escolar.Afirmar que a escola produz iletrismo e que m esmo alguns professores possam ser considerados
2 – Para Foucam bert (op.cit.) pode ser possível definir que parcela de escolares seria essa: a divisão entre decifradores eleitores coincidiria com a origem social, com o ambiente fam iliar e com as práticas culturais: o estatuto de leitor e o ‘status’social estão estreitam ente ligados (p. 20). Para ele, a escola existe para alfabetizar os que não serão leitores. Os que serãoleitores não deverão esse aprendizado à escola.
iletrados3 constitui-se, sem dúvida, em uma dura crítica, mas pouco acrescenta ao conhecimentodessa relação. Sem a intenção de formular relações causais e logicam ente suficientes, estudei emminha tese de doutorado (Maraschin, 1996) os modos de escrever de escolares que freqüentavama primeira série do nível fundamental. Naquele trabalho foi possível constatar o quanto aalfabetização-fonocêntrica não se constitui, necessariamente, em um etapa prévia do letramento.Isso se opõe a um pensamento corrente no âmbito escolar de que a alfabetização estaria para ainfância assim com o o letramento para a idade adulta. Nesse caso, mesmo escolares queobtenham sucesso na alfabetização, não estariam imunes ao iletrismo. Ao contrário do esperado, aalfabetização escolar não implicaria, necessariam ente, o letramento, sendo, portanto, falsa umacorrespondência direta entre alfabetização e letramento.
Considerações FinaisO objetivo desta sessão foi am pliar o debate entre os trabalhos produzidos na área da
aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, bem como das alterações que ocorrem nesteprocesso, com pontos de vista intencionalm ente diferentes. Acreditamos que, apesar deperspectivas epistemológicas diversas, a análise do m esmo objeto sob vários enfoques enriquecee amplia nossa visão sobre o mesmo. Pensam os que uma perspectiva interdisciplinar enriqueceriaos estudos e análises da aquisição da leitura e da escrita. Portanto, não temos a intenção deconcluir ou encerrar um a discussão de forma consensual, m as sim de tornar visíveis eproblematizar alguns m odos de estudar e intervir no processo de aquisição e nos transtornos dedesenvolvim ento da linguagem escrita.
O encontro destas pesquisas/abordagens propiciou fazermos algum as consideraçõessobre o tema. Um dos pontos que m erece reflexão diz respeito às diferenças entre as dificuldadesde leitura e escrita que constituem um quadro patológico e os atrasos de desenvolvim ento. Estesúltimos, sendo vistos como crianças que diferem daquele “padrão” esperado para a série/idade,mas não parecem diferenciar-se do padrão encontrado em crianças mais novas comdesenvolvim ento típico. Quando estamos nos referindo a crianças de escolas públicas,provenientes de um contexto sócio-econôm ico-cultural m enos favorecido, estas diferenciaçõestornam-se realmente muito mais difíceis. Haase (2000) argumenta que os distúrbios deaprendizagem por inadequações culturais ou carência de estimulação psicológica constituemfenocópias (m imetização de um fenótipo usualmente produzido por um genótipo específico) dosdistúrbios específicos de desenvolvim ento, neste caso da leitura (dislexias). É im portante aindaconsiderar as abordagens de autores como Pennington (1997) e Sternberg e Grigorenko (2003),que consideram que tanto fatores biológicos (neuropsicológicos genéticos) como am bientaispodem causar a dislexia, sendo esta etiologicamente heterogênea.
Desta forma, cabe pensarmos na com plexidade do tem a e na cautela diante danecessidade de um diagnóstico diferencial ou mesmo da possibilidade de fazê-lo de forma segura.É im portante considerar ainda a aplicabilidade deste diagnóstico para além do âm bito clínico,estendendo-o aos âmbitos escolares. O que fará o professor ou mesm o o fam iliar com odiagnóstico ou “rótulo” dado à criança? O trabalho conjunto entre o professor, o clínico e a fam ília éfundamental para que as reais dificuldades e potencialidades da criança possam ser esclarecidas.A contextualização do ambiente de trocas de conhecimento em que a díade aluno-professor estáinserida torna-se, da m esm a form a, um dado im portante a ser olhado no processo diagnóstico dasdificuldades de aquisição e de desenvolvim ento da linguagem escrita.
Um segundo ponto a ser destacado, tentando integrar os aspectos cognitivo e social, équando tratamos da construção de inferências na leitura. Esta é um a habilidade cognitiva que édependente do conhecimento de m undo, da bagagem cultural que o sujeito traz para a atividade deleitura. Como exposto acima, a inferência está baseada predom inantem ente na associação deinformações contextuais presentes no texto com o conhecimento prévio do indivíduo. Daí surge
3 – Sm olka (1988) detectou a posição de iletrismo entre professores de escolas municipais, no interior do Estado de SãoPaulo: A professora não consegue aprender e representar a escrita como um objeto de estudo e de conhecim ento, nemconsegue usá-la como mediadora ou instauradora de conhecim entos. (...) A escrita na escola não serve para coisa alguma,senão para ela mesma (p.p. 36/37).
mais um a justificativa para o discurso tão difundido no meio escolar de que os textos apresentadosàs crianças devem estar relacionados ao seu contexto social, devem ser de seu interesse e tratarde questões que são, ao menos em parte, fam iliares à criança. De outra forma, como poderá estacriança ativar seus esquem as de conhecim entos preexistentes na memória, conhecimentos estesfundamentais para os processos de com preensão textual de alto nível? A complexidade doprocessamento de inferências está altamente relacionada ao grau de motivação que o leitorapresenta ao ler um determ inado discurso escrito, ou seja, ao próprio conteúdo deste texto.
O debate aqui iniciado evidencia diferentes dim ensões do exercício da leitura e escrita.Podemos tomá-la como uma atividade cognitivo-lingüística, que implica colocar em ação uma sériede habilidades e com petências que são ou não favorecidas em am bientes de convivência e desocialização. Podem os então propor que se trata de um a aquisição, ao m esm o tem po, singular ecoletiva. Singular, pois cada um, a seu tem po, necessita por em ação, ativar vários dosmecanismos e habilidades aqui descritos. Mas é também coletiva, pois existem am bientes deconvivência e socialização - que poderíamos definir como am bientes de aprendizagem - quefavorecem ou não a possibilidade de exercício dessas habilidades e competências. Umaintervenção nessa área implica também a atenção às dimensões singulares e coletivas daaprendizagem.
Partindo da visão de Soares (1999), que distingue duas principais dim ensões doletramento - a dim ensão individual e a dim ensão social – consideram os que os três prim eirostrabalhos apresentados inserem-se na dim ensão individual, cujo foco é posto nas característicascognitivo-lingüísticas e neuropsicológicas relacionadas às habilidades de ler e escrever. Quando ofoco se desloca para a dim ensão social, como na última exposição, o letram ento é visto como umfenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e deexigências sociais de uso da língua escrita.
Consideram os ambas as dimensões importantes na análise de todos os profissionais que,de alguma form a, estão envolvidos com a aprendizagem da leitura e escrita, sejam profissionais daárea da saúde, da educação, da psicologia, da sociologia ou da lingüística. Apesar da análise dadim ensão individual e da dimensão social ser prom ovida, em geral, de modo aparentementedissociado, não podemos esquecer que os modos de subjetivação do sujeito-estudante como umleitor estão intrinsecamente conectados com o meio com o qual se relaciona.
Os pontos acim a descritos levam a pensar a própria formação de professores e de clínicosque intervém nos processos de aquisição de leitura e de escrita. A perspectiva de um a aquisiçãoque pode ser entendida como singular e coletiva poderia contribuir para que os futurosprofissionais pudessem pensar em am bientes de aprendizagem enriquecidos e que favorecessemas competências e habilidades específicas, sem esquecer funções de autoria, que im plicam em umexercício de cidadania no m undo das letras e das palavras. É im portante que em sua própriaform ação professores e terapeutas possam experimentar essa função de autoria. Não sóaprendendo técnicas e manejos, mas problem atizando, pesquisando, discutindo as soluçõesadotadas.
Mais especificam ente com relação à formação de professores, os achados científicos naárea da linguagem escrita precisam ser estendidos ao am biente escolar. Sternberg e Grigorenko(2003) apontam três razões para o distanciam ento entre a ciência e o m eio escolar: 1) o discursotécnico e o jargão da ciência, com o qual os leigos não estão familiarizados; 2) opiniões diferentessobre o que constituem as questões cruciais, ou seja, cientistas podem estar mais interessados emdeterm inar qual o crom ossomo contribui para o desenvolvim ento de um tipo específico dedificuldade de leitura, enquanto que, para o educador, as exigências do seu cotidiano impõemoutros tipos de questões e de reflexões; e 3) a inacessibilidade a informações publicadas nosperiódicos científicos da área.
Em grupos com professores nas escolas públicas estaduais, realizados pela primeiraautora, surgem questões do tipo: “com o despertar nas crianças o gosto pela leitura?”, “como fazercom que elas se interessem pelas atividades de leitura e escrita?” Partindo destes exemplos, épossível perceber os grandes desafios com os quais o professor se depara no seu dia-a-dia. Alémde preocupar-se com a aprendizagem em si, ou seja, com a alfabetização, eles precisam pensarem formas de inserir efetivamente seus alunos no mundo das letras, mesm o que, muitas vezes, ocontexto sócio-fam iliar não contribua para isso.
O professor precisa conhecer o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, precisaidentificar quando os seus alunos estão apresentando dificuldades escolares e quando estasdificuldades necessitam de avaliação e intervenção especializada, além de como proceder comestas crianças que são “diferentes”. Mas é preciso ter em mente que o domínio do código escritonão garante o uso efetivo desta m odalidade lingüística no cotidiano. Com o o professor poderiaauxiliar neste sentido? Como evitar que o ler e o escrever se tornem atividades penosas,cansativas, de pouca ou nenhum a relação com o cotidiano da criança?
Também cabe ressaltar as funções de prom oção da aprendizagem, além da funçãoterapêutica. Uma educação que objetiva a prom oção do aprender vai na direção da constituição de umprocesso de aprendizagem que instaure condições de autoria e de inclusão nas redes sociaisde leitura e de escrita, nas quais os professores deveriam já estar vivendo.
Por fim , ressalta-se a necessidade de estudos nessa área, sua repercussão social-educacional, pois ainda estam os distantes de possibilitar a todos os brasileirinhos que seencontram com as letras uma plena aquisição e inclusão nesse domínio de convivência.
ReferênciasALÉGRIA, Jésus., LEYBAERT, Jacquelini, & MOUSTY, Philippe. Aquisição da leitura e distúrbiosassociados: avaliação, tratamento e teoria. In: GRÉGOIRE, Jacques & PIÉRART, Bernadette(Orgs.), Avaliação dos problem as de leitura: os novos modelos teóricos e suas implicaçõesdiagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, pp. 105-124.ALVAREZ, Ana Maria Maaz; ZAIDAN, Elena; BALEN, Sheila A.; GARCIA, Adriana P. DisfunçãoNão-Verbal. Acta Awho, v.19, ano 1, p.49-55, 2000.BELINCHÓN, M.; RIVIÈRE, Angel; IGOA, José. Psicologia del lenguage. Investigación y teoría.Madrid: Trotta, 1996.BELLIS, Terry J. Assessment and Managem ent of CAPD in the Educational Setting. San Diego,CA: Singular Publishing Group, 1996.BOGEN, Joseph. E. Does cognition in the disconnected right hemisphere require right hemispherepossession of language? Brain and Language, 57: 12-21, 1997.BRAIBANT, Jean-Marc. A decodificação e a compreensão: dois componentes essenciais da leiturano 2º ano primário. In: GRÉGOIRE, Jacques & PIÉRART, Bernadette (Orgs), Avaliação dosproblemas de leitura: os novos modelos teóricos e suas implicações diagnósticas. Porto Alegre:Artes Médicas, 1997, p. 167-187.BROW NELL, H., GARDNER, H., PRATHER, P. & MARTINO, G. Language, comprehension and the
right hemisphere. In: KIRSHNER, H. S. (Ed.), Handbook of neurological speech and languagedisorders. New York: Dekker, 1995, p. 325-349.CARVALHO, Glória M.M. Levantamento de questões sobre a relação entre a percepção elinguagem. Psicologia: Reflexão e Crítica, v.13, n.1, p.17-29, 2000.CID-10. Classificação dos Transtornos m entais e de comportam ento da CID-10: Descriçõesclínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: ARTMED, 1993.COOK-GUMPERZ, Jenny. A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes Médicas,1991.CORREA, Jane, SPINILLO, Alina e LEITÃO, Selma. Desenvolvimento da linguagem: escrita eprodução textual. Rio de Janeiro: NAU Editora: FAPERJ., 2001.CRITCHLEY, MacDonald. Speech and speech-lou in relation to the duality of the brain. In:MOUNTCASTLE, V. B. (Ed.), Interhemispheric relations and cerebral dominance. Baltimore: JohnsHopkins, 1962, p. 208-213.DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, Ed. Universidade de São Paulo, 1973.DSM-IV. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª ed, Porto Alegre: ArtesMédicas, 1995.ELLIS, Andrews. Leitura, Escrita e Dislexia: um a análise cognitiva. 2 ed. Porto Alegre: Art Méd,1995.FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.GALABURDA, Albert. Development Dyslexia. Revista de Neurologia, v.149, n.1, p.1-3, 1993.GARCÍA, Jesus. Manual de Dificuldades de Aprendizagem: linguagem, leitura, escrita ematemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.GIACHETTI, Célia M.; CAPELLINI, Simone A. Distúrbios de Aprendizagem: avaliação e programas
de remediação. In: ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE DISLEXIA ABD – Dislexia – Cérebro,Cognição e Aprendizagem. São Paulo: Frôntis Editorial, 1995. p.41-60.GLUCKSBERG, S., GILDEA, P.; BOOKIN, H.B. On understanding nonliteral speech: can peopleignore metaphors? Journal of Verbal learning and Verbal Behavior, 21, p. 85-98, 1982.GOLD, B. T.; KERTESZ, A. Preserved visual lexicosem antics in global aphasia: a right-hemispherecontribution? Brain and Language, 75, p. 359-375, 2000.GOMBERT, Jean Emile. Metalinguistic development. Chicago: University of Chicago Press, 1992.GRIGORENKO, Elena L.; W OOD, Frank B.; MEYER, M.S.; PAULS, D.L. Chromossome 6pInfluences on Different Dyslexia-Related Cognitive Processes: Further Confirmation. AmericanJournal of Human Genetic, n. 66, p. 715-723, 1997.GUTIÉRREZ-CALVO, Manuel. Inferencias em la comprensión del lenguaje. In: Veja, M. & Cuetos,F. (coords.), Psicolinguistica del español. Madrid: Trotta, 1999, p. 231-270.HAASE, Vitor Geraldi. Correlação anátomo-clínica em neuropsicologia do desenvolvim ento. In:HAASE, Vitor Geraldi; ROTHE-NEVES, Rui; KÄPPER, Christoph; TEODORO, Maycolin; W OOD,Guilherme. (Orgs.), Psicologia do desenvolvim ento: contribuições interdisciplinares. Belo Horizonte:Health, 2000.HAMM, Verneda P.; HASHER, Lynn. Age and the availability of inferences. Psychology and Aging,7: 56-64, 1992.HARLEY, Trevor. The psychology of language. New York: Psychology Press, 2001.HATCHER, P. J., HULME, C. & ELLIS, Andrew (1994). Ameliorating Early Reading Failure byIntegrating the Teaching of Reading and Phonological Skills: The Phonological Linkage Hypothesis.Child Developm ent, 65, 41-57.JOANETTE, Yves, GOULET, Pierre.; HANNEQUIN, Didier. Right hemisphere and verbalcommunication. New York: Springer, 1990.JONG, Peter F. W orking Memory Deficits of Reading Disabled Children. Journal of ExperimentalChild Psychology, 70, p. 75-96, 1998.JOSEPH, Richard. Neuropsychiatry, neuropsychology, and clinical neuroscience. Baltim ore:W illiams & W ilkins. p. 75-117, 1996.KATZ, Jack; W ILDE, Lorin. Desordens do Processamento Auditivo Central In: KATZ, J. Tratado deAudiologia Clínica. São Paulo: Manole, 1999, p.486-498.MANIS, Franklin R., SEIDENBERG, Mark S., DÓI, L. M., MCBRIDE-CHANG, C.; PETERSEN, A. Onthe bases of two subtypes of developm ental dyslexia. Cognition, 58, p. 157-195, 1996.MARASCHIN, Cleci. O escrever na escola: da alfabetização ao letramento. Tese de Doutorado.FACED/UFRGS, 1996.MAYRINGER, Heinz; W IMMER, Heinz. Pseudoname Learning by German-Speaking Children withDyslexia: Evidence for a Phonological Learning Deficit. Journal of Experimental Child Psychology,75, p. 116-133, 2000.MCDONALD, Scott. Exploring the cognitive basis of right-hemisphere pragmatic languagedisorders. Brain and Language, 75, p. 82-107, 2000.MOOJEN, Sonia Maria. Dificuldades ou Transtornos de Aprendizagem ? In: RUBINSTEIN, E.Psicopedagogia: uma prática, diferentes estilos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999, p. 243-284.Morais, Jose. Literacy and awareness of units of speech: implications for research on the units ofperception. Linguistics, 23, 707-721, 1985.MORAIS, José. A Arte de Ler. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. NICO,Maria Angela M.; BIANCHINI, Maria Mônica N.; BARREIRA, M.M.; GONÇALVES, ÁureaM.S. et al Introdução à Dislexia In: Associaçâo Brasileira De Dislexia - ABD – Dislexia – Cérebro,Cognição e Aprendizagem. São Paulo: Frôntis Editorial, 2000. p. 11-16.ONG, W alter J. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo de CulturaEconómica, 1987.PAGE, John M. Central Auditory Processing Disordres in Children. Otoryngologic Clinics of NorthAmerica. V. 18, n.2, p. 323-335, May 1985.PARADIS, Michel. The other side of language: pragm atic competence. Journal of Neurolinguistics,11, n. 1-2, p. 1-10, 1998.PENNINGTON, Bruce. Diagnóstico de Distúrbios de Aprendizagem: Um referencialneuropsicológico. São Paulo: Pioneira, 1997.PERUSSO, Denise Inazacki Rangel. Diagnóstico diferencial entre Dislexia e Transtorno de
Aprendizagem associado ao Distúrbio do Processamento Auditivo Central: um estudo de caso emEducação. Dissertação (Mestrado em Educação), 2003. Faculdade de Educação, PontifíciaUniversidade Católica do RGS, Porto Alegre.PINHEIRO, Angela Maria Vieira. Dificuldades Específicas de Leitura: A Identificação de DéficitsCognitivos e a Abordagem do Processamento de Informação. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 11(2), 107-115, 1995.QUIRÓS, Julio B. Fundam entos Neuropsicológicos em lãs Discapacidades de Aprendizaje. BuenosAires: Editorial Médica Panamericana, 1992.
ROAZZI, Antonio. Pesquisa Básica em psicologia Cognitiva e sua relação com a Psicologia Social.Arquivos Brasileiros de Psicologia, 51 (1), p. 23-54, 1999.RUSSO, Ieda Pacheco; BEHLAU, Mara. Percepção de Fala: Análise Acústica do PortuguêsBrasileiro. São Paulo: Lovise, 1993.RUSSO, Ieda Pacheco; SANTOS, Teresa Mohmensonn. A prática da Audiologia Clínica. 4 ed SãoPaulo: Cortez, 1993.SALLES, Jerusa Fumagalli; PARENTE, Maria Alice Mattos Pimenta. Processos cognitivos na leiturade palavras em crianças: relações com compreensão e tem po de leitura . Psicologia: Reflexão eCrítica, v. 15, n. 2, p. 321-331, 2002b.SALLES, Jerusa Fumagalli; PARENTE, Maria Alice Mattos Pimenta. Relação entre os processoscognitivos envolvidos na leitura de palavras e as habilidades de consciência fonológica em escolares.Pró-Fono Revista de Atualização Científica, v. 14, n. 2, p. 141-286, 2002a.SALLES, Jerusa Fumagalli. O Uso das Rotas de Leitura Fonológica e Lexical em Escolares:Relações com Compreensão, Tempo de Leitura e Consciência Fonológica. Porto Alegre, RS.Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento,Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 2001.SEARLE, John R. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.SEARLE, John R. Meanings and expression. Cam bridge: Cam bridge University Press, 1979.SELIKOW ITZ, Mark. Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem. Rio de Janeiro: Revinter,2001.SHARE, David L. Phonological recoding and self-teaching: sine Qua non of reading acquisition.Cognition, v. 55, p. 151-218, 1995.SMOLKA, A. L. B. A criança na fase inicial da escrita. A alfabetização como processo discursivo.São Paulo: Cortez, Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988. SOARES, M.B.Letramento: um tem a em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.STERNBERG, Robert J.; GRIGORENKO, Elena L. Crianças Rotuladas: o que é necessário sabersobre as dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.STUART, Morag, & COLTHEART, Max. Does reading develop in a sequence of stages? Cognition,30, 139-181, 1988.TABAQUIM, Maria Lourdes M. Avaliação Neuropsicológica: estudo comparativo de crianças comParalisia Cerebral Hem iparética e distúrbios de Aprendizagem. 2002. Tese (Doutorado emCiências Médicas) – Curso de pós-Graduação da faculdade de Ciências da Universidade Estadual deCampinas. Campinas/SP.TABAQUIM, Maria Lourdes e CIASCA, Sylvia Maria. Avaliação neuropsicológica de criançasportadoras de paralisia hem iparética congênita: estudo prelim inar. Temas sobre Desenvolvimento,10, 57, 24-29, 2001.TORGESEN, Joseph K. Individual Differences in Response to Early Interventions in Reading: theLingering Problem of Treatment Resisters. Learning Disabilities Research & Practice, v. 15, n. 1, p.55-64, 2000.VIÑAO, Antonio Frago. Alfabetização na sociedade e na história. Vozes, palavras e textos. PortoAlegre: Artes Médicas, 1993.W AGNER, Richard K.; TORGESEN, Joseph K.; RASHOTTE, Carol A.; HECHT, Steve A.; BARKER,Theodore A.; BURGESS, Stephen R.; DONAHUE, John; GARON, Tamara. Changing relationsbetween phonological process abilities and word-level reading as children develop from beginning toskilled readers: a 5-year longitudinal study. Developmental Psychology, 33, n. 3, p.568-479, 1997.W ITTER, Geraldina Porto. Fatores socioculturais e leitura: estudo da produção arrolada no ASIRR(1989/1994). Estudos de Psicologia, 13 (3), 49-56, 1996.
Escrita infantil e os efeitos argumentativos produzidos no texto
Claudia Mendes CamposUFPR / UNICAMP
A argumentação está presente na linguagem infantil desde bastante cedo, como têmdemonstrado tanto trabalhos em aquisição da linguagem (por exemplo, Pereira de Castro, 1996,2001) quanto em educação (Banks-Leite ,1996; Ferro, 1997; Souza, 2001; Santos, 2002). Amesma observação pode ser feita acerca dos textos que compõem o corpus da minha pesquisa dedoutorado: trata-se do conjunto de textos escritos por um a criança (Luisa) entre cinco e dez anosde idade, em que há vários textos que trazem m arcas daquilo que se costum a cham ar deargum entação, produzidos desde os cinco anos de idade. São diferentes tipos de textos. Como sevê, a argumentação está lá na linguagem infantil, seja na fala seja na escrita. Contudo, opesquisador é interrogado acerca das especificidades da argumentação na linguagem da criança.Encontram-se na fala e na escrita infantis traços daquilo que se descreve como argum entação emdiferentes teorias lingüísticas, porém não se pode atribuir a elas o mesmo estatuto da linguagemdo adulto, pois essa semelhança não se traduz em identidade – pelo contrário, ela conduz o olhardo pesquisador na busca do que há de específico na linguagem infantil, daquilo que a singulariza edistingue.
Um dos traços lingüísticos recorrentes na escrita argumentativa de Luisa sãoencadeam entos do tipo X conectivo Y, em que o conectivo abre espaço na cadeia sintagm áticapara a entrada de diferentes elementos no lugar das variáveis X e Y. A partir dessa observação,poderia tentar descrever a argumentação na sua escrita usando a Teoria da Argum entação naLíngua desenvolvida por Ducrot. Embora o objetivo geral de seu modelo teórico não incorpore aanálise de textos, no artigo “Sémantique linguistique et analyse de textes” (1998), Ducrot afirma apossibilidade de analisar textos do ponto de vista da sem ântica lingüística: baseando-se nopressuposto de que a argumentação se fundamenta sobre um argum ento X que se encadeia pormeio de um conectivo a um a conclusão Y, ele tenta demonstrar que seu m odelo possibilita tambéma prática da análise de textos. Para tanto, são selecionados no artigo cinco textos que têm em suacomposição o conectivo m as, e apresenta-se a descrição semântica desse conectivo, apoiada nanoção de orientação argum entativa. No entanto, a descrição oferecida coloca algum as dificuldadespara a análise. Por um lado, a argumentação é tratada como um conjunto de segmentos isoladosentre si, cujo objetivo é persuadir, convencer o interlocutor acerca de um a determ inada conclusão,isto é, cujos objetivos são extralingüísticos, ao contrário do que parece pertinente para a discussãodas especificidades da argumentação na escrita infantil. Por outro lado, tal descrição propõe trataros textos a partir das frases neles contidas, mais especificam ente a partir das relaçõessintagmáticas existentes nas frases. Ao determ inar que o valor semântico das frases só se constituina relação com outras frases da língua, Ducrot centraliza no eixo sintagmático as relações válidaspara a descrição sem ântica, recusando as relações paradigm áticas sob a alegação de que,embora se dêem entre elem entos da língua, elas não seriam de “tipo lingüístico” (1999 [1993], p.3). Como se verá adiante na análise de dados, os aspectos puramente sintagmáticos sãoinsuficientes para entender os efeitos argum entativos observados nos textos infantis. Osencadeam entos estão ali presentes e promovem efeito de argumentação, todavia há outroselementos em jogo e, nesse sentido, não cabe usar o modelo teórico desenvolvido por Ducrot paraa análise da argumentação na escrita da criança.
Cabe ainda destacar que a exclusão do eixo associativo entra em choque com o quadroestruturalista no qual Ducrot insere seu trabalho, uma vez que nesse quadro são atribuídaspropriedades intrinsecamente lingüísticas às relações paradigm áticas. Jakobson (1988), porexemplo, as descreve com o um dos m odos de funcionam ento da linguagem – para ele, a
linguagem tem um “duplo caráter” expresso em dois modos de arranjo: a com binação (relaçõessintagmáticas) e a seleção (relações associativas ou paradigmáticas). Fundamentando-se nasnoções de sintagm a e paradigma propostas por Saussure (1989), Jakobson formula a tese de quea linguagem é constituída por esses dois eixos, isto é, funciona a partir do encontro na cadeialingüística dos eixos sintagmático (o das com binações) e associativo (o da seleção).
Os textos infantis, representativos do submetim ento da criança ao funcionam entolingüístico-discursivo, revelam processos sintagm áticos e associativos na constituição dos efeitosargum entativos. Trata-se de unidades textuais constituídas por critérios outros que não somente odas relações sintagmáticas. A presença de um conectivo na cadeia, em encadeamentos do tipo Xconectivo Y, abre espaço para a argumentação – o conectivo convoca a presença de outroselementos para preencher os espaços abertos e produz-se um efeito de argumentação através darelação que se instaura nesse ponto da cadeia. Relação que é sintagm ática, m as não apenas: hámuitos significantes latentes na cadeia possibilitando a construção de interpretação(ões) para otexto. Isto é, o cruzamento dos eixos sintagmático e associativo produz efeito de sentido, resistindoà potencial dispersão da linguagem e constituindo a argumentação.
O trabalho do teórico da literatura Michael Riffaterre acerca da produção do texto poético(principalmente 1989, mas tam bém 1978) pode ilum inar a reflexão sobre o modo de funcionamentodo discurso argumentativo no texto infantil1. A relevância das idéias desse autor para estadiscussão deve-se à sua inserção em um modelo de análise estruturalista, que valoriza o estudodo texto por seu funcionamento interno e traz algum as propriedades frutíferas para a análise detextos infantis. No entanto, em bora o procedim ento descritivo por ele proposto para a análise dotexto poético seja um instrumento adequado para a análise do texto argumentativo na escritainfantil, não decorre desta afirmação nenhuma proposta de aplicação de modelo teórico. Oacionamento das idéias desse autor tem o único propósito de destacar um modelo de análisetextual que incorpora elementos que me parecem essenciais para a análise dos textosargum entativos escritos por crianças. Um modelo que tom a o texto como um acontecimentolingüístico-discursivo e considera todas as implicações advindas dessa assunção, tais como ocaráter cruzado e constitutivo das relações sintagmáticas e paradigmáticas e a relação entrearticulação e retroarticulação da linguagem. Riffaterre propõe um a análise textual que focalize ascaracterísticas próprias da obra, que desvende e com preenda o com portamento da linguagem naobra literária. Estas opções teóricas tornam pertinente sua aproxim ação do presente estudo, umavez que o objetivo desta pesquisa é compreender as especificidades do funcionam ento dalinguagem na argumentação infantil.
Para Riffaterre, a unidade de sentido não está na palavra, m as no texto. A significância daspalavras deve-se à sua relação no interior de um texto, elas não valem por si mesm as (cf.Compagnon, 1999). É no cruzamento entre os eixos sintagmático e paradigm ático que ele define aunidade de estilo (unidade de análise). Ao m esmo tempo, ele considera que a unidade de estilonão pode ser obtida através de uma segmentação “normal” que leve a unidades como a palavra ea frase – a unidade literária seria um conjunto de palavras ou frases agrupadas por critérios outrosque não o das relações sintagm áticas (Riffaterre, 1989, p. 7).
Com o objetivo de com preender os elementos textuais que sustentam os efeitosargum entativos promovidos pelo texto infantil, discutirei a seguir dois textos escritos por Luisa entrecinco e seis anos de idade. Pretendo desenhar um quadro geral das possibilidades analíticasoferecidas por um tratamento dos textos que considere os m ovim entos da língua e do discurso, osprocessos metafóricos e m etoním icos, os paralelismos, as atualizações de clichês, em suma osefeitos de argumentação promovidos pelo texto, escondidos por entre suas cadeias. As análisesnão serão exaustivas, pelo contrário, apontarão alguns dos aspectos relevantes para a discussãoda argumentação na escrita infantil.
Com o veremos, em bora conectivos estejam presentes em quase todos os textos, não épossível atribuir a esse elemento toda a responsabilidade pelos efeitos argumentativos produzidos.Por um lado, há textos em que tais efeitos se produzem sem a presença de nenhum conectivo; poroutro, há outros elementos participando de sua produção m esmo na presença do conectivo. Isto é,
1 É importante ressaltar que o acionam ento dos trabalhos de Riffaterre para discutir a argum entação no texto infantil nãosignifica, de m odo algum, a equiparação entre linguagem poética e linguagem infantil.
a estrutura X conectivo Y instaura um efeito de argum entação, quer o conectivo esteja presente ouapenas latente; porém, sozinhas, as relações sintagmáticas não explicam o efeito deargum entação promovido pelo texto, pois o eixo associativo também atua na cadeia. Além disso,produz-se nos textos um efeito de totalidade que advém dos m ovimentos de articulação eretroarticulação2, de tal modo que a cada passo a leitura vai sendo reconstituída pelo que se lê, emum movimento pendular do qual não escapa nenhum elemento da cadeia. Assim , mesmo nostextos em que há inserções aparentemente desconectadas do efeito argum entativo, elas seintegram a ele através do pêndulo articulação/retroarticulação. Vejamos o prim eiro texto:
Texto 1MEUS PAI E MAI EUISTOU COM VONTADI DII PRA PRAIA PURQUEEU VI A CHIARA DISEQUI IA P(R)A LA I EU FIQUEI COM VONTADI DII P(R)A (TEIM ERI ALI?)DI I PRA (RPA) LA.ONTEM EU APRENDIQI DA PA POR UMS TIPUS DI COISA DEINTRUDI PARENTE(C)SSIS.
QRIDUS LUIZA
(produzido em 1994, com 5 anos)
Meus pai e mãe,Eu estou com vontade de ir pra praia porque eu vi aChiara dizer que ia pra lá e eu fiquei com vontade de irp(r)a (tem erre ali?) de ir pra lá.Ontem eu aprendi que dá pra pôr uns tipos de coisadentro de parênteses.
Queridos Luisa
Nesse texto, o conectivo porque interliga duas partes do encadeam ento: “eu estou comvontade de ir pra praia” e “eu vi a Chiara dizer que ia pra lá e eu fiquei com vontade de ir pra lá”.Sua presença no texto convoca elem entos para preencher os espaços abertos na cadeia epromove, assim, efeito de argum entação. O conectivo, contudo, não é o único responsável por talefeito. Tam bém faz parte dessa composição o paralelism o3 aí existente: repete-se uma m esmaestrutura, substituindo-se apenas alguns elementos como se pode ver abaixo:
eu estou com vontade de ir pra praiaeu vi a Chiara dizer que ia pra láeu fiquei com vontade de ir pra lá
O efeito de acumulação prom ovido pelo paralelismo reforça o sentido argumentativo dotexto, na m edida em que constitui uma transformação que ocorre no cruzam ento entre os eixossintagmático e associativo. Isto é, no paralelismo as substituições se dão na cadeia, sem que hajaapagam ento dos elem entos substituídos; o movimento metafórico não se esgota nas relações inabsentia, ele se desdobra em movimento metoním ico colocando os elementos substituídos em
2 Articulação e retroarticulação são propriedades intrínsecas às línguas. Um a é a contraparte da outra: a articulação seconstitui pelo fato de que um determ inado elemento de língua é determinado por sua composição, sem que isso signifique,no entanto, que ele se reduz à soma de suas partes; a retroarticulação corresponde justam ente ao todo form ado pelaspartes. Ou seja, um determinado elem ento de língua tem suas propriedades determinadas pela combinação de suas partes(isto é, por sua articulação), e simultaneam ente pelo todo que constitui a retroarticulação, prom ovendo assim aindissociação entre tais propriedades da linguagem (Milner, 1989).3 O paralelism o é um fenômeno sintático em que as estruturas gramaticais e lexicais ora se repetem em cadeiassucessivas, ora se substituem, ora estão elípticas.
relação in praesentia. O resultado é a conversão4 da “ida da am iga à praia” em “m inha ida à praia”,transformação que atua no plano da identificação entre a am iga e a produtora do texto –identificação que, por sua vez, faz da “ida da amiga” argumento para “m inha ida”.
A frase que se segue no texto – “ontem eu aprendi que dá pra pôr uns tipos de coisadentro de parênteses” – não flutua isolada, com o elemento excluído da argum entação. Aocontrário, sua inserção após o uso efetivo dos parênteses no texto ecoa com o mais um argumentoem favor da ida à praia. Embora aparentem ente sem qualquer conexão de sentido com o trechoanterior do texto, no movim ento de articulação e retroarticulação da linguagem, ele se conecta aoque veio antes promovendo efeito de totalidade. Vejamos: a grafia aparece no texto como umaquestão, “onde colocar os erres?”. Esta questão dá lugar a uma frase entre parênteses – “(tem erreali?)” –, que é retomada pela frase final. O conjunto desta construção decalca5 o estereótiposegundo o qual o aprendizado m erece recompensa (à maneira do verso da Oração de SãoFrancisco tornado dito popular “É dando que se recebe”6) e, por um m ovim ento metafórico, o usodos parênteses produz efeito de argumento para a ida à praia7.
Texto 2LUISA ANUCIACAO COSTA O MEU ANIVERSARIOVOI OUTEI ISTAVAMUITU LEGAU TIA 11 QRINSAS I11 MAMAIS E 1 TIA I MAGICOQEFAZIA APARESE POUBIA ISTRAVA PIPOCANACARTOLA VOIUMA MOSA PINTAR ONOSO ROSTOMUITOLEGAU TODOMUNDO OIDIFNTASIAVOISQRE
(produzido em 26/02/1995, com 6;00.02)
Luisa Anunciação CostaO meu aniversário foi ontem, estava muito legal, tinha 11 crianças e 11 m am ães e um a tia e mágico quefazia aparecer pom binha, estourava pipoca na cartola, foi um a m oça pintar o nosso rosto, muito legal,todo mundo foi de fantasia. Vou escre...
Este texto não tem conectivo. Ainda assim, o efeito de argumentação se impõe – atravésda estrutura sintagmática e tam bém de outros processos que envolvem o eixo associativo. O textoé constituído pelo que à primeira vista poderia ser considerado um conjunto de frases descritivas:ele informa quando foi o aniversário da produtora, oferece um “juízo de valor” sobre a festa e emseguida a descreve. O efeito, no entanto, é de argum entação: a “descrição” da festa faz um rol deargum entos que explicam por que “o aniversário estava muito legal”. A estrutura argumentativaprescinde do conectivo, mas o subentende – isto é, ela se constitui sem a presença de um porqueexplicitando a relação entre as partes do texto, porém o conectivo está latente na cadeia. O efeitode argumentação se sustenta, pois, em uma estrutura constituída pelo encadeam ento das palavrasna cadeia textual; entretanto, não apenas a cadeia sintagmática dá sustentação a tal efeito. Pelomenos três outros processos participam dessa construção: o paralelism o, o decalque e aexpansão8. Por um lado, há a estrutura paralelística, com o se vê abaixo,
4 Conversão é um dos processos descritos por Riffaterre. Corresponde à transform ação do conjunto de um a frase devido àalteração de um elem ento.5 Decalque é um processo descrito por Riffaterre em que ocorre a adaptação de um clichê (um estereótipo) ao universo de umdeterminado texto através da transformação de uma frase mínim a. Isto é, altera-se a forma de um clichê adaptando-oao universo de formas e sentidos do texto em que ele aparece.6 Tradução de Manuel Bandeira. Meus poem as preferidos. 8ª ed. R io de Janeiro: Ediouro, 2002.7 Um outro aspecto desse texto é o fato de que ele se constitui de dois subtextos que se significam mutuamente, um sobre a idaa praia e outro sobre a escrita. Um dos efeitos dessa ressignificação mútua é justamente a “transform ação” do uso dosparênteses em argum ento para a ida a praia.8 Expansão é outro dos processos descritos por Riffaterre, em que os componentes de um a frase mínim a geram formasm ais complexas, gerando um a transform ação que ocorre no sintagm a.
O meu aniversário foi ontem estava muito legal tinha 11 crianças e 11 mamães tinha um mágico que fazia aparecer pom binha
estourava pipoca na cartola foi um a moça pintar nosso rosto muito legaltodo mundo foi de fantasia
que im põe ritmo ao texto e faz ecoarem im agens de festa infantil: crianças, mágico, brincadeiras,diversão, fantasia – elem entos que se substituem e se sucedem sem pre no m esmo ponto dacadeia, pintando o quadro do “aniversário legal”. Pintura que se completa por expansão e pordecalque. O sintagma “aniversário” se expande e, em um m ovimento metoním ico, convoca ossignificantes “crianças”, “m ágico”, “aparecer pom binha”, “estourar pipoca na cartola”, “pintar orosto”, “fantasia”; em um m ovim ento m etafórico, o pêndulo transform a esses significantes em umoutro: “diversão”. Ao mesm o tempo, o texto decalca o estereótipo do aniversário legal: festa boa éaquela em que há crianças e elas se divertem. Por último, é preciso assinalar que o segm entoincom pleto no trecho final não interfere negativamente no efeito de totalidade produzido pelo texto.Por estar incompleto, ele não se integra ao discurso argum entativo anterior, porém tampouco odissolve. Resta um traço que o texto não marca.
ReferênciasBANKS-LEITE, L. Aspectos argumentativos e polifônicos da linguagem da criança em idade pré-escolar. Tese de Doutorado em Lingüística, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicam p, 1996.COMPAGNON, A. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Ed. UFMG,1999. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago.DUCROT, O. Os topoi na teoria da argumentação na língua. Revista Brasileira de Letras, SãoCarlos: UFSCar, v. 1, n. º 1, p. 1-11, 1999 [1993]. Tradução de Rosa Attié Figueira._____ Sém antique linguistique et analyse de textes. Cadernos de Estudos Lingüísticos, Campinas:Unicam p, v. 35, p. 23-44, 1998.FERRO, R. T. Discurso argumentativo: identificação de marcas argumentativas na produçãoescrita de alunos da 4ª série. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, Unicam p, 1997.JAKOBSON, R. Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia. Lingüística e comunicação. 13ªed. São Paulo: Cultrix, 1988.MILNER, J. -C. Introduction à une Science du Langage. Paris: Éditions du Seuil, 1989.PEREIRA DE CASTRO, M. F. Aprendendo a argumentar: um momento na construção dalinguagem. 2ª ed. Cam pinas: Unicam p, 1996._____ A argumentação na fala da criança: entre fatos de língua e de discurso. Lingüística, SãoPaulo: Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (ALFAL), v. 13, p. 61-80, 2001.RIFATERRE, M. A produção do texto. São Paulo: Martins Fontes, 1989 [1979]._____ Sem iotics of poetry. Bloom ington, London: Indiana University Press, 1978.SANTOS, C. F. A produção de textos argumentativos por crianças das séries iniciais. Trabalhos emLingüística Aplicada, Campinas: Unicamp, v. 39, p. 95-103, 2002.SAUSSURE, F. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1989.SOUZA, L. V. de As proezas das crianças: das mal traçadas linhas ao texto de opinião. Tese deDoutorado, PUC-SP, 2001.
O narrador e a sua configuração lingüístico-textual na narrativainfantil escrita
Pascoalina Bailon de Oliveira SalehUniversidade Estadual de Maringá
Este trabalho tem como objetivo discutir o estatuto do narrador nas narrativas infantis, maisespecificamente em narrativas infantis escritas. O seu tema foi inspirado na afirmação de MiekeBal (1987), segundo a qual é enganosa a separação entre a narrativa em prim eira e terceirapessoa. De fato, para a autora, não há diferença alguma, quanto ao funcionamento, entre aschamadas narrativas em primeira e terceira pessoa, pois, segundo ela, não faz diferença que onarrador refira ou não a si mesm o. Se há linguagem , diz Bal, há um falante que a produz e,conquanto a linguagem produzida constitua um texto narrativo, há um narrador, um sujeito quenarra, o qual, de um ponto de vista gramatical, sem pre será uma primeira pessoa1. Dessa forma,segundo a autora, m esmo na narrativa dita em primeira pessoa, é um focalizador externo,normalm ente um “eu” um tempo depois que oferece sua visão de uma fábula da qual participouanteriormente na condição de ator.
Assim uma questão que a narrativa coloca necessariam ente é, digam os, uma decalagemou cisão constitutiva entre pessoa gram atical daquele que narra - sem pre um “eu” - e aquele aquem o texto configura com o porta-voz das experiências narradas, tradicionalm ente reconhecidocomo narrador - configurado com o “eu” ou com o “ele”- m as que, no entanto, será gram aticalm entesempre um “ele” (em oposição ao “eu gramatical”). Isto é, tanto em um a narração dita em prim eirapessoa como numa dita em terceira há um “eu” (gramatical) que não é configurado enquantoinstância textual, mas que “apresenta” o narrador textual, um “ele”.
Trata-se, portanto, de reconhecer, por trás da dimensão textual, ou conjuntamente a ela,também o estatuto propriamente lingüístico do narrador, assumindo-o, em decorrência, como um aentidade de linguagem lingüística e textualmente construída, ou, nas palavras de Bal um “sujeitolingüístico el cual se expressa en el lenguage que constituye el texto2.” (Bal, op. cit., p. 125).
Assim, o narrador textual assume uma perspectiva - Bal adota o termo focalização - a partirda qual os eventos são narrados, seja esse o seu próprio ponto de vista ou de um ou maispersonagens3.
Essa forma de conceber o narrador parece-m e interessante na medida em que forneceelementos para pensar o narrador nas narrativas infantis, como eu disse em outra ocasião4, fora deuma equação de igualdade entre narrador e criança empírica5. Acredito, nesse sentido, queautores como Jakobson e Benveniste podem contribuir para, ao mesm o tempo, dar visibilidade àquestão lingüística e textual envolvida na problem ática do narrador e perm itir um avanço na sua
1 Este parágrafo e o seguinte constituem -se, respectivamente, de traduções livres dos trechos: “En princípio no suponeninguna diferencia en el rango de la narración que el narrador se refiera o no a sí m ism o. Mientras haya lenguaje, tendrá quehaber un hablante que lo em ita; mientras esas emisiones lingüísticas constituyan un texto narrativo, habrá un narrador,un sujeto que narra. Desde un punto de vista gram atical, SIEMPRE será una “primera persona1” (Bal, op. cit, p. 127 –ênfases da autora); “En una denominada ‘narración de primera persona’ es tam bién un focalizador externo, normalmente el‘Yo’ un tiem po después, el que ofrece sua visión de una fábula en la que participó anteriormente en calidade de actor” (Bal, op.cit., p. 117).2 Ou seja, o narrador não se confunde nem com o autor em pírico/biográfico nem com o autor im plícito (cf. Mieke Bal, op.cit.).3 Bal salienta que o ponto de v ista não precisa ser o mesm o em toda a narrativa. Nesse ponto, porém,distancio-me da autora para observar que quem dá a palavra (discurso direto) ao personagem ou dá a conhecer o pontode vista deste é o narrador, ou seja, em últim a instância o ponto de vista “passa pelo crivo” do narrador.4 “Afinal quem narra na narrativa infantil”, texto cuja versão inicial foi apresentada no Seminário em Homenagem a CláudiaLem os, realizado em outubro de 2002 no IEL/UNICAMP, a ser publicado nos Cadernos de Estudos Lingüísticos.5 Como o leitor verá, tomarei o “eu gramatical” de que fala Bal não a partir de uma visão performativa que - à primeira vista,poderia ser interpretada dentro de uma visão comunicacional da linguagem “eu afirmo, digo ‘etc.’ que S.” (cf. Kuroda, 1975)e, portanto, de um a visão de sujeito psicológico, uno - mas a partir de um a concepção de sujeito dividido.
form ulação teórica, a partir do que foi acim a antecipado com base em um ponto de vista que seinscreve na teoria da narrativa.
Com efeito, os pronomes pessoais, conform e Jakobson (1973), fazem parte de “umaclasse especial de unidades gramaticais”, os dêiticos (embrayeurs, shifters), cuja significação geral“só pode ser definida fora de uma referência à mensagem ”. Dessa forma, os pronom es pessoaissão, para o autor, “uma categoria complexa na qual código e m ensagem se sobrepõem ” (op. cit.,p. 181). Trata-se, pois, de pensar os pronom es pessoais no âmbito das estruturas duplas(doubles), as quais remetem sim ultaneam ente à enunciação e ao enunciado. Esse é o caso dascategorias verbais.
Assim, Jakobson propõe que, para classificá-las, sejam observadas duas distinções debase: 1 – “entre a enunciação em si m esm a (a) e seu objeto, a matéria enunciada (e)”“; 2 –“ entreo ato ou processo em si mesmo (C) e qualquer um de seus protagonistas “agente” ou “paciente”(T)” (op. cit., p. 181).
Seguindo ainda o raciocínio de Jakobson, todo verbo se relaciona a um processo deenunciado e as categorias verbais podem ser subdivididas em duas classes, segundo elasimpliquem ou não os protagonistas do processo: 1 – “as categorias que implicam os protagonistaspodem caracterizar seja os próprios protagonistas, seja a relação deles com o processo doenunciado (Te Ce)”; 2 – “as categorias que fazem abstração dos protagonistas caracterizam seja oprocesso de enunciado em si m esmo, seja sua relação com um outro processo de enunciado(CeCe)” (op. cit., p. 181).
Dentre as categorias verbais,
“a pessoa caracteriza os protagonistas do processo de enunciado por referência aosprotagonistas do processo de enunciação. Assim , a prim eira pessoa assinala aidentidade de um dos protagonistas do processo de enunciado com o agente doprocesso de enunciação, e a segunda pessoa sua identidade com o paciente atual oupotencial do processo de enunciação.” (op. cit., p. 181 - meus grifos)
As distinções apresentadas por Jakobson, e a sua conseqüente abordagem das pessoas,apontam para um fora da língua que, no entanto, é governado pela própria língua; isto é, apontampara o ponto de encontro necessário entre enunciado/enunciação, código/mensagem. O que esseponto de vista perm itiria formular em termos do narrador? Com efeito, Jakobson nos leva àpossibilidade de pensar o narrador na narrativa infantil a partir dessa convergência ou desse pontode encontro próprio do funcionamento lingüístico-textual, ou seja a partir do ponto de encontroentre processo de enunciado e processo de enunciação. Mas aqui, tendo em mente o que dizMieke Bal, uma pergunta se impõe: na narrativa infantil “a prim eira pessoa assinala a identidadede um dos protagonistas do processo de enunciado com o agente do processo de enunciação”, ouseja, entre o narrador textual e o narrador gramatical? É isso que nessas narrativas distingue aprimeira da terceira pessoa?
A primeira pessoa parece ser um ponto privilegiado para o debate em torno da identidade do“eu” que fala e da “pessoa” configurada pelo enunciado/texto; enfim em torno da suposta unidadeda prim eira pessoa. Nesse sentido, Benveniste é referência obrigatória. Refiro-me não só à suadiscussão sobre a subjetividade na linguagem, com o à sua distinção entre discurso e história,tema relacionado à questão da subjetividade, aspectos enfocados na quinta parte dos Problem asde lingüística geral I.
Começo pela distinção entre discurso e história, pois, se a narrativa for relacionada àhistória, afasta-se totalm ente a possibilidade de pensar a narrativa a partir do percurso quecomecei a delinear acim a apoiando-me em Jakobson. Com efeito, Benveniste, a partir da análisedos tempos verbais em francês, reconhece dois planos de enunciação diferentes: o da história e odo discurso. Na enunciação histórica, segundo a autor, está excluída qualquer intervenção dolocutor: “trata-se da apresentação dos fatos sobrevindos a um certo momento no tem po”, que“exclui toda forma lingüística ‘autobiográfica’” (Benveniste, 1991, p. 262). Ou seja, a “narrativahistórica estritamente desenvolvida” só com portará formas de ‘terceira pessoa’. Benveniste vaialém ao afirmar que, nesse tipo de enunciação, não há sequer narrador: “Os acontecimentos sãoapresentados como se produziram, à medida que aparecem no horizonte da história. Ninguém falaaqui; os acontecim entos parecem narrar-se a si mesm os[..]” (op. cit., p. 267).
O discurso, ao contrário, é “toda enunciação que suponha um locutor e um ouvinte e, noprimeiro, a intenção de influenciar, de algum modo, o outro” (op. cit., p. 267). Como o próprio autoresclarece, na prática os dois tipos de enunciação convivem lado a lado: o discurso em erge em umanarrativa histórica, quando, por exemplo, o historiador reproduz as palavras de um personagem ouquando em ite julgamentos acerca dos acontecimentos referidos.
Dada a natureza dos dados que com põem o corpus com que tenho trabalhado, acredito nãoser imprudente afirmar que neles, pela presença destacada do narrador textual, prevalece aenunciação do discurso, segundo a term inologia de Benveniste. Trata-se de textos escritos a partirda instrução “Conte algum a coisa interessante que aconteceu com você”. Com efeito, há entreas narrativas infantis aquelas em que o eu narrador, por exemplo: diz eu por ouvir falar de umaexperiência que teria vivido (1); diz eu em textos de efeito ficcional (2):
(1) Eu quando era criança eu gatinhava e fui gatinhando até a calçada e eu acheiduas lesmas e depois eu guardei no meu bolso a outra lesma.E minha m ãe e m eu pai e minha irm a estava tomando café e a minha mãe falou paraAline pegar eu para tomar café e daí m inha m ãe falou assim:_ A Valéria podia tar comendo uma lesm a.De brincadeira e a Aline foi ver o que eu estava fazendo, Aline levou um susto e coreufalar a mãe falou assim:mãe a Valéria esta comendo uma lesma branquinha e torada ela estava comendouma e a outra ela guardou a outra para depois. E o m eu pai escovou m eu dente maiseu não tinha dente.
V - 7, 6 anos
Em (1) o “eu” gram atical dá a voz a um narrador textual em prim eira pessoa que fala de suasexperiências a partir do seu relato provavelm ente por outros m em bros da família. O narradortextual, entretanto, é configurado como fonte do seu dizer. Passemos a (2):
(2) Tudo começou quando estava chovendo, um a tempestade, estava com a minhalanterna.Alguém estava puxando o m eu pé acendi a minha lanterna e vi uma som bra passandopela parede fiquei assustado.
J M - 10 anos
Em (2) o “eu” gram atical também oferece a voz a um narrador em prim eira pessoa quetambém fala de experiências que teriam sido suas. Neste caso, porém, não aparecem m arcas queperm itam inferir que sua narrativa retoma outros relatos sobre o m esmo fato. Creio, porém, que omais significativo é que, apesar da instrução, o texto produz efeito ficcional, ainda que o narradortextual seja de primeira pessoa.
A m eu ver, esses textos exibem diferentes formas de manifestação da subjetividade. ParaBenveniste “o fundamento da subjetividade está no exercício da língua”. Toda a sua argumentaçãonos textos em que tematiza a subjetividade na linguagem está relacionada com a sua visão de quea primeira e a terceira pessoas se distinguem essencialm ente pela identidade entre aquele que falae aquele que é falado na primeira pessoa e a ausência dessa identidade na terceira, o que põe emcausa o estatuto de pessoa desta última. A prim eira pessoa “É ‘ego’ que diz ego.” (op. cit., p. 286).Daí passagens célebres como esta:
“Nas duas primeiras pessoas, há ao mesmo tempo uma pessoa implicada e umdiscurso sobre essa pessoa. Eu designa aquele que fala e im plica um enunciado sobre o‘eu’: dizendo eu, não posso deixar de falar de mim. Na segunda pessoa, ‘tu’ énecessariam ente designado por eu e não pode ser pensado fora de uma situação propostaa partir do ‘eu’; e, ao m esmo tem po, eu enuncia algo como predicado de ‘tu’. Da terceirapessoa, porém, um predicado é bem enunciado somente fora do ‘eu-tu’; essa forma éassim exceptuada da relação pela qual ‘eu’ e ‘tu ’ se especificam. Daí ser questionável alegitim idade dessa form a com o ‘pessoa’. (op. cit., p. 251)
Assim, ao longo de seus textos Benveniste define o estatuto das pessoas gramaticais pormeio das dicotomias fora/dentro; presença/ausência, unidade/diversidade... Essas dicotom iasestão no cerne da sua concepção de que “o fundamento da subjetividade está no exercício dalíngua”:
“A que, então, se refere o eu? A algo muito singular, que é exclusivamentelingüístico: eu se refere ao ato de discurso individual no qual é pronunciado, e lhe designao locutor. É um termo que não pode ser identificado a não ser dentro do que [...]chamam os um a instância de discurso, e que só tem referência atual. A realidade à qual eleremete é a realidade do discurso. É na instância de discurso na qual eu designa o locutorque se enuncia com o ‘sujeito’. É portanto verdade ao pé da letra que o fundamento dasubjetividade está no exercício da língua. Se quisermos refletir bem sobre isso, veremosque não há outro testemunho objetivo da identidade do sujeito que não seja o que ele dáassim, ele m esmo sobre si mesmo”. (p. 288)
Benveniste teve o m érito de chamar a atenção para o fato de que a subjetividade éconstruída por m eio do exercício da língua e fez isso argum entando que o “eu” só se defineatravés do discurso. Mas, como m ostra M. T. Lemos6 na sua leitura do lingüista,
“O ego, e aqui falam os do ego no sentido m ais propriam ente psicanalítico, comoinstância das representações do sujeito, instância cuja essência é de im aginário, [...]acredita que o ‘eu’ do discurso reflete adequadamente a sua unidade, isto é que ele osignifica, sem poder reconhecer que é por haver unidade lingüística que ele pode seencontrar com o unidade. Mas, mais importante que isso é que se trata de uma unidadesempre faltosa porque, como Benveniste não deixa de notar, o ‘eu’ só se faz Um por causade um Outro (no que aliás ele é bem saussereano). Essa falta (que rem ete a umaalteridade determ inante) é justamente o que deixa de ser elaborado por Benvenisteporque, embora ele seja capaz de perceber essa determ inação ao nível dessessignificantes (dos pronomes), ele não a articula com a situação que é propriam ente a dosujeito de linguagem. Isso é o que perm itiria um a ruptura definitiva dessa circularidadeonde o sujeito parece determ inar a si mesmo através da linguagem.” (op. cit., p. 15)
M. T. Lemos mostra que Benveniste oscila entre vários term os para indicar o “ser falante”(as aspas são da autora) - “sujeito”, “ego”, “pessoa”, “ser”, “locutor”- e que essa oscilação não éfortuita. Embora eles não sejam equivalentes no texto de Benveniste, também não é possível “dizerque eles se referem a diferentes funções, ou mesmo posições do sujeito na linguagem” (op. cit., p.11). A autora cham a a atenção para a substituição de “ser” por “locutor” quando Benveniste afirmaque a subjetividade é a capacidade do locutor para se propor com o ‘sujeito’. Essa substituição, dizM. T. Lemos,
“faz toda a diferença porque o termo ‘locutor’ vem indicar uma instância capaz de se valerde um mecanismo lingüístico para se apresentar como sujeito, o que supõe algum tipo desubjetividade já constituída, anterior a essa apropriação do m ecanismo lingüístico,enquanto o termo ‘ser’ falava de um fora da linguagem que seria, de modo paradoxal, olugar que se constitui na linguagem.” (op. cit., p. 15)Para a autora, a dificuldade de Benveniste, a tortuosidade na sua argumentação, advém
do fato de que ele não pode reconhecer algo que faz furo na sistematicidade da língua: o ‘ser’ aoqual o autor “ameaça dar voz é aquele que poderia fazer furo no saber que a lingüística constróisobre a língua como sistema, porque ele não é senão a falta que está presente, o tempo todo, nalinguagem” (op. cit., p. 17).
Acredito que Benveniste, e a leitura que dele faz M. T. Lemos, pode ajudar na reflexãosobre a pergunta acim a form ulada a propósito das distinções propostas por Jakboson, as quais,por sua vez, perm item com preender a necessidade de considerar a relação entre língua e textoquando tratamos da pessoa na narrativa. Com M. T. Lemos posso reconhecer que a unidade
6 T exto in édito.
entre a pessoa do enunciado e a pessoa da enunciação, que estaria garantida quando o “eu” dizeu, esconde um desencontro constitutivo que fala da im possibilidade da unidade do sujeito7. Aunidade só pode ser vista como efeito do im aginário.
Nesse sentido parece-m e pertinente o ponto de vista de Bal que, como vim os, faz valeruma distinção entre, digam os, o “narrador gram atical” - sempre primeira pessoa - e o “narradortextual” - primeira ou terceira pessoa. Lembro que, para a autora, mesmo nos casos em que aconfiguração textual é de prim eira pessoa, não há coincidência entre o “eu” que narra e o eunarrado. O desencontro entre o “eu” gramatical e o eu textual é constitutivo da relação do sujeitocom a linguagem.
Suspender a idéia da unidade do sujeito, cujo correlato lingüístico é a coincidência entresujeito de enunciado e sujeito de enunciação, representada pela prim eira pessoa, abre apossibilidade de reconhecer diferentes formas de subjetivação pela linguagem. Esse ponto de vistaparece-me perm itir um alargamento da compreensão da configuração lingüístico-textual donarrador nas narrativas infantis.
Com efeito, as narrativas acima apresentadas apontam, através do narrador, para modosdiferentes da criança subjetivar-se pela linguagem. Note-se que a instrução poderia levar o leitor apressupor nos textos que a atendem uma coincidência entre criança empírica e narrador textual.Entretanto, o caminho teórico acima percorrido afasta tal possibilidade, mas não só ela. Afastatambém a possibilidade de coincidência entre criança em pírica e narrador gramatical, porqueestamos falando de entidades ou instâncias de linguagem que remetem a entidades do mundo. Osujeito se constitui nessa dispersão, sem, no entanto, jamais poder ser apreendido na suatotalidade. Aliás, o que M. T. Lemos nos diz nas entrelinhas quando fala da falta de unidade dosujeito é de uma ausência de positividade do sujeito.
O que a questão do narrador nas narrativas infantis com essas diferenças - e semelhanças- em termos de pessoa pode ajudar a formular? Como não reconhecer que elas indicam algo darelação da criança com a linguagem e com as suas experiências, apesar - e por causa - das suasdiferentes configurações do narrador?
Acredito que um dado como (3), abaixo, pode contribuir para dar maior relevo a essasconsiderações:
(3) A mata
Era uma vez um menino chamado Ronaldo.Ele vivia tirando ferias até que chegou um dia que sua mãe não deixou ele
tirar verias.Aì ele com eçou a conhecer um linda matra mas so que ele tinha medo de
entrar na mata depois de três dia que ele criou coragem e entrou na mata ele achoumuito linda a quela mata ai ele chamou ceus colegas para ir todo o dias com ele."
R (onaldo) - 9 anos
Como se vê, (3) é uma narrativa dita de terceira pessoa. Porém, tenho chamado a atençãopara o fato de que “Ronaldo” é o nome do personagem protagonista - “Era uma vez um m eninochamado Ronaldo” - mas é igualm ente o nome do garoto que escreveu o texto. Além disso,parece-me que também essa narrativa, a exemplo de (2), produz efeito ficcional. Ou seja, a criançadiz ele e, de alguma forma, fala de si por m eio de um texto que produz efeito de ficção.
Diante dos dados aqui apresentados, penso que as narrativas infantis exibem configuraçõeslingüístico-textuais de pessoa que indicam não uma oposição entre um modo objetivo e um m odonão objetivo de relação do sujeito consigo m esmo e com a linguagem, mas diferentes modos desubjetivar-se pela linguagem. Ou seja, os textos acim a deixam entrever sujeitos cujas históriasde/na linguagem produzem modos particulares de contar suas próprias histórias e, ao contrário doque se poderia pensar, a constituição do narrador enquanto instância narrativa não evidencia umdistanciam ento da criança em relação à linguagem, um colocar-se frente à linguagem com o objetode conhecim ento. Antes, sugerem que a relação da criança consigo mesma e com suasexperiências passa necessariam ente pela linguagem, na tensão entre língua e texto.
7 Ann Banfield (2001) faz uma interessante leitura do sujeito filosófico m oderno que indica essa mesm a direção. Tom andocom o referencial a filosofia anglo-saxônica, a autora defende que o ponto de vista filosófico aponta para a não permanênciado eu - o que faz com que sua existência seja momentânea - e para a impossibilidade de encontro do eu consigo m esmo –pois o eu, ao penetrar intim amente em “si-mesm o”, irá se deparar com um a percepção particular ou com um outro.
ReferênciasBAL, M. Teoría de la narrativa (una introductión a la narratologia). 2ª. ed. Madrid: Catedra, 1987.BANFIELD, A. Le nom propre du réel. In: MARANDIN, J-M. (ed.). Cahier J-C Milner. Lagrasse:Éditions Verdier, 2001. p. 229-266.KURODA, S-Y. Sur les fondements de la théorie de la narration. In: KRISTEVA, J. & al. (orgs.).Langue, discours, societé: pour Émile Benveniste. Paris: Éditions du Seuil, 1975. p. 261-293.BENVENISTE. E. Problem as de lingüística geral I. 3ª ed. Campinas: Pontes: Editora da UNICAMP,1991.JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale. Paris: Éditions de Minuit, 1973.LEMOS, M. T. Sobre o que o “eu” diz: da subjetividade na linguagem . Texto inédito.SALEH, P. B. O. Afinal, quem narra na narrativa infantil? Cadernos de Estudos. (no prelo)Lingüísticos.
A criança, seu nome e a aquisição da escrita
Zelma R. BoscoUNICAMP
Introdução: notas sobre o oral e o escrito em aquisição da linguagemEste trabalho insere-se no âmbito das discussões sobre as realizações gráficas produzidas
por crianças na pré-escola, na faixa etária entre 3 e 6 anos. As produções infantis que focalizamosform am um grande bloco que se caracteriza pelo fato de que os traços grafados ainda nãoestabelecem relações de fonetização com a oralidade, m as configuram um momento do percursoda relação da criança com a escrita, que nos perm ite reconhecer, na m aterialidade gráficaproduzida, os cortes reveladores dos movimentos interpretativos de um sujeito.
Essas realizações gráficas apresentam uma escrita que mescla fragmentos em quepodemos reconhecer vestígios dos traços dos desenhos e um jogo com letras, especialmente asdo nom e da criança, revelando-nos uma escrita cifrada que beira o non-sense. A heterogeneidadedo material gráfico produzido nos m ostra um escrito regulado por uma lógica que não correspondeàs expectativas de unidade e organização previstas pela norm a da língua, e desafia o saber sobrea escrita constituída. Esses escritos se colocaram como objeto de nossa reflexão já em “No jogodos significantes, a infância da letra” (2002[1991]), em que dem os ênfase à relação entre desenhoe escrita, uma das discussões que percorre nosso trabalho desde então.
No acompanhamento em sala de aula da pré-escola que fizemos, por um período de trêsanos consecutivos, pudemos observar que, por um lado, assim com o os traços em queidentificamos vestígios de desenhos entretecem-se com os da letra e reciprocamente, as letras donome da criança revelam outras letras; fragmentos compostos com as letras do nome enodam-secom fragmentos de outros textos escritos, condensando e deslocando m ateriais verbais,(re)combinando-os em montagens textuais heterogêneas, que resultam em arranjos insólitos, emencadeam entos e segmentações que desfazem a naturalidade com a qual se toma a organizaçãoprevista pela língua enquanto sistematicidade formal. E, nos cortes, rompimentos edesestabilizações que se sucedem na linearidade do escrito, revela-se um sujeito que deixa o seurastro na escrita; rastro que carrega as marcas da própria cifragem de sua relação com o Outro,tesouro dos significantes.
Por outro lado, a própria realização escrita do nom e da criança revelou-se com o algo quenão acontece instantaneamente, mas que se constitui como resultante de um jogo com as letras donome, em que a repetição com diferenças de fragmentos variáveis do nome afeta, no eixo datemporalidade, a constituição do nome com o um todo. Embora observável numa cronologia, asrelações entre os fragm entos não se explicam apenas por um antes afetando a constituição de umdepois, mas também pelos efeitos retroativos, reveladores do m ovim ento da língua sobre o sujeito,como retorno do Outro.
A escrita com letras do nome aponta para duas relações distintas: por um lado, aexistência de um a escrita que adquire legibilidade pela antecipação do nom e da criança nosfragmentos por ela grafados. Essa possibilidade de leitura parece, em princípio, não depender nemda quantidade dos elementos, nem da (des)organização destes na seqüência grafada. Tão logo osfragmentos combinados venham a constituir um a possibilidade mínima de leitura, é possível aooutro, seja a mãe, a professora ou mesm o a criança, identificar o nome escrito.
Dessa forma, uma realização gráfica, traçada no canto da folha que anteriorm ente erapreenchido pela professora com a letra inicial de Giulianna – o “G” –, é suficiente para identificar onome dessa criança. De maneira semelhante, um bloco composto por letras do nome da criança,form ando encadeam entos inesperados, grafado num espaço específico da folha de papel, pode serlido como realização escrita do nome da criança. Entendem os, então, que a legibilidade desseescrito não se sustenta nos blocos de letras tomados em si, mas advém com o efeito da m ontagemtextual, da relação que se estabelece entre os elementos das cadeias manifesta e latentes.
Por outro lado, da fragmentação constante do nome da criança, configurando um processocontínuo de desmontagem do nom e, resulta um escrito que resiste à leitura “termo a termo”sugerida pela escrita alfabética, apresentando-nos uma escrita que não se sustenta sobreunidades sonoras. Os blocos de letras que se juntam, constituindo segmentos separadas porespaços em branco, são da ordem do sim ulacro, e criam um a im pressão de unidade lingüística(palavra ou frase), dando figura a uma unidade textual de com pletude imaginária, que resulta domovim ento interpretativo do sujeito na escrita, mas que não remete, foneticamente, a nenhumconjunto de sons articulados em palavras ou frases da língua.
Esbarram os, então, na diferença entre expressão gráfica e sua interpretação, que nosperm ite reconhecer a indeterm inação sintática, semântica e pragm ática das primeiras realizaçõestextuais da criança. Essa escrita, m arcada pelo arranjo insólito e assistemático dos elem entos quea compõe, causa um certo estranhamento em um leitor adulto, pelos deslocamentos causados pelomovim ento da língua. Mas, ao mesm o tempo, é possível a ele reconhecer nos fragm entos grafadosa escrita de um a língua que lhe soa com o familiar. Nesse movimento interpretativo, que se faz emuma tensão entre identificação e estranhamento (cf. Pereira de Castro, 1997), revela-se adisparidade – a semelhança e a diferença – entre o escrito da criança e aquele do adulto letrado,ao mesmo tempo em que a apaga, perm itindo a emergência de uma certa leitura.
Ao adulto, é possível identificar a não-coincidência entre o segm ento grafado e asseqüências escritas da maneira como prevê a língua constituída. Já à criança, essa identificaçãonão se faz – a criança não estranha essa escrita que aos olhos dos adultos revela-se tãoenigmática. Essa não-coincidência de olhares sobre o escrito – do adulto e da criança – ecoa naquestão que de Lem os nos coloca: “de que modo se opera essa transformação de/em alguém quepassa a ver o que não via e é assim capturado pela escrita enquanto funcionamento sim bólico?”(de Lemos, 1998, p.19).
É o próprio movimento de transformação a que se refere de Lem os que as m udanças naescrita da criança nos revelam, contando, por um lado, a história do percurso de sua relação com aescrita; percurso este que mostra a opacidade dessa relação e um saber fazer da língua que nãotem respaldo em um conhecimento formal e objetivo. Por outro lado, esse m ovimento aponta parauma tem poralidade outra que, embora passível de se revelar na cronologia im plicada nasmudanças que ocorrem na escrita infantil, não perm ite explicar as transformações que nelaverificamos em termos de estágios de desenvolvimento.
Nessas escritas que não estabelecem relação de fonetização com a oralidade, ou seja, emque o oral e o escrito mostram-se disjuntos, a criança se revela sob efeitos dos textos e doselementos que perm item a sua configuração com o um sistem a gráfico/visual: a linearidade doescrito, os brancos e os elementos gráficos (desenhos, letras, sinais de pontuação, etc.), em jogono imaginário textual. Ao considerar a escrita pela sua dimensão visual e espacial, é possível tomá-la como um funcionamento distinto da oralidade. Em conseqüência, um a discussão sobre aquestão da im agem, por exemplo, pode trazer, a nosso ver, novos elem entos para uma reflexãosobre as mudanças em jogo na escrita infantil sem relação de fonetização com a oralidade.
Essa discussão constitui parte de nossa tese de doutoram ento em andamento noIEL/Unicam p e não vam os nos alongar a esse respeito neste trabalho. Com o intuito de apontarpara a direção que, em princípio, nos encam inhamos, lembram os, aqui, das palavras de DeLemos. A autora, num com entário que faz a respeito de “objetos-portadores de textos”, afirm a queé através das práticas discursivas orais que “o texto deixa seu estado de ‘coisa’ para setransformar em objeto significado antes pelos seus efeitos estruturantes sobre essas mesmaspráticas orais do que pelas suas propriedades perceptuais positivas. Não se trata aí, portanto, deuma oralidade que desvenda o texto escrito nem que é por ele representada, mas de um a práticadiscursiva oral que, de algum m odo, o significa, isto é, que o torna significante para um sujeito” (DeLemos, 1998, p.18-19, destaque da autora).
Note-se que nossa intenção ao apontar para um a certa autonomia da escrita em relação àoralidade não im plica em traçar caminhos paralelos entre oral e escrito com o se fossem duaslínguas distintas. Querem os, sim , chamar a atenção para o fato de que, para que exista escrita eesta funcione como tal, é necessário que, do universo das im agens, certos elementos sejamalçados e transformados em caracteres passíveis de serem combinados com outros, e issopressupõe um apagamento de seu valor representativo; apagamento este que, a nosso ver, éconstitutivo de toda escrita e leitura.
Por essa via de abordagem, entendemos que as im agens em jogo na escrita não são paraserem vistas, mas lidas. E só o apagam ento do aspecto representativo/figurativo, o esvaziamentodo sentido, perm ite essa leitura e, ao mesmo tempo, o alçam ento de elementos que vão possibilitaro surgimento de uma bagagem, de uma bateria de significantes, e, conseqüentem ente, aconstituição da escrita de um sujeito.
E, para aqueles que não sabem ler, a escrita exibe um figurativo próximo daquele dodesenho, e não carrega em si nenhuma “m ensagem”, nenhum “sentido”. Concluímos, por ora, coma afirmação de De Lemos, durante um curso sobre o Seminário “A Identificação”, de Lacan, naEscola de Psicanálise de Cam pinas: “a escrita não é um a realidade para quem não estáalfabetizado, mas um real”.
Um a m aneira singular de escrever: a escrita com as letras do nom eNos episódios de produção escrita que observamos, realizados por crianças entre 3 e 5
anos em sala de aula da pré-escola, possibilita-nos identificar o nome da criança funcionandocomo um a marca, que prom ove a abertura para um a nova escrita. Pela interpretação eressignificação mútua, as letras do nom e da criança propiciam o início de uma série, que perm iteuma inscrição simbólica que marca um real, produzindo efeitos.
Os blocos escritos com as letras do nom e, que assinalam um m om ento da relação com aescrita das crianças que observamos, além de preencher, com arranjos assistemáticos, o espaçodo nom e da criança em sua produção escrita, vão surgir também com o elementos constitutivos deverdadeiras montagens textuais, com segmentações e encadeamentos inusitados, que revelam umsaber fazer da língua que a excede enquanto sistem aticidade formal. Ao realizar diferentesseqüências combinatórias com as letras do nom e, em resposta às solicitações de produçõesescritas - assinatura, etiquetas de objetos desenhados, histórias contadas por escrito e até mesmocópias ou ditados realizados pela professora, sendo que, nestes últimos, supostamente a relaçãofonetização entre o oral e o escrito está em jogo - ganham visibilidade as diversas m aneiras deinserção do sujeito na cadeia significante.
Vam os nos deter, a seguir, em uma tarefa de cópia de Guilherme Luís (GL), quando estecontava com aproxim adam ente 5 anos e cursava o primeiro sem estre do Jardim . Nesse mom entode sua relação com a escrita, ao mesmo tempo em que a realização escrita de seu nome estáganhando forma, linearidade e seqüencialidade, GL passa a escrever com as letras de seu nometarefas que dão concretude a outros textos.
A instrução passada para ele para a tarefa sobre a qual nos deteremos a seguir era de querealizasse a cópia do nome de sua m ãe, a partir da escrita deste nom e, em letra de forma,realizada pela professora. GL já havia escrito espontaneam ente, em atividade anterior, o nome desua mãe, etiquetando um desenho que fizera. Neste desenho, ele e sua m ãe apareciam juntos, eao lado do desenho da m ãe GL escreveu o bloco “ZMEAI”, para preencher o lugar da escrita de“Zelma”, sendo que a prim eira letra da seqüência encontra-se “espelhada”. Note-se que, se nessaseqüência grafada é possível reconhecer letras que compõem o nome de sua mãe, a última letrada escrita do bloco escrito por GL – “I” – , porém, não faz parte do nome dela.
Na tarefa de cópia mencionada, realizada em resposta ao pedido da professora de que acriança copiasse o nome da m ãe, verificamos na escrita empreendida por GL os seguinteselementos: “ZMERIL”, novamente com a prim eira letra – “Z” – “espelhada”. Apesar de se tratar decópia, a escrita que em erge preenchendo o lugar do nome da mãe revela-se um misto de letras donome dela com letras do nome da criança. Se “Z” é realmente a primeira letra do nom e da mãe,“M” e “E” são letras que, além de com por o nom e da mãe, fazem parte também da escrita do nomeda criança. Assim, em determ inado m om ento da cópia do nome da m ãe por GL, parece incidir umprocesso associativo que perm ite colocar em relação fragmentos do nom e da mãe com os donome da criança.
Num movimento metoním ico, um deslocamento se dá, promovendo com o efeito odeslizamento da escrita do nome da mãe para a do nome da criança; deslizamento este que acriança ignora e não estranha. O bloco que emerge como escrita do nome da mãe apresenta-se,então, como uma espécie paradoxal, um misto que não se constitui propriam ente nem como nomeda m ãe, nem com o nome da criança, embora, enfatizam os, o que se pretendia na realização datarefa fosse um a cópia. Lembramos que não há relação entre letra e fonema no movimentoassociativo que se estabeleceu entre as letras do nome da m ãe com as do nome da criança,
apresentando-nos um processo que se faz na relação do escrito com o escrito, ao “pé da letra”mesmo.
Apesar de nesse mom ento os escritos de GL não se apresentarem da maneira como prevêa língua constituída, ao aceitar a seqüência grafada como escrita do nome, ou de qualquer outrotexto, o adulto sanciona esse jogo de letras com o escrita de um sujeito. Nessa via de abordagem ,coloca-se em evidência o papel do outro ao interpretar, ao ancorar os fragm entos escritos pelacriança em textos, fazendo-os passar pelo “moinho da linguagem, ou pelo Outro, tesouro dossignificantes” (De Lemos, 2001, p. 4).
Note-se que, quando um bloco escrito com as letras do nome preenche o espaço da folhadestinado à assinatura, não há dúvidas para aqueles que cercam a criança sobre o fato de ali estarescrito o nome dela: tanto a criança, com o a professora, a m ãe e as outras crianças do grupo dapré-escola ignoram a (des)organização e quantidade de elem entos grafados ao ler. A legibilidadedesse bloco de letras como assinatura se faz em função da antecipação im aginária que se produzem quem lê, já que, naquele espaço da folha, o nome da criança é esperado, e, então, lê-se onome da criança, embora ele não esteja efetivamente escrito letra a letra.
Mas, a leitura do escrito fica impedida quando as letras do nome da criança preenchem oespaço da escrita de outros textos – etiquetas, histórias escritas, ditados, etc., em bora a criançaque o escreveu não o estranhe, e quando solicitada, realize um a certa leitura do texto por elaescrito. Poderíam os pensar que um a antecipação sobre o que está escrito é possível para quem lêquando o bloco de letras encontra-se ao lado de uma figura. Este escrito poderia, então, adquirirlegibilidade em função da figura, que atuaria com o um a espécie de determ inante do escrito.
No entanto, mesmo quando essa figura perm ite uma certa ancoragem do texto, nadagarante que aquilo que está escrito seja, por exem plo, o nom e do objeto desenhado, podendo setratar também do nom e do proprietário do objeto ou uma característica dele (cor ou forma). Alémdisso, cham am os a atenção para o fato de que, na m edida em que as realizações escritasproduzidas com essa m aneira singular de escrever – com as letras do nome – vão ganhandoextensão, qualquer possibilidade de leitura fica obliterada, resultando num escrito que resiste àleitura.
Considerações finaisNo episódio de cópia que m encionamos acim a, observam os um deslizamento que se faz
das letras que compõem a escrita do nom e da mãe para as do nome da criança, num m omento emque a escrita da criança não apresenta indícios de fonetização. Mas, em textos de outras criançasobservadas, é possível verificar o deslizam ento de um a escrita que, aparentemente, apresentarelação de fonetização com a oralidade para um a escrita com as letras do nom e da criança (cf.Bosco, a sair). Os avanços e retrocessos constatados nos episódios mencionados perm item-nosquestionar uma abordagem da aquisição de escrita em termos de conhecim ento adquirido pelacriança.
Para concluir, querem os lembrar que não é qualquer escrito que está em jogo nessamaneira singular de escrever. Trata-se de letras que constituem o nom e da criança, significanteque nomeia um sujeito em sua língua materna. E sabemos, com Pereira de Castro, que anomeação é fundadora, “designa o corpo por um nome, abrindo-lhe um destino subjetivo” (Pereirade Castro, 2003, p.49). O caráter singular do nome próprio alça-o a um lugar particular nasreflexões sobre o percurso da criança na língua. Nosso trabalho busca reconhecer essaparticularidade no que se refere à escrita do nome da criança, um a vez que, escrever o nom esobre o papel resulta na realização de uma marca em que o nom e próprio está investido. Desteponto de vista, é objetivo de nosso trabalho refletir sobre o caráter singular dessa escrita que seconstitui com as letras do nome, reflexão esta que não se encerra com este artigo.
ReferênciasBOSCO, Z. R. No jogo dos significantes, a infância da letra. Campinas: Pontes: Fapesp, 2002._____. Com as letras do nome. A sair nos Estudos Lingüísticos.DE LEMOS, C. T. G. Sobre a aquisição da escrita: algumas questões. In: ROJO, R. (org.).
Alfabetização e Letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1998. p. 13-31._____. Sobre fragmentos e holófrases. In: Encontro LEPSI/USP, 2001, São Paulo. Anais... São
Paulo: USP, 2001.
PEREIRA DE CASTRO, M. F. A interpretação: a fala do outro e a heterogeneidade da fala dacriança. In: L.E.T.R.A.S, n. 13, p. 125-137, 1997.
_____. Apontamentos sobre o corpo da linguagem. In: LEITE, N. Corpolinguagem : gestos e afetos.Campinas: Mercado de Letras, 2003. p. 47-60.
Erros na aquisição da flexão verbal: uma interpretaçãointeracionista
Irani Rodrigues Maldonadeiranirm @uol.com .br
IntroduçãoErros com verbos são, até certo ponto, esperados na fala não apenas de crianças em
processo de aquisição do português mas, também, no processo de aquisição de outras línguas. Nointeracionismo observa-se que, no início do processo de aquisição da linguagem, tem-se a criança«falada» pelo outro, fenôm eno descrito como ligado à noção de dependência dialógica. Dosprocessos dialógicos descritos por De Lem os (1985), a especularidade ocupou lugar central naabordagem interacionista, conform e apontado por M. T. Lemos (2002), uma vez que não deixa defora nem o sujeito, nem a língua. O desafio teórico está voltado para demonstrar de que modo aspropriedades estruturais da linguagem da criança podem derivar-se dos processos dialógicos, quechegaram a ser cham ados "discursivos" por De Lem os, já que o interacionism o sempre rejeitou aanálise da fala da criança como instanciações de categorias da descrição lingüística (DeLemos,1982), opondo-se, assim, tanto à concepção inatista sobre a aquisição da linguagem, quantoà noção de desenvolvim ento (De Lem os, 1999). Neste trabalho, o erro é concebido com o produtodo movimento da língua na fala da criança, ou, ainda, com o o resultado do estabelecimento derelações produzidas na fala desta, num dado m omento de seu percurso na aquisição da linguagem.Neste artigo, duas classes de erros com verbos na fala de M 1 são selecionadas para análise : a dasregularizações e a das alterações de classe de conjugação. A prim eira delas está baseada naregularização de formas verbais irregulares, fenôm eno reconhecido entre os pesquisadores como«overregularization». No português, correspondem a ocorrências tais como sabo e fazí. A segundaclasse é composta por erros que envolvem cruzamento de flexões das diferentes classes deconjugação, exem plificadas por erros como: com iu (para comi) e machuqui (para machuquei) etossê (para tossir), entre outros.
Valendo-se das descrições do português, tem-se que a prim eira conjugação verbal é a maisrica em núm ero de verbos e, também, a mais pobre em se tratando de verbos irregulares. Já asegunda conta com muitos verbos irregulares, assim como a terceira conjugação. Analisando-se asdescrições das formas verbais irregulares, chega-se à conclusão de que não é possível tratar emseparado a classe das regularizações, fora da organização paradigm ática, pois as formas verbaisirregulares pertencem, obrigatoriam ente, a um a das três classes de conjugação. O verbo não é umacategoria que tem evidência em si m esma, existência própria, fora da instância discursiva, ou seja,excluindo o sujeito na sua relação com a língua.
No interacionism o, a saída para o problem a de descrever a fala da criança tem sidoencontrada no estruturalismo, enquanto programa teórico. Em Jakobson (1974) o sujeito estáimplicado na descrição de um estado de língua. O verbo é um a categoria na qual código emensagem figuram relacionados, e portanto, uma categoria advinda do discurso. É possível, comisso, entender a aproximação da teorização desenvolvida por De Lemos, com aquela proposta porJakobson (1974). Segundo o autor, a prim eira pessoa marca a identidade de um participante doprocès de l’énoncé com o agente do procès de l’énonciation. No entanto, os gramáticos se referemàs categorias verbais com o se elas existissem por si mesm as, fora da esfera da interlocução. ParaBenveniste (1995), o verbo é, juntamente com o pronome, a única espécie de palavra submetida àcategoria de pessoa, que, por sua vez, só se define pelo quadro de oposições que as diferencia. Hásempre três pessoas e não há senão três. Entretanto, as duas primeiras pessoas (eu e tu) nãoestão no mesm o plano que a terceira, pois ela está excluída da relação pela qual o “eu” e o “tu” seespecificam. Por isso afirma que a terceira pessoa não é um a pessoa. É, ao contrário, a formaverbal que tem por função exprim ir a não-pessoa. Segue-se que, a pessoa só é própria às posições“eu” e “tu”. A terceira pessoa é a forma não pessoal da flexão verbal, segundo Benveniste.
1 M, sujeito da pesquisa, é uma criança de classe média brasileira gravada pela autora desde 1 ;06 a 4 ;06 em sessõessem anais, cujos dados foram transcritos no decorrer da pesquisa.
Acrescenta, ainda, que a terceira pessoa foi conformada às duas prim eiras por razões de sim etria.De fato, um a característica das pessoas “eu” e “tu” é sua unicidade específica: o “eu” que enuncia eo “tu” ao qual “eu” se dirige são cada vez únicos. Outra característica consiste em que “eu” e “tu”são inversíveis: o “eu” pode vir a ser “tu” e vice-versa. No entanto, nenhum a relação paralela épossível entre um a dessas duas pessoas e “ele”.
Ao se conceber a língua no seu dinam ism o, na sua heterogeneidade – características quelhe são próprias – os termos “irregular” e ”regular” passam a não fazer mais sentido, pois já se deixaclaro que os contornos do objeto não são muito nítidos.
Referencial teórico para análise de dadosUma vez «desfeita» a classificação inicial em duas classe de erros: os de regularização e
os de alteração de classe de conjugação, determ inados pelas descrições do português existentes,o recorte para a análise de dados é feito então pela teorização desenvolvida por De Lemos (1992),na qual as mudanças na fala da criança não podem ser consideradas como construção deconhecim ento gradativo sobre a língua. Elas são tratadas com o decorrentes da captura da criançapelo funcionam ento lingüístico, que têm como efeito colocá-la numa estrutura em quecomparecem: o outro, a língua e o próprio sujeito. De Lem os (2001, 2002) define as mudançascomo sendo mudanças de posição em um a estrutura, no sentido conferido por ela, de que não hásuperação de nenhum a delas, o que dá suporte para a afirm ação, tese central: o processo deaquisição da linguagem é um processo de subjetivação , em que a criança passa da condição deinterpretado à intérprete. Há um sujeito que, capturado pela linguagem , desponta na cadeiasignificante. Em outras palavras, os processos metafóricos e m etoním icos remetem a um sujeito ea seu modo de em ergência na cadeia significante. Desta forma, a fase inicial de «acertos» na falada criança, indicada pela dependência desta fala à fala do outro, que perm itia observar asemelhança como efeito da substituição realizada entre cadeias, pôde ser definida pela autoracomo a primeira posição da criança como falante. Na fase dos erros, foi dado realce a um fatoreconhecido e atestado na literatura: a impermeabilidade da criança à correção destes pelo adulto;ou, dito de outra forma, aquilo que na fala do adulto em resposta à sua fala, apontava para umadiferença a seu próprio enunciado. Reconheceu-se também que os processos metafóricos emetoním icos eram circunscritos a um efeito de semelhança ou de espelham ento entre cadeiasque, embora originárias da fala do outro, ganhavam seu estatuto na língua, fora da esfera do outro.Tal reconhecimento levou a autora a caracterizar a segunda posição da criança com o falante comosendo a de um falante submetido ao movimento da língua, posição esta contrária à existentena literatura sobre os processos reorganizacionais, em que o erro, na fala da criança, indica oalcance de um nível m ais avançado de conhecimento da língua. Há, ainda, um deslocamento dofalante em relação à sua própria fala e à fala do outro, o que foi caracterizado como a terceiraposição da criança como falante.
Apresentação dos dadosHá um pensamento geral, um senso-comum – não se pode negar – de que a criança
“adquiriria” primeiram ente os verbos regulares, por serem mais “simples” e, m ais tarde, osirregulares, porque seriam m ais com plexos do que os regulares. Esta tam bém é a hipótese dePerroni-Simões (1976) baseada na complexidade determ inada pela descrição do português.
Algum as ocorrências das formas verbais iniciais na fala de M são apresentadas a seguir.
1) 2;01.14 verbo molhar (M fazia de conta que jogava água com um balde)I: Vichi molhô o chão. Enxuga o chão, né. Enxuga o chão. Aí! Jóia! (mais adiante na mesm asessão)M: M olô / ô qué/ ô qué chigarro. Ô m olô chigarro.
2) 2;04.22 verbo fazerS : Cê contô pra Dindinha que cê fez dodói no braço?M : Fê dodói no baço.
3) 2 ;08.24 verbo fazer (M e I brincam de boneca)
I : Mas quem faz ele dorm ir ?M : Eu faz.
As form as verbais iniciais na fala de M apontam para a condição de dependência dialógica,ou a primeira posição da criança no processo de aquisição da linguagem. Na fala de M existemfragmentos que retornam da fala do outro para a da criança, marcando o estado de alienação àfala do outro, que esta língua revela através das formas verbais em segunda ou terceira pessoas.Levando-se em consideração a definição de Jakobson em que a pessoa verbal caracteriza osparticipantes no procès de l’énoncé com referência ao procès de l’énonciation, pode-se dizer que aprimeira pessoa assinala um a identidade do participante no processo do enunciado com oenunciador do processo de enunciação. Então, o que são as form as verbais que comparecem nafala de M? Um caso em que, embora o enunciador do processo de enunciação seja ela própria, amarca flexional, que a identifica na sua posição enunciativa, no verbo, (resiste ou) se m ostra emsegunda pessoa. O que só pode dizer da sua subjetividade, da sua posição no processo deaquisição da linguagem. Na prim eira posição, as formas verbais iniciais na fala de M aparecem, naposição em que, na língua adulta, ter-se-ia a forma verbal flexionada em prim eira pessoa dosingular, tanto nos verbos regulares quanto nos irregulares, razão pela qual isso não pode serconsiderado um acerto. Se se quisesse encarar a compreensão do fenôm eno pelo lado dojulgam ento lingüístico, seria necessário que aí se considerasse o erro, e não o acerto; o que nosconvida a questionar a configuração da Curva em U, no caso da aquisição da flexão verbal doportuguês nos ambientes de primeira pessoa.
Na segunda posição, a emergência do erro de flexão verbal na fala de M aponta para adiferença da fala da criança com relação à fala do outro, da qual já não é mais tão dependente, aomesmo tempo que indica uma mudança de posição da criança com relação à língua. Nestaposição, há a alienação da fala da criança ao movim ento da língua, exemplificada por : vô fuzê(para vô fugir), pigui e ô pigui (para peguei), vai isquevá (para vou escrever), quevô (paraescreveu), abeu (para abriu), quebi (para quebrei), comei e com iu (para comi), machuqui emachuquê (para machuquei), tom i (para tomei), xinguê (para xinguei), lem bi (para lem brei), di (paradei), sabo (para sei), sabio (para sabia), ero (para (eu) era), tavo (para (eu) tava) e tinho (para (eu)tinha), fazí (para fez) entre muitos outros. Prever a direção que as formas verbais podem tomar nafala da criança não parece ser uma tarefa tão simples, como queria Perroni-Simões (1976). Se épossível se chegar a afirmar que há algum tipo de generalização na fala de M, a essa altura, ela sedaria no sentido inverso ao proposto pela pesquisadora. Pode-se afirmar, apenas, que há um acerta concentração de erros com verbos de prim eira conjugação, que levam a desinência /i/ para aprimeira pessoa. Tal concentração compreende, nos dados, os seguintes verbos: pegar, quebrar,machucar, borrar, falar, colocar e tom ar. Na realidade, a hipótese de Perroni-Simões (1976)perm ite concluir que a ordem para a aquisição das conjugações seria: a prim eira antes da segundae terceira.
Vejam-se, na seqüência, algumas passagens ilustrativas da segunda posição de M naestrutura:
4) 1;11.28 verbo fugirS: Eu vô te enxugá. Não adianta! Você pode espernear, gritar, fugir.M: Ô mãe, eu vô fuzi. I: (ri) (adiante no m esmo episódio)M: Ô qué fazê/ ô qué fuzi. (adiante no mesmo episódio)M: Fuzi. Qué fuzi. Qué fazê.S: Qué fazê o quê?M: Qué fuzi.S: Qué fugi? Ah, não qué fugi, não. Dá o chulé aqui. Põe o chulé. Ó o que você fez na m inha calça!Molhô tudo.(mais adiante, na mesma situação) (M chorando)M: Vô fuzi. Vô fuzi.S: Não vai fugir, Marcela. Cê pode ficá m uito quieta aí porque eu vô botá roupa.I: Ah, foge no meu colinho, foge.M: Vô fuzê. Vô fuzê. (mais adiante no m esmo episódio)M: Vô fuzi. S: Primeiro eu boto roupa, depois cê foge.M: Ã. Qué fuzê. Ã! Ã (reclama)
Fugir, verbo de terceira conjugação, aparece na fala da criança com a desinência /e/,compatível com a segunda conjugação. Interessante neste episódio é a m ovimentaçãoparalelística das estruturas na fala de M. Com parecem em sua fala: “vô fuzi” e “vô fazê”, “Ô quéfazê” e “ô qué fuzí”, “Qué fuzí” e “Qué fazê”, dispostas em paralelo. O erro comparece na fala deM, indicando o cruzamento entre “fuzí” e “fazê”. Até o mom ento do erro, “fuzí” e “fazê” caminhavamlado a lado, em estruturas sempre paralelas. No erro as form as colidem, mostrando um a fusãoentre elas. Nesta colisão, um a estrutura se mantém: “vô fuzê”. Provavelmente, a interferência de“foge” da fala de I no jogo paralelístico em curso, tenha contribuído para o choque entre as formas,pois “foge” mantém tanto uma relação de semelhança com “fugir” quanto com “fazê”. “Fuzê” não éuma form a esperada pela gramática do português. O erro na fala da criança nos m ostra um a outrapossibilidade da organização gram atical. O erro pode opor-se ao gram atical (considerado com o opadrão correto), mas esta possibilidade está dentro da gramática e não fora dela.
Veja, a seguir, a interessante ocorrência com o verbo com er, que m ostra uma instabilidade namarcação de sua classe de conjugação.
5) 2;08.09 verbo comer (conversando sobre balas que estragam os dentes)I: Mas eu já comi um a.M: Então eu já come/eu já com iu, né?
Tanto “comeu” quanto “comiu” estão presentes na fala de M. Do ponto de vista dadescrição do português, é possível considerar o verbo comer como sendo instanciado como verbode segunda conjugação, na primeira vez que é dito por M, e, na segunda vez, como de terceira.Mas não é esta a única observação a ser feita. Na fala do outro, anterior à da criança, “comi”manifesta-se na estrutura: “m as eu já comi um a.” Em seguida, uma ocorrência sem elhante éreposta (ressignificada) na fala da criança: “então eu já come/eu já com iu, né? É inegável oparalelismo entre elas. Há uma estrutura mínima que se repete na fala da criança (De Lem os, noprelo) e, em tal estrutura, substituições podem ocorrer. No lugar do “Mas”, presente na cadeialingüística da fala da mãe, m anifesta-se “então” na fala de M, ao passo que o restante da estruturase “repete”, se mantém: “eu já com e/eu, comiu”, a não ser pela hesitação e pelo acréscimo de “né”.
Se a hipótese de Perroni-Simões (1976) estivesse correta, dever-se-ia esperar que osverbos de primeira conjugação fossem adquiridos, como um bloco, antes daqueles das outrasconjugações. Não é isso o que se observa na fala de M. Veja-se a ocorrência com “machucar”,logo adiante. A primeira conjugação é tão “problemática” quanto qualquer outra. A ordem oferecidapela descrição do português não serve de base para a análise da fala da criança, pois as relaçõesque podem ser estabelecidas não são predizíveis. Muito menos pode ser verdade que todas ascrianças adquiram o português com o língua materna passando pelos pontos, perfazendo o m esmopercurso. As próprias reposições (ressignificações) se encarregam de abrir (ampliar) os lugaressintáticos (posições sintáticas) nas cadeias lingüísticas em movim ento, nas quais combinações nãoprevistas pela língua já constituída podem surgir. Não há com o prever quais e como se darão asressignificações na fala de qualquer criança. O processo de aquisição da linguagem é um processode subjetivação. Veja em 6 outro exemplo de hesitação na fala de M, com relação à flexão verbal.
6) 2;04.06 verbo machucarI:Machucô o dedo?Machucô o dedo, Marcela?
M: Ai, não, não! Machuqui. (mas adiante, I: Sarô mesmo?)M: Machuquê/ qui/ lá a minha i?
O erro na fala de M m ostra a fala da criança alienada ao m ovimento da língua e, não m ais,à fala do outro, pelo m enos não da mesma forma que na primeira posição. Ao lado disso, há aimpermeabilidade da criança à correção feita pelo adulto, ilustrada em 7.
7) 2;05.00 verbo machucarM: Meu pé, m achuqui.S: Machuqui/. (estranha)M: É.S: Não, “machuquei! ” (corrige)M : Machucô.
Se não é possível dizer que M fica alheia ao pedido de correção feito pela mãe, visto quedá uma resposta efetiva a ele, é possível observar, através da resposta que dá, o quanto se afastada adequação esperada pela mãe. A esta altura, já é possível afirmar que os erros na fala de Mparecem não se conformar ao padrão da primeira conjugação (cf. ocorrências com os verbosborrar, falar e colocar na tese (Maldonade, 2003) que deu origem ao artigo). A seguir, a próxim aocorrência mostra algo diferente:
8) 3;00.07 verbo darS: Que que a Dindinha te deu de aniversário, M?M: Nada.S: Que nada? I: Eu não te dei nada, Marcelinha?M: Não di nada. (I havia dado um piano de brinquedo.)
Observa-se algum a sem elhança estrutural entre “Não te dei nada” e “não di nada”.Interessante é que, nas falas anteriores à de M estão presentes tanto deu quanto dei, m as a formaque comparece na fala da criança é di, o que indica o deslocamento do sujeito na cadeiasignificante da primeira para a segunda posição (outros exemplos deste tipo, como, sabo, ero etinho podem ser consultados na tese que deu origem a este artigo).
Dos resultadosSe se pode definir para cada momento um “estado de língua”, com um quadro estrutural
específico, que nunca será homogêneo, dado a língua estar em constante movim ento e ser aheterogeneidade dela constitutiva, pode-se igualm ente concluir que o estado de língua da fala dacriança na primeira posição é indicativo de um estado de alienação à fala do outro. É preciso dizerque as formas verbais presentes na primeira posição poderão dar em erros ou acertos.
Com relação à segunda posição, pode-se afirmar que o erro é um a característica colocadaem relevo, mas ao se perseguir o erro na fala de M, outro aspecto ganhou realce: a movimentaçãodos significantes em ressignificação na fala da criança, em que cadeias e estruturas inteiras eramrepostas, recolocadas na fala de M, fazendo ver na fala da criança a face do que seria aquilo quese pode reconhecer como sendo o efeito da linguagem sobre a própria linguagem. Realmente, oserros com flexão não acontecem, na prim eira posição, na m esma proporção em que aparecem nasegunda posição proposta por De Lem os. A explicação para o fato está em que, na prim eiraposição, há a dominância da fala do outro, no que se verifica o retorno das formas verbais emsegunda (ou terceira) pessoa para a fala de M. Na m edida em que a dependência da fala do outrodim inui, abre-se lugar para um outro tipo de dominância, a da língua. Nisso observa-se amovim entação nas cadeias em que os significantes são ressignificados, fazendo emergir novascadeias lingüísticas e, muitas vezes, desfazendo outras já existentes, de form a que os errospodem aparecer neste momento, estabelecendo relações, muitas vezes não esperadas, quando setoma com o padrão a língua já constituída na fala do adulto. A em ergência do erro na fala dacriança relaciona-se ao deslocam ento do sujeito, na cadeia significante, da primeira para asegunda posição, quando a dom inância da relação com o outro passa a ocupar um planosecundário, ao mesmo tempo que se mostra a alienação à língua da fala da criança.
Finalm ente cabe dizer que este estudo buscou responder não apenas qual é a prevalênciade uma classe de conjugação nos erros da fala de M. Isto significaria abordar somente um lado daquestão: o da m udança lingüística na fala da criança subtraindo-se o sujeito da relação, como sefosse possível tratá-la desvinculadam ente da m ovim entação do sujeito na cadeia significante,como se fosse possível separar língua e sujeito.
ReferênciasBENVENISTE, E. Problem as de Lingüística Geral. 4.ed.Campinas, SP: Pontes, 1995.DE LEMOS, C. T. G. Sobre a aquisição da linguagem e seu dilem a (pecado) original. Boletim da
Abralin. v. 3, p. 97-136, 1982._____. Specularity as a constitutive process in dialogue and language acquisition. In L. Camaioni &
C. T. G. De Lemos (eds). Questioning on Social Explanation: Piagetian Them es Reconsidered.Amsterdã: John Benjam ins, 1985.
_____. Los Processos Metafóricos y Metoním icos como m ecanismo de cambio. Substratum . v. 1,
p.121-135, 1992._____. Em busca de uma alternativa à noção de desenvolvim ento na interpretação do
processo de aquisição da linguagem. Relatório científico apresentado ao CNPq, 1999._____. Sobre o estatuto lingüístico e discursivo da narrativa na fala da criança.
Lingüística, SãoPaulo: Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (ALFAL), v. 13, p. 23-60,
2001._____. Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação. Cadernos de EstudosLingüísticos, Campinas: UNICAMP, v. 42, p. 41-69, 2002._____. Sobre o paralelismo, sua extensão e a disparidade de seus efeitos. Em : M. F.
LIER- de- VITTO (org.) Sobre aquisição, patologias e clínica de linguagem. (Noprelo).
DE LEMOS, M. T. A língua que me falta: uma análise dos estudos em aquisição dalinguagem. São
Paulo: Mercado de Letras, 2002.JAKOBSON, R. Ensayos de Lingüística General. Barcelona: Editorial Seix
Barral, 1974. MALDONADE, I. R. Erros na aquisição da flexão verbal: umaanálise interacionista. Tese
(Doutorado em Lingüística) Campinas : UNICAMP, 2003.PERRONI SIMÕES, M. C. Aspectos da gram ática portuguesa aos dois anos de idade.
Dissertação(Mestrado em Lingüística). Campinas : UNICAMP, 1976.
Lingüística e o sintoma da/nafala na aquisição desvianteda linguagem
Valdir do Nascimento FloresUFRGS
Esta sessão tem ática aborda, desde o lugar da lingüística fundada a partir de Ferdinand deSaussure, o sintom a da/na fala no processo de aquisição desviante da linguagem . Procura-sefundam entar um trabalho referente ao sintom a, entendido com o lugar de produção de sentido e deconstituição do sujeito, tom ando com o ponto central os aspectos estruturais da linguagem .
Para tanto, o desenvolvim ento dos trabalhos que integram esta m esa está dividido emquatro m om entos: a) reflexão sobre os aspectos da linguagem que são teorizados por um alingüística tributária do pensam ento saussuriano que podem servir de eixo teórico-conceitual para aabordagem do sintom a da/na fala; b) discussão a respeito da dim ensão de estruturação subjetiva ede sua determ inação pela linguagem , a partir de seus fundam entos da psicanálise freudo-lacaniana, a fim de abordar aspectos referentes ao sintom a na fala; c) discussão acerca dosaspectos referentes ao que se está a denom inar de sintom a da fala; d) considerações analíticas deaspectos clínicos em torno de m anifestações subjetivas em dados provenientes da clínica delinguagem .
A lingüística na clínica de linguagem
Valdir do Nascimento FloresUFRGS
É conhecido o constante apelo teórico-metodológico feito à lingüística pelas diversas áreasdo conhecimento e, especialm ente, pelas clínicas que, de alguma forma, levam em consideração alinguagem. Norm almente, são endereçadas à lingüística questões conceituais referentes ao(s)método(s) de análise da linguagem. A fonoaudiologia tam bém não escapa a isso. A prova de talrealidade é que parece já ser cena comum encontrarmos junto aos Programas de Pós-graduaçãoem Letras alunos oriundos do campo da fonoaudiologia. Cabe, portanto, indagar: o que procuramos fonoaudiólogos na lingüística?
Para responder a essa pergunta deve-se de im ediato afastar a possibilidade de dois m al-entendidos que ela própria suscita: a) o de que a fonoaudiologia é um cam po homogêneo e b) o deque a lingüística é um campo homogêneo. Quanto ao prim eiro, direi apenas que m inhasobservações restringem-se à clínica de linguagem . Evidentem ente, essa restrição necessitaria demaiores explicações, m as, por ora, basta aceitar-se que o termo evoca de imediato ocomprom etim ento com um a concepção de linguagem e, portanto, com uma teorização do quepode ser considerado linguagem, quando tal termo é aplicado ao escopo da clínica. Assim, pensoque a expressão clínica de linguagem tem o mérito de marcar que se trata de um campo,sim ultaneam ente, teórico e prático. Conclui-se disso que não é de qualquer fonoaudiologia quefalo, mas apenas daquela que toma para si a questão da linguagem como um interrogante.
Quanto ao segundo, cabe dizer que a lingüística como área homogênea de estudos dalinguagem é uma ficção. Talvez fosse m ais correto falar, hoje em dia, de diferentes lingüísticas.Não é esse plural que é m ascarado no termo “estudos da linguagem ”, tão em voga atualm ente? Ésempre bom lem brar um a afirmação do Curso de Lingüística Geral de Ferdinand de Saussure queilustra m uito bem o que estou dizendo. Segundo Saussure (1975, p. 15), “é o ponto de vista quecria o objeto”. Nesse sentido, parece já estar previsto pelo fundador da lingüística que ela tenhauma natureza heterogênea, exatamente, porque terá tantos objetos quantos forem os olharesdirigidos à linguagem. Por que esquecemos de lição tão fecunda de Saussure?
É bem verdade, porém, que, desde o ponto de vista epistem ológico, pode-se demonstrarque a lingüística, em quaisquer das suas vertentes, opera um a articulação do ideal de ciência àciência ideal - com certa variação para esta últim a - o que seria um ponto de unicidade. Massempre é bom lem brar que não se deve desconsiderar a polissemia do termo ciência, isto é, o queé científico para um gerativista com certeza não o é para um estruturalista, nem mesm o para umfuncionalista.
Ora, a ilusão de que existe a lingüística, como expressão referencial definida, prom oveuma im agem de hom ogeneização do fenômeno da linguagem e, conseqüentemente, deplanificação de um dos campos m ais heterogêneos da história dos saberes. Em outras palavras, épreciso
“ver nas teorias lingüísticas o lugar atribuído ao objeto de estudo,porque nesse lugar reflete-se a concepção de ciência como umdomínio regular e contínuo, paradoxo que se instaura pelo próprio
fato de supor a complem entaridade sobre uma realidade que éfalha, ou seja, a língua.” (Flores,1999, p.21).
Conclui-se disso que não é de qualquer lingüística que falo aqui, mas apenas daquela quetoma para si a heterogeneidade da linguagem como um interrogante. Quanto a isso, a perguntaque ainda cabe é: que configuração epistemológica tem essa lingüística do “heterogêneo”?
A partir do exposto, penso ser viável apresentar princípios dessa discussão considerando-os desde a problematização acerca da natureza e da necessidade das relações entre a clínica de
linguagem e a lingüística. Em outras palavras: a) o que pode a clínica de linguagem esperar dalingüística? b) o que é esperado da lingüística é condizente com sua episteme? c) que lingüística equal concepção de linguagem podem interessar ao trabalho na clínica de linguagem? d) levar emconsideração o sintoma da/na fala produz algum efeito na lingüística?
Em linhas gerais, para a lingüística dizer algo do sintom a da/na fala, ela deve reconfigurar-se epistemologicamente em duas direções: 1º) da concepção de objeto, para que o sintoma possaintegrá-lo enquanto um interrogante; 2º) da concepção de teoria, já que esse objeto passa a serconcebido com o estruturalmente m arcado por relações que dem andam um quadro teórico maisamplo.
Além disso, propor algo sobre a clínica de linguagem exige um a concepção clara do que élinguagem. Como lembra Lier-deVito (1995)“...o diálogo possível entre fonoaudiologia e lingüísticadeve passar pelo crivo da discussão teórica e (...) pelo comprom isso com a fala do paciente...” (p.170).
Assim, parece que existem duas questões que norteiam as possibilidades de relaçõesentre a lingüística e a clínica de linguagem. A primeira diz respeito à necessidade de redimensionaro objeto da lingüística. Esse redimensionam ento proporcionaria considerar a fala sintomática comoalgo não-estranho à lingüística. A segunda questão diz respeito à teoria que poderia abordar talobjeto.
É sabido que a discussão em torno do que vem a ser o sintom a da/na fala tem sido um dostemas mais controversos nas relações entre a lingüística e a fonoaudiologia e isso, ao menos, pordois m otivos: a) a lingüística não tom a para si a tarefa de estudar a “linguagem patológica”, isto é,“a polaridade normal/patológico não faz parte do program a científico da lingüística” (Lier-de Vito2001, p. 247); b) a fonoaudiologia busca nas diferentes metodologias (descritivas e/ou explicativas)da lingüística recursos que possibilitem cercar aquilo que entende ser o próprio do sintoma. Parecehaver aí, no m ínimo, um desencontro: a fonoaudiologia, para determ inar as características do quepode ser considerado sintoma da fala, recorre a um campo científico que não reflete sobre aespecificidade dessa manifestação linguageira. Tem-se aí a particularidade de uma prática que sevale de teorias que não pensaram nesta prática.
O que foi dito anteriormente pode levar a crer que o encontro entre as duas áreas estácondenado ao fracasso. Não penso assim. Em primeiro lugar, é de suma im portância afirm ar que,do ponto de vista aqui assum ido, as relações entre lingüística e a clínica de linguagem devem serpreservadas sem, no entanto, um a ser dissolvida na outra, ou ainda, como lem bra Surreaux(2000), sem fazer da lingüística mais um a das aderências à fonoaudiologia (a exem plo damedicina, da pedagogia, da psicologia). Porém, se de um lado, cabe à fonoaudiologia olhar para alinguagem, porque é nela que o sintoma tem lugar, de outro lado, esse olhar deveria especificar oque perm ite a um a fala o “status” de sintomática. Nem sem pre isso acontece. A fonoaudiologia,normalm ente, lim ita-se a fazer “uso de aparatos descritivos sem (...) refletir sobre a lógica dodispositivo teórico que o m otivou. Dissocia-se, desse modo, a arquitetura de seu alicerce e põe-sea perder a solidez da construção” (Lier-de Vito, 1995, p. 167).
Uma forma de recolocar as questões acima é encontrada em Jakobson (1976) e,especialm ente, em Lemos (1998). A autora - ao tom ar como ponto de partida a tese saussurianada organização paradigm ática e sintagmática da língua entendida como um sistema de valor,associando-a às concepções de metáfora e metoním ia - propõe ver nos processos m etafórico emetoním ico, inerentes à língua, mecanismos de mudança no processo de aquisição da linguagem.Em minha opinião, um dos alcances dessa proposta é o de perm itir a generalização dessesprocessos lingüísticos e seu conseqüente deslocam ento para a fala que está em questão na clínicade linguagem . Importa, portanto, pensar os processos metafóricos e m etoním icos comoestruturantes da língua.
Na perspectiva que estou procurando fundam entar, impõe-se a necessidade de sedeslocar o entendimento stricto sensu da lingüística a respeito da linguagem, para concebê-lacomo uma estrutura que comporta o seu próprio rompim ento, lugar este de constituição dasubjetividade. Parece que assim, concebendo a linguagem como um a estrutura que não ésinônim o de repetição, mas que abriga o equívoco, o rompim ento, o lapso, etc, pode-se repensar aclínica de linguagem , porque tal estrutura poderia também dar lugar à linguagem dita “patológica”.Passa-se, portanto, a buscar uma concepção de linguagem que favoreça abordar os movimentosde uma clínica que possa ser pensada na sua singularidade.
Estrutura e rompimento, eis as palavras-chave desta reflexão. Isso, no entanto, não éinteiram ente novo na história das idéias, Lacan já havia concebido tal estrutura ao dizer que o“inconsciente é estruturado com o uma linguagem” (1998, p.882). Por um a inferência bastantelógica, talvez se possa dar status semelhante à estrutura em lingüística, veja-se: se o inconscienteé estruturado, e o é à moda da linguagem , e se o inconsciente é o “lugar” do que escapa ao sujeitoe que aparece nos tropeços “da vida cotidiana” (como diria Freud (1996) em Psicopatologia da vidacotidiana), então a estrutura da linguagem é ela m esma o lugar de irrupção do tropeço.
Ora, se li bem Lacan, é a partir mesmo de Saussure, de Jakobson e de Benveniste que elesupõe tal estrutura. Em Subversão do sujeito e dialética do desejo, Lacan é bastante claro ao dizer“ O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que em algum lugar (numa outracena, escreve ele) se repete e insiste, para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivoe na cogitação a que ele dá forma” (Lacan, 1998, p. 813) [grifos meus]. O que estamos cham ando deestrutura que comporta o rompim ento parece que Lacan evoca nas palavras repete e corte.
É importante lem brar que, de alguma forma, essa constituição da estrutura pelorompimento já fora nomeada também por M ilner ao falar de langue/lalangue. É bem verdadetambém que Milner subm ete a lingüística ao olhar da psicanálise ao dizer “nosso objetivo é alingüística enquanto afetada pela possibilidade da psicanálise” (Milner 1987, p. 17). Diz ele ainda,só que agora em forma de pergunta: “o que é a língua se a psicanálise existe?” (Idem ).
Realmente, Milner, desde a suposição da psicanálise, opera um a leitura epistem ológica dalingüística que não cessa de produzir efeitos e, na perspectiva aqui assum ida, é-se tambémtributário do pensam ento milneriano. No entanto, gostaria de reivindicar algum a singularidade naleitura que faço de Milner e perguntar: o que é a língua se o sintoma da/na fala?
Retomando o percurso feito até agora, pode-se sintetizar o seguinte: a) a lingüística quepode abordar o sintoma da fala é necessariam ente produzida a partir de um deslocam entoepistemológico, o que pode diluir a dicotom ia norm al/patológico; b) tal deslocamento não prescindeda noção de estrutura, mas também não prescinde do rompimento como um traço que a constitui(e isso derivo da concepção lacaniana do inconsciente estruturado como uma linguagem); c) oslingüistas que possibilitaram a Lacan tal suposição para o inconsciente talvez tenham algo a dizer àlingüística que daria lugar ao sintoma da fala; d) a pergunta feita por Milner à lingüística éepistemologicam ente válida para a relação entre a clínica de linguagem e a lingüística.
Enfim , este texto pode ser visto como uma reunião de argumentos para construir umprincípio epistemológico. Nesse sentido, o que se procurou fazer aqui não foi m ais que lançar asbases de um programa de pesquisa que busca um a lingüística própria à clínica de linguagem. Paratanto, este programa deverá pedir inscrição na lingüística advinda de Saussure e na psicanálisefreudo-lacaniana sem, contudo, dissolver tais dom ínios numa mera soma de referenciais teóricos.
O certo é que a relação entre a lingüística e a clínica de linguagem deve se dar a partir deuma escrita própria. Finalmente, como é praxe no discurso acadêmico, é importante explicitar olugar teórico do qual se fala. De certa form a, foi isso que fiz ao reunir nesta comunicação osautores e os campos teóricos que afetam a todos que participam desta mesa-redonda.
ReferênciasBENVENISTE, Emile. Problem as de lingüística geral I. Campinas, SP: Pontes, 1988.FREUD, Sigm und. Psicopatologia da vida cotidiana. Rio de Janeiro: Imago, 1996.JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1976.FLORES, Valdir do Nascim ento. Lingüística e Psicanálise: princípios para uma semântica daenunciação. Porto Alegre. EDIPUCRS, 1999.LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor., 1998.LEMOS, C. “Os processos metafóricos e metoním icos como mecanismos de mudança”. In:Substratum: m ecanism os de mudanças lingüísticas e cognitivas. V.1, n.3, Porto Alegre: ArtesMédicas, 1998.LIER-DE VITTO, M.F. Novas Contribuições da Lingüística para a Fonoaudiologia. In: Distúrbios daComunicação, São Paulo, 7(2): 163-171, Dezembro, 1995.____ “Sobre o sintoma - déficit de linguagem, efeito da fala no outro, ou ainda...?. In Letras deHoje. Porto Alegre: EDIPUCRS, V.36. nº3 (p. 245-251) 2001MILNER, Jean-Claude. O amor da língua. Porto Alegre: Artes Médicas Ed., 1987.SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1975.
SURREAUX, Luiza. Discurso fonoaudiológico: uma reflexão sobre sujeito, sentido esilêncio.PortoAlegre, Instituto de Letras, PPG-Letras, UFRGS, 2000 (Dissertação de mestrado).
Interrogações sobre uma falta comum: O sintoma na fala
João Fernando de Moraes TroisUFRGS
Eu com eçarei falando dos três pontos a partir dos quais vou situar m inha exposição. Istotalvez nos perm ita compreender melhor os problem as que estão sendo debatidos nesta mesa.
Prim eiro me pareceu necessário falar um pouco sobre a posição da psicanálise, enquantoum campo de saber definido por suas proposições específicas, em relação a abordageminterdisciplinar do sintom a da / na fala.
Posteriorm ente pretendo abordar, da forma mais sim ples possível – quase em pírica – oconceito de falta, oriundo da psicanálise lacaniana, por caracterizar-se enquanto um conceitochave para as articulações que estão em pauta, com a ressalva de que, no âmbito deste trabalhoserá necessário fazer a econom ia de um a série de mediações que seriam necessárias a um aabordagem propriamente conceitual. Finalizarei, então, com algumas palavras sobre o que esteconceito de falta nos perm ite considerar sobre: a língua, a articulação do sujeito na língua e o lugardo sintoma.
Estes três pontos–questões apresentam um traço comum, que os unifica: a relação deentrelaçam ento da clínica e da linguagem.
Esta idéia de unidade nos perm ite entrar na primeira questão: a interdisciplinariedade.Este é um ponto onde as questões se desdobram e por isso m esmo a idéia de “dobra”
torna-se importante. Em nosso caso são três campos – lingüística, fonoaudiologia e psicanálise –que podem ser articulados através de duas questões que se im plicam m utuamente. De um lado dafolha de papel – da metáfora saussureana – encontramos a questão “o que pode a lingüística dizerà clínica ?” e do outro lado sua com plem entar “o que pode a clínica fazer com esta lingüística ?”.Cifra-se, assim, o desafio que se coloca na cena clínica. E que pode ser enunciado pela paráfrasede Austin (1990) “quando dizer é fazer”. Assim, a dimensão do ato clínico produz sua dobramoebiana (sua meia torção) na folha de papel1. Dobra esta que reintroduz um terceiro elem ento, ofazer clínico, representado aqui pelo próprio ato de dobradura. Deste modo, podemos retornar aooutro lado da folha, sem corte, onde, então, coloca-se o tem po de perceber a resposta que ahomofonia da leitura proclama: (o que pode a lingüística dizer à clínica torna-se) a lingüística podedizer (algo) a clínica; implicando-se, num só lance, como interior e exterior a um m esmo conjuntode interrogações que compõem as condições de enunciação de nossas questões.
Percebemos, então, que apesar de existir um a profunda unidade entre os cam pos assimdefinidos, não se trata de “articulá-los”. Nem a lingüística à fonoaudiologia ou à psicanálise e vice-versa. A unidade, assim constituída, não consiste em conteúdos tem áticos m ais ou menospróximos, mas liga-se a um estilo, uma form a específica de lidar com os axiomas, ou seja, com asproposições de base, que definem cada campo.
Esta forma de pensar, Dany-Robert Dufour ,em seu livro “Os Mistérios da Trindade”, definiucomo sendo a de um “estilo im plicado” de operar sobre as definições dos cam pos entre si. Onde aoflexionarem -se sobre si m esmos, não estão “explicando” uns aos outros, m as produzindo questõese compartilhando entre si de suas próprias interrogações, na constituição de alteridades a partirdas quais acabam implicando-se uns aos outros. Cito:
Em lugar da explicação encontra-se um a im plicação (...) uma dobrado pensam ento que nunca deixa de suscitar o espanto e adesorientação. É um modo faltoso com referência a lógica clássica.Apresenta-se com o um não-senso; um enigm a; uma nova questão(elevada ao quadrado) (...) A dobra é o lugar onde se urge uminsaber (...) parcialmente ligado ao não-saber.” (Dufour, 2003,p.39)
1 A propriedade topológica dita “moebiana”, caracteriza-se pela realização de meia torção e translado num a faixaretangular, colando-se as extremidades.
Desta unidade que se forma, só podemos adquirir um saber pela falta. O que possibilitaquestionar a “outricidade” radical de cada um dos campos, ao encontrarem sua alteridade naprópria linguagem e com a própria linguagem.
Resumidamente, trata-se de nos perguntarmos sobre o Real que toca cada campo, nosentido de um resto que não pode por ele ser sim bolizado. Dando, assim, lugar a um vazio, queserá ocupado pela função do que não se inscreve no quadro de suas definições, a não ser peladupla negação. Como aquilo que “não cessa de não se escrever”. Ou seja, pelo que ex-siste àlíngua para a lingüística, sendo que este existente se constitui pela negação de sua totalização ; eo que não advém na subjetividade, para psicanálise.
E para a clínica de linguagem 2, com o se configura este Real ? Proponho a definiçãoprovisória de que este vazio se apresenta, na clínica de linguagem com o o seu obsceno, o queestá fora da cena e que insiste em permanecer fora da cena clínica, não deixando de produzirefeitos em seu interior.
A cena clínica, por seu caráter efêmero, não pode ser toda capturada no enquadramentoclínico. Assim com o a enunciação não pode ser reduzida aos enunciados que produz, pois palavradeixa seu rastro. Ouçamos outra cena, de caráter evocativo destas questões, em Fausto deGoethe.
“Passou ! Palavra estúpida !Passou porquê ? Tolice !Passou, nada integral, insípida m esmice !De que serve a perpétua obra criada,Se logo algo a arremessa para o Nada ?Pronto, passou ! Onde há nisso um sentido ?Ora ! é tal qual nunca houvesse existido,E com o se existisse, embora, ronda em giro .Pudera ! o Vácuo-Eterno , àquilo então prefiro” ( Mefistófoles em Fausto, 1991, p.436)
Os artistas chegam antes de nós às boas questões.Assim, creio encontrar um a ótima e breve definição deste Real na ótica arquitetônica de
Maurice Blanchot, em Thomas L’obscur para reflexão de quem se interessa (e se endereça) empensar a clínica: “Ele não via nada e, longe de ficar apavorado, ele fazia desta ausência de visão oponto culm inante de seu olhar (...) Por este vazio, era então, o olhar e o objeto do olhar que semisturavam ”.
O Real nos faz dar voltas, então, voltemos.A clínica de linguagem herda por extensão o impasse da lingüística afetada pela
psicanálise. A falta os articula. Algo que ao não se inscrever circunscreve um lugar de articulação,uma casa vazia que se preenche por uma interrogação.
A interrogação que tenta dar conta do Real da lingüística, segundo Milner em O amor dalíngua (1987), constrói-se sobre o que ela teve que excluir para se constituir com o ciência, ao isolarseu objeto específico: a língua.
Este ponto de impossível de uma ciência torna-se seu “ponto de poesia”. Uma espécie de“lugar dos equívocos” para o qual Lacan forjou o termo “lalangue”. Mais precisamente, “umacoleção de lugares, todos singulares e todos heterogêneos, sempre outra para ela mesm a,incessantem ente heterotópica” (Milner ,1987, p.9).
Milner não isenta o lingüista de reconhecer este lugar. Eu diria mesmo que o lingüista estápreso na própria rede de linguagem que construiu para pescar sua língua, seu objeto. Paradesembaraçar-se desta rede, segundo nos adverte Milner, será preciso articular o ponto onde seusfios fazem nó com os fios do desejo inconsciente, “não com o indistingüível, mas como localizávelpela via da falha que ele im põe a todas as referências” (Idem, p.24).
Mas esta rede deve ser bem tecida, pois é aquela que sustenta a necessária invençãoconstante que requer as condições de enunciação de um ato clínico, para se sustentar no tênue
2 Definição que consideramos mais apropriada para uma fonoaudiologia que se deixa im plicar na relação de alteridadeinterdisciplinar que estam os propondo neste trabalho.
fio da linguagem, como o artista-equilibrista que não teme sua travessia. Som ente porquelalangue3 opera na língua que algo da ordem do desejo é enunciável. E assim, a travessia de umsujeito é possível.
O desafio que Milner lança aos lingüistas – o de ter que se ver com um Real que insiste –serve igualm ente aos psicanalistas. Ao m enos duas posições são possíveis como resposta.Suportar este Real e fazer algo com isso , ou obturá-lo.
A primeira posição é a que podem os cham ar de poética, que inclui um a ética, e exige denós uma prática inventiva e não acomodativa com a linguagem , im plicando e im plicando-se nadim ensão do equívoco (gênio da língua), onde podemos ser desditos no ato mesm o de nossaenunciação por um sim ples lapso ou m esmo um cacófato. A segunda trata de eludir o Realatravés de uma im agem da língua que corresponda à exigência de completude. A poesia está paraprimeira assim como a gramática para segunda.
Os poetas revitalizam a linguagem pois criam novas formas de expressividade na língua,através da prática da escritura poética. Como na definição quase autobiográfica de Manoel deBarros, em sua Gramática Expositiva do Chão (1990): “Minhocas arejam a terra; poetas, alinguagem” (p.252).
Nesta “poesia quase toda”, como ele m esm o define, escutam os as reverberações dotrabalho poético com o trabalho analítico – pois am bos praticam a “regeneração do significante” ,na feliz expressão de Jacqueline Authier-Revuz (1978).
Esta espécie de avesso, que des-cobre e põe no lugar do gramático o anagramático,enquanto saber inconsciente da própria língua, estabelece a relação entre a leitura anagram ática eo trabalho do sonho. Lá onde Saussure esperava Freud, segundo Jacques Lacan no Sem inário20.
De certa form a já estamos no Real que toca a psicanálise e voltamos ao conceito de falta,anunciado anteriorm ente como o 2º ponto, que abordarei, aqui, juntamente com o 3º ponto,relacionado à língua, à articulação do sujeito na língua e ao lugar do sintom a.
O fato de o conceito de falta ser enunciado pela psicanálise não deve ser entendido comoo testemunho de algum domínio ou de mestria, m as de uma interrogação que parte de um a faltacomum. Pois para psicanálise é a falta que nos introduz na linguagem (confira-se, para tal, oconceito freudo-lacaniano de recalque originário).
A falta, embora se expresse de diferentes m aneiras, conforme as línguas, sendosim plesmente um efeito de estrutura, é fundamentalm ente a m esma para todo sujeito falante. Masse, para lingüística, a língua serve para que possamos nos reconhecer com o participantes de umamesma com unidade de falantes, com a psicanálise podem os acrescentar que não se trata decomunidade de bens, mas de comunidade de falta, como bem indica Charles Melman (2000).
Isso quer dizer que é preciso participar da mesm a falta (“ser da m esma paróquia”), pois éna falta veiculada pela palavra que podemos entender o desejo daquele que fala. É precisoescutar a música da poesia que é veiculada pela sua fala. Assim com o para rir de um chiste épreciso se deixar levar pelo inusitado, para entender um lapso, onde só se ouvia um “erro”,também.
Aqueles que se apoiam numa lingüística da com unicação para constituir seu objeto,acreditam que a língua serve para transmitir o sentido. Mas a clínica insiste em dizer que, se istofosse verdade, a língua seria um péssimo sistema, pois está prenhe de equívocos. Basta falarmosnela para verificarm os que, quando se fala, a comunicação do sentido é falha.
É preciso questionar esta palavra homogênea, sujeito pleno, este “eu” que se toma pelacausa primeira do sentido e pela consistência de sua autonom ia e que se auto-nomeia a si próprio.Um “eu” esfera.
É preciso que este questionamento vá em direção a isso que foi “esquecido” , ou melhordito, recalcado: à fala heterogênea de um sujeito dividido enquanto efeito de linguagem.
O trabalho psicanalítico é, em certos m om entos, uma reconstrução disso “que foiesquecido” a partir dos traços deixados por esses esquecimentos.
3 Com preendendo Lalangue como aquilo que a experiência do inconsciente mostra com o efeito, uma língua que “serve acoisas inteiramente diferentes da comunicação” (Lacan, O Seminário, livro 20, p.188, 1985).
Alio-me aqui com a posição de Authier-Revuz (1978), ao dizer que o lugar da interpretaçãoanalítica é a própria linguagem . Mas a clínica não traduz, através de uma “palavra-instrum ento”,um sentido que estaria oculto em um sentido manifesto. Trata-se antes de um trabalho de escuta,que é um recorte (uma pontuação, um eco) que se efetua sobre a materialidade da cadeia falada.
Lacan (1998) diz que o inconsciente não é profundo, mas está na superfície das palavras eque do inconsciente sacamos apenas a sua costura. Como na topologia da fita de Moebius4, alinguagem é duplicada em uma dupla cena, por ela m esma, ou seja, pela própria linguagem(confira-se o esquema freudiano do a posteriori). A Cena 1, da comunicação regulada por códigos,é duplicada na Cena 2, da linguagem que efetua rupturas na cena 1. É o Avesso do discurso – nãoé um outro discurso, mas o discurso do Outro. Articulação de um discurso com seu avesso, pelalocalização de seus traços na cadeia falada (o que é dito do desejo, sem que se saiba, na fala).
Até agora falamos das articulações da noção de falta com a língua e com o sujeito nalíngua. Resta, ainda, interrogarm os sobre o lugar do sintoma. O sintoma tam bém, assim como alíngua, tem sua versão “todo” e sua versão “não-todo”.
Em sua versão “todo”, o sintoma é tomado como um signo. É assim que, na clínica médica,cada significante corresponde a um significado ao “olhar” do clínico , tendo como referente umsinal de verdade relativo a seu ideal de ciência (m édico, no caso). Segundo Quinet (2000), paraeste olhar, o sintoma é um significante que tem por significado uma patologia. Por exemplo, elepode ainda se vincular a outros sintomas, definindo uma doença. Assim, teríamos: tosse (S) , febre(S’), dificuldade de respirar (S’’) e assim por diante (nS), definindo juntos uma doença respiratóriaespecífica.
Em sua versão “não-todo”, o sintoma é tomado com o um significante. Desta forma, nãoremete necessariamente a um a doença, mas expressa uma verdade que é da ordem do sujeito edo desejo inconsciente que fala nele.
Na palavras de Quinet:“O que Freud descobre na análise das histéricas é que o sintomase forma com o os processos ditos normais, do sonho, do chiste edos lapsos, porque tem exatamente a mesm a estrutura. O que fazcom que se rompa aí a barreira entre o norm al e o patológico.Assim o significado de um sintom a para a psicanálise não é apatologia.” (Quinte, 2000, p.120)
Assim, não se trata de um saber que anteciparia um signo a ser dominado, um conceito aser compreendido, que não deixa espaço para o im previsível. Mas de um saber fazer – com osintom a, com a língua – mais da ordem da criação poética do que científica. Para que oanalisante, cliente, paciente, possa dizer de seu sintom a sem, no entanto, sofrer. Trata-se então derenovar suas condições de enunciação e de expressividade em seu fazer na e com a linguagem.
Talvez, na pista deste conceito de sintom a, possam os operar um a reflexão em torno daclínica de linguagem . Talvez, então, possamos introduzir aí, sem ferir nossos ouvidos, um sujeito, aofalarmos na clínica de um sujeito de linguagem.
ReferênciasAUTHIER-REVUZ, J. Hétérogénéité montrée et Hétérogénéité constitutive: élements pour uneapproche de l’autre dans le discours. D.R.L.A.V., n. 26, p. 91-151, 1978.BARROS, M. Gramática Expositiva do Chão (poesia quase toda). Rio de Janeiro: CivilizaçãoBrasileira,1990.BLANCHOT, M. Thomas L’obscur” . Fotocópia.DUFOUR, D-R Os Mistérios da trindade. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003.GOETHE, J.W . Fausto. Rio de Janeiro: Vila Rica, 1991.LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998._________Mais, Ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.MILNER, J-C O amor da língua. Porto Alegre: Artes Médicas. Série Discurso Psicanalítico,CONEXÔES, 1987.MELMAN, C. Um inconsciente pós-colonal, se é que ele existe. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000.QUINET, A A descoberta do inconsciente: do desejo ao sintom a. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2000.
4 A figura topológica da fita de Moebius, se produz ao tom armos uma faixa inicialmente bilátera – frente / verso – realizandoum a meia torção na faixa, seguida de um movimento de translação que possibilite colar suas extremidades. Transforma-se,desta form a, a superfície anteriormente bilátera da faixa em um a superfície unilátera. O trajeto iniciado em um lado da folhadesliza pelo seu avesso retornando novamente ao direito quando um a volta se completa.
Um movimento possível do sujeito na linguagem: sintomada/na fala
Luiza Milano SurreauxUFRGS
Discutir a noção de sintom a da/na linguagem no âmbito da clínica de linguagem não é umaquestão sim ples. Ela envolve comprometimento ético e teórico que fala do lugar de inscrição dessareflexão. O presente trabalho tem com o proposta apontar questões básicas que ajudem naelaboração da noção de sintoma de linguagem, desde um lugar de interlocução da clínica delinguagem com a lingüística tributária de Saussure e com a psicanálise freudo-lacaniana.
Com o cam po da lingüística a tentativa de diálogo provoca, algum as vezes, efeitosquestionáveis. Acredito que temos aí, por vezes, um desencontro teórico, já que as perspectivas deolhares têm direcionam entos talvez contraditórios. Isso gera alguns problem as delicados narelação entre as duas áreas, pois, aponta Lier-de Vito (2001), a lingüística não tom a para si a tarefade estudar a linguagem “patológica”, isto é, a polaridade normal/patológico não faz parte doprogram a da lingüística. Outro fator que com promete este diálogo, segundo a autora, é o fato de afonoaudilogia buscar nas diferentes metodologias da lingüística recursos que possibilitem cercaraquilo que entende ser o próprio do sintoma.
Ainda segundo Lier-De Vitto (2000a), “por m eio de um a análise lingüística stricto sensu nãoé possível apreender um a fala/falha peculiar, uma marca de patologia (...) os instrumentaisdescritivos da lingüística não podem captar isso que a orelha do falante de uma língua escuta,estranha e distingue”. Então, no m omento em que o terapeuta se oferece com o “filtro” de um aanálise lingüística estática para detectar o “incorreto” nas produções lingüísticas de seu paciente,marca para si um lugar de saber absoluto sobre a língua, sendo que ao paciente resta o lugar deinábil. Prova disso é que a tendência em muitas avaliações de linguagem é a de detecção apenasdo erro, da falha, em vez de um levantamento das possibilidades e efeitos discursivos.
Cham a-m e a atenção o estranhamento que causa em meus pacientes as falhas que eucometo ao falar. A ocorrência de um lapso, um ato falho ou um simples mom ento de disfluência noritmo de m inha fala provoca às vezes susto, outras vezes risos. Algo com o: “pode minha fonotambém falhar?”
Por isso, lem bro Milner que diz que falar da língua é falar da falta, é admitir que o todo dalíngua não pode ser dito em nenhuma língua. Segundo esse lingüista francês, a falta habita alíngua, ou seja, nela há “lalangue” como um modo singular de produzir equívocos (Milner, 1987,p.15).
Diria que o terapeuta de linguagem está como um m ediador entre a instância da língua (oque é da ordem da cultura) e a possibilidade de fala (o que é da ordem do singular), ou seja, ele aomesmo tempo é alguém instrumentalizado para realizar um a escuta de falas esquisitas, diferentes(não nos assustamos com um “quelo”, um “tatauda”, “eti tatoi é du Tobeto”) e, por outro lado, ele éalguém preocupado com a circulação do dizer de seu paciente. De nada adianta que apenas eu,como terapeuta de linguagem, possa entender aquilo que meu paciente quer dizer. O terapeutaestá ali, então, com essa dupla função: por um lado, ser um interlocutor privilegiado, que tem umaescuta que faz brotar um dizer onde todos dizem que não fala ou fala m uito m al; por outro lado, ade buscar fazer com que, cada vez mais, interlocutores possam ouvir um dizer nessa fala “torta”.
E para tal, necessitamos estar numa condição, que antes cham ei de privilegiada, de escutada fala do paciente. Trata-se de uma escuta que interpreta o dizer do paciente. No entanto, éimportante lembrarm os que a interpretação na clínica de linguagem tem sua especificidade,diferente, por exemplo, da interpretação analítica. Segundo Lier-De Vitto e Arantes (1998), ainterpretação no âm bito psicanalítico tem o objetivo de abrir possibilidades de significação para osujeito, de pôr em circulação sentidos outros aos quais o sujeito não estava tendo acesso (ir embusca de um saber inconsciente do sujeito). Na clínica de linguagem, a interpretação é de outra
ordem. Nessa clínica, a interpretação tem o objetivo de alinhavar uma possibilidade de sentido nomovim ento dos dizeres entre paciente e terapeuta.
A clínica de linguagem tem larga experiência num cam po de trabalho que envolve acompreensão de dizeres idiossincráticos, esquisitos. Esta experiência com aquilo que falha nalinguagem é suficientemente densa para realizar um a escuta não transparente e “virtual” da fala deseu paciente. Passar de uma escuta “ortofônica”, que visa som ente a correção daquilo que foiproduzido erroneamente pelo paciente, para uma escuta não transparente ou ainda virtual (quegere efeito de sentido, mesmo que de forma reduzida e fugaz) é uma mudança essencial. Para talé necessário que o terapeuta de linguagem perceba que seu dizer também está sob efeitosimprevisíveis.
Em relação ao sujeito que está sendo tratado, isto im plica o clínico poder mostrar a ele oscaminhos que uma fala pode tomar. Trata-se de realizar um a interpretação possível do dizer dopaciente, mas, ao mesmo tempo, de ter cautela para não obturá-la, sob o risco de ali impedir queum sujeito fale. Já em relação ao sujeito que trata (o próprio terapeuta de linguagem), enfatizo anecessidade de o clínico se despojar de um saber total sobre a linguagem do paciente, ao m esmotempo em que possa se dar conta dos “riscos” de múltiplas interpretações de sua própria fala pelopaciente.
Penso ser fundam ental para a clínica de linguagem poder trabalhar com um articulador1
(teórico-clínico) que venha deslocar o conceito de língua, ou seja, a possibilidade de que ela possaser subvertida, pois é aí que reside a especificidade da clínica de linguagem: as falhas nalinguagem dos pacientes são um a espécie de subversão que, em vez de ter um caráter poético,soam como um “estorvo”. A gente não deveria esquecer que esse jeito “esquisito” de falar, desubverter a língua é a form a de o paciente ser sujeito na linguagem.
Uma pergunta pertinente a esse trabalho é: por que o sujeito quando fala, falha? A questãoda dim ensão do sintoma e da falta enquanto estruturante do dizer do sujeito já com eçou a seresboçada desde Freud no texto sobre as Afasias, de 1891.
Este escrito, até certo ponto desconhecido da psicanálise, inaugura, na minha opinião, umaleitura particular para a questão do sintoma na linguagem, mesm o tendo sido escrito por um Freudainda neurologista.
Freud, nesse texto, fornece-nos uma concepção original de parafasia (perturbação delinguagem na qual um a palavra é substituída por outra não “apropriada”): “a parafasia observadaem alguns doentes não se distingue em nada daquela troca ou mutilação de palavras que quem ésaudável pode encontrar em si próprio em caso de cansaço ou sob influência de estados afetivosque o perturbam” (Freud, 1997).
Pode-se perceber que Freud confere caráter funcional ao sintoma. A partir daí, eledesenvolverá o pressuposto da existência de um aparelho de linguagem (em oposição ao puroorganicismo localizacionista vigente na época). Acredito que é justamente a noção de aparelho delinguagem que nos perm ite falar em funcionamento desse aparelho. Nessa perspectiva, asperturbações da linguagem são processos específicos do aparelho de linguagem – algo com o um aperturbação funcional.
Mas não sejamos ingênuos. Quem já teve oportunidade de se aproximar dos textosfreudianos percebe que, ao apresentar o aparelho de linguagem sujeito ao equívoco e àscombinações imprevisíveis, notará tam bém que a formulação acerca do aparelho de linguagemtrata-se de uma pré-concepção daquilo que depois ele vem a chamar de aparelho psíquico2. Essasobservações acerca de movimentos sim ilares entre a forma de funcionam ento da linguagem e doinconsciente serão evidenciadas – e aí com mais força ainda – em trabalhos em que a “falha” ou oimprevisível no funcionam ento do aparelho são evidenciados: é o caso da Interpretação do Sonhos
1 Aqui articula-se estrutura e funcionam ento da linguagem através da noção de “aparelho de linguagem”. Uma noção deaparelho que rompe com a dicotom ia norm al/patológico, pois a noção de sintoma passa a fazer parte do funcionam ento doaparelho.2A noção de aparelho, por tratar-se de um a construção teórica realizada ao longo das form ulações freudianas, éapresentada de form as distintas no decorrer de sua obra. Aponto aqui brevem ente três momentos im portantes destedeslocamento teórico: a noção de aparelho de linguagem no texto das Afasias, de 1891; a noção de aparelho de mem óriana Carta 52 a Fliess, de 1896; e a noção de aparelho psíquico na Interpretação dos Sonhos, de 1900.
de 1900, da análise de lapsos e atos falhos em Psicopatologia da Vida Cotidiana de 1901 e doschistes em Os Chistes e sua relação com o Inconsciente de 1905. Ou seja, todos textos publicadosuma década após o trabalho das afasias.
Realizei essa retomada para destacar que, desde o texto das afasias, há, portanto, odeslocam ento do conceito de sintoma, e isso porque a concepção de sintoma, já no Freud dasafasias, se “despatologiza” (e estou pensando aqui em relação à dicotom ia normal/patológico).Então, é porque vejo a concepção de sintom a de linguagem desde Freud das afasias se“despatologizar” que proponho relativizá-la no âmbito da clínica de linguagem. Por quê? Porque anoção de sintoma passa a fazer parte do funcionam ento do aparelho. E a partir do m om ento emque a perturbação – ou o aspecto “falhado” – do aparelho de linguagem é proposto comoconstitutivo do mesm o, um deslocamento teórico-clínico no campo da patologia de linguagempassa a ser inevitável.
O que desejo destacar é que o sintoma da fala, se concebido com o sintom a na falaconforme Trois (2004)3 e se integrado a um a teoria da linguagem com prom etida com a falhaconstitutiva da linguagem conforme Flores (2004)4, pode ser visto como estruturante do sujeito. Aquestão é saber até que ponto é possível deslizar de um sentido único do sintoma de linguagem –sintom a da fala com o um rótulo apriorístico – para pensá-lo como um a posição que o sujeito ocupa nalinguagem (sintoma na fala).
Assim, para se falar em sintom a no âm bito da clínica de linguagem, talvez se deva dizerque há algo de singular no funcionamento daquela estrutura em especial. Frente àquilo que nos fazpensar no funcionam ento da linguagem como algo do laço com o universal, encontramos o singularna fala do sujeito. Portanto, pensando na condição do paciente que busca atendimento em funçãodo sofrimento singular de sua condição na linguagem, a clínica só pode ser clínica se clínica dosingular.
Segundo Vorcaro (1999, p.122), “os distúrbios da linguagem , mesmo quando associáveis aquadros orgânicos ou a lim itações do meio social, trazem a m arca da posição de um sujeito NAlíngua”. As reflexões de Vorcaro encam inham para que se estude o sintoma na clínica delinguagem como algo diferenciado do que costumeiramente é tratado sob esse rótulo nas dem aisclínicas, em especial a médica, devido ao fato de ser este sintoma um “jeito de estar” do sujeito nalíngua. Cabe aqui a pergunta levantada por Lier-De Vitto (2000b, p.02): “o quê, (...), sustentaria alinguagem no rótulo ”patologias da linguagem”? Unicam ente que sintom as aparecem NAlinguagem”
Um caminho seria situar na estrutura da linguagem o sintoma de fala. O sintoma é elemesmo estruturado como uma linguagem, já dizia Lacan nos Escritos (1988, p.258) e está também emFreud desde as afasias, com o foi dito anteriormente. Essa noção parece despatologizar a idéiade sintoma, se pensarmos o sintoma como manifestação que faz parte do funcionam ento dalinguagem.
O sintoma da fala é um a garantia do sujeito na língua. Essa perspectiva aponta para aindistinção entre sintom a da e sintoma na fala. Por isso, nossa tendência em nossos estudos5 é ade m anter a dualidade da/na ao nos referirmos ao sintoma, pois ele é, concom itantemente, da fala– e nessa instância a dem anda é dirigida à clínica de linguagem – m as ele é também na fala – enessa instância ele faz parte da estrutura do sujeito, pois, afinal, o sujeito que se apresenta aoclínico tem sua identidade exatamente nesse lugar que a linguagem lhe dá.
3 Cf. supra.4 Cf. supra.5 Refiro-m e ao projeto de pesquisa Lingüística e o Sintom a na Linguagem : a instância da falha na fala, coordenado peloProf. Dr. Valdir do Nascim ento Flores, no PPG Letras/UFRGS, e no qual este trabalho encontra inscrição.
ReferênciasFLORES, V.N. SURREAUX, L.M. A linguagem e as práticas clínicas com/da linguagem. JoãoPessoa, Anais do III Congresso Norte-nordeste de Psicologia, 2003. NÃO ENCONTRADO NOTEXTOFREUD, S. A interpretação das afasias. Lisboa:Edições 70, (1ªed.1891) 1997.____. La afasia. Buenos Aires:Ediciones Nueva Visión, 1973.
LACAN, J. Escritos 1. Buenos Aires:Siglo Veintiuno Ed., 1988.LIER-DE VITTO, M.F.. The symptomatic status of sym ptoms: pathological errors and cognitiveapproaches to language usage. Comunicação em painel no 7 th International Pragm atics Conference(Budapeste, Hu.), 2000a.____. Patologias da Linguagem: subversão posta em ato. In: LEITE, N. Corpo e linguagem ,2000b, no prelo.____. Sobre o sintoma – déficit de linguagem , efeito da fala no outro, ou ainda...?. In: Letras deHoje, Porto Alegre, Ed. PUC/RS, v. 36, n.3, p. 245-51, 2001.LIER-DE VITTO, M.F. & ARANTES, L., Sobre os efeitos da fala da criança: da heterogeneidadedesses efeitos. In: Letras de Hoje, Porto Alegre, Ed. PUC/RS, v. 33, n.2, p.65-71, 1998.MILNER, J-C. O amor da língua. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.VORCARO, A. Crianças na psicanálise: clínica, instituição, laço social. Rio de Janeiro:Companhia de Freud, 1999.
Particularidades do sintoma da fala: apresentação de casosclínicos
Jefferson Lopes CardosoIPA
[email protected] .brFabiana de Oliveira
Nosso texto tem o objetivo de refletir sobre o jogo enunciativo que se desenvolve nacena clínica. Para tanto, é necessário dizer que a reflexão que propomos tem como base asquestões apresentadas nos trabalhos anteriores. Partindo da discussão acerca da relação dalingüística com a noção de sintoma da/na fala, propomos olhar para os dados provenientes daclínica fonoaudiológica, pensando sobre as particularidades do movimento da linguagem emcasos em que estão presentes falas consideradas “patológicas”, ou diferentes.
Nos textos anteriores foram enfatizados os seguintes pontos referentes à tomada dalingüística na clínica de linguagem : a) o princípio segundo o qual é necessário buscar umalingüística que possa abordar o sintoma da fala, ao mesmo tempo que ajude a diluir a dicotomianormal/patológico; e b) tal lingüística deveria pressupor um a noção de estrutura que suporteseu próprio rom pimento como um traço que a constitui.
Dessa form a, podemos pensar sobre a clínica a partir do entendimento da linguagemcomo uma estrutura que abriga o equívoco, o rompim ento, o lapso, etc. Passa-se, portanto, abuscar um a concepção de linguagem que favoreça abordar os movim entos de uma clínica quepossa ser pensada na sua singularidade. Se aceitarmos que a linguagem é constituída tambémpela falha, o sintom a da fala, não sendo considerado como “erro” a ser descrito e corrigido,pode ser dim ensionado como um sintoma na fala. Nesse sentido, ocorre um deslizam ento nanoção de sintom a de linguagem, pois ao pensarmos o sintoma da fala com o um sintoma nafala, passamos a considerar que a fala “desviante” do sujeito é a representação singular daposição que ele ocupa na linguagem.
Com o intuito de ilustrar o que dissem os até aqui, encaminharemos, a partir de agora, aapresentação de casos extraídos da clínica fonoaudiológica. Os recortes enunciativos sãoprovenientes de diálogos estabelecidos entre terapeuta e sujeitos cuja fala é dita “diferente”1.Esclarecem os que o nosso visor, neste momento, para o dado empírico é o funcionam ento dalinguagem. Portanto, o que mostraremos a seguir não constitui uma análise propriamente dita,mas um ponto de vista sobre os dados lingüísticos provenientes da cena clínica.
Recorte 1F= fonoaudiólogoT= nom e da paciente
(T. 9a) (brincando no posto de gasolina)1) T: ali, cao.(aponta para o adesivo colado no posto)2) F: carro, aonde?3) T: caminhão.4) F: ah! É um caminhão, isso mesmo.5) T: a cao, cao, cao.
1 Os recortes são apresentados em forma de diálogo, não obedecendo a um rigor de transcrição fonética, tampouco aoum a am ostra quantitativa.
6) F: é mesmo.7) T: é miu cao.8) F: hã?9) T: é miu cao.10) F: teu carro?11) T: aaa zo céu!
No recorte 1, vemos que o diálogo estabelecido entre T. e o fonoaudiólogo seestabelece sem interrupções até o terceiro turno. Em (7) (quando T. fala: “é m il cao”) podem osdizer que ocorre um a certa descontinuidade no diálogo. Nesse instante, ocorre umestranham ento2 por parte do fonaudiólogo com relação à fala de T. Esse estranhamento, numprimeiro m omento, leva o fonoaudiólogo à confirmação do que foi dito por T. Essa confirmaçãoocorre em forma de pergunta (em 8 – Hã?). Na seqüência T. repete o enunciado produzidoanteriormente (em 9). O fato é que T. fez um deslocamento metafórico. Isso levou à produçãode um enunciado sintaticamente diferente do esperado. Mesmo assim, podem os dizer que oenunciado de T. (8 – É miu cao) pertence ao funcionamento da língua, pois significa ”são várioscarros”, ou “m uitos carros”, ou “m il carros”. Em (10) o fonoaudiólogo confronta novam ente oenunciado produzido por T., desta vez com outro enunciado. A pergunta de F. (10 – teu carro?)aponta para a seguinte comparação: “É m il cao” (9) quer dizer “É meu carro”. Todavia, essapossibilidade foi rechaçada por T., que exclama “haa zo céu!” (11). O enunciado final de T.seria como se dissesse: “ai meu deus do céu, tu não me entendes! ”. Retomando o quedissemos no início, o que queremos mostrar é que a fala dita “patológica” ou “diferente”, nadamais é que a forma singular do sujeito estar na linguagem, participando do funcionamento dalíngua.
Recorte 2F = FonoaudiólogoC = nom e da criança(C - 6 a) (brincando com a “caixa de bichos”)(1) F - E este outro bicho aqui, tu conheces?(2) C - Tim, paeche o Jacaé, mach não é. Não tei o nome.(3) F – É. O rabo é mesmo parecido com o do jacaré.(olha mais detalhadam ente)(4) C – Ele não tem ónus?(5) F – Não tem o quê?(6) C – ónus.(7) C – ónus ... pá oiá.(8) F – Há, olhos? Tem sim.(9) C –Mach é bem pequenininho, né?.
O que podemos destacar neste diálogo, prim eiram ente, é que as “trocas” ou os “erros”fonológicos produzidos pela criança, ao se repetirem, constituem um irregular da ordem do regular,o que se pode inferir a partir das tentativas bem sucedidas de interação até (3). Irregular e regularestão em funcionam ento concomitantemente. No entanto, em (4), a fala do paciente não écompreendida, algo escapa à escuta que até então aceitava um a sistematicidade própria, que serepetia. O diálogo neste momento precisa ser retomado, como podemos ver na fala dofonoaudiólogo em (5) “não tem o quê?”. Novamente o efeito de sentido de ónus não é reconhecidopelo fonoaudiólogo, causando um estranham ento na escuta. A palavra é repetida em três turnosdiferentes (4,6 e7), no último, a criança, supostamente dando-se conta do que podem os chamarprovisoriam ente de rom pimento no seguim ento dialógico, complementa sua fala, a resituando,
2 Cabe ressaltar que dependendo da concepção de linguagem adotada pelo fonoaudiólogo , o estranhamento pode surgirinclusive no instante em que T. pronuncia /cao/. Nesse caso, a descontinuidade do diálogo seria causada pela inadequação nafala de T., ou seja, o sintom a da fala.
dando um outro contexto para que ónus pudesse reencontrar seu valor. Cabe referir que nãoestamos entendendo estas “quebras” no diálogo com o algo que não o constitua.
Torna-se, para os objetivos desta pesquisa, uma questão m uito interessante poder verestes “obstáculos” no percurso do diálogo causados pelas não-coincidências entre o que é dito e oque escutado, pois entendemos que estes nos remetem ao sintom a com o form a particularpertencente ao funcionam ento da linguagem. C, ao resituar para o fonoaudiólogo a sua fala,complementando ónus com pá oiá, traz um outro elemento possível dentro da estrutura sintáticada língua, compreensível dentro de uma sistematicidade singular, buscando dar continuidade aoprocesso de interação dialógica. O que acontece como podemos ver em (8 e 9).
Podemos dizer que, em ambos os recortes, há uma busca do fonoaudiólogo em opor-se àausência de significação, tentando amarrar um a possibilidade de sentido junto ao seu paciente, aomesmo tem po que é preciso suportar esta ausência. A partir dos recortes observados,entendemos que cabe ao fonoaudiólogo, enquanto terapeuta da linguagem, viabilizar apossibilidade de um dizer possível, contemplando a abertura de um lugar de enunciação.
Partindo do que pontuamos dentro da proposta de apresentação dos diálogos, pensam osque, para o fonoaudiólogo, é condição sine qua non atuar a partir de uma escuta que inclua nalíngua a possibilidade idiossincrática de o sujeito enunciar, o que seria da ordem do sintoma da/nafala.
Vale advertir, porém, que não estamos propondo a substituição da dicotomianormal/patológico por outra dicotomia composta pelos termos regular/irregular, ou aindarepetição/rom pimento. Nosso objetivo é antes pensar em um deslocamento que possa lidarsim ultaneam ente com a falha e a fala. Assim, nossa questão central é pensar o sintoma da falacomo ligado ao sintoma na fala. É pensar o sintom a em sua dimensão constitutiva, próprio dosujeito e da estrutura da linguagem.
ReferênciasBENVENISTE, Emile. Problem as de Lingüística Geral I. 4o. ed. Campinas, Pontes, 1995.LEMOS, C. A fala da criança como interpretação: uma análise das teorias em aquisição delinguagem. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 30, n. 4, EDIPUCRS, 1995.__________ Os processos metafóricos e metoním icos com o mecanism os de mudança.Substratum: Temas Fundamentais em Psicologia e Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1998.LIER DE-VITTO, M.F. Fonoaudiologia: no sentido da linguagem . São Paulo, Cortez, 1994.__________. Déficit na linguagem, efeito na escuta do outro, ou ainda...? Letras de Hoje, PortoAlegre, EDIPUCRS, 2000. ( no prelo).MILNER, J. O amor da língua. Porto Alegre, Artes Médicas, 1987.SAUSSURE, F. Curso de lingüística geral. São Paulo, Cultrix,1997.
As formas harmônicas da linguagem infantil e a atuação dasrestrições [SPREAD ] e [AGREE ]
Ana Ruth Moresco MirandaUFPel
ram il@ ufpel.tche.br
Este estudo trata das formas harmônicas encontradas em dados de crianças que estãoadquirindo o português do Brasil. Após apresentar algumas propostas encontradas na literatura,tais com o a análise com base em planos segregados para consoantes e vogais (Macken, 1979;Lleó,1997), a interpretação da vogal como gatilho da regra (Levelt, 1994) e a proposta desubespecificação (Stemberger e Stoel-Gam mon, 1991), apresentarei um a reanálise dos dados jáestudados por Miranda (1997), com base na Economia Representacional formulada por Clem ents(2001). Duas famílias de restrições propostas pelo autor, [SPREAD] e [AGREE], mostraram-seadequadas para a explanação das formas harm ônicas, oferecendo um a interpretação uniformetanto para casos considerados de assim ilação de consoantes como para aqueles com umentetratados como reduplicação.
Considerando que o m aior problema para a análise das formas harmônicas encontradasnos dados de aquisição da linguagem reside no fato de haver um espraiam ento de traços entreduas consoantes não adjacentes, ou seja, que possuem uma vogal interveniente, e que isso não éperm itido pela Proibição de cruzamento de linhas (No-Crossing Constraint de Goldsm ith, 1979),foram propostas diferentes alternativas para análise do fenômeno.
A alternativa de análise a partir da segregação planar, com o o próprio nome sugere, supõeque existam dois planos nas representações fonológicas, um para consoantes e outro para vogais.Essa proposta foi adotada por Macken (1979) e Lleó (1997) para dar conta dos casos deassim ilação da linguagem infantil evitando, dessa forma, o problema do cruzamento de linhas auto-segmentais. Lleó, baseada na teoria de princípios e parâmetros para a aquisição da fonologia,propõe um parâmetro com duas posições: segregação de consoantes e vogais (sim /não). Nasprimeiras etapas da aquisição seria escolhida a biplanaridade e, nos estágios mais avançados, auniplanaridade.
A segunda interpretação, segundo a qual o gatilho da regra é a vogal e não a consoante,foi proposta por Levelt (1994). Diante de exem plos tais como a produção de crianças holandesasque dizem [pum] para a forma alvo [sun], considerados pela autora com o casos de assim ilação,surgiria a pergunta sobre a origem do traço labial que espraia. Para Levelt, o traço só poderiaespraiar da vogal.
A terceira possibilidade de análise para o fenômeno é a subespecificação. Autores comoStemberger e Stoel-Gamm on (1991) explicam os casos de assim ilações que envolvem consoantescoronais, considerando que tal classe de consoantes têm o nó de ponto de articulação nãoespecificado e que, portanto, não bloqueiam a regra.
Tom em os primeiramente três exemplos bastante comuns nos dados do português
1Forma alvo forma infantil
a [so’veti] [fo’veti] ‘sorvete’b [‘tigi] [‘k igi] ‘tigre’c [ko’neta] [to’neta] ‘corneta’
Como podemos observar, a solução apontada pela segregação planar demanda umauniform idade na produção da criança. Em outras palavras, não se poderia esperar a concorrênciade formas resultantes da harm onia de consoantes, com o temos exemplificado em 1, com palavrasque apresentam formas palatalizadas, casos típicos de espraiam ento que envolve um a consoantee uma vogal, com o podem os observar na sílaba final do terceiro exemplo em 1a.
O exemplo 1b, acima, serve como contra-exemplo para a explicação da vogal como gatilhoda regra. As crianças produzem [‘kigi] ao invés de [‘tigi], exemplo claro de espraiam ento do traçodorsal, ainda que a vogal interveniente seja coronal.
O proposta de subespecificação1 não dá conta do fato de que, para a aplicação dequalquer regra fonológica, m ais especificamente para que haja assim ilação, é preciso um gatilho eum alvo. O primeiro dispara o processo que precisa chegar a algum lugar, ao alvo. Sendo assim ,um segmento subespecificado não pode ser gatilho, porque não tem o que espraiar. Só podendoser, então, alvo. Temos, porém, em 1c, a evidência de que o coronal pode espraiar.
Clem ents (2001) defende a idéia de que há diferentes níveis de representações nadescrição fonológica, os quais funcionam diferentemente: o lexical, o fonológico e o fonético.Segundo seu m odelo, as representações lexical e fonológica contêm todos e apenas aquelestraços ou valores de traços ativos no sistema. São considerados ativos todos os traços ou valoresque sejam necessários para expressar contrastes lexicais ou regularidades fonológicas, queincluam tanto padrões fonotáticos estáticos como padrões de alternância. Dessa forma, traços evalores de traços somente podem ser determ inados através do exame dos padrões de sons e dosistema de contrastes de uma dada língua. A tarefa da criança, ao adquirir o sistema de sons desua língua, é descobrir quais são os traços ativos e quais são as restrições operativas no sistema.
A econom ia representacional prevê que um traço ou valor pode vir a ser ativado somentena fonologia e que os traços redundantes som ente são especificados em segmentos nos quaissejam ativos, ou seja, se forem necessários para definir oposições ou forem mencionados por um arestrição é porque foram ativados. A determ inação do valor do traço a ser especificado deve estarde acordo com um a Escala Universal de Acessibilidade de Contraste, que se caracteriza por ter, noseu topo, traços muito utilizados nos sistemas de fonemas das línguas em geral e, na sua base,aqueles que são usados distintivamente por um número reduzido de línguas. Segundo essahierarquia, o contraste mais básico ocorre entre plosivas coronais /t/ e nasais coronais /n/. Essaescala mostra também a emergência do [coronal] e do [labial] antes do [dorsal], o que confirma osestudos na área de aquisição e o ranking universal para restrições de marcação que governa pontode articulação (Kager, 1999). Traços intermediários, tais como [posterior], [contínuo] e [lateral], porestarem localizados entre o topo e a base da escala, são m enos acessíveis; traços pertencentes àbase, o [apical], por exem plo, são de difícil aquisição e são usados contrastivamente em poucossistemas lingüísticos.
Ainda segundo essa proposta, a projeção de camadas auto-segmentais é regulada pelocritério de proeminência, segundo o qual traços e nós para serem proem inentes terão de ser outerm o de restrição ou traço flutuante. Caso não tenham proem inência, todos os traços ficam presosao nó raiz e nenhuma cam ada adicional é projetada.
Para o estudo da harm onia consonantal, dois tipos de restrições estão sendoconsideradas: SPREAD e AGREE. De acordo com Clements (2001), SPREAD é um a restrição quecaracteriza processos assim ilatórios em que não há nós ou traços intervenientes. Já AGREEfunciona com o uma restrição de estrutura morfêm ica estática e é caracterizado com o um processode cópia, não de espraiamento. O autor defende o uso de restrições de dois níveis, isto é, umaform ulação que contenha ao m esmo tem po a restrição e o reparo. As representações relativas àatuação dessas restrições podem ser observadas a seguir, considerando-se que Cs sãoconsoantes de onsets adjacentes:
1 Para Clem ents (2001), a subespecificação, tal e qual vem sendo form ulada nos inúm eros trabalhos desenvolvidos desde adécada de 80, defende que a especificação lexical de valores de traços previsíveis ou não-distintivos é om itida dasrepresentações lexicais, sendo inserida por regras de redundância no curso da derivação. Segundo o autor, as críticasdirigidas a essa proposta teórica exaltam a complexidade excessiva das gramáticas que contêm muitas regras deredundância e, conseqüentemente, trazem uma sobrecarga para o aprendiz. Além disso, a indeterm inação na escolha entreform as alternativas de subespecificação de um dado inventário fonêmico e os problem as técnicos como o potencial uso dozero como terceiro valor ou a caracterização de classes naturais subespecificadas colaboram para uma tendência aoabandono do m odelo em favor de abordagens que não adm item regras de redundância.
C .. C C .. C
F] [F] [F] [F]
SPREAD F
a) b)C .. C C .. C
[F] [F] [F]
AGREE F
a) b)
[
Os dados utilizados neste trabalho foram coletados transversalmente. A am ostra écomposta de 84 crianças brasileiras, com idades entre 2 anos e 3 anos e 10 m eses, divididas em12 grupos etários. Todas as crianças vivem nas cidades de Pelotas e Porto Alegre, Rio Grande doSul, e apresentam padrões normais de desenvolvim ento. Os dados foram obtidos através de uminstrumento proposto por Yavas, Hernandorena e Lamprecht (1991). Esse instrum ento contémdesenhos temáticos que perm item a obtenção dos dados a partir da nomeação espontânea depalavras isoladas.
Foi necessário avaliar o conjunto de dados de cada informante para que pudesse serdeterm inada a ocorrência de harm onia, fenômeno que só pode ser detectado se o nó ou traçoenvolvido no processo estiver presente no inventário fonológico da criança.
Nos dados, foram encontrados casos de harm onia na fala de 65 crianças, em um total de91 casos. O quadro a seguir mostra a freqüência encontrada.
Quadro 1Freqüência %
Harm onia de CO 55 60,43Harm onia de nasal 22 24,17Harm onia de [lateral] 11 12,10Harm onia de [voz] 3 3,29Total 91 100
Os resultados acim a revelam que a harm onia envolvendo traços de Cavidade Oral, maisespecia lmente as de ponto de consoante2, são significativamente m ais freqüentes do que a deoutros tipos. A análise da harmonia de traço de ponto mostrou que o traço de ponto maispreservado é o labial, que sofreu apenas 13% das alterações. O mais vulnerável ao processo foi ocoronal, que apresentou índice de 49%, seguido do dorsal, alterado 38% dos casos analisados.Esse resultado confirm a o que m ostra a escala proposta por Clements, cuja base é a aquisição eos inventários das línguas do mundo. O coronal, assim como o dorsal, acabam sendo m aissuscetíveis, o primeiro porque é o ponto de articulação considerado não marcado e o último porocupar posição m ais baixa na escala de acessibilidade.
Os exem plos que serão apresentados a seguir estarão organizados em 4 quadros que nosperm itirão, ao final, alcançar generalizações para a análise dessas produções que vêm sendo,muitas vezes, tratadas como um fenômeno assistemático.
Em 2, estão algum as produções em que houve um a m udança apenas no traço de ponto dearticulação.
2 Neste estudo, os casos de harmonia que envolvem som ente ponto de articulação foram com putados juntam ente comaqueles que, além de ponto, envolvem o [contínuo]. Esse tipo de fenôm eno foi definido com o Harm onia de Cavidade Oral.(cf. Clem ents and Hum e (1995), que apresentam evidências para o funcionamento independente deste nó).
2.forma a lvo forma infantil forma alvo forma infantil[gwada’uva] [dada’uva] ‘guarda-chuva’ [tata’uga] [kaka’uga] ‘tartaruga’[ga’liña] [da’liña] ‘galinha’ [da’gãw] [ga’gãw] ‘dragão’[ko’neta] [to’neta] ‘corneta’ [‘tigi] [‘k igi] ‘tigre’[so’fa] [fo’fa] ‘sofá’ [ga’fiñu] [ba’fiñu] ‘garfinho’[ka‘f] [pa‘f] ‘café’ [kava‘liñu] [pava‘liñu] ‘cavalinho’
A observação dos exem plos revela que em todos os casos a mudança obedece à mesmadireção, da direita para a esquerda, atuando sem pre sobre a borda da palavra. Nos exem plos em3, a seguir, podem os observar outro conjunto de dados:
3.a)forma a lvo forma infantil
b)forma alvo forma infantil
[aka’] [kaka’l] ‘jacaré’ [ka’ou] [ka’koRu] ‘cachorro’[oko’lati] [koko’lati] ‘chocolate’ [pi‘p ka] [pi‘k ka] ‘pipoca’[sapa’tiñu] [papa’tiñu] ‘sapatinho’ [mo’t ka] [mo’k ka] ‘m otocicleta’[sa’bãw] [pa’bãw] ‘sabão’ [is’kova] [is’fova] ‘escova’[‘zeba] [‘beba] ‘zebra’ [ista’gow] [isga’gow] ‘estragou’
Nos dados apresentados acima, com o nos anteriores, tem os um conjunto de exemplos quese caracteriza pelo fato de haver um a m udança unidirecional, direita/esquerda, que atua sobre aborda da palavra. Nesses casos, porém, o traço alterado não foi apenas o de ponto de consoante,mas também o traço [contínuo]. Se observarmos os exemplos da primeira coluna, 3a, nos quais osegmento m odificado está na borda, veremos que a harm onia ocorre para elim inar a fricativa doprimeiro onset da palavra, evidenciando um caso harmonia que parece estar vinculado à estruturada palavra, ou melhor, um caso de sequenciam ento obrigatório de traços do primeiro e segundoonsets. Na segunda coluna, 3b, temos a harmonia de ponto de articulação e de traço [contínuo]que não está na borda, m as tem sempre a mesm a direcionalidade. Até aqui, pelo que se pôdeobservar, é possível dizer que há um padrão bastante claro, pois estamos diante de um processomotivado sintagmaticam ente, ou seja, essas formas são resultantes da atuação de restriçõesrelacionadas com a seqüência de segmentos. Vejamos ainda os exemplos de assim ilação de nasalapresentados em 4.
4.a)forma a lvo forma infantil
b)forma alvo forma infantil
[o’naw] [no’naw] ‘jornal’ [ma’tlu] [ma’tnu] ‘m artelo ’[ba’nãna] [ma’nãna] ‘banana’ [pan’liña] [pan’niña] ‘panelinha’[bu’nka] [mu’nka] ‘boneca’ [a’nla] [a’nna] ‘janela’[bi’kandu] [m i’kandu] ‘brincando’ [pasa’iñu] [pasa’niñu] ‘passarinho’[i’nlu] [ni’nlu] ‘chinelo’ [na’is] [na’nis] ‘nariz’
É possível verificar, nos dados apresentados em 4a, que o traço nasal espraia sempre dadireita para a esquerda, em direção ao segm ento da borda. Isso mostra o mesmo padrão verificadonos dados anteriores, só que agora é o [nasal] o traço envolvido. Esse traço, segundo o modeloauto-segm ental (Clem ents and Hume, 1995), está preso à raiz e pode espraiar de forma autônoma.Temos então em 2, 3 e 4a fatos que ajudam a sustentar a idéia de que realm ente temos o eixositagm ático influindo no processo harm ônico.
Os exemplos em 4b), que também envolvem nasais, têm em comum o fato de terem com oalvo sem pre um a líquida, segmentos de aquisição tardia na fonologia do português (Matzenauer-Hernandorena, 1990; Miranda, 1996; e outros). Além disso, temos uma mudança no padrão que
vinha sendo observado, pois a direção da mudança pode ser tanto da direita para esquerda com oda esquerda para a direita. A seguir podemos observar os dados em 5.
5.forma a lvo forma infantil forma alvo forma infantil[e’l u] [le’l u] ‘relógio’ [kolo’idu] [kolo’lidu] ‘colorido’[o’ea] [o’lea] ‘orelha’ [ba’uu] [ba’luu] ‘barulho’[ama’ lu] [ama’ llu] ‘am arelo’ [la’ãa] [la’lãa] ‘laranja’
O que se pode verificar em 5 é que, nesse caso, o segmento em questão é sempre um alíquida e o processo de harmonia tem sem pre como resultado uma seqüência de consoanteslaterais. O traço [+lateral] é de m ais fácil acesso do que o [-lateral], que caracteriza o ‘r-fraco’ noportuguês. Assim , como observamos em 4b, a harm onia em 5 parece acontecer para que sejaelim inado o traço menos acessível, nesse caso o [-lateral] responsável pelo aparecimento docontraste /l/ e /r/. Interessante observar que, nesses casos, o processo é, assim com o em 4b,bidirecional. As características apontadas perm item supor que a motivação para esses casos éparadigm ática, uma vez que os exemplos em 4b e 5 têm em com um o fato de envolverem traçosde acesso mais difícil e também porque a harmonia encontrada pode ser direita/esquerda ouesquerda/direita.
A análise dos dados transversais perm ite-nos afirm ar que existem dois tipos de harmonia:um que sofre influência do eixo paradigmático e outro do eixo sintagm ático. O primeiro tipocaracteriza-se por: a) envolver segm entos que ainda não estão totalmente estabilizados, masaparecem com regularidade nas produções infantis; b) ser bidirecional, esquerda/direita oudireita/esquerda; c) ser identificado com o SPREAD F; e d) envolver preferencialm ente líquidas,consoantes de domínio tardio. A harm onia do segundo tipo caracteriza-se por: a) envolversegmentos que já estão estabilizados; b) obedecer sempre ao sentido esquerda/direita; c) seridentificada como AGREE F e necessitar inform ação de borda; d) aparecer cedo, o que a identificacom os casos tradicionalm ente identificados como reduplicação.
As restrições responsáveis por esses dois tipos de harmonia, considerando-se os dadosapresentados em 2 e 5, respectivamente, podem ser informalm ente definidas como em 6a e 6b:
6.a. AGREE([OC]) – Dada uma seqüência Ons1...Ons2 no input, na qual Ons1 e Ons2 são [-soante] eestão na borda esquerda da palavra, o nó de Cavidade Oral de Ons1 deve ser idêntico ao nó de deCavidade Oral do Ons2, no output.
b. SPREAD [F] – Dada um a seqüência Ons1...Ons2 no input, na qual Ons1 e Ons2 são [+soante], otraço [lateral] deve espraiar no output.
Restrições de marcação tais como AGREE e SPREAD ranqueadas em posição alta nasgramáticas das crianças são as responsáveis pela seleção de formas harm ônicas freqüentementeencontradas em determ inados estágios da aquisição. Pode-se supor que AGREE, por ser arestrição responsável pelo aparecimento da harm onia sintagmática, ocupa posição alta no rankingnas gramáticas iniciais, dando lugar, em estágios posteriores, ao surgimento da restrição SPREAD,que nos estágios seguintes será dem ovida para posições m ais baixas, deixando de atuar e dandolugar a restrições de Fidelidade tais como IDENT (ponto) e IDENT (modo), responsáveis pelaausência de formas harmônicas na fala infantil.
ReferênciasCLEMENTS, G. N. e HUME, E. The internal organization of speech sounds. In: GOLDSMITH, J.(ed.). The Handbook of phonological theory. Massachussets: Blackwell, 1995.CLEMENTS, G N. Representational econom y in constraint-based phonology. In: HALL,A. (ed.).Distinctive Feature Theory. Berlin: Mouton de Gruyter, 2001. p. 71-141GOLDSMITH, J. The aims of autosegmental phonology. In: DINNSEN, D. (ed.). Currentapproaches to phonological theory. Bloom ington: Indiana University Press. 1979.KAGER, R. Optimality Theory. Cambridge: University Press, 1999.
LEVELT, C. C. On the acquisition of place. Dordrecht, Holland: ICG Printing, 1994.LLÉO, C. La adquisición de la fonología de la prim era lengua y de las lenguasextrangeras. Madri: Visor, 1997.MACKEN, M.A. Developm ental reorganization of phonology: a hierarchy ofbasic units of acquisition. Lingua, n.49, p.11-49, 1979.MATZENAUER-HERNANDORENA, C. L. M. Aquisição da fonologia do português:estabelecim ento de padrões com base em traços distintivos. Tese (Doutorado em Letras),PUCRS, 1990.
MIRANDA, A. R. M. A aquisição do “r”: uma contribuição à discussão sobre seu statusfonológicos.Dissertação (Mestrado em Letras), PUCRS, 1996.__________. A assim ilação na fala infantil: uma abordagem auto-segmental. Anais do 1o
Encontrodo Celsul. Florianópolis, v.2, 1997, p.769-777.STEMBERGER, J. P. e STOEL-GAMMON, C. The underspecification of coronals:evidence from language acquisition and performance errors. In: PARADIS, C. ePRUNET, J. (eds.) The special status of coronals:internal and external evidence. SanDiego: Academic Press, 1991.YAVAS, M.; HERNANDORENA, C. L. & LAMPRECHT, R. Avaliação fonológica dacriança,reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
A AQU IS IÇÃO DA FO NO LOG IA E A SÍND RO M E DE DO W N
Gilsenira de Alcino RangelUFPel
O presente trabalho pretende traçar um quadro comparativo entre a aquisição dafonologia por um a criança com síndrome de Down e um a criança com desenvolvimentoconsiderado normal.
A Síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela trissomiacromossôm ica do par 21, isto é, há um cromossomo extra. Uma série de sintomas podemcaracterizar os portadores dessa síndrome: alterações de tônus m uscular, pele m ais sensível,baixa estatura, mãos pequenas com dedos curtos e grossos, olhos amendoados (puxadinhos),défict mental. Com freqüência, há problem as cardíacos associados, baixa resistência a processosinfecciosos. Outra característica é a hipotonia m uscular, que acaba dificultando ou retardandoações como engatinhar e caminhar. Afetando diretamente a fala, tem -se o que se pode dizer afalsa hipoplasia (língua grande). Falsa porque, na verdade, não é a língua que é grande, mas acavidade oral é que é m enor nesses sujeitos, fazendo com que a língua se projete para fora daboca. Como conseqüência, a fala, que em geral é grave e rouca, pode ficar comprometida porexigir movim entos rápidos e precisos.
Até há algum tempo, essas crianças eram quase "escondidas" da sociedade, im pedidas deviverem norm almente com o seus pares "norm ais". Ainda hoje encontra-se muito preconceito desdeos próprios fam iliares, ao rejeitarem aquele que nasceu diferente do que esperavam, até asociedade na rua, nos parques, na escola, etc. O pensam ento de que essas crianças são umfardo, que não são capazes, faz com que muitas deixem de ser atendidas desde bebês e acabemtendo déficts muito grandes em relação aos seus pares. As crianças com Síndrome de Downprecisam de algum as doses extras de estímulo que as levem a tentar, a buscar, a descobrir, asaber que são capazes. As conquistas atuais têm demonstrado que elas são capazes sim, talvezum pouco mais devagar, mas muitas conseguem vitórias que passam longe de alguém incapaz.
Minha intenção aqui é mostrar o quanto a aquisição do sistema fonológico de um acriança portadora da síndrome de Down é semelhante ao de um a criança dita normal, comressalvas apenas ao tempo em que os níveis de com plexidade são vencidos.
Na verdade, o que se quer m ostrar é que as teorias fonológicas são capazes, também, dedar conta dos fatos da aquisição da fonologia de crianças com necessidades especiais.
Os dados analisados foram obtidos das seguintes maneiras: gravações de falaespontânea, fala dirigida e anotações em diário desde o nascimento da informante L, m inha filha.Os dados serão comparados ao da informante T, que faz parte dos corpus de minha dissertaçãode mestrado (Rangel, 1998).
A base teórica do trabalho está em Calabrese (1995), na teoria das restrições. A partirdesse modelo, Mota (1996) apresentou o Modelo Implicacional de Complexidade de Traços(MICT), am parada em dados de crianças com desvios fonológicos evolutivos. Em 1998, propusalgumas alterações que julgava necessárias para que tal modelo desse conta dos dados de fala decrianças com desenvolvim ento fonológico normal (Rangel, 1998). Assim, a nova representação doMICT é a apresentada em (1):
(1) Representação do MICT, com alterações sugeridas pelos dados da aquisição normal
Estado 0: [ -voc][-aprox][soante][-voz[[+voz]/([+soante])[-contínuo][cor, +ant][lab]
(N=nível decomplexidade)
A1
B1 C1N=1 [-ant](ñ)
N=2 [+voz](b,d) C2
N=3 [dors]/(-voz) (k)A2
N=4 [dors]/(-voz) (g)B2 B3 D3
N=5 A3 [+cont](±voz) (f,v,s,z)B4
B7 C2N=6 [+aprox] (l)
B5N=7 [cor,+cont]/(-ant) (,) B6
N=8 [+aprox,+cont, dors](R)
N=9 [+aprox, +cont] (r ) [+aprox,-ant]()
O modelo, sob a representação arbórea, apresenta uma raiz de onde partem ramos contendoas condições de marcação. Partindo de um estado zero de complexidade, isto é, de um conjuntode sons considerados não-m arcados, a complexidade vai aumentando a cada nível, com oacréscimo de traços marcados em relação aos traços do estado zero.
O processo de aquisição da fonologia, visto sob o ângulo de restrições, passa a ser adesativação de restrições ativas no sistema fonológico do inform ante. Para Calabrese (1995), ossegmentos seriam adquiridos pela estipulação do grau de com plexidade perm itido na língua, ouseja, pelas condições de marcação, que estabelecem que o uso de determ inada especificação detraços contendo outra especificação de traço cria um a configuração de traço fonologicam ente maiscomplexa. Com isso, tem-se combinações de traços que são consideradas m ais ou menoscomplexas.
Entendendo-se que a com plexidade, no modelo, deve ser vista como o acréscimo de traçosmarcados em relação ao estado zero1, quanto m ais distante uma combinação de traços está daraiz, mais complexa ela é.
Como se sabe, apesar da hom ogeneidade, o processo de aquisição apresenta tambémpeculiaridades relativas ao processo individual de cada criança. Todas que vencem esseprocesso de aquisição chegam ao m esmo lugar: o sistema fonológico do português adquirido;
1 No estado zero estão os sons não-marcados: /p, t, m, n/, que seriam , assim , os mais freqüentes nas palavras iniciais dascrianças.
porém, às vezes, os meios utilizados para o alcance desse objetivo podem variar. Isso estárepresentado no Modelo Implicacional de Com plexidade de Traços através das possibilidades deescolha de um dos cam inhos representados pelo nº 1, por exemplo, em que a criança perm ite aentrada de um dos sons que apresenta as condições de marcação ali perm itidas, podendo, dessaform a agregar ao seu inventário, com posto até então por /p,t,m ,n/, o fonema /ñ/ ou /b,d/ ou /k/ ouainda /l/.
Aplicando-se, portanto, os dados da informante L ao Modelo revisado, tem os:
(1) Representação do sistema fonológico de L, de acordo com Rangel (1998)
Estado 0: (1:2) [ -voc][-aprox][soante][-voz[[+voz]/([+soante])[-contínuo][cor, +ant][lab]
(N=nível decomplexidade)
A1 2:4
B1 D1N=1 1:7 1:3 C1 [-ant](ñ)
N=2 [+voz](b,d) 1:3 D2
N=3 [dors]/(-voz) (k) 1:3A2
1:8 B2 D3N=4 [dors]/(-voz) (g) 1:7
N=5 A3 [+cont](±voz) (f,v,s,z) [+aprox] (l)1:7 B4 1:11
1:7 B6 1:11 C2N=6 [cor,+cont]/(-ant) (,)
1:7 2:11N=7 [+aprox, +cont, dors] (R) B5
2:11
C4 C3N=8 2:4 [+aprox,-ant]()
N=9 [+aprox,+cont] (r)
O que se pode perceber é que a prim eira restrição desativada foi o caminho B1, que leva até/b,d/ e o C1 qeu perm ite a inserção de /l/ ao sistema fonológico. A terceira desativação é arepresentada pelo cam inho A1, com a entrada de /k/, ao mesmo tempo há, também, a desativaçãoda restrição em D2, que perm ite a entrada das fricativas /f,v,s,z/ e do caminho B6, responsávelpela inserção de /R/. A próxima condição de marcação a ser vencida é a que leva ao /ñ/, ocaminho D4, com a idade de dois anos e quatro meses. O últim o caminho percorrido pelainformante foi o D3, com a inserção de //. Para L, resta percorrer apenas os caminhos B5/C4,(linhas pontilhadas) que levam à inserção de /r/ em seu inventário fonológico.
Com pare-se esses dados com os dados de uma criança, T, sem a síndrom e:
Sistema fonológico de TRepresentação do MICT, revisado por Rangel
Estado 0:[ -voc][-aprox][soante][-voz][+voz]/([+soante])[-contínuo][cor, +ant][lab]
(N=nível decomplexidade)
A1 1:9
B1 D1N=1 1:7;18 1:7 C1 [-ant](ñ)
N=2 [+voz](b,d) 1:7;18 D2
N=3 [dors]/(-voz) (k) 1:9A2 1:7;18
1:7;25 B2 D3N=4 [dors]/(-voz) (g) 1:7;25
N=5 A3 [+cont](±voz) (f,v,s,z) [+aprox] (l)2:0 1:9 B4
2:0 B6 C2N=6 [cor,+cont]/(-ant) (,)
2:0 2:4 2:1N=7 [+aprox, +cont, dors] (R) B5 2:1
C4 C3N=8 2:4 [+aprox,-ant]()
N=9 [+aprox,+cont] (r)
O caminho B1 é o prim eiro a ser percorrido por ambas e, para surpresa, é percorrido 4meses antes pela informante L, portadora da síndrome.
A desativação dos caminhos A2 e B2 é feita por ambas, pode-se dizer, aos 1:8.A combinação em A3 é desativada por L na idade de 1:7 e por T aos 2 anos.Já a inserção de // no sistem a fonológico de L se dá na idade de 2:11, enquanto T insere 10
meses antes, ou seja, com 2:1.O cam inho D1 é desativado por L aos 2:4 e por T aos 1:9.O que há de tão diferente nessas representações do sistema fonológico através do Modelo de
Im plicacional de Complexidade de Traços revisado? Praticamente NADA! Sim, porque o que há,na verdade, é pouca diferença em termos de tempo, idade em que as configurações de traços sãodesativadas e o fonema inserido no sistema fonológico das informantes.
O que esses dados nos mostram? Mostram que L, com Síndrom e de Down, segue osmesmos princípios de aquisição de crianças normais, acompanhando, algumas vezes chegandoantes e, em outras ocasiões, apresentando atrasos em relação os seus pares "ditos normais". Issonos leva a crer que há outros fatores que colaboram para essa aquisição, fatores esses que podemestar incluídos em alguns destes questionamentos: o que leva uma criança com Síndrome deDown a vencer esse complicado processo de aquisição da fonologia m uito antes de outrascrianças também com a síndrome? Será o am biente a que está exposta? Será a qualidade daestimulação recebida? Será o grau de com prometim ento do retardo mental? Será a aceitação dafamília? O que será, afinal? Isso é outra pesquisa.
Referências
CALABRESE, A. A constraint-based theory of phonological markedness and simplificationprocedures. Linguistic Inquiry. V.26, nº 3, p. 373-463, Sum mer, 1995.MOTA, Helena B. Aquisição segmental do português: um modelo im plicacional de com plexidadede traços. Tese de Doutorado. Porto Alegre, PUCRS, 1996.RANGEL, Gilsenira A. Um a análise auto-segm ental da fonologia normal: estudo longitudinal de 3crianças de 1:6 a 3:0. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, PUCRS, 1998.
O status das consoantes pós-vocálicas no PB: uma comparaçãocom a aquisição do holandês, sob enfoque da teoria de Princípios
e Parâmetros
Carolina Lisbôa MezzomoPUCRS
caro lis@ via-rs .net
IntroduçãoEste artigo pretende m ostrar a contribuição dos dados da aquisição da linguagem para a
discussão do status das consoantes pós-vocálicas do português brasileiro (PB). Para tanto, foirealizada a análise do perfil de aquisição das consoantes à direita do núcleo, encontrado porMezzom o (2003), cujas am ostras de fala são provenientes de sujeitos entre 1:2 a 3:8, comdesenvolvim ento fonológico norm al.
O panoram a de aquisição dos fonem as em final de sílaba, verificado por Mezzom o (op.cit.),foi, então, com parado com os estágios de desenvolvim ento da rim a propostos por Fikkert (1994). Oobjetivo desse confronto foi verificar se a escala de desenvolvim ento da sílaba, proposta pelaautora, é válida tam bém para o PB.
O m odelo de aquisição da estrutura silábica que Fikkert (op.cit.) elaborou, tem com o base ateoria de Princípios e Parâm etros (P&P) e foi criada a partir da observação dos dados de falacrianças holandesas. Para explicar as fases de aquisição da rim a a autora utiliza os seguintesparâm etros expressos na figura 1.
Figura 1 – Parâm etros da sílaba (Fikkert, 1994, p.180)
a. Parâm etro da rim a ram ificada:As rim as podem ram ificar em Núcleo e Coda? [Não/Sim ]
b. Parâm etro do núcleo ram ificadoO Núcleo pode ram ificar? [Não/Sim ]
c. Parâm etro da consoante extra-rim aUm a rim a biposicional (final) pode ser seguida de um a consoante extra-rim a contanto que
obedeça ao Princípio de Seqüenciam ento de Sonoridade? [Não/Sim ](Em que os valores default são os que se encontram sublinhados)
Entre os parâm etros expostos, o (a) possibilita a ocorrência de sílabas com rim a quedom inam um núcleo ou um núcleo e um a coda. O parâm etro do núcleo ram ificado dá conta desílabas com o núcleo associado a um a ou a duas posições no tier esqueletal. A autora tam bém fazuso do parâm etro da consoante extra-rim a para explicar o surgim ento dos grupos consonantais emfinal de palavra no holandês.
Segundo essa proposta de aquisição, todas as crianças deveriam passar pelos m esm osestágios de desenvolvim ento da sílaba, independente do sistem a no qual estão inseridas. Asdiferentes estruturas silábicas surgem à m edida que os parâm etros silábicos vão tendo seusvalores m arcados ativados. A ordem de ativação desses parâm etros não varia de língua paralíngua, eles seguem um a ordem fixa. O que diferencia um sistem a de outro é que, emdeterm inadas línguas, o parâm etro deve perm anecer no valor default, enquanto em outras essem esm o parâm etro deve ser fixado no valor m arcado. Na figura 2 está exposta a ordem de ativaçãodos parâm etros relacionados ao desenvolvim ento da rim a, proposta por Fikkert (1994).
No prim eiro estágio, som ente sílabas CV (sílaba universal) com vogal curta ou longa sãoproduzidas. Não há, nas realizações das crianças, estruturas com rim a ou núcleo ram ificados, jáque os parâm etros da sílaba não estão fixados, isto é, apresentam valores não m arcados.
O aprendiz inicia o segundo estágio produzindo sílabas fechadas por obstruintes,inicialm ente com fricativas (estágio IIa) e, m ais tarde, com plosivas (estágio IIb)1. Com o, nesseestágio, as soantes ainda não são realizadas à direita do núcleo, m as são produzidas em onset, aautora conclui que esses sons não fazem parte da coda, m as sim , de outro constituinte – do núcleo.
Figura 2 - Estágios de desenvolvim ento da rim a (Fikkert, 1994, p. 145 a 147)
Estágio I - som ente sílabas abertas são produzidas;Estágio II – fixação do valor m arcado do parâm etro da rim a ram ificada: surgim ento de obstruintesem final de sílaba;Estágio III - fixação do parâm etro do núcleo ram ificado: em ergência das soantes (1o nasal, 2o
líquidas);Estágio IV - fixação do valor m arcado do parâm etro da posição extra-rim a. Três posições na rim a:as form as VVCson, os encontros consonantais finais e as form as VVCobst são produzidas.
O terceiro estágio é m arcado pelo surgim ento de estruturas com duas posições no núcleo,em resposta à fixação do valor m arcado (sim ) para o parâm etro do núcleo ram ificado pela criança.A segunda posição do núcleo é preenchida por consoantes soantes em final de sílaba. As nasaisaparecem prim eiro, seguidas das líquidas.
No quarto estágio o valor m arcado para o parâm etro da posição extra-rim a é fixado,disponibilizando um a posição extra, além da rim a biposicional já existente.
Aquisição da codaMezzom o (2003) verificou que no PB a estrutura silábica (C)VC está disponível m uito cedo
na fala das crianças, aos 1:2 com o surgim ento da líquida lateral em final de palavra2. O térm ino daaquisição da estrutura (C)VC é tardio, estando com pleto som ente aos 3:8, com o dom ínio da líquidanão-lateral. De um a form a geral, os fonem as /N, l, S, r/ são adquiridos prim eiro em coda final paradepois terem seu uso estabilizado em coda m edial. A nasal e a líquida lateral são produzidas antesda fricativa e da não-lateral e a fricativa é um pouco m ais precoce do que o /r/ (veja a figura 3 e 4).
Figura 3 - Surgim ento e aquisição dos fonem as em coda final
1o 2o 3o 4o
Surgimento L. Lateral Nasal Fricativa L. Não-laterale Aquisição
Com parado ao processo de dom ínio do onset e da coda final, o período dedesenvolvim ento da coda m edial não m ostra etapas interm ediárias na qual outras estratégias dereparo, diferentes da om issão, são encontradas. As crianças optam , preferencialm ente, por nãorealizar esse tipo de travam ento, ao invés de fazer um a tentativa aproxim ada de produção.
Figura 4 - Surgim ento e aquisição dos fonem as em coda m edial
1o 2o 3o 4o
1 A transição do estágio IIa (fricativas) para o IIb (plosivas) não envolve o parâmetro de sílaba, mas a aprendizagem dom odo de articulação contínua e não contínua (Fikkert, 1994).2 A líquida lateral em posição de coda na form a de superfície se manifesta como um glide (ex.: alto – [‘awtu]).
Surgimento L. Lateral FricativaNasal L. Não-Lateral
Aquisição Fricativa
Um núm ero significativo de om issões tam bém é observado no período inicial de aquisiçãoda coda final, durante o dom ínio de /N/ e do /l/. Esse fato se deve, possivelm ente, à idade precocedas crianças durante a aquisição desses sons (crianças entre 1:2 a 1:7).
Assim com o a om issão, o alongam ento com pensatório foi a única estratégia que ocorreucom todos os quatro fonem as. Com o o nom e induz, a preservação da unidade tem poral da sílaba éfeita através do aum ento da duração de um segm ento vizinho, nesse caso, da vogal do núcleo.
As substituições, quando presentes, principalm ente em coda final com /S/ e /r/, sem preocorreram com m em bros da m esm a classe, isto é, a fricativa sem pre era substituída por outrafricativa (palatal ou surda) e as líquidas sem pre eram substituídas por segm entos sem elhantes -soantes (por outras líquidas ou por glides).
Assim , diferentem ente do que foi observado no holandês, no PB um a líquida nunca ésubstituída por obstruinte a fim de adequar-se ao template do estágio anterior. Essas ocorrênciasnão são o resultado de um a adequação a um template restrito, por exem plo, as crianças brasileirasnão substituem um a líquida por um a fricativa para adequar-se a um m olde silábico que perm ite,inicialm ente, som ente obstruintes após o núcleo. O uso desses recursos parece estar m aisrelacionado a um a dificuldade segm ental. A criança substitui o fonem a pós-vocálico alvo por outroda m esm a classe de sons para chegar m ais próxim o à realização correta. De acordo com os dadosde Mezzom o (2003), acredita-se que o aprendiz realize essas “trocas” por não possuir o fonem a-alvo no seu inventário, ou porque o adquiriu recentem ente e seu uso ainda não foi difundido paratodas as palavras.
DiscussãoContribuição dos dados da aquisição do PB para a discussão do status fonológico dos fonem aspós-vocálicos
O perfil de aquisição das consoantes pós-vocálicas no PB, verificado por Mezzom o (2003),m ostra características que perm item categorizar os quatro segm entos com o preenchedores dacoda. A prim eira evidência é o fato de os quatro segm entos pós-vocálicos apresentaremcom portam entos sem elhantes durante o percurso de aquisição. Diferentem ente do onset sim ples,que apresenta um grande núm ero de estratégias de substituição, todos os fonem as pós-vocálicossão subm etidos à estratégia de om issão com grande freqüência. O fato de os quatro segm entospós-vocálicos serem m ais om itidos do que substituídos nos leva a pensar que esses fonem asocupam o m esm o constituinte da sílaba.
Assim com o a om issão, a estratégia de alongam ento com pensatório é adotada naausência de todos os segm entos pós-vocálicos (soantes /N, l, r/ e obstruinte /S/). Esse argum ento afavor do pressuposto de que todos os quatro fonem as pós-vocálicos se encontram em coda é om esm o argum ento que Fikkert (1994) utiliza para considerar as soantes com o parte do núcleo e asobstruintes com o preenchedoras da coda. No holandês, a produção das soantes pelas crianças édependente do com prim ento da vogal, pois o apagam ento das soantes, m as não das obstruintes,aciona o alongam ento com pensatório. O fato de as obstruintes e as soantes se com portarem dem odo distinto quanto ao alongam ento vocálico indica, segundo Fikkert (1994), que essa estratégiaestá restrita ao núcleo silábico. Ao contrário, no PB, o alongam ento parece se lim itar ao constituinterim a (ram ificada).
Outro com portam ento sem elhante é o fato de a em ergência e o dom ínio de todos ossegm entos em coda final anteceder o surgim ento e a aquisição dos m esm os em coda m edial.
Um a segunda evidência que se oferece a favor da hipótese de que /N, l, S, r/ estão emcoda é o m om ento distinto com que cada um deles é adquirido. Acredita-se que os diferentesm om entos de em ergência dos fonem as pós-vocálicos são explicados pela aquisição segm ental enão pela ativação de diferentes parâm etros. Esse argum ento é utilizado por Fikkert (1994) paradefender sua posição quanto ao status fonológico dos fonem as pós-vocálicos no holandês. Para aautora, esses segm entos surgem em m om entos diferentes em função da ativação de parâm etrosdistintos. No estágio II todas as obstruintes surgem , preenchendo a posição de coda que está
disponível pela ativação do parâm etro da rim a ram ificada. As soantes surgem m ais tarde, pois oparâm etro do núcleo ram ificado é ativado após o parâm etro da rim a ram ificada.
No PB, os fonem as pós-vocálicos tam bém m ostram períodos distintos de estabilização,entretanto, refletem a ordem de em ergência no próprio sistem a da criança. As idades de aquisiçãodos segm entos /N, l, S, r/ em onset sim ples e em coda são m uito próxim as e, às vezes,dependendo do tipo de segm ento, ocorre um a estabilização m ais precoce em coda do que no onsetsim ples. À m edida que os fonem as /N, l, S, r/ surgem no sistem a, vão preenchendo as posiçõessilábicas já disponíveis, o onset sim ples e a coda silábica, m as não o onset com plexo, que éadquirido bem m ais tarde. Portanto, os m om entos distintos de dom ínio dos quatro segm entos pós-vocálicos refletem seu surgim ento no inventário da criança, e não a ativação de diferentesparâm etros silábicos.
O perfil de aquisição m ostra que a criança, durante o processo de dom ínio dos fonem asem coda, segue a m esm a ordem de aquisição do onset sim ples para as diferentes classes de sons.Esse com portam ento pode ser visto com o resultado do aum ento na com petência segm ental(Branigan, 1976; Salidis e Johson, 1997). As crianças aprendem prim eiro a estrutura silábica (C)VCno PB, antes de serem capazes de representar a inform ação segm ental de todas as consoantesem coda.
O que se viu sobre a aquisição da coda no PB está de acordo com o pressuposto deJakobson (1941/1968) de que a apropriação do sistem a lingüístico segue um a ordem previsívelpelos universais im plicacionais das diferentes línguas. As características m ais com uns em todos ossistem as são tam bém aquelas adquiridas prim eiro pela criança em um a única língua. No PB, osprim eiros sons adquiridos (nasal e glide – form a de superfície do /l/) são os m ais freqüentes naslínguas do m undo, e por isso, m enos m arcados3.
O perfil de aquisição das consoantes pós-vocálicas m arca um a dificuldade em term os decom plexidade segm ental por parte das crianças, verificada por Mota (1996) com dados de criançascom desvio, e confirm ada por Rangel (1998) com dados de crianças com desenvolvim entofonológico norm al. O Modelo Im plicacional de Com plexidade de Traços (MICT), proposto por Mota(op.cit.), m ostra que algum as com binações de traços distintivos que com põe os segm entos sãom ais com plexas do que outras, devido a fatores acústicos e articulatórios.
Além dos dados de aquisição sustentarem a idéia de que os fonem as /N, l, S, r/ estão nacoda silábica, eles tam bém vão ao encontro da descrição do português brasileiro realizada porCâm ara Jr. (1977), Collishonn (1997) ) e Bisol (2000).
Ordem de aquisição das consoantes pós-vocálicas do PB e o m odelo de aquisição da estruturasilábica proposto por Fikkert (1994)
Segundo a ordem de ativação universal dos parâm etros referentes à expansão da rim a,proposta no trabalho de Fikkert (1994), os segm entos pós-vocálicos do PB deveriam em ergir nafala das crianças do seguinte m odo: no estágio II o /S/ em ergiria, em decorrência da ativação doparâm etro da rim a ram ificada; e no estágio III o /N/, o /l/ e o /r/ surgiriam (prim eiro a nasal e depoisas líquidas), com o resultado da fixação do valor m arcado do parâm etro do núcleo ram ificado.
Entretanto, esse não é o perfil de aquisição atestado no PB. O surgim ento e a estabilizaçãodas soantes /N/ e /l/ se dá precocem ente, representando os prim eiros sons em posição pós-vocálica. O prim eiro m om ento de expansão da rim a do PB equivale ao estágio III do
m odelo de Fikkert (op.cit.). A fricativa surge em um segundo m om ento, equivalente ao estágio IIda autora e a líquida não-lateral tam bém é o últim o segm ento a se estabilizar na fala das criançasbrasileiras (estágio III de Fikkert).
3 Esses resultados tam bém corroboram estudos sobre a aquisição dos elementos pós-vocálicos em outros sistem aslingüísticos. Alguns dos trabalhos , como o de Kehoe & Stoel-Gam mon (2001) sobre o inglês, o de Lohuis-W eber & Zonneveld(1996) sobre o holandês, o de Kehoe & Lleó (2002), sobre o alemão e o de Freitas (1997) sobre o português europeu,mostram que as propriedades m enos freqüentes nas línguas do m undo, as líquidas, por exem plo, são as últim asa serem adquiridas. Os segm entos menos marcados, ao contrário, são os primeiros a serem dominados.
A escala de aquisição das estruturas silábicas, proposta por Fikkert (1994), é capaz deexplicar os dados do PB se assum irm os a posição de que as quatro consoantes pós-vocálicasestão em coda. Conform e se pode observar na figura 5, os fonem as em coda apresentam sub-estágios, surgindo após a ativação do valor m arcado do parâm etro da rim a ram ificada. A fixação dovalor m arcado da rim a ram ificada m arcaria o início do estágio II ou III.
Assim , quando as prim eiras estruturas (C)VC surgem , aos 1:2, o inventário fonológico dascrianças não apresenta os quatro segm entos que ocupam a posição de coda. O aprendiz vaipreenchendo essa posição à m edida que os sons em ergem no inventário fonológico, seguindo am esm a ordem do onset sim ples quanto à classe de sons: glide (/l/), nasal > fricativa > líquida não-lateral. Dessa form a, a transição para os diferentes tipos de coda envolve a aprendizagem dosdiferentes m odos de articulação - representação do segm ento, e não o envolvim ento da ativação deum parâm etro silábico.
Adotar a noção de sub-estágios não é algo novo, visto que Fikkert (1994) tam bém lançam ão de sub-estágios para explicar a ordem de aquisição do onset sim ples e da rim a ram ificada(estágio II) do holandês. A autora acredita que a aquisição dos traços que com põe os segm entos éque vai determ inar a em ergência das diferentes classes de sons no onset sim ples. Da m esm aform a, a transição do estágio IIa (fricativa) para o IIb (plosivas) da rim a ram ificada não envolve oparâm etro de sílaba, m as a aprendizagem do m odo de articulação [+contínuo] e [-contínuo].Nesses dois casos, a dificuldade da criança parece residir na falta de definição de alguns traços ouda com binação entre eles no sistem a da criança.
(a) Estágio II – Fixação do valor m arcado da rim a ram ificadaEstágio IIa. Aquisição da estrutura VG, VC lat, VCnasEstágio IIb. Aquisição da estrutura VC fricEstágio IIc. Aquisição da estrutura VCnão-lat
Figura 5 - Ordem de ativação dos parâm etros considerando os fonem as pós-vocálicos com o coda
Acredita-se que a escala expressa na figura 5 seja adequada, pois além de estar de acordocom a proposta de Fikkert (1994), tam bém é corroborada por estudos sobre a aquisição fonológicado PB, com o o trabalho de Santos (1998), sobre aquisição norm al, e a pesquisa de Ram os (1996),a respeito de crianças com desvio fonológico evolutivo. Ao contrário de Fikkert (1994), que relataum surgim ento anterior da estrutura (C)VC em relação ao núcleo ram ificado (C)VV, Ram os (1996)e Santos (1998) verificaram que as rim as VV e VC são produzidas em um m esm o estágio no PB.
Segundo Santos (1998) esse surgim ento sim ultâneo não requer a ativação de doisparâm etros distintos (do núcleo com plexo e da rim a ram ificada) ao m esm o tem po para justificá-lo.Já que os estágios correspondem a diferentes m arcações param étricas, a ativação de apenas umparâm etro seria suficiente para explicar o surgim ento das rim as VV e VC. Tanto o trabalho deSantos (1998) quanto o de Mezzom o e Menezes (2001) apontam para a seguinte ordenação deparâm etros no PB, igual ao holandês: P. do ataque m ínim o > P. da rim a > P. do onset com plexo.
ReferênciasBISOL, Leda. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. Gram ática do Português Falado. vol. 8.Cam pinas: Editora da Unicam p, 2000.BRANIGAN, G. Syllabic Structure and the Acquisition of Consonants: The Conspiracy in the W ordForm ation. Journal of Psycholinguistic Research, v. 5, n. 2, 1976.CÂMARA JR., J. M. Estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Vozes, 1977. COLLISCHONN,Gisela. Análise Prosódica da sílaba em português. 1997. Tese (Doutorado em Letras) - Faculdadede Letras. PUCRS, Porto Alegre, 1997.FIKKERT, Paula. On the acquisition of prosodic structure. Leiden University, 1994.FREITAS, Maria João. Aquisição da estrutura silábica do Português Europeu. 1997. Tese(Doutorado em Letras). Universidade de Lisboa, Lisboa, 1997.JAKOBSON, R. Child Language, aphasia, and phonological universals. The Hage: Mouton, 1968.Trabalho original publicado em 1941KEHOE, M.; LLEÓ, C. Intervocalic consonants in the acquisition of Germ an: onsets, codas orsom ething else? Clinical Linguistics & Phonetics, vol. 16, no 3, p. 169-182, 2002.
KEHOE, M.; STOEL-GAMMON, C. Developm ent of Syllable Structure in English-speakingChildrenwith Particular reference to Rhym es. Journal of Child Language, 28, p. 393-432,2001. LOHUIS-W EBER, H.; ZONNEVELD, W . Phonological Acquisition and DutchW ord Prosody. Language Acquisition, 5(4), p. 245-283, 1996.MEZZOMO, Carolina L. Aquisição da coda no português brasileiro: uma análise via teoriade Princípios e Parâmetros. 2003. Tese (Doutorado em Lingüística) – Faculdade deLetras, PUCRS, Porto Alegre, 2003.
____; MENEZES, Gabriela. Com paração entre a aquisição da estrutura da sílaba noportuguês brasileiro e no português europeu. Letras de Hoje. Porto Alegre. v. 36, no 3, p.691-698, setem bro,2001.MOTA, Helena Bolli. Aquisição segmental do português: um modelo im plicacional decomplexidade de traços. 1996. Tese (Doutorado em Letras) - Instituto de Letras e Artes,PUCRS,1996.RAMOS, Ana Paula F. Processos de estrutura silábica em crianças com desviosfonológicos. Uma abordagem não linear. 1996. Tese (Doutorado em Lingüística) –Faculdade de Letras, PUCRS,Porto Alegre, 1996.RANGEL, G. A. Uma análise auto-segmental da fonologia normal: estudo longitudinalde três crianças de 1:6 a 3:0. 1998. Dissertação (Mestrado em Letras) - Faculdade deLetras, PUCRS, Porto Alegre, 1998.SANTOS, R. S. A aquisição da estrutura silábica. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 33, n. 2,p. 91-98,Jun. 1998.SALIDIS, J. e JOHNSON, J. S. The Production of Minim al W ords: A Longitudinal CaseStudy ofPhonological Developm ent. Language Acquisition, 6 (1), p. 1-36, 1997.
A construção das classes formais do português por criançasbrasileiras: uma proposta à luz da teoria da morfologia distribuída
Cíntia da Costa AlcântaraUFPel
cintiaca@ nutecn et .com .b r
Durante o processo de aquisição da linguagem, as crianças tendem a em pregar a vogalátona final /o/, em contextos nos quais se esperaria surgisse a vogal átona final /e/. Quais seriamas razões lingüísticas desencadeadoras desse processo de emergência da vogal [+post] /o/ emlugar da vogal [-post] /e/? À luz da teoria da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993, 1994),pensar-se-ia prim eiram ente no aspecto concernente ao conteúdo dos feixes de traçosmorfossintáticos dos vocábulos não-verbais do português cujos radicais devem receber a vogalfinal /e/ – ao invés da vogal /o/ –, dado que a interpretação fonológica desses traços que integrammorfem as (nós term inais), ocorre tardiamente na gram ática, depois das operações morfológicas,que se dão no componente precedente, o morfológico. Seria, então, a presença da vogal /o/, emlugar de /e/, resultante da atuação de um desses mecanismos sobre o feixe de traços do radicalque deve receber posteriormente a vogal /e/, em posição final? Se assim for, o responsável podeser a operação m orfológica de Empobrecim ento (Bonet, 1991) que apaga um traço no contexto deoutro, tornando, assim, a forma resultante menos complexa. Note-se que, sob o enfoque da teoriada Morfologia Distribuída (DM), os vocábulos nom inais que carregam com o m orfema de classeform al (vogal temática) a vogal /o/ pertencem à classe menos m arcada da língua, a classe I, a qualabarca o m aior núm ero de vocábulos destituídos de quaisquer informações concernentes a traçosgramaticais, os vocábulos masculinos constituem o grupo majoritário neste agrupamento formal.
Grande parte dos vocábulos não-verbais do português é constituída de palavrasterm inadas em um a das três vogais átonas finais /o/, /a/ ou /e/1. No presente trabalho, sob aperspectiva da DM, com inspiração em Harris (1999), assume-se que o Português Brasileiro (PB)possui cinco classes formais (i.e., classes temáticas), sendo feita a identificação de cada umadelas através da term inação que carregam, ou seja, do morfem a de classe formal.
A classe I carrega todas as palavras term inadas na vogal átona final /o/, a classe II abrigatodas aquelas acabadas na vogal átona final /a/, a classe III reúne não somente palavras querecebem a vogal epentética /e/, mas também aquelas que term inam em consoantes licenciadaspara a posição de coda. A classe IV reúne todas as palavras que, a despeito de carregarem umaconsoante licenciada para a posição de coda, ainda assim recebem a vogal /e/. A classe Videntifica-se por agrupar não som ente palavras term inadas em vogal tônica e seqüências de duasvogais – os denominados ditongos – bem como as term inadas na líquida lateral /l/ e aquelas quecarregam, em posição final, a nasal subespecificada /N/. O interesse central deste trabalho, queanalisa os dados da aquisição da linguagem, sob o enfoque teórico da DM, se fixa, comoreferimos, em somente três das cinco classes formais, a saber: I, II, III. Outrossim, os dados aquiapresentados e discutidos são oriundos de duas fontes: parte deles integra os corpora coletadossob AQUIFONO 2 e parte deles integra o corpus analisado por Matzenauer-Hernandorena (1990),em sua tese de doutorado3. Acreditamos que esses dados fazem projeções interessantes, nocampo da aquisição da linguagem, que vão ao encontro de predições da DM, particularmente comrespeito à aplicação de operações morfológicas em etapa precedente à manifestação fonológicados morfemas, mais particularm ente com respeito à operação de Em pobrecimento.
1 No presente trabalho, assume-se que as três vogais átonas finais -o , -a , -e são representadas subjacentemente sob a forma de /o/, /a/, /e/ átonos finais, e cu jas
realizações fonéticas são [a], [e] ~ [i], [o ] ~ [u ], em virtude de essas vogais poderem sofrer regra de elevação (cf. Vieira, 2002).
2 Banco de dados da aquisição da fonologia do português (ou das consoantes líquidas do português) – que inclu i dados de 110 crianças divididas em cinco faixas
etárias, 1 :3 a 3:7 –, cuja coordenação está a cargo da Profa. Dr. Carmen Lúcia Barreto Matzenauer, da UCPel, e da Profa. Dr. Regina Ritter Lamprecht, da PUCRS.
3 Agradeço à P rofa. Dr. Carmen Lúcia B arre to Matzenauer a gentileza em permitir a utilização de uma parce la dos dados que constituem o corpus de sua tese de
doutorado.
[/naiS/, N, III, - ...] nariz[/flo/, N, III, fem ...] flor[/trato/, N, III, - ...] trator
No caso das línguas românicas em geral, e, no presente caso, em especial o português, acondição de boa-formação morfológica da palavra, que exige a adjunção de um nó term inaltemático (morfema de classe formal) para que a palavra se configure bem formada em termosmorfológicos, tem de ser respeitada, para que, só então, o m orfema de classe formal receba umamanifestação fonológica que pode ser um item vocabular (expressão fonológica) ou m esmo zerofonológico. Assim, todo radical não-verbal em português exige a adjunção de um a posição tem ática(m orfema de classe form al), a fim de que seja alcançada a boa-form ação morfológica, comomencionam os.
A DM assume ser a gramática constituída de três m ódulos autônom os, a Sintaxe, aMorfologia e a Fonologia, o segundo dos quais é a interface entre a Sintaxe e a Fonologia. Aautonom ia dos referidos módulos significa que cada um deles tem seus próprios princípios epropriedades. Nesses três componentes da gram ática, a estrutura das sentenças e palavras érepresentada por diagramas arbóreos. Os nós term inais das árvores (os morfemas) sãoconstituídos de com plexos de traços, tanto fonológicos com o não-fonológicos. O módulo daSintaxe ocupa-se exclusivam ente dos traços não-fonológicos dos morfemas. É um componentegerador de estruturas pela combinação, sob nós term inais, de feixes de traços sintáticos esemânticos, selecionados pelas línguas particulares a partir de um inventário disponibilizado pelaGram ática Universal (GU). O componente da Morfologia com preende três etapas – (i) asoperações morfológicas; (ii) a inserção vocabular; (iii) as regras de reajustamento –, atém -se nãosomente aos feixes de traços não-fonológicos quanto aos fonológicos. O m ódulo da Fonologia lida,particularm ente, com os traços fonológicos dos morfemas; não obstante, os traços não-fonológicostambém aí têm um papel, em bora secundário. Das seis operações morfológicas bem-motivadasque podem m odificar as estruturas fornecidas pela sintaxe, explicando, assim , segundo Calabrese(1998, p. 76), os desencontros entre a organização das peças morfológicas e as estruturasfornecidas pela sintaxe, discutirem os apenas duas: (i-a) adição de m orfemas e (i-b)empobrecimento.
A operação (i-a) é aquela que perm ite a inserção de m orfemas na estrutura morfológica dapalavra, a fim de satisfazer condições de boa-formação universais e/ou de língua particular, como éo caso da condição que exige a adjunção de uma posição tem ática aos radicais não-verbais doportuguês, a fim de que esses assumam o status de palavra morfologicamente bem-form ada. Aoperação (i-b) é im portante em virtude de ser um a operação sobre feixes de traços gramaticais,cuja função é bloquear a inserção de itens vocabulares mais específicos, sendo esses substituídospor itens menos específicos, como se terá a oportunidade de ver na produção de crianças falantesnativas do PB, em fase de aquisição da linguagem.
A Inserção Vocabular (ii), por sua vez, é responsável pelo fornecimento de traçosfonológicos (itens vocabulares) aos nós term inais. Em outras palavras, independentemente do tipode morfema, essa operação envolve a associação de itens vocabulares a m orfemas abstratos.Cumpre salientar que a ordem linear dos nós term inais não pode ser plenam ente estabelecidaantes da inserção de suas m atrizes fonológicas. Outrossim, refere-se que os traços m orfológicosdisponibilizados por esta operação assinalam propriedades idiossincráticas de itens vocabularesespecíficos, com o o é a informação de classe formal nos mem bros das classes III, IV e V.
A título de ilustração, apresentam-se, em (1), alguns radicais não só de nomes (1a), bemcomo de adjetivos (1b) que carregam, idiossincraticam ente, a informação de classe formal (classeIII) nas respectivas entradas vocabulares, exceto o último exem plo de (1b). Observe-se, comrespeito aos radicais adjetivais, que a configuração de suas entradas vocabulares são aquelasanteriores à concordância de gênero com um dado nome.
(1) Entradas Vocabulares de Nom es e Adjetivosa. (Nomes) b.(Adjetivos)
[/keNt/, A, III, ...] quente[/gaNd/, A, III, ...] grande[/taves/, A, - ...]
travesso(a)[/deNt/, N, III, - ...] dente
Em (1a), as entradas vocabulares dos radicais podem conter três inform ações distintas:categoria morfossintática (N), classe formal (III) e gênero (fem). Uma vez que o gênero dos nomes,em português, assim como em m uitas línguas, é, em geral, arbitrário, essa informação tem de serespecificada na entrada vocabular, com o um traço idiossincrático. E, pelo fato de assumir-se que ogênero marcado é o feminino, somente este deverá ocorrer nas entradas vocabulares noportuguês, sendo o gênero masculino considerado não-marcado/default (cf. Câmara Jr., 1966, parao português; cf. Harris, 1996, para o espanhol). Desta feita, o traço que identifica radicaismasculinos não será explicitado nas entradas vocabulares no português. Por outro lado, todos osnomes com a configuração mostrada em (1a) e dois dos três apresentados em (1b) têm decarregar a informação de classe form al, III, o que denota a sua impredizibilidade nesta classe. Seassim não fosse, radicais como esses seriam equivocadamente atribuídos às classes I (/o/) e II(/a/) do português – em que a classe I é considerada default para o gênero masculino e a classe IIa classe default para o gênero feminino, respectivam ente. Isso resultaria em formas agram aticais(e.g., *narizo por nariz, *flora por flor, *tratoro por trator, *dento por dente; *quento ou *quenta nolugar do adjetivo invariável quente).
No que concerne aos adjetivos mostrados em (1b), observe-se que todos carregam ainformação de categoria m orfossintática (A), porém lhes falta totalmente a informação de gênero,cuja adição, em suas entradas vocabulares, somente se concretizará após a concordância com umdado nome; se fem inino, esse traço deverá aparecer na entrada vocabular do adjetivo; se, poroutro lado, o nom e for masculino, essa informação não necessitará se fazer presente. Éinteressante notar que, no último exemplo ilustrado em (1b), estão ausentes não só a informaçãode gênero, bem com o a de classe form al. Isso ocorre porque, em tal caso, a classe à qualpertencerá tal adjetivo será I ou II, as classes maiores e mais gerais do português.
Considerando-se que o interesse do presente trabalho é investigar as razões lingüísticasque fazem com que crianças falantes nativas do PB, em fase de aquisição da linguagem ,substituam a vogal /e/ por /o/ ou /a/ ou mesmo insiram essas vogais depois de consoantesplenam ente silabificáveis, a pergunta que deve ser respondida é: as entradas vocabulares deradicais do tipo ilustrado em (1), no período de aquisição da linguagem, seriam idênticas às dosadultos ou delas se dessemelhariam e, por isso, emergiriam outros resultados? Para tanto,observemos, em (2), os dados de crianças que pertencem a grupos etários entre 2:0 e 2:11.
(2) Dados5: /o/ - /a/a) Exemplos de troca de vogal na produção b) Exemplos de epêntese
Matheus (2:9) - quente [‘kentu]Priscila (2:2) - dente [‘dentu]Michele (2:6) - forte [‘f t ]Vitória (2:9) - grande [‘gnia]
Davi (2:1) - flor [‘foli], lugar [u’gali]Mateus (2:3) - motor [mo’toju]Rodrigo (2:9) - trator [ta’toju]Vinícius (2:2) - flor [‘for ], nariz [na’lizu]Lara (2:0) - flor [‘for ]Maiara (2:11) - trator [ta’toli]
Pelas formas de superfície apresentadas, em (2a-b), para as quais se esperariam outrosresultados, infere-se que as entradas vocabulares dos radicais não contêm o mesm o tipo deinformação que se faz presente nessas mesm as formas, em (1) ilustradas, caso em que o sistemaalvo já está adquirido.
Em (2a), mostram-se casos em que as crianças trocam a vogal /e/ por /o/ ou /a/. Assim , osradicais de dente e quente são equivocadamente direcionados à classe não-marcada para ogênero masculino, a classe I, emergindo, conseqüentemente, form as term inadas na vogal /o/,[‘kentu] e [‘dentu], e, quanto aos radicais adjetivais de forte e grande, esses não parecem serinvariáveis na gram ática das crianças. Em outras palavras, em termos formais, esses radicais nãoparecem carregar o traço diacrítico de classe formal – o traço III – que obstaria sua incorretaafiliação às duas maiores classes formais do português, I ou II. Isso faz, então, supor que a entradavocabular dos adjetivos invariáveis, em (2a), durante o processo de aquisição da linguagem, seja a
5 Não serão abordadas outras questões, de ordem, por exemplo, fonológ ica, que estejam fora do escopo deste estudo, a posição fina l de palavra.
mesma dos adjetivos biformes, com o travesso(a), em (2b) ilustrado. Por isso de os adjetivos forte egrande em ergirem, inesperadam ente, sob as formas [‘f t ] e [‘gnia]. Em (2b), verifica-se que aposição do m orfema de classe formal da classe III, que normalmente não é preenchida com itensvocabulares, em virtude de as consoantes finais aí presentes serem licenciadas para a posição decoda do português, carregam a posição final preenchida majoritariamente com as vogais /o/ e /a/ e,em alguns casos, com a vogal epentética por excelência: a vogal /e/, cuja realização é sem pre [i].Observa-se, assim , que, à primeira vista, as crianças em pregam variavelmente, tanto as vogais /o/e /a/ quanto a vogal /e/, como elementos epentéticos.
Entretanto, uma observação mais atenta apontará para o possível desencadeador damanifestação de /o/ e /a/ – em que não seriam requisitados, pela estrutura fonológica da palavra,em termos de estrutura silábica – qual seja: o traço morfológico de gênero, um a das informaçõeslingüísticas idiossincráticas dos radicais. Neste caso, acredita-se que a presença do traço diacríticobloqueador de atribuição incorreta de classe formal que todos os membros da classe III carregamtambém não se faria presente. Somente inform ações de gênero, o que, fatalmente, encam inhariatais radicais, também equivocadamente, para as duas maiores e m ais produtivas classes depalavras do português, as classes I (/o/) e II (/a/).
Enfim , os dados em (2) parecem apontar para a ausência do traço diacrítico de classeform al, o traço III, das entradas vocabulares dos radicais que lá aparecem. Isso refutaria a nossahipótese de atuação do m ecanism o Em pobrecim ento, nos casos em que /o/ ou /a/ aparecem nolugar da vogal /e/, pois, se os dados das crianças, em (2) mostrados, restringissem-se a outputsterm inados em /o/ e /a/, então não poderíamos levantar a hipótese da atuação da referidaoperação morfológica, um a vez que são subm etidos a essa operação somente feixes de traçosgramaticais complexos, o que não é o caso de radicais fem ininos que são elencados sob a classeII e os masculinos afiliados à classe I. A razão para isso é que todos os radicais fem ininos quecarregam nas entradas vocabulares unicam ente a informação de gênero são atribuídos por um aregra de redundância à classe II e os masculinos que nenhum a informação carregam sãodirecionados, por default, à classe I.
Todavia, as crianças cujos dados são mostrados em (2a) tam bém produzem palavras cujosradicais indiscutivelm ente carregam, nas respectivas entradas vocabulares, o traço de classe III,pois os resultados, em termos de preenchimento da posição final da palavra, ocorre comoesperado, com a vogal epentética /e/. Observem-se exemplos em (3).
(3) Novos dadosMatheus (2:9) - dente [‘denti], balde [‘bawdi], grande [‘glndi ]Priscila (2:2) - iogurte [‘guti], grande [‘gndi], tomate [tomati]Michele (2:6) - dente [‘denti], leite [‘eti], parede [pa’edi]Vitória (2:9) - dente [‘denti], balde [‘bawdi], chiclete [i’kti]
Com o se pode observar, em (3), as crianças cujos dados foram m ostrados em (2a),também empregam a vogal epentética /e/, [i] fonético, nos mesmos contextos em que aparece /o/ou /a/.
Depreende-se desses resultados que o uso variável de /e/ e /o/, ou /a/, apontam para oseguinte fato: a operação morfológica de Em pobrecimento, cuja função é bloquear a inserção deitens vocabulares mais específicos, os quais serão substituídos por itens menos específicos,parece atuar no processo de aquisição da linguagem , assim com o está presente no sistem a alvo.Um argumento para tal reflexão é encontrado em Halle (1997, p. 427-30), os itens vocabularesconstituem uma parte essencial do conhecimento do falante sobre sua língua (...), e as entradasvocabulares representam os itens que os falantes têm de memorizar. Logo, em sendo assim, énatural que a gram ática da língua, durante o processo de aquisição da linguagem por falantesnativos, como é o caso aqui estudado, também disponibilize m ecanism os que perm itam o acessoàs configurações de traços, sim plificando-as, mesm o que tais feixes de traços, no sistema alvo,não sofram simplificação ou não sejam alvo de simplificações.
Sum ariando, o que não é considerado um feixe de traços complexo no sistema alvo, comoé o caso dos traços morfológicos que integram as entradas vocabulares de radicais masculinos daclasse III, em virtude de o gênero m asculino não requerer explicitação nas entradas vocabulares,[(m), III] – daí sua representação entre parênteses –, pode sê-lo durante o processo de aquisição
da linguagem, refletindo, assim, no tipo de traços fonológicos inseridos na posição dom orfema declasse formal. É o que os dados em (2) e (3) parecem evidenciar, trazendo, assim,suporte empírico para a proposta modular de gramática defendida pela DM.
ReferênciasALCÂNTARA, C. da C. As classes formais do português e sua constituição: um estudoà luz da teoria da morfologia distribuída. Tese (Doutorado em Letras). Porto Alegre:
PUCRS, 2003. BONET, E. Morphology after syntax: pronom inal clitics in Romance.Tese de Doutorado. MIT,1991.CALABRESE, A. Some rem arks on the Latin case system and its development inRomance. In: TREVINO, E.; LEMA, J. (eds.) Theoretical Analysis of RomanceLanguages. Amsterdam: John Benjam ins, 1998. p.71-126.CÂMARA JR, J. M. Considerações sobre o gênero em português. Revista Brasileira deLingüísticaTeórica e Aplicada, v. I (2), p. 1-9, 1966.HALLE, M.Distributed morphology and pieces of inflection. In: HALE, K.; KEYSER, S. J.(eds.) TheView from the Building 20: Essays in Honor of Sylvain Bromberger. Cambridge, MA: MITPress,1993, p. 111-176.__________. Distributed morphology: im poverishment and fission. MITW PL 30: PF:Papers at theInterface. Cam bridge, MA: MIT Press, p. 425-449, 1997.HALLE, M.; MARAN TZ, A. Som e key features of distributed morphology. MITW PL 21:Papers onPhonology and Morphology. Cambridge, MA: MIT Press, p. 275-288, 1994.HARRIS, J. W . Nasal depalatalization no, morphological wellformedness sí; thestructure of Spanish word classes. MITW PL 33: Papers on Syntax and Morphology.Cambridge. MA: MIT Press, p. 47-82, 1999._____. The syntax and morphology of class m arker suppression in Spanish. In: ZAGONA,K. (ed.). Gram matical Theory and Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins,1996. p. 99-122. MATZENAUER-HERNANDORENA, C. L. B. A aquisição da fonologia doportuguês:estabelecimento de padrões com base em traços distintivos. Tese (Doutorado em Letras).PortoAlegre: PUCRS, 1990.VIEIRA, M. J. B. As vogais médias postônicas: uma análise variacionista. In: BISOL,L. & BRESCANCINI, C. (orgs.) Fonologia e variação: recortes do português brasileiro.Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
Coesão lexical
Marco Antônio R. VieiraUNISC
marcovieira@ terra.com .br
IntroduçãoAdm itimos, por princípio, que o texto se organiza em torno de cam pos e frames semânticos
específicos para determ inado conteúdo. Nesse caso, a coesão textual se torna um fator importantena sua organização, levando a crer que exerça um papel preponderante na coerência do texto. Istoocorre de modo particular com a coesão léxica, que parece exercer uma função fundamental tantoem termos quantitativos quanto qualitativos na organização de um texto, podendo assim interferirno processo de com preensão. Para se dem onstrar estes pontos de vista, analisa-se um artigo dedivulgação científica, cuja função é inform ar, sem as características técnicas científicas da fonte,dando lugar a um texto que relata apenas o que interessa ao grande público, tal qual seexemplifica com Soja para diabete.
SOJA PARA DIABETEUm estudo feito com 32 m ulheres com diabete tipo 2 (que não precisa ser tratada com
injeções diárias de insulina) mostrou que a soja tem efeito contra a doença. Enquanto parte daspacientes recebeu a dieta com o grão, a outra parte saboreou refeições sem o vegetal. O grupoque ingeriu soja ficou com as taxas de açúcar do sangue mais controladas que as demais.(Isto é.Seção Viva bem. n. 1708, 26/06/2002. p. 64)
Com este texto, tento mostrar duas coisas. Primeiro, como determ inados m odelos dedescrição textual não dão conta da construção de sentido. Segundo, que um m odelo deve, além dedescrever os m ecanismos pelos quais o leitor se guia para construir o sentido, tam bém m ostrarsuas lacunas e como elas podem interferir no processo de com preensão e, principalmente, no deaprendizagem. Para isto, o modelo não pode se apoiar apenas na descrição lingüística, mastambém nos processos cognitivos e nos conhecimentos sociais.
Análise da harm onia coesivaAssum e-se que um texto é em parte organizado e em parte criado pela presença, em cada
enunciado, de elementos coesivos que requerem que o leitor observe os enunciados circunvizinhospara sua interpretação. Para Halliday e Hasan (1976), a organização do texto, denom inada textura,é feita em larga escala de relações entre itens sem ânticos e gramaticais, que eles denom inam eloscoesivos. Partindo do modelo desenvolvido em 76, Hasan (1984) propõe uma análise que agrupaos elos coesivos gram aticais e lexicais em cadeias, denom inando o m odelo de Harm onia Coesiva. Aonão separar a coesão gramatical da lexical, torna possível encontrar princípios para a formaçãode cadeias anafóricas. Há duas m aiores categorias de cadeias: cadeia de identidade e cadeia desim ilaridade. Os mem bros de uma cadeia de identidade são agrupados pelo elo semântico da co-referencialidade, assegurando a manutenção tem ática como um dos requerimentos para aconstrução do texto. Já os da cadeia de sim ilaridade são de co-classificação ou de co-extensão.Como as cadeias de sim ilaridade são uma realização de porções particulares de cam possemânticos, elas têm um a função dual na econom ia do texto: por um lado refletem o statusgenérico do texto e, por outro, contribuem para sua individualidade. Em suma, elas promovem aprogressão tem ática do texto. (HASAN, 1984).
Na descrição da harmonia coesiva, as relações gram aticais de referenciação pronom inal eelipse são recuperadas pelos itens lexicais aos quais se referem, com o se m ostra em (1) para aselipses.
(1) a- a outra parte (pacientes) saboreou refeições sem o vegetal.b-...as taxas de açúcar do sangue m ais controladas que (as taxas de açúcar do
sangue )as demais (pacientes).
Enquanto a elipse de (1)a é m uito sim ples de ser recuperada pela m em ória, as de (1)bexigem um cálculo inferencial com plexo, sendo de difícil recuperação. Assim, a oração (1)b tem osentido subjacente de (2):
(2) as taxas de açúcar do sangue das que ingeriram a refeição com soja ficaram maiscontroladas que as taxas de açúcar das pacientes que ingeriram a refeição sem o vegetal.
Com o se sabe que a m em ória não guarda formas, mas conceitos, tudo indica que no casoda elipse oracional o item demais reinstala o conceito contido na oração toda que provavelmenteainda está na memória de trabalho. Esta interpretação é puram ente textual, desta forma oselementos lexicais no texto determ inam a interpretação também do que se pode cham ar demecanismos coesivos im plícitos. Em outras palavras, há um processam ento cognitivo realizadopela memória para que o texto produza sentido.
Após a análise das relações coesivas, os itens são organizados em cadeias no nívelparadigm ático (Fig. 1).
Fig. 1-Elaboração de cadeias de identidade e sim ilaridade do texto Soja para diabete.Análise da relação léxica em cadeias do texto 1A B C D E F G Hdieta mulheres diabete tipo 2 Parte soja taxas...sangue tem efeito contra recebeurefeições pacientes não...insulina Parte grão taxas...sangue ficou...controladas saboreou
pacientes Doença Grupo vegetal ingeriupacientes sojapacientes
Fica claro, na Fig. 1 que só na instância do texto é que se pode determ inar a funçãocoesiva dos processos léxicos que nele ocorrem. Por exemplo, somente na cadeia de sim ilaridadeB, o conceito pacientes pode ser considerado reiteração de m ulheres. Por outro lado, mulheres epacientes só podem ser interpretados no texto como equivalentes, porque a coesão lexical egramatical opera harmoniosam ente. Neste caso, se pacientes não estivesse dentro de um SNdeterm inado, marcado explicitamente com um artigo definido, a co-interpretação não poderia serfeita.
O mesm o raciocínio tem de ser aplicado nas outras cadeias, por razões diferentes, poisalém do conhecimento lingüístico do léxico, em alguns casos o leitor deve dominar um sistemateórico ingênuo. Assim , na cadeia E, a reiteração não se dá pelo conceito de soja, mas por dois deseus atributos, grão e vegetal. Além disso, o leitor, para entender a relação estabelecida em G,deve dom inar o conhecim ento de que a diabete se caracteriza por uma taxa de açúcar no sanguealém de um a determ inada proporção, não relevante no caso. No entanto, esta descrição é intuitiva,baseada no conhecim ento enciclopédico do leitor e não pressuposto explicitamente pela análise.
Com o Hasan (1984) postula uma análise das duas cadeias no eixo paradigmático, aorganização dos itens léxicos, proposta por ela, pressupõe um a teoria do cam po lexical quesustenta ser o significado de um termo parcialmente determ inado pelos term os que se aplicam aum domínio sim ilar, mantendo um a relação de contraste ou afinidade. Para Nerlich e Clark (2000),isto representa o desenvolvim ento da noção de valor lingüístico, introduzida por Saussure, paraquem este conceito emerge de diferenças e oposições entre termos vizinhos num sistemalingüístico. Valor é, pois, o conceito que um signo assume em virtude de sua relação com outrosterm os relacionados, tanto os que com ele podem ser usados juntos (colocação), como os quepodem substituí-lo (reiteração) num enunciado.
Embora nada disto esteja explícito na análise semântica estrutural elaborada por Hasan(1984), não resta dúvida de que ela é pelo m enos didaticamente pertinente, um a vez que mostrafatos relevantes. Primeiro, que a coesão lexical é, de longe, o fator m ais importante para a texturade um texto. Ao comparar a freqüência de ocorrência dos diferentes elos coesivos, a coesão lexicalocupa 40% deles. Segundo, que é im produtivo ficar pedindo ao aluno sinônimos e antônimos emsala de aula. Enquanto realidade no sistema léxico de uma língua, esta exigência didática perdesua im portância na instância do texto.
Porém, um a análise semântica estrutural, tal como elaborada por Hasan, deixa de m ostrarcomo o texto na verdade se organiza em torno do conceito estudo que, por ser o itemgeneralizador, não cabe em nenhum a das cadeias. Com isto se perde a parte mais relevante, pois
é a partir dele que os conceitos existentes nas cadeias podem ser considerados como promovendosua coesão. Em função disto, vamos propor um a outra análise que possa descrever e explicar comuma semântica não estrutural como este texto se organiza. Neste caso, as relações léxicas dentrode um texto formam redes cognitivas que se apóiam num sistema social teórico ingênuo,caracterizado com o senso comum ou conhecim ento enciclopédico, baseado nos fatos culturaiscomuns aos interlocutores de qualquer texto/discurso.
Cam pos e fram es sem ânticosAs teorias m odernas tanto do cam po com o do frame fundam entam -se num arcabouço no
qual lingüística e cognição tentam descobrir como campo e frame sem ânticos se inter-relacionamcom estruturas conceptuais, representação do conhecimento, memória, compreensão do texto porpessoas e com putadores (Film ore,1982; Johnson-Laird, 1983; Fauconnier, 1985; Langacker,1987). No caso da linguagem em uso, representada por textos e discursos, os significadosassum em conceitos específicos, sendo-lhes atribuídos valores que talvez só se prestam paraaquele m om ento do uso lingüístico. Assim, uma experiência com partilhada deve ser vista comouma estrutura conceptual fundamentada no frame/domínio dos conceitos simbolizados por umvocabulário usado pelos mem bros de uma comunidade num determ inado texto.
Fram e então nada mais é do que um modelo semântico que representa a completa e ricacompreensão que um falante tenta veicular num texto e que o ouvinte constrói para este mesmotexto, como sustenta Filmore (1985). Para ele, na análise do significado lingüístico, a compreensãoé o dado primário. Desta form a, julgamento de valor de verdade e de relações semânticas comosinônim o são decorrências da teoria. Para ele, o falante, ao emitir palavras e construções numtexto, evoca um a compreensão ou m ais especificadamente frames. Em contrapartida, cabe aoouvinte também evocar frames ao ouvir o m esm o texto para entendê-lo. A semântica dacompreensão lança luz de como escolher um a palavra é um a m aneira de construir orelacionamento entre a experiência sendo com unicada e o conhecimento presumivelmenteexistente no interlocutor. Essa perspectiva do significado é de algum a forma desenvolvida emBarsalou (1992) com um modelo que possibilita descrever um frame com o um conjunto co-ocorrente de atributos que corresponde a seu núcleo. Nesse modelo, conceitos de palavras comodieta e refeição, por exemplo, podem ser com parados e contrastados, pois não são atôm icos, umavez que podem ser analisadas em traços semânticos. Desta forma, DIETA é igual a[ALIMENTAÇÃO, PRESCRITA] e REFEIÇÃO, [ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA]. Percebe-se, nadescrição, que dieta contém um atributo, prescrição, ausente no item refeição.
Esta forma de descrição perm ite estabelecer que conceitos não ocorrem livremente namente, mas que pressupõem relações entre palavras através da descrição dos traços semânticoscorrespondentes, como se faz em semântica estrutural. No entanto, conceitos podem ser tam bémorganizados em função de nossa experiência, fazendo com que sejam agrupados por associação enão possam ser descritos pela semântica estrutural. E é este tipo de associações que está nocentro do texto Soja para diabete, funcionando como redes que determ inariam possibilidadeslingüísticas, opções de significado, realizados na forma gramatical, incluindo seleções léxicas. Porexemplo, no eixo paradigmático, o produtor do texto poderia optar por outra seleção léxicadiferente de estudo e continuaria a ter, em princípio, o mesm o efeito generalizador, como pesquisaou trabalho, por exemplo.
Assim, num a análise sem ântica do frame do texto, o termo m ulheres evoca conceitos queincluem não somente a distinção biológica sexual [SEXO FEMININO], mas também diferenças ematitudes e com portamentos científicos, pelos quais devemos pressupor que os resultadosalcançados podem não se aplicar a hom ens, por exemplo. Logo, o conceito mulheres tem umaimportância no texto m uito além de uma sim ples distinção biológica. Da mesm a form a, o termomulheres não m antém relação léxica com pacientes no sistema, apenas no texto os dois termospodem ser agrupados e aceitos como associados, porque se está num a dim ensão cognitiva queperm ite relacionar mulheres a pacientes no frame estudo. O conceito mulher se estende no depaciente como sujeito da pesquisa, ainda que se pudesse utilizar da reiteração de mulheres, noscontextos em que se em prega pacientes. No entanto, a partir do m omento que o termo mulherespassa a fazer parte do estudo, adquire um valor específico em trabalhos experimentais, para os
quais cabe o item lexical pacientes. Neste caso, pacientes tem o valor de mulheres que sofrem dediabete tipo 2, mas que também participam de um experim ento.
Da mesm a forma, a compreensão de dieta, refeições implica m uito mais que a distinção dotraço [ALIMENTAÇÃO]. Dieta implica um a refeição prescrita por ordem médica com
determ inada quantidade de soja e refeição não. Daí que a escolha dos dois termos não é aleatória ousimples forma de estilo para evitar a repetição. Um outro exemplo seria a respeito dos termos
ligados a [COMER] recebeu [dieta], saboreou, ingeriu, cuja seleção tam bém não é aleatória.Observe-se que no texto ingerir implica [+soja] e saborear [-soja]. A alteração desta seleçãoacarreta estruturas sintagm áticas estranhas não para o sistema, m as para a dimensão cognitiva
que carrega o conceito contido no frame estudo, como saborear uma dieta. Ainda que nada exista deerrado nesse sintagm a, a concepção de mundo atrelada ao conceito de dieta, implica que ela é algo
forçado e, por isso, não pode carregar o atributo saborear. Logo o conceito de umdeterm inado termo se define por um conjunto de relações próprias que ele estabelece, oraprovindas do sistema, ora do texto, como ocorre com o de soja que simboliza, denota o de grão evegetal. Portanto, estes conceitos estão intimam ente relacionados e esta relação deve ser
representada na estrutura conceptual.Com esta análise pode-se tirar conseqüências pedagógicas relevantes, pois com ela é
possível revelar lacunas que só podem ser preenchidas através de um processamento cognitivo,apoiado num sistema conceptual intuitivo, como pode ser dem onstrado em (3).
(3) O grupo que ingeriu soja ficou com as taxas de açúcar do sangue mais controladasque as demais.
Em termos de informação, se deduz da leitura do enunciado (3) que m esmo aquelasmulheres que não se submeteram à dieta tiveram também a taxa de açúcar controlada. Istosignifica que m esm o sem a dieta com soja a taxa de açúcar foi controlada ainda que menos.Porém , a partir de um conhecimento teórico intuitivo, sabem os que, se este fato fosse constatado,haveria uma outra variável interferindo nos resultados e que não foi controlada. Com o tudo indica
que não foi isto que aconteceu, o problema se deve à form a de representar o significado através deum a construção sintática. Levando-se em conta que muitos conceitos não podem ser
entendidos sem levar em conta as intenções do interlocutor ou instituições ou comportamentossociais e culturais em que ação, estado ou coisa estão situados, pode-se afirmar que a maneira
de corrigir o erro técnico não está no texto, mas no sistema conceptual do leitor.Este fato revela então que a crítica que se faz aos alunos pela falta de compreensão de
textos pode não ser um fenôm eno exclusivo da habilidade estratégica do leitor. Suponham os queum professor fizesse duas questões para o aluno com três opções de resposta.
1 -No grupo que recebeu um a dieta com soja, a taxa de açúcar no sangue ficoua-mais controladab-menos controladac- sem efeito
2 -No grupo que NÃO recebeu um a dieta com soja, a taxa de açúcar no sangue ficoua-mais controladab-menos controladac- sem efeito
A prim eira resposta está evidente no texto; a segunda, não, porque o significado daconstrução está preso a fatos extrínsecos. Como a pergunta destaca apenas uma parte da suacompreensão, o leitor focaliza sua atenção som ente a uma parte do frame. Por isso, se o alunorespondesse (b) para a segunda questão estaria lendo o texto corretamente. Portanto, nãopoderia ser penalizado. Com isso, podem os distinguir dois tipos de com preensão. Num, osignificado de um texto é restrito ao próprio texto e construído com uma quantidade relativam entepequena de conhecimento prévio. Já em outro, a interpretação depende altamente doconhecim ento prévio e contém mais material inferencial.
Em term os da teoria da compreensão, o nível relevante da representação doconhecim ento é a representação mental do texto, baseando-se usualmente em comportamentoscomo lembrar e resum ir um texto ou parte dele. Há, no entanto, outro nível de representação que
é pedagogicamente im portante, denom inado de m odelo de situação (Kintsch e Dick,1982). Nestecaso, não estam os prim ariamente nos referindo em quão bem um leitor podereproduzir ou resumir um texto, mas quão bem o conteúdo do texto tem sidoentendido e assim ilado ao estoque de conhecimento geral do leitor. Em outraspalavras, faz-se uma distinção entre memória para compreender um texto e m emóriapara aprender pelo texto.
ConclusãoO confronto entre modelos diferentes de análise semântica para se determ inara organização textual revelou que eles não são antagônicos, mas com plementares,sendo possível integrá-los de um a forma harmônica. Além disso, o modelo deharmonia coesiva mostrou-se uma ferramenta para análise pedagógica de um textosem que o aluno detenha qualquer conhecim ento técnico especializado, sendopossível, através dele, tornar a aula de leitura m ais crítica e criativa. Isto, no entanto,implica num professor com uma formação atualizada, de tal forma que possatransformar o estudo teórico de um texto em um artefato que mostre, por exem plo,lacunas e contradições.A análise revelou ainda que o significado de um texto é expresso por m eio dosistemalexicogramatical. E m ais, que há um elo sistem ático, embora indireto, entre estruturagramatical e contexto social. Este é o traço central do ambiente em que um acriança aprende uma língua. Desde que o que ouve e lê é texto - língua sendooperacionalizada em um contexto situacional - o fato de que um texto sejasistematicamente relacionado a um contexto é a garantia da apreensãode seu significado para o processo de aprendizagem.Isto significa, segundo Halliday (1975), que aprender a significar é então igual aqualquer outra atividade. E, ao aprender, a criança quebra a atividade em tarefasfactíveis. Esta quebra é cognitiva e social, pois o significado potencial écognitivam ente ordenado. Há coisas que se aprendem antes, outras depois, e este éum aspecto do processo biológico da m aturação.Por tudo isto é que a análise de um texto em frame, ainda que cognitivamenteorientada,foi estendida para descrever o conhecimento social mais do que conceptual. Noentanto, pôde-se demonstrar que há um elo entre eles, pois os diversossegmentos da sociedade possuem experiências com partilhadas (expertezas) quetraduzem uma estrutura conceptual, fundam entadano frame dos conceitos simbolizados por um vocabulário especializado usado pelosm em bros da comunidade num determ inado texto.
ReferênciasBarsalou , L. W . Frames, concepts, and concepts fields. In: Leherer, A; Kittay, E. F. (Ed.)Frames, fields and contrasts. Hilsdale: Erlbaum,1992. p. 21-74.Fauconnier, G. Mental spaces. Cam bridge: Cambridge University Press, 1985.Film ore, C. Frames semantics. In: The Linguistics Society of Korea. (Ed) Linguistic in them orning. Seoul: Hanshin, 1982, p. 111-137.________.Fram es and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica. 6, (2),1985.p. 222-253Halliday, M. A. K. Learning how to mean. London: Edward Arnold,1975. Halliday, M. A. K; Hasan, R. Cohesion in English. Londres:Longman, 1976.Hasan, R. Coherence and harmony cohesive. In: Flood, J. (ed.) Understanding readingcomprehension. Newark: Ablex, 1984, p. 181-219.Johnson-Laird, P. Mental models. Cambridge: Cam bridge University Press, 1983.Kintsch, W ; Dick, Teun van. Strategies of discourse comprehension. Cambrigde UniversityPress,1982.Langacker, R. W . Foundations of cognitive gram mar. Stanford: Stanford UniversityPress, 1987. Nerlich, B.; Clarke, D. Sem antics fields and fram es.Pragmatics, 32, 2000,p.125-150.
Aspectos cognitivos envolvidos na compreensão em leitura
Rosângela GabrielUNISC
IntroduçãoA compreensão em leitura é um fenômeno cognitivo muito especial, porque a partir de um
conjunto de símbolos, de signos gráficos, torna-se possível recuperar, agregar e modificarinformações estocadas em nossa mem ória. Diante deste tema de proporções continentais, osaspectos cognitivos envolvidos na com preensão em leitura, o presente artigo restringe-se a discutiros elem entos envolvidos nesse processo e as formas possíveis de avaliar o produto dessaatividade mental.
Poder-se-ia perguntar: por que discutir formas de avaliar a com preensão em leitura? Porque avaliar a compreensão em leitura? Ou ainda, o que significa compreensão em leitura? Ésempre bom lem brar que o acesso à compreensão é indireto. Dizemos que alguém compreendeuuma seqüência de sons ou um a seqüência de sinais gráficos porque apresentou umcomportamento condizente com a mensagem ouvida/lida. Ou seja, é através de umcomportamento manifesto (por exemplo, executar um a ordem, escrever uma síntese, reproduziruma narrativa, etc.) que concluímos que algo foi ou não compreendido. O acesso direto aosmecanismos m entais de processamento dos sinais sonoros e/ou gráficos que produzem acompreensão são ainda im perscrutáveis.
A importância da avaliação da compreensão em leitura cresce à medida que cresce opapel da leitura em nossa sociedade. A habilidade de ler e com preender textos é condição desobrevivência digna e de cidadania em uma sociedade letrada, com o a nossa. Por isso é justificadaa preocupação de pais, governantes, cientistas e professores com a eficiência da educação para aleitura e a escritura.
Este artigo está dividido em dois blocos. A seção que segue é dedicada a uma reflexãosobre os elem entos envolvidos na leitura, ao passo que na seção seguinte serão apresentadosalguns instrum entos utilizados para a avaliação da com preensão em leitura.
Elem entos envolvidos na leituraA leitura, ou a com preensão em leitura, consiste num a atividade de processam ento e
integração da informação, realizada pela m ente hum ana. O leitor chega ao texto com seuconhecim ento prévio sobre o mundo e sobre a língua; processa o encadeam ento das letras, daspalavras, das frases e dos parágrafos na construção da estrutura formal e semântica do texto. Aolongo desse processo, o leitor compara a estrutura sem ântica do texto às estruturas existentes emsua memória e busca sua integração, ou seja, busca a compreensão.
Nem sempre a com preensão se dá em plenitude, por isso fala-se em níveis de construçãodo sentido. Podem os analisar esses níveis sob dois critérios diferentes: a abrangência e aprofundidade. O critério da abrangência está relacionado com as articulações lingüísticas:palavras formam frases, frases formam textos. A compreensão pode ser prejudicada pela falta deconhecim ento do significado de certas palavras, pela falta de familiaridade com certas estruturas
frasais ou pela dificuldade em apreender o sentido global do texto.O critério da profundidade relaciona-se aos níveis em que se constrói o sentido do texto. O
conteúdo explícito corresponde ao que o autor diz claramente, é o que está expresso nas linhas dotexto. O conteúdo implícito corresponde àquele sentido que deve ser lido em bora não escrito, ouseja, as elipses, as pressuposições, as inferências, as ironias. A recuperação é feita através dosdados expressos e do conhecim ento de m undo inerente a cada língua. Já o conteúdo m etaplícito éaquele que só pode ser reconstruído mediante a situação de com unicação, mediante oconhecim ento do contexto. É a busca do sentido que o autor efetivam ente quis dar ao texto, numdeterm inado contexto histórico, geográfico, social e cultural. Para chegar à construção do sentido
metaplícito, é necessário que o leitor tenha um conhecimento extratextual. Como esseconhecim ento pode variar, a interpretação também pode variar de leitor para leitor.
Durante muito tempo, considerou-se a compreensão em leitura como a capacidade dereconstruir o sentido dado pelo autor ao texto. Essa é a concepção de leitura que está na base dequestões do tipo “O que o autor quis dizer no poema X?”. No entanto, o leitor não é um merodecodificador do sistema de signos utilizado pelo escritor. Além do conhecimento do códigolingüístico, o leitor chega ao texto com seu conhecimento de mundo, ou seja, com umconhecim ento prévio que pode ou não coincidir com o do escritor. O leitor, no momento da leitura,constrói o sentido/significado do texto, integrando seu conhecimento prévio ao conhecimentotrazido pelo texto. O produto dessa integração é um novo sentido, mais ou menos próxim o aopretendido pelo escritor.
Por outro lado, não se deve incorrer no erro de im aginar que um texto está aberto a todasas interpretações possíveis. O texto abre um leque de possibilidades, mas o escritor hábilrestringirá essas possibilidades, fornecendo pistas para a interpretação desejada. Uma vezconcluído, o texto passa a ter existência própria, independente de seu autor. Essa autonomia dotexto escrito oferece grande dificuldade ao leitor-aprendiz. Fam iliarizado com a comunicação oral,em que as circunstâncias de em issão e recepção coincidem, as falhas de comunicação podem serresolvidas imediatam ente e o receptor é conhecido, o leitor-aprendiz se vê diante de um novoveículo, o texto escrito, que possui características peculiares.
O Quadro 1 procura sintetizar os diversos elementos envolvidos na leitura, buscando umavisualização e uma hierarquização das intrincadas relações que se estabelecem. Devido aoespaço exíguo desta explanação, esse quadro não será discutido com o detalhamento desejado1.No entanto, há que se ressaltar que o produto que se espera da leitura é a com preensão e, emconseqüência, a aprendizagem. A compreensão, entendida com o a integração da inform açãoveiculada pelo texto ao conhecimento prévio do leitor, gera modificações m ais ou menos sutis noleitor. O leitor reestrutura seus esquem as mentais, assim ilando o conhecim ento novo, e chegaráao próxim o texto com um conhecimento prévio diferente. Assim, em última análise, cada leitura,ainda que de um mesmo texto, produz um a compreensão diferenciada da anterior.
Quadro 1 – Elementos envolvidos na leituraCONTEXTO
ESCRITO R TEXTO LEITO RMem ória
longo prazo(conhecimento prévio)
- de trabalho
Objetivos da escritura- m otivação / circunstâncias- estratégia de escritura
(lingüísticas e cognoscitivas)
Legibilidade- tam anho e/ouformato das letras
- qualidade de impressão
Leiturabilidade- macroestrutura textual(conteúdo, quantidade deinformação, inferências, etc)
- m icroestrutura textual(vocabulário, sintaxe, etc)
Mem órialongo prazo
(conhecimento prévio)- de trabalho
Objetivos da leitura- motivação / circunstâncias- estratégias de leitura
Capacidades fisiológicas
Produto TEXTO Produto LEITURA Produto COM PREENSÃOAPRENDIZAGEM
A leitura é um processo m ental e, enquanto tal, de difícil acesso. Dizer com precisão o queestá se passando na mente/cérebro do leitor, como o sentido vai sendo construído é, ainda,impossível. Para que o conhecimento sobre leitura avance, os pesquisadores estudam asestratégias usadas e o produto da leitura, ou seja, a compreensão do texto e a aprendizagemdecorrente. Farr e Carey (1986, p.33) afirmam que os testes de com preensão não são m ais do queamostras de indicadores da leitura realizada. Os testes não são am ostras da leitura de fato. Todosos testes se baseiam em amostras lim itadas do com portamento leitor sob condições lim itadas. Écom esse olhar cauteloso que passaremos a exam inar alguns instrumentos para avaliação emleitura.
1Para m aiores detalhes, ver Gabriel e Frömming (2002)
Instrum entos para avaliação da com preensão em leituraVários instrumentos podem ser usados para avaliar a compreensão em leitura. Nenhum
deles pode ser considerado perfeito, pois, como foi dito na seção anterior, aspectos diferentes daleitura devem ser avaliados por instrum entos específicos. Além disso, outras variáveis podeminterferir nos resultados.
Quando um a criança de dois anos executa ordens, tais como “pegar a bola”, dizemos queela já entende a linguagem oral. Analogam ente, a criança que pinta o quadrado de vermelho, deacordo com a instrução do exercício, com preendeu a ordem lida. Portanto, o comportamentoapresentado após a leitura de ordens de exercícios, de manuais de instrução, de receitas, deproblemas matemáticos, pode ser uma form a de avaliar a compreensão em leitura.
A professora das séries iniciais que pede para a criança contar aos colegas a história queacabou de ler está verificando a com preensão do leitor. A paráfrase oral da criança pode sertransformada em um a paráfrase escrita. A estratégia da paráfrase é útil inclusive nos níveis deinstrução mais elevados, pois, ao redigir o referencial teórico ou a revisão bibliográfica de umtrabalho científico, estamos parafraseando leituras anteriores.
Em um texto sem pre há inform ações mais relevantes do que outras. A capacidade deperceber quais são as informações m ais im portantes demonstra que o leitor compreendeu o texto.Leitores despreparados para um texto mais com plexo, quando convocados a escrever umasíntese, às vezes se queixam: “Eu não sei o que deixar de lado, tudo é importante”. Por outro lado,não podemos esquecer que as pesquisas sempre apontam para um a ordem de aquisição: acompreensão antecede a produção, tanto na linguagem oral quanto na escrita. Portanto, umasíntese mal escrita não significa, necessariamente, falta de compreensão. Já um resum o adequadodemonstra alto grau de compreensão.
Uma prática bastante com um nas escolas é a das questões abertas ou dissertativas. Essasquestões são interessantes, pois, ao mesmo tem po em que são direcionadas a determ inadosaspectos do texto, dão certa liberdade para que o leitor m ostre as relações que estabeleceu e osraciocínios que o levaram à compreensão do texto. Por outro lado, esse tipo de questão exigegrande atenção do exam inador, que deve avaliar quais interpretações são perm itidas pelo texto equais não são.
Outra form a de avaliar a compreensão é a leitura oral. Entonação adequada, pausas, tomde voz irritado e indignado, ou suave e carinhoso, demonstram que o leitor estabeleceu nexosentre linguagem oral e escrita, que podem favorecer a com preensão. Segundo Alliende eCondemarin (1987, p.105), a prática da leitura oral em sala de aula apresenta uma série devantagens: perm ite avaliar a habilidade dos alunos no reconhecimento de palavras; perm ite avaliar,indiretamente, a fala da criança; desenvolve no aluno a capacidade de comunicação; fornece maisum estímulo à memória do aluno, pois, além do estímulo visual, ele terá o estímulo auditivo. Poroutro lado, nas fases iniciais de aquisição da língua escrita, a leitura oral pode prejudicar acompreensão. A grande atenção dispensada à pronúncia correta, à pontuação, ao tom de voz,pode prejudicar a construção do sentido. Para não criar traumas desnecessários, é m ais produtivauma leitura silenciosa antes de expor o aluno ao julgamento dos colegas.
Dois outros instrumentos para avaliação da com preensão em leitura são os testes demúltipla escolha e o procedim ento Cloze. Vianna (1982) chama de arte a tarefa de elaborar itensobjetivos para testes de múltipla escolha, por considerá-la um trabalho criativo, que exige grandetalento do construtor. A elaboração de itens é árdua e exige esforço e tem po; além disso, os itensestão sempre sujeitos a retoques. Segundo o autor, um bom construtor de itens deve ter asseguintes características: domínio da área a exam inar, com preensão dos objetivos do teste,compreensão das características dos candidatos, domínio do código lingüístico e da técnica doitem.
O prim eiro passo na construção de um item é selecionar um a idéia em função de suarelevância para a verificação dos objetivos estabelecidos. Em seguida, escolhe-se o tipo de itemmais apropriado à natureza do conteúdo. O item de múltipla escolha consiste, basicam ente, numsuporte, raiz ou prem issa que apresenta um a situação-problem a e várias alternativas, sendo umadelas correta ou a melhor do conjunto. Vianna (1982) apresenta alguns tipos de itens de múltiplaescolha e ainda sugestões para a construção de itens de interpretação. Entre outras, o autorsugere que sejam evitados itens que possam ser respondidos com base em conhecim entos gerais,independentemente da leitura do texto; que sejam evitados itens que repitam nas alternativas
palavras existentes no texto; que sejam usados diferentes tipos de textos: narrativos, descritivos edissertativos. Um momento crucial é a revisão dos itens de múltipla escolha. Além do construtor, ésalutar que um ou dois especialistas revisem os itens, pois enganos podem passar despercebidos.Os revisores devem levar em consideração os seguintes aspectos: relevância da idéia apresentadano item; apresentação clara do problema no suporte do item ; plausibilidade das diferentesalternativas; propriedade da resposta correta; redação clara das diversas alternativas; ausência deelementos que favoreçam o acerto casual; nível adequado de dificuldade.
Criado por W ilson L. Taylor, o procedim ento Cloze foi apresentado pela primeira vezdurante um workshop em 1953. Desde então m uitas pesquisas foram realizadas para esclarecer oque de fato o Cloze m ede e quais suas possíveis aplicações. O procedim ento foi desenvolvidocomo um instrumento para m edir leiturabilidade. A palavra Cloze é pronunciada com o o verboinglês close, de closure2. O suporte psicológico vem da Teoria da Gestalt, que descreve atendência hum ana a completar um padrão familiar, mas não concluído, por exemplo, ver um círculoincom pleto como se fosse um todo, completar palavras ou frases para que façam sentido, etc.Alguém pode com pletar um círculo porque seu formato é tão familiar que, apesar de estarincom pleto, é possível reconhecê-lo de qualquer maneira. O m esmo raciocínio é aplicado aoprocedimento Cloze: alguém pode entender o que um a sentença m utilada significa com o um todo eentão com pletá-la, de m odo a construir um texto significativo. Quanto mais freqüente determ inadoelemento, mais ele é esperado e menos ele informa. Observemos os exemplos:
(1) Ele chegou às oito __________ .(2) Ele chegou às __________ horas.A palavra que está faltando em (2) é m uito mais inform ativa do que a que está faltando em
(1), cuja lacuna é facilm ente completada com a palavra “horas”. Não se pode confundir oprocedimento Cloze com um exercício de com pletar frases, porque no Cloze o examinando criahipóteses a partir do contexto e do seu conhecimento prévio, enquanto num exercício de completarlacunas o objetivo é testar um conhecimento específico.
Uma unidade Cloze é definida com o qualquer ocorrência de uma tentativa bem sucedidade reproduzir apropriadam ente um a parte deletada de um texto, através da um a decisão, a partirdo contexto que perm anece, a respeito de qual palavra foi om itida. A elaboração de um teste Clozeé bastante simples: as palavras são deletadas de forma randômica, por exem plo, a cada cincopalavras segue uma lacuna; as lacunas devem ter sempre o mesm o tamanho, a fim de nãoinfluenciar a decisão do examinando; a primeira frase permanece intacta para que o leitor possafazer suas antecipações enquanto está lendo. Aconselha-se, ainda, que o texto usado não sejamuito curto, para que haja m aior possibilidade de redundância e recursividade lexical e sintática. Oideal é que o texto tenha em torno de 50 lacunas.
A questão da redundância é um aspecto importante no procedimento Cloze. Um texto, pordefinição, é um todo am arrado por mecanism os de coesão e coerência. Ora, se um texto écoerente, ele retomará em cada parágrafo algum aspecto do assunto e/ou tema de que estátratando. Uma forma de construir a coesão de um texto é a retomada de um item lexical por umsinônim o, um pronome ou uma paráfrase. Logo, o próprio texto fornece pistas para que o leitorcomplete as lacunas.
Outra fonte de dicas é o conhecimento do contexto e do assunto do texto. Quando lem os oinício de uma frase familiar, imediatamente tendem os a completá-la conforme nosso conhecimentoprévio, independente da forma como ela de fato acaba. Por exemplo:
(3) Durante a 47ª Feira do Livro, estaremos lançando a cobra “O berço do cânone”.Nosso conhecimento de m undo nos diz que em feiras do livro são lançadas obras, livros, e
não cobras, por isso tendemos a não enxergar a palavra que está escrita e sim a que esperávam osque estivesse. Quando as palavras aparecem num a seqüência que está de acordo com o que oleitor está habituado, a com preensão se dá com pouco esforço. Quando as seqüências são m enosfamiliares, a compreensão é m enor e menos segura. Uma das principais vantagens do Cloze, alémda facilidade de elaboração, é que ele parece levar em conta os vários elementos envolvidos naleitura: conhecim ento prévio do assunto, do código lingüístico e do código cultural, os níveis de
2 De acordo com o Oxford Advanced Learner’s Dictionary, closure significa um ato ou o processo defechar/completar/acabar algo.
correspondência entre os padrões de linguagem do em issor e do receptor e as característicasintrínsecas de cada texto3.
No artigo Comparable Cloze and Multiple-Choice Comprehension Test Scores, Borm uth(1967) desenvolve um estudo comparativo entre os escores do Cloze e os testes de múltiplaescolha. Borm uth aplicou o teste Cloze e, em seguida, aplicou um teste de m últipla escolhapreviam ente validado. Os resultados demonstram que um a pessoa que responde corretamente38% dos itens do Cloze de um texto obtém, em geral, 75% dos escores num teste de múltiplaescolha sobre o mesmo texto. Os resultados da comparação entre Cloze e teste de múltiplaescolha são apresentados na Tabela 1.
ConclusãoNeste artigo, foram apresentados alguns pressupostos teóricos sobre a compreensão em
leitura e instrumentos para sua avaliação. Intensificar os estudos sobre a compreensão em leitura epopularizar o conhecimento já existente são duas m edidas urgentes para que se dê um salto dequalidade no ensino da leitura e da escritura. Muito se fala sobre o prazer da leitura, m as comoencontrar prazer na leitura de um texto que não se entende? Encontrar prazer na leitura passa,necessariam ente, pela produção de uma leitura compreensiva.
Tabela 1 – Equivalência entre os percentuais dos escores no teste Cloze e no teste de múltiplaescolha
Escores do teste Cloze Escores do teste deM últipla escolha
19%23%27%31%35%38%42%46%50%53%57%
Fonte: Bormuth (1967, p.296)
50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
100%
ReferênciasALLIENDE, Felipe; CONDEMARIN, Mabel. Leitura: teoria, avaliação e desenvolvimento. PortoAlegre: Artes Médicas, 1987BORMUTH, John R. Journal of reading, v.10, (5). Comparable cloze and multiple-choicecomprehension test. p. 291-299, Feb. 1967.FARR, Roger; CAREY, Robert. Reading: what can be measured? Newark: International ReadingAssociation, 1986.GABRIEL, Rosângela; FRÖMMING, Marione. Compreensão em leitura: como avaliá-la. Signo,Santa Cruz do Sul, UNISC, vol. 27, n. 43, p. 7-44, 2002.POERSCH, José M. Por um nível metaplícito na construção do sentido textual. Letras de Hoje,Porto Alegre, v.26, n.4, p. 127-143, dez. 1991.SHANAHAN, T.; KAMIL, M.; TOBIN, A. Cloze as a measure of intersentencial comprehension.Reading Research Quartely, 17, 2, p. 229-255, 1982.SIGOT, Ana Elisa. O procedim ento “cloze” e a compreensão em leitura em língua estrangeira.Dissertação (Mestrado em Letras). Porto Alegre: PUCRS, 1996.TAYLOR, W ilson. “Cloze Procedure” a new tool for m easuring readability. Journalism Quartely, v.30, New York, p. 415-433, Fall 1953.VIANNA, Heraldo Marelim . Testes em educação. 4 ed. São Paulo: Ibrasa, 1982.
3 Maiores inform ações sobre o Cloze podem ser obtidas em Taylor (1953), Bormuth (1967), Poersch (1991), Shanahan ,Kamil & Tobin (1982), Sigot (1996), entre outros.
Diferenças individuais na leitura em LE e suas implicaçõespedagógicas
Lilian Cristine SchererUNISC
lilian@ bewnet.com .br
IntroduçãoA leitura ativa processos variados, que partem do movimento dos olhos para a identificação
das palavras pela decodificação, até processos de compreensão literal, compreensão inferencial emonitoram ento da com preensão, em nível de palavras, de frases e do texto como um todo (Gagnéet al., 1993). Segundo Danemann (1991), a leitura requer a execução coordenada de um a coleçãode processos óculo-motores, perceptuais e de compreensão, que incluem processos decomputação de relações semânticas, sintáticas e referenciais entre sucessivas palavras, sentençase parágrafos.
Além desta complexa rede de processos com ponentes da leitura, há ainda que seconsiderar a influência das diferenças individuais, as quais representam im plicações im portantespara a educação, um a vez que a leitura é o maior meio de aquisição de conhecimentos ehabilidades (Just e Carpenter, 1987). No presente artigo, discutirei a natureza das diferençasindividuais no processam ento da leitura, em especial em relação à leitura em LE (línguaestrangeira), e suas implicações pedagógicas.
Diferenças individuais no processam ento da leituraSegundo Kintsch (1998, p. 282), as diferenças individuais se dão em três níveis: nas
habilidades de decodificação, nas habilidades de linguagem e no conhecim ento de dom ínio. Amaneira com o o leitor se engaja na leitura é determ inada por sua experiência com a aprendizagemde ler e com a maneira pela qual a leitura se integra com sua vida diária. Os fatores que maisfortemente m oldam nossa experiência com o leitores são a família, a comunidade, a escola, oambiente sócio-cultural e nossas diferenças individuais, dentre as quais a auto-estima, a inibição, aansiedade, a motivação e a exposição ao risco, características determ inantes também para aaquisição de um a segunda língua (AL2) ou de uma língua estrangeira (ALE) (Aebersold e Field,1998).
Durante o ato de ler, temos de integrar cada nova proposição processada com aspreviam ente processadas, com putando as relações sem ânticas, sintáticas e pragmático-discursivas entre elas. Essa tarefa é executada pela m emória de trabalho, a qual possuicapacidade tanto de arm azenam ento temporário ativo, quanto de processamento.
Outro tipo de conhecim ento suscetível às diferenças individuais que pode gerar diferençasquanto à habilidade de leitura é o conhecim ento sobre o conhecimento – a metacognição(Danem ann, 1991, p. 532). Os indivíduos diferem quanto à sua capacidade de acessarem seupróprio conhecimento. Neste caso, um trabalho elucidativo de estratégias de leitura e compreensãode texto tem dem onstrado ser de grande valia, uma vez que pode tornar os leitores conscientes derecursos aos quais podem recorrer para melhorar sua habilidade de leitura (Magliano, Graesser eTrabasso, 1999). O uso de metacognição pode ser verificado na fase de pré-planejamento, em queo leitor deliberadam ente prevê aspectos do texto e planeja com o irá abordá-lo, bem com o na fasedo planejam ento em ação, em que o leitor monitora sua leitura (verifica sua compreensão, fazinferências) e a avalia (verifica se a inform ação do texto é consistente com a informação prévia,com a realidade, com o senso-com um ).
O conhecim ento metacognitivo tam bém é relevante para a leitura em L2/LE. Conhecer aestrutura da L1 (língua materna) pode auxiliar o aluno a estabelecer relações de semelhanças ediferenças entre a L1 e a língua alvo, bem com o facilitar ao professor a discussão das m esmas. Noentanto, a metacognição sobre o uso e a estrutura da L1 varia m uito, o que deve ser respeitadopelo professor. Por exemplo, uma criança de seis anos possui um a considerável proficiência emsua L1, mas um conhecim ento metacognitivo lim itado. Ao aprender um a L2, esta criança não pode
ser, portanto, exposta a complexas explicações gramaticais e a uma com plexa term inologialingüística.
Aspectos individuais na leitura em L2Há duas correntes que procuram analisar a origem da habilidade em leitura em uma LE.
Um a delas pressupõe que se o indivíduo é bom leitor em sua L1, certamente transferirá essacapacidade à leitura em L2. Outra afirma que é indispensável ao leitor adquirir uma certaproficiência na L2 para ler textos escritos na língua alvo, etapa conhecida na literatura comothreshold level, ou nível lim iar. Segundo esse pressuposto, antes de alcançar este nível, cujacaracterização não é claramente dada na literatura, o leitor sobrecarrega sua m em ória de trabalhocom a “adivinhação” de vocabulário e/ou com a dificuldade em lidar com a estrutura sintática da L2,o que com prom ete a qualidade de sua compreensão de leitura. Por experiência com o ensino deLE, percebe-se que algum as das estratégias de leitura são transferidas para a LE, no entanto issosó parece ser possível em relação às estratégias de nível mais elevado, a partir do m omento emque a decodificação está automatizada e que o aluno adquire um certo domínio do léxico e dasintaxe da língua alvo.
Aebersold e Field (1998) analisaram pesquisas de vários autores (Grabe, 1991; Scarcella eOxford, 1992; Canale e Swain, 1980; Alderson, 1984), a fim de investigar os fatores queinfluenciam a leitura num a L2/LE. Inicialm ente, os dois pesquisadores apontaram as quatro áreasenvolvidas no domínio de uma LE, apresentadas por Scarcella e Oxford, que tomaram por base oquadro descritivo de com petência comunicativa de Canale e Swain: a competência gramatical(conhecim ento de gramática), a competência sócio-lingüística (habilidade de usar a linguagemapropriadam ente em vários contextos sociais), a competência discursiva (conhecim ento depadrões aceitáveis na língua escrita e falada) e a com petência estratégica (habilidade de usar umavariedade de estruturas da língua para comunicar com sucesso). A partir dessas competênciasadvém a relação dos fatores apontados como influentes na leitura em L2/LE (op. cit., p. 23):
1. O desenvolvim ento cognitivo e a orientação de estilo cognitivo no m omento de iniciar oestudo da língua alvo: o desenvolvimento cognitivo, ligado à idade em que se inicia oaprendizado de um a L2, influencia o uso de estratégias de leitura, o nível de leitura naL1, o conhecimento de m undo já obtido. Outra questão, bastante reconhecida maspouco investigada, é o papel da orientação de estilo cognitivo, ou estilo deaprendizagem. Todo o aprendiz revela, consciente ou inconscientemente, um estilo deaprendizagem preferido. Isto inclui o uso de estratégias, as formas de abordagem deum texto – através de um modo mais específico ou m ais geral –, a tolerância àambigüidade e preferências quanto aos modos de apresentação do texto – visual,cinestésico ou auditivo.
2. A proficiência na L1: a perform ance do leitor e sua competência na sua L1 revelam-secomo um potencial a ser implementado a fim de aprim orar a leitura na L2.
3. O conhecim ento metacognitivo da estrutura, gramática e sintaxe da L1: possuirconhecimento metalingüístico que possibilite ao leitor discutir, descrever, dar regras ecomentar sobre o uso de sua L1 pode facilitar a estruturação da língua alvo e, porconseguinte, facilitar tam bém a leitura na mesma.
4. A proficiência lingüística na L2/LE: para que o leitor consiga ler um texto em LE, énecessário que tenha obtido um razoável nível de desempenho naquela língua. Ouseja, para se entender um texto, deve-se ter uma certa competência na língua alvo, eesse nível de conhecimento varia de acordo com o grau de com plexidade exigido pelotexto.
5. O grau de diferença entre a L1 e a língua alvo, em relação ao sistem a de escrita, àsestruturas retóricas às estratégias apropriadas, diferenças na grafia, no sistema deescrita entre a L1 e a alvo são tam bém um fator importante na leitura: quanto menossemelhantes, m ais tempo e esforço precisa ser dedicado pelo leitor à tarefa de ler.
6. A orientação cultural: compreende aspectos como o conhecim ento prévio (esquema deconteúdo), crenças sobre o processo de leitura (uso de inferências, m em orização enatureza da compreensão), conhecim ento de tipos de textos na L1 (esquema deforma), atitudes em relação ao texto e ao propósito da leitura, tipos de estratégias e dehabilidades de leitura em pregadas na L1 e na L2.
Além desses fatores, diferenças na capacidade de processamento e de armazenamento damem ória de trabalho parecem desem penhar um papel importante na leitura, tanto em L1 quantoem L2/LE (Kintsch, 1998, p. 215; Miyake e Friedm an, 1998, p. 339). A m emória de trabalho énosso processador central, responsável por acionar informações já arm azenadas quando estassão necessárias para a compreensão da inform ação que está sendo processada. Quanto maior fora habilidade de leitura, advinda da capacidade de fazer inferências, de recuperar informação, de sevaler da estrutura do texto, do conhecimento do vocabulário, da capacidade de identificação deproposições centrais e periféricas, do conhecim ento prévio sobre o assunto, menor será o esforçode processam ento demandado à mem ória de trabalho e m ais significativa será a leitura. Porconseguinte, a capacidade de retenção e de retomada de informação será maior qualitativa equantitativamente.
Depreende-se disso, portanto, que diferenças individuais em relação a qualquer um dospontos acim a podem influenciar a capacidade de processamento e de compreensão do texto.Ciente do papel que as diferenças individuais desem penham na leitura e na compreensão de umtexto, o professor de LE pode lançar mão de medidas que auxiliem o aluno a tornar sua leituramais eficiente.
Im plicações pedagógicas no trabalho com leitura em LEUma série de princípios devem ser considerados no trabalho com leitura em sala de aula
de LE.A primeira etapa, a de seleção dos textos a serem trabalhados, deve considerar a
adequação dos mesm os quanto à sua relevância, ao nível de proficiência dos alunos, seusinteresses e necessidades. Quanto ao trabalho com leitura oral, textos adequados a esta práticadevem ser selecionados pelo professor.
Ainda na avaliação de compreensão de leitura, o professor deve ter claramenteestabelecidos os padrões do que seria um a leitura “ideal” e ter consciência de que o grau decompreensão de um texto é variável, sujeito, por exem plo, ao conhecim ento prévio do aluno e aosobjetivos da leitura.
Um dos papéis mais relevantes do professor é o de fornecer instrução de estratégiascognitivas de leitura (Tomitch, 2002), as quais geram um suporte (scaffolding) ao aluno enquantoeste desenvolve procedim entos internos que o capacitem a operar com autonomia. O professordeveria priorizar o ensino das estratégias de com preensão ao invés de se preocupar tanto (emuitas vezes exclusivam ente) em avaliar a capacidade de compreensão textual.
Ensinar o leitor a ser estratégico é um exem plo de trabalho na zona proximal, um a vez quelida com o nível de desenvolvim ento potencial – o aprendiz consegue resolver um problem a comassistência do professor ou em colaboração com outros aprendizes.
Rosenshine e Meister (1997) apresentam sete procedimentos instrucionais para o trabalhocom estratégias para abordagem de um texto:
1o desenvolver e apresentar um item procedim ental;2º demonstrar o uso do item, através da apresentação de um modelo acom panhado de
protocolo verbal (thinking aloud);3º guiar os alunos através da prática inicial, usando técnicas que reduzam a dificuldade da
tarefa: iniciar com material simplificado, aumentando a com plexidade da tarefa gradativam ente,completar parte da tarefa para os alunos, apresentar o material novo em pequenos passos,antecipar os erros e áreas difíceis;
4º oportunizar a prática aos alunos: fornecer prática orientada, propiciar ensino recíproco,organizar trabalho em pequenos grupos;
5º fornecer feedback e incentivar auto-acompanham ento: fornecer listas de auto-avaliação,exemplificar formas de trabalho eficiente, sugerir estratégias de reparo;
6º aum entar a responsabilidade dos alunos à m edida que estes vão dominando asestratégias: dim inuir os m odelos, aumentar a com plexidade do material gradativamente, dim inuir oauxílio dado ao aluno, organizar atividades de consolidação, verificar o domínio das estratégias;
7º oportunizar prática independente com novos exemplos: oportunizar a prática intensa efacilitar a aplicação a novos exemplos.
Esses procedimentos perm item ao aprendiz um suporte e um m odelo para a busca dacompreensão do texto. Essa prática é de extrema importância um a vez que explicita como abordarum texto de modo eficiente, diferentemente do que muitas vezes ocorre em sala de aula de LE,quando o professor simplesmente assume que o aluno saiba com o fazê-lo, sem, no entanto,modelar o procedim ento e orientar o aprendiz em sua caminhada até que consiga proceder comautonom ia.
ConclusãoÉ de sum a importância que o professor de LE tenha sólido conhecimento dos processos cognitivose emocionais relacionados à leitura, a fim de trabalhar como um orientador e facilitadorda leitura de seus alunos. Dessa forma, será capaz de propiciar ao aprendiz o suporte necessáriopara o desenvolvimento de sua capacitação como leitor estratégico e autônom o.
ReferênciasAEBERSOLD, J. A.; FIELD, M. L. From reader to reading teacher. New York: Cambridge UniversityPress, 1998.DANEMANN, M. Individual differences in reading skills. In: BARR, Rebecca; KAMIL, Michael L.;MOSENTHAL, Peter; PEARSON, David (eds.). Handbook of Reading Research. Vol. II. New York:Longman, 1991.GAGNÉ, E. D.; YEKOVICH, C. W .; YEKOVICH, F. R. The cognitive psychology of school learning.New York: Harper Collins College Publishers, 1993. p. 267-312.JUST, M. A.; CARPENTER, P. A. The psychology of reading and language com prehension.Massachusetts: Allyn and Bacon, 1987. p. 453-482.KINTSCH, W . Comprehension: a paradigm for cognition. New York: Cambridge University Press,1998.MAGLIANO, J.; GRAESSER, A; TRABASSO, T. Strategic Processing During Comprehension.Journal of Educational Psychology, 91 (4), p. 615-629, 1999.MIYAKE, A.; FRIEDMAN, N. Individual Differences in Second Language Proficiency: W orkingMem ory as Language Aptitude. In: HEALY, A. F.; BOURNE, L. E. (eds.) Foreign LanguageLearning: psycholinguistic studies on training and retention. Mahwah, NJ: Erlbaum , 1998. p. 339-364.ROSENSHINE, B.; MEISTER, C. Cognitive strategy instruction in reading. In: STAHL, S. A.;HAYES, D. A. (eds.). Instructional models in reading. New Jersey, USA: Lawrence ErlbaumAssociates, 1997. p. 85-107.TOMITCH, L. M. B. The teacher’s role in reading instruction in EFL. In: I Congresso Internacionaldas Linguagens, 2002, Erechim/RS, 2002.
Processos de transferência do conhecimento fonético-fonológicodo PB (L1) para o Inglês (L2) durante a recodificação leitora
Márcia Cristina ZimmerUNISINOS/UNIRITTERm arciazim m er@ hotm ail.com
O estudo da transferência do conhecim ento fonético-fonológico vem atraindo m uitospesquisadores devido à dificuldade apresentada por aprendizes da L2 em superar os efeitos daativação do conhecimento fonológico da L1 na fala em L2. Flege (2003, informação verbal1) afirmaque a produção da fala é fortemente lim itada pela acuidade perceptual do falante. Seu m odelo(Speech Learning Model) parte de duas prem issas básicas: a) os aprendizes da L2 nãoconseguem separar totalmente seus subsistemas fonéticos da L1 e da L2; b) embora osmecanismos responsáveis pela aquisição da fala m antenham-se intactos durante toda a vida deum indivíduo, a “form ação de categorias prototípicas dos sons da fala da L2 torna-se menosprovável com o aum ento da idade” (Flege, 2002, p. 11). De acordo com esse modelo, à medidaque a percepção dos fones da L1 desenvolve-se durante a infância e a adolescência, maisprovável é a assim ilação das qualidades fonéticas dos sons da L2. Se determ inadas produções defones da L2 continuarem sendo identificadas com o instâncias de fonem as e alofones da L1, aform ação de novas categorias de contrastes será bloqueada. Ressalta-se que Flege é explícito aoafirmar que essas lim itações na capacidade de percepção fonética categórica da fala em L2 advêmda experiência lingüística prévia com a L1, e não de um programa m aturacional.
Assim como Flege, Best et al. (2001) sustentam que a discrim inação dos sons da fala emL2 depende de como, ou se, esses sons são perceptualmente “assim ilados” pelos fonemas da L1,ou seja, a acuidade na discrim inação pode ser influenciada pelo grau de sem elhança fonético-articulatória entre os fones da L1 e os da L2. O Modelo de Assim ilação Perceptual (Best et al.,2001) relaciona o sucesso na discrim inação de fones da L2 à m aneira com o um contraste da L2 éassim ilado pelas categorias da L1. Instâncias de diferentes categorias da L2 que não foremperceptualmente assim iladas por nenhum a categoria da L1 serão bem discrim inadas e, porconseguinte, produzidas corretamente. Isso significa que os adultos conseguem discrim inar m elhoros fones da L2 que são m apeados para diferentes categorias fonêm icas da L1 do que os fones quesão m apeados para a mesma categoria da L1. Assim, esse modelo prevê que os fones e osalofones da L2 serão m ais facilmente percebidos se diferirem daqueles produzidos na L1. Omodelo denom inado Ímã da Língua Materna (Kuhl e Iverson,1995; Kuhl, 2000) também postula quea percepção das propriedades dos sons da fala é definida pela experiência com os m esm os naprimeira idade. O ILM postula que o mapeamento perceptual que os bebês fazem dos sons da falapresentes na linguagem do am biente cria “uma rede ou filtro complexo através do qual a linguagemé percebida” que pode, mais tarde, moldar a discrim inação dos fones produzidos na L2. Atransferência resulta da dificuldade inerente em separar funcionalmente os mapeamentos dascategorias da L1 e da L2, e porque um comprom etimento neurológico com os mapeamentoscategóricos da L1 influenciam o processamento posterior dos sons da fala da língua estrangeira(Flege, 2002; Flege, 2003). É importante ressaltar que tanto Flege como Kuhl e Iverson sugeremque as restrições à percepção dos sons da L2 advêm da experiência lingüística prévia, e não daperda de plasticidade resultante da maturação neuronial.
McClelland (2001) concorda com Kuhl (2000), afirm ando que os adultos às vezes nãoconseguem distinguir fones da L2 por terem passado anos “esculpindo seu espaço fonológico deacordo com a estrutura da língua materna, e então os protótipos fonéticos da L1 atuam com o ímãsou, em term os de redes neuroniais, atratores, distorcendo a percepção de itens próximos,
1 Palestra proferida no Department of Psychology Factors affecting degree of foreign accent in a second language, CarnegieMellon University, 10 de fev., 2003.
tornando-os m ais semelhantes aos protótipos da L1” (2001, p. 9). Ao discorrer sobre a dificuldadedos japoneses adultos em pronunciar o /l/ e o /r/, McClelland apresenta uma simulaçãocomputacional baseada na noção de aprendizagem Hebbiana2, em que não apenas replica osresultados empíricos em relação à percepção e produção da distinção das líquidas do inglês, mastambém propõe um treinamento para superar esse problema com a exposição dos aprendizes aoinput sintetizado artificialm ente com características acústicas exageradas.
Percebe-se que os estudos desses quatro grupos de pesquisadores estão em consonânciacom a afirmação de W ode (1978) de que é preciso haver uma semelhança crucial entre a língua-alvo e a língua-fonte para ocorrer a transferência, e parecem convergir quanto ao papel daexperiência lingüística prévia do falante na moldagem da percepção e da produção da fala na L2.Em particular, todos eles concordam com o fato de haver uma grande influência da percepçãocategórica do sistema fônico da L1 sobre a produção da fala em L2.
Pode-se afirmar que a leitura em voz alta de palavras da L2, por envolver a produção dafala na L2, também redunda em sotaque estrangeiro (Zimm er, 2004b). Contudo, pode-se supor queos leitores ativarão, durante a recodificação leitora em L2, não apenas seu sistem a de padrõesacústico-articulatórios moldados pelo processamento fonético-fonológico bastante entrincheiradona L1, mas também a relação grafema-fonema da língua m aterna. Como a leitura proficientepressupõe o dom ínio automático das habilidades de codificação e decodificação, pode-se afirmarque, para ler num sistema alfabético, o leitor deve ser capaz de reconhecer a correspondênciaentre grafemas e fonemas. Segundo Odlin (1989), quanto mais semelhantes forem os sistemas deescrita da L1 e da L2, menos tempo os aprendizes da L2 levarão para desenvolver habilidadesbásicas de codificação e decodificação. Assim, quando os alunos aprendem um sistema alfabéticocontendo algum as correspondências com o sistema da L1, eles fazem identificaçõesinterlingüísticas de grafem as que lhes são familiares e começam a dom inar o novo sistema combase nas sem elhanças entre os dois sistemas de escrita. Ao mesmo tempo, porém, que auxilia osalunos a encetar a tarefa da leitura na L2, essa estratégia leva a desvios na pronúncia, exatamentedevido à interatividade entre os sistemas grafêmico e fonético-fonológico, já que a tendência dosleitores em L2 a atribuir aos grafemas da L2 os mesmos fonem as ou fonem as sim ilares aos queativaria na L1 pode culm inar em produções fonéticas enviesadas em direção aos protótiposfonéticos da L1
A ativação do conhecimento fonético-fonológico do PB durante a leitura em inglês poderedundar em processos de transferência responsáveis por desvios de pronúncia característicos defalantes do PB. Os processos investigados nesta pesquisa foram selecionados de estudosenvolvendo falantes nativos do PB e de outras línguas, além de processos observados pelapesquisadora que não haviam sido referidos na literatura da área. (Zim mer, 2004a). São eles:1) simplificação de encontros consonantais por epêntese (Major, 1992). Ex: [iskul] por [skul];2) schwa paragógico – epêntese de vogal [i] ou schwa [] a obstruintes em posição final (plosivas,fricativas e africadas). (Tarone, 1987). Ex: [dogi] em vez de [dog];3) dessonorização term inal (term inal devoicing) – perda do traço sonoro em certas obstruintes emposição final (Major, 1987, Jenkins, 2001). Ex: [] em vez de [];4) mudança consonantal – como [h], [x] por [r] (com o em ripe), a substituição do par de fricativasdentais [] (think) e [] (w ith) por um conjunto de alternativas com o [t] e [d], [f] e [v] ou [s] e [z],respectivamente (Major, 1987; Jenkins, 2001, Best et al., 2001 ). Ex: [] em vez de [];5) desaspiração de plosivas surdas em posição inicial – com o em tea, pull e put (Nathan et al.,1987). Ex: [ti:] em vez de [ i:];6) deslateralização de líquidas laterais em posição de coda – tais como a produção do glide [w] ou[] em vez de [l] em peel, pull, tell e wool (Jenkins, 2001). Ex: [wew] em vez de [wel];
2 Segundo McClelland (2001), a regra de Hebb, relacionada à potenciação de longo prazo, sugere que quanto m ais forte fora ativação desencadeada por um determ inado input, mais forte será o efeito e mais tempo ele durará. O resultado, então, éum aumento na probabilidade de que um input subseqüente e m uito sem elhante produza a m esm a ativação. Se essa foradequada e útil, a aquisição e manutenção das habilidades cognitivas desejáveis ocorrerá. Entretanto, se a ativação forinapropriada, o ajuste sináptico hebbiano tenderá a reforçar as tendências existentes, e não ocorrerá progresso naaquisição do efeito desejado. A dificuldade em produzir um a fala sem sotaque na L2 pode advir de um reforço indesejávelde ativações pré-existentes da fala em L1.
7) vocalização de nasais finais – tais como a bilabial [m ] e a nasal alveolar como [n] em posiçãofinal (hipótese própria). Ex: [ ] em vez de [bi:m] (beam);8) assim ilação vocálica –tal com o [] em vez de [u] e m uitos outros casos de substituiçõesvocálicas (Flege, 2003a; Odlin, 1989). Ex: [] em vez de [];9) realização da consoante velar sonora seguindo a produção da nasal velar (hipótese própria).Ex: [wi] em vez de [wi].
A fim de investigar a freqüência de utilização dos processos de transferência doconhecim ento da relação grafema-fonem a do PB (L1) para o inglês (L2) entre brasileirosaprendizes de inglês, foi feita um a pesquisa de campo, realizada de forma transversal, entre 156estudantes em diferentes estágios de aprendizagem de língua inglesa – 50 no nível básico (1), 57no nível intermediário (2), 34 no interm ediário-avançado (3) e 15 no avançado (4) – alunos de
universidades de Porto Alegre e região cosmopolitana. Os critérios para a seleção da am ostraforam: a) todos os sujeitos deveriam ser falantes nativos do PB; b) todos os sujeitos estavamaprendendo inglês apenas e não falavam nenhum a outra língua além da L1 e do inglês; c) todos ossujeitos assinariam o Consentimento Informado; d) todos os informantes, independentem ente dauniversidade ou disciplinas de inglês cursado, submeteram-se a um teste de nivelam ento (TOIEC).
Dentre os vários objetivos específicos que nortearam a pesquisa, destacam-se aqui os deelencar a freqüência de utilização dos processos de transferência do conhecimento grafema-fonema do PB durante a leitura de palavras3 e não-palavras, verificando se a incidência dosmesmos varia em função do nível de proficiência dos informantes na língua inglesa. Assim , partiu-se da hipótese de que a utilização dos processos de transferência variaria de acordo com o nívelde proficiência dos sujeitos, tanto durante a leitura de palavras como na de não-palavras. Foram ,então, computados os processos de transferência relativamente mais utilizados pelos diferentesgrupos de participantes na totalidade das palavras, de acordo com o nível de proficiência dosmesmos na língua inglesa. As freqüências relativas de utilização dos nove processos constituíramo conjunto de variáveis dependentes, e o nível de proficiência dos alunos, estratificados em 4níveis de proficiência, foi considerado como a variável independente. Na tabela I os processosencontram -se agrupados em ordem decrescente de utilização pelos sujeitos.
Tabela I - Utilização dos processos nos 4 níveis de proficiência na leitura de palavrasNíveis de proficiência
Processos 1 2 3 4Epêntese de [g] (P9) 88,0% 93,0% 92,6% 76,7%Deslateralização (P6) 89,7% 72,8% 77,0% 54,4%Desaspiração (P5) 84,3% 70,7% 66,0% 50,5%Assim. Vocálica (P8) 41,5% 34,3% 29,2% 20,5%Dessonorização (P3) 22,9% 22,2% 19,6% 18,5%Vocaliz. Nasal Final (P7) 19,3% 12,3% 4,9% 2%Mudança Conson. (P4) 13% 7% 7% 3%Simplifi. Enc. Cons. (P1) 16,7% 5,3% 2,9% 0%Schwa Paragógico (P2) 13,5% 3,3% 2,4% 0,7%
A comparação entre os níveis foi feita por meio da Análise de Variância com fator único,cujos resultados revelaram que a freqüência de utilização dos processos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8variou significativam ente (p<0,01) em função do nível de proficiência, corroborando a hipótese, aopasso que o processo 9 não variou significativam ente em função dos níveis de proficiência (p =0,012). Entretanto, observa-se que, no quesito não-palavras, a hipótese formulada foi refutada,
3 O teste de recodificação de palavras e não-palavras em língua inglesa foi adaptado de Plaut et al. (1996) e éconstituído de 44 palavras, sendo 22 de alta freqüência (regulares: fact, him , page, see, soon, stop, tell, week, w ill, w ith,thing; exceção: the, does, foot, move, pull, put, says, want, watch, were, word) e 22 de baixa freqüência (regulares: beam,bus, lunch, deed, peel, ripe, slam, sleep, stunt, wake, w ing, w it; exceção: doll, flood, pear, pint, sew, spook, wand, wash,wool, worm), além de 20 não-palavras, que foram incluídas no instrum ento para verificar se os sujeitos generalizariam oconhecimento da correspondência grafem a-fonema da L2 na leitura das não-palavras .
pois a utilização da maioria dos processos NÃO variou em função do nível de proficiência dossujeitos. A exceção ficou por conta dos processos 1 e 6, que apresentaram variação significativa –no nível de 0,01- entre alguns níveis na recodificação de não-palavras (tabela II).
Tabela II - Utilização dos processos nos 4 níveis de proficiência na leitura de não-palavrasProcessos Nível de proficiência
1 2 3 4Deslateralização (P6) 80,7% 68,4% 66,7% 42,2%Desaspiração (P5)Assim. Vocálica (P8)
84,4%72,9%
75,8%71,7%
70%69,7%
62.7%70%
Dessonorização (P3) 37,5% 34,1% 32,4% 31,1%Mudança Conson. (P4) 10,3% 7,8% 7,7% 6,3%Simplif. Enc.Cons. (P1) 26% 7% 8,8% 0%Scwha Paragógico (P2) 12,5% 7,2% 9,7% 7,7%
Com base nas tabelas I e II, pode-se classificar os processos em três grupos,principalmente tendo em vista o aumento de 109,01% da Assim ilação Vocálica quando da leiturade não-palavras em relação à de palavras: 1) os processos do schwa paragógico, de sim plificaçãode encontro consonantal, de m udança consonantal e vocalização de nasais finais podem serclassificados como de baixa utilização relativa; 2) o processo de dessonorização term inal é umprocesso de utilização média; 3) os processos de desaspiração de plosivas surdas iniciais, dedeslateralização, de Assim ilação Vocálica e de epêntese de [g] têm um alto percentual deutilização. Um a análise m ais cuidadosa indica que os três grupos possuem importantescaracterísticas em com um: a) os processos de baixa utilização mostram sensibilidade dofalante/aprendiz ao preenchim ento da coda em inglês; b) o uso do processo de dessonorização demédia utilização pode estar diretam ente relacionado com a confusão entre palavras vizinhasfonológicas e ortográficas, uma vez que says e does têm um grande número de palavras cujagrafia é idêntica (finalizando em “s”), mas cuja pronúncia difere; c) os processos de alta utilizaçãoestão relacionados à assim ilação do conhecimento fonético-fonológico da L1 (ver Zim mer, 2004a,para uma discussão mais aprofundada em relação a aspectos psicolingüísticos, dialetais esociolingüísticos nitidamente envolvidos em alguns desses processos).
Observa-se, então, que a prevalência dos processos de Mudança Consonantal,Desaspiração e Deslateralização foi bastante sem elhante durante a leitura de palavras e de não-palavras. O contrário, porém, parece ter ocorrido com os processos de Schwa Paragógico,Dessonorização, e Assim ilação Vocálica, cujas freqüências de utilização sofreram aumentossignificativos que não parecem variar em função do nível de proficiência. Desses processos,destaca-se aqui a Assim ilação Vocálica, pois: 1) sua utilização relativa aumentou 109% durante aleitura de não-palavras; b) não houve diferença significativa nas taxas de utilização pelos grupos dediferentes níveis de proficiência na recodificação de não-palavras. Tomados em conjunto, essesdados parecem apontar para o fato de que, ao ler não-palavras, os participantes talvez tenhamrecorrido mais ao conhecimento grafem a-fonema do PB. Isso parece indicar que, na ausência deexemplares conhecidos do repertório lexical do inglês, os sujeitos parecem ter recorrido ao que émais prototípico da relação grafema-fonem a da L1 para recodificar as não-palavras. Pode-se inferirdaí que, no que tange às vogais, ainda não parece ter ocorrido uma estabilização de diferentesprotótipos da L1 e L2 no m esmo espaço fonológico, pois, conforme Flege (2002, 2003a) propõe, osfones da L2 são percebidos em relação aos protótipos da L1. A transferência pode ter surgido commais força não apenas em virtude da dificuldade inerente em separar funcionalmente osmapeam entos das categorias da L1 e da L2, mas porque um com prom etimento desses adultoscom o m apeam ento grafem a-fonem a da L1 levou-os a ativá-lo mais fortemente no processam entodas não-palavras, já que essas não apresentam nenhum envolvimento da rota semântica.
Tendo em vista a comparação entre a freqüência relativa de utilização dos processosempregados pelos sujeitos em diferentes grupos de proficiência durante a leitura de palavras e denão-palavras, foi feita um a hierarquia dos principais processos a incidirem quando da recodificaçãoleitora – de palavras e não-palavras (Zim mer, 2004). Assim, os quatro processos de transferênciaconsiderados como os maiores geradores de desvios de pronúncia durante a recodificação leitorano PB são os processos de alta freqüência: o de Assim ilação Vocálica, o de Deslateralização, o deDesaspiração de plosivas surdas em posição inicial, e o de Epêntese de [g] depois de nasal velar.
ReferênciasBEST, C. T, McROBERTS, G. e GOODELL, E. Discrim ination of non-native consonant contrastsvarying in perceptual assim ilation to the listener’s native phonological system. Journal of theAcoustical Society of Am erica, 109, p. 775-994, 2001.FLEGE, J. E. Interactions between the native and second-language phonetic systems. In:BURMEISTER, P., PIRSKE, T. e RHODE, A. An integrated view of language development: papersin honor of Henning W ode. Trier: W issenschaftliger Verlag, 2002. p. 217-243.___________. Assessing constraints on second-language segmental production and perception. In:MEYER, A. e SCHILLER, N. Phonetics and phonology in language com prehension and production:differences and sim ilarities. Berlin: Mouton, 2003.JENKINS, J. The role of transfer in determ ining the phonological core. In:____.The phonology ofEnglish as an international language: new models, new goals. Oxford: OUP, 2001. p. 99-119.KUHL, P. K. A new view of language acquisition. Proceedings of the National Academ y of Science,n. 97, p. 11850-11857, 2000.KUHL, P.K. e IVERSON, P. Linguistic experience and the “perceptual magnet effect”. In:STRANGE, W . Speech perception and linguistic experience: issues in cross-language research.Baltimore: York Pres, 1995. p. 121-154.MAJOR, R. C. A model for interlanguage phonology. In: IOP, G. e W EINBERGER, S. Interlanguagephonology. Cambridge, MA: Newbury House, 1987. p. 101-122.____________. Transfer and developm ental factors in second language acquisition of consonantclusters. In: LEATHER, J. e JAMES, A. (eds.), New Sounds, v. 90, p. 128-136, 1992.McCLELLAND, J.L. Failures to learn and their rem ediation: a Hebbian account. In: McCLELLAND,J.L. e SIEGLER, R.S. Mechanisms of cognitive development: behavioral and neural perspectives.Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. p. 97-121.NATHAN, G.; ANDERSON, W . e BUDSABA, B. On the acquisition of aspiration. In: IOP, G. eW EINBERGER, S. Interlanguage phonology. Cam bridge: Newbury House, 1987. p. 204-218.ODLIN, T. Language transfer: cross-linguistic influences language learning. Cambridge: CUP, 1989.PLAUT,D. C., McCLELLAND, J., SEIDENBERG, M. e PATTERSON, K. Understanding normal andimpaired word reading. Psychological Review, n.103, p. 56-115. 1996.W ODE, H. Developm ental sequences in naturalistic SLA. In: HATCH, E. Readings in secondlanguage acquisition. Rowley, MA: Newbury House. 1978.TARONE, E. The phonology of interlanguage. In: IOP, G. e W EINBERGER, S. H. Interlanguagephonology. Cambridge, MA: Newbury House, 1987. p. 70-85ZIMMER, M. C. A transferência do conhecimento fonético-fonológico do PB (L1) para o inglês (L2)na recodificação leitora: uma abordagem conexionista. Tese (Doutorado em Letras), PUCRS, PortoAlegre, 2004a.ZIMMER, M. C. O Conexionismo e a leitura de palavras. In: ROSSA. A. e ROSSA, C. Rumo àpsicolingüística conexionista. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004b. p. 101-138.