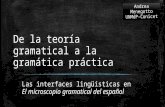BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
compilado por José Pereira da Silva
2664
G
Quando tem o som de guê (/g/), é consoante oclusiva, velar, sonora.
Com o som de jê (/ʒ/), é consoante fricativa, palatal, sonora.
Sétima letra do alfabeto e sétimo em uma seriação.
No latim antigo, a escrita era feita somente com maiúsculas e a letra
C era empregada para indicar os fonemas /k/ e /g/. Os romanos foram
os responsáveis pela diferenciação das duas letras C e G, distinguindo
também estes dois fonemas. Na Idade Média é que foram criadas as minúsculas.
Observe a evolução desta letra a partir dos fenícios:
G é a letra que representa o fonema consonantal /g/ antes de a, o e
u, como nas palavras gato, gota e agudo. Quando esta letra for seguida
de consoante que não seja l ou r, os usuários tendem a inserir um [i], na
língua oral. Assim: dig-no (duas sílabas na língua escrita) > [di gi no]
(três sílabas na língua oral); mog-no (duas sílabas na língua escrita) >
[mɔ gi no] (três sílabas na língua oral); gno-mo (duas sílabas na língua
escrita) > [gi no mo] (três sílabas na língua oral).
A norma culta não admite esta inserção, quer na língua escrita (erro de ortografia), quer na língua oral (erro de ortoepia). Com g seguido de
l ou r, não ocorre a inserção. Assim, tem-se a-glu-ti-nar, a-gre-dir. Em
final de palavra há, na língua escrita, a transformação do g em gue, de-
corrência da língua oral.
Leia-se, no poema “Escravos de Jó”, em Cantigas de Roda, de Leda
Maffioletti e Jussara H. Rodrigues (1993, p. 49): “Escravos de Jó / Jo-
José Pereira da Silva
2665
gavam caxangá, / Tira, bota, deixa / O Zé Pereira que se vá / Gurrei-
ros com guerreiros / Fazem zigue zigue, zá / Gurreiros com guerreiros
/ Fazem zigue zigue, zá”. A letra g, ainda com valor de fonema /g/, associada ao u, seguido de
-e ou -i, forma o dígrafo gu (u não pronunciado). Exemplos: Guerra,
seguir. Forma também os ditongos crescentes ue, uen, ui e uim [we],
[we], [wi] e [wi], em palavras como águe, sagui, aguentar, pinguim.
Com o valor de /ᴣ/, quando seguido de e ou i. Exemplos: gelo, gente,
gíria e agente. A letra g, com valor de fonema /ᴣ/, pode ser, na língua
escrita, confundida com a letra j antes de e ou i. Exemplos: geada, jeito,
garagem, pajem, gilete, jiló, ginga, jinga. Isto não ocorre antes de a, o
ou u, porque não há confusão na pronúncia das palavras jato e gato, ga-
jo e gago, guri e júri etc.
Escrevem-se com g as seguintes palavras, entre muitas outras: algi-beira, angélico, angina, apogeu, aragem, argila, auge, digerir, diges-
tão, efígie, estrangeiro, ferrugem, frigir, fuligem, garagem, geada, ge-
leia, gêmeo, gengibre, gengiva, gerânio, geringonça, gesso, gesto, gibi,
gingar, girafa, gíria, herege, megera, miragem, monge, mugir, rabu-
gento, rigidez, rugido, selvagem, sugerir, sugestão, tangente, tangível,
tigela, vagem, vagido, vagina, vargem, vertigem, viagem (substantivo),
vigência etc.
Veja os verbetes: Acento agudo, Consoante, Dígrafo, Ditongo cres-
cente, Erro, Fonema consonantal, Hiato, Letra, Língua, Norma culta,
Onomatopeia, Ortoepia, Ortografia, Palavra, Semivogal, Sílaba, Subs-
tantivo, Trema e Vogal tônica.
Gabinete de leitura
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gabinete de leitura é o lugar que teve grande voga no século XIX, onde
os associados podiam ler ou aluar livros e jornais. O aluguel era feito
em troca de pequena retribuição. Apareceu em Portugal sob a designa-
ção de gabinete de leitura, em Lisboa, entre 1814 e 1815. O primeiro
gabinete de leitura existente em Portugal foi o de M. de Maussé, es-
trangeiro residente em Lisboa. O primeiro catálogo de gabinete de lei-
tura conhecido em Portugal data de 1814 e é o do gabinete de leitura de
Pedro Bonnardel. O gabinetes de leitura proliferaram em Portugal entre
os anos setenta e noventa do século XIX, mantiveram-se ainda bastante
ativos nos primeiros dois decênios do século XX e estiveram a serviço sobretudo da leitura domiciliar. Foram grandes dinamizadores do pano-
rama literário nacional em prol do desenvolvimento da cultura, pois
permitiam a fixação do público leitor num determinado lugar, para isso
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2666
especialmente criado, e possibilitavam que se fizesse leitura domiciliar.
Nele praticavam a leitura leitores que não erram possuidores dos livros
que liam. Na maioria dos casos, os gabinetes de leitura eram proprieda-de de livreiros instalados ou de gente de parcos recursos, que alugava
os livros para quem representavam uma lucrativa atividade. Havia
aqueles que eram designados por gabinetes autônomos (onde se podia
isolar a função específica de aluguel de livros, mas que não possuíam
local para leitura) e aqueles que possuíam “lugar para ler”, mesmo que
rudimentar.
Gaélico
Gaélico é o grupo insular de línguas célticas, como o irlandês, o es-
cocês e o manês (da ilha de Man).
Gaia ciência
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), gaia ciência é a expressão que designa, de modo genérico, a arte de compor versos segundo a pra-
ticavam os trovadores da Provença, durante os séculos XI a XIII: “E
¿qué cosa es la poesia (que en nuestro vulgar gaya sciencia llamamos)
sinon un fingimiento de cosas utiles, cubiertas o veladas con muy fer-
mosa cobertura, compuesta, distinguidas e scandidas por çierto cuento,
pesso e medida?” (Marqués de santillana, Carta-Prohemio ao Condes-
tável D. Pedro de Portugal, apud PELAYO, 1943, vol. I, p. 496).
De forma estrita, porém, vincula-se ao consistório de sete trovado-
res agrupados em Toulouse, em 1323, com o fito de preservar o gai sa-
ber, cuja decadência se pronunciara após a guerra contra os albigenses
(1209-1215): "porque durase la gaya sciençia se fundó el collegio de
Tholosa de trobadores", informa-nos Don Enrique de Villena, em sua Arte de Trovar (1433, ed. de 1923, p. 49).
Reunido o “consistorio de la gaya dotrina”, os seus membros “hizie-
ron el tratado intitulado Leyes de amor, donde se cumplieron todos los
defetos de los tratados passados”. A razão disso estava em que “por la
mengua de la sciençia todos se atreuen a hazer ditados, solamente
guardada la igualdad de las syllabas, y concordancia de los bordones,
según el compás tomado, cuydando que otra cosa no sea cumplidera a
la Rímica dotrina” (Idem, p. 50 e 43).
Do consistório, cuja organização foi erroneamente atribuída ao tro-
vador catalão Raimón Vidal de Besalù (fins do século XI-princípios do
século XIII), originaram-se os Jogos Florais e a Academia, estabelecida em Toulouse, sob os auspícios de uma dama imaginária e simbólica,
Clémence Isaure; uns e outra buscavam perpetuar o cultivo do gai sa-
José Pereira da Silva
2667
ber e da língua provençal.
As Leys d’amors “contêm abundante doutrina gramatical, mas pou-
cas ideias literárias. Não obstante, são livro inestimável, e quase único, para o conhecimento da métrica provençal, tão rica e complicada”
(PELAYO, 1943, vol. I, p. 463).
“Em 1371, dezesseis anos após a promulgação das Leys d’amoras,
o rei Pedro IV de Aragão, protetor da poesia, também ele poeta, confi-
ou a um de seus conselheiros, Jacme March, a incumbência de estabe-
lecer um Livre de Concordances ou Dictionnaire de rimas” (AN-
GLADE, 1919, vol. IV, p. 105). E em 1393, o mesmo trovador recebe
do rei João I, de Aragão, então reinante, a missão de fundar em Barce-
lona, juntamente com Luís de Aversó (c.1350-1412) , um consistório
semelhante ao de Toulouse. Com isso, além da tradução catalã das Leys
d’amors, redigiram-se em versos as Flors del Gai Saber e Luís de Aversó (c.1350-1412) contribuiu com Torcimany, ou dicionário, para o
melhor conhecimento e divulgação da “sciencia gaya e trobar” (idem,
p, 106-108).
Gaita galega
Gaita galega é a composição poética cantada, em geral acompa-
nhada de gaita, composta em decassílabos, com icto na primeira, quarta
e sétima sílabas (versos dactílicos) ou apenas na quarta e na sétima
(versos anapésticos). Outro tipo é o de decassílabo dividido em hemis-
tíquios (JOTA, 1981, s.v.).
Galaico-português
Veja os verbetes: Codialeto e Galego-português.
Galeato
Galeato é o adjetivo que se aplica ao prólogo destinado a defender
uma obra contra os censores.
Galego
Codialeto da língua portuguesa. É falado na Galiza, na faixa ociden-
tal da península ibérica, ao norte do rio Minho.
Até o século XII, os falares ao norte e sul do Minho tinham grandes
afinidades entre si, constituindo uma só língua, o galego-português.
Depois que D. Afonso VI (1047-1109), de Castela, fez ao nobre Dom
Henrique (1066-1112), da casa de Borgonha, doação do condado por-
tucalense (de fato, do Minho ao Mondego, mas de direito, do Minho ao
Tejo), a história desse novo feudo o foi desviando cada vez mais da in-fluência castelhana (o que não aconteceu com a Galiza), levando-o, fi-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2668
nalmente, à almejada independência (1140), conquistada pelas armas
de D. Afonso Henriques (1109-1185). Diferenciaram-se, assim, os fala-
res do norte e do sul do Minho: este passou a constituir-se língua de um povo soberano (o português); aquele sobreviveu como falar dialetal da
zona do extremo noroeste da península ibérica. É o galego, codialeto da
língua portuguesa.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o galego é uma língua români-
ca, ou seja, derivada do contato do chamado latim vulgar com as lín-
guas (provavelmente célticas) faladas na região que configurou a pro-
víncia romana da Gallaecia (Galécia) e que agiram como substrato.
Na segunda metade do século XI, a fim de auxiliar os reinos cris-
tãos ibéricos a combater e expulsar os muçulmanos do território hispâ-
nico, diversos nobres estrangeiros vieram participar das lutas. Em apoio
ao rei Afonso VI de Leão e Castela se apresentaram dois nobres france-ses: Henrique de Borgonha e seu primo Raimundo de Borgonha. Para
compensar os esforços e as conquistas obtidas pelos primos de Borgo-
nha, o rei concedeu a cada um deles um condado, isto é, um território
que pertenceria a cada um, mas como vassalos de Afonso VI. Além
disso, promoveu o casamento de Henrique com sua filha ilegítima Te-
resa (ou Tareja) e o de Raimundo com sua filha legítimo Urraca. O ter-
ritório concedido a Raimundo foi o Condado da Galiza, ao norte do rio
Minho. A Henrique coube, em 1093, o Condado “Portucalense”, situa-
do entre o rio Minho (que até hoje serve de fronteira entre Portugal e a
Galiza) e o rio Mondego, que banha Coimbra. O nome “Portucalense”
deriva da cidade de Portucale, a atual cidade do Porto, no norte de Por-
tugal. A partir daí começam várias peripécias familiares que marcarão para sempre os destinos separados de galetos e portugueses. Com a
morte de seu marido Raimundo e de seu pai Afonso VI, D. Urraca as-
sume o trono como rainha de Leão e Castela, nele incorporando a Gali-
za. Trava guerra contra sua meia-irmã, D. Tareja, que acaba saindo vi-
toriosa, graças a alianças com nobres poderosos da Galiza. Por sua vez,
D. Tareja enfrentará a oposição do próprio filho mais velho, Afonso
Henriques, que não quer ver a herança do pai nem fundida com o terri-
tório galego nem dependente da coroa de Leão e Castela. Na batalha de
São Mamede, em 1128, Afonso Henrique derrota as forças da mãe e
seus aliados e assume o poder no Condado Portucalense.
Afonso Henriques desejava a autonomia do Condado e fez articula-ções junto à Santa Sé para que a independência do território fosse reco-
nhecida. Enquanto isso, em 1139, as tropas sob seu comando obtêm
uma grande vitória sobre os mouros na batalha de Ourique. Segundo a
José Pereira da Silva
2669
tradição, foi nessa ocasião que os soldados proclamaram Afonso Hen-
riques “rei de Portugal”. A independência do reino é reconhecida em
1143 pela coroa de Leão e Castela. Em 1179 é a vez do Papa Alexandre III aceitar a autonomia do reino de Portugal. O novo rei, agora com o
título de D. Afonso I, tendo obtido a paz com seus vizinhos cristãos, vai
se dedicar a expandir o território de seu reino mediante sucessivas
campanhas militares contra os muçulmanos. Como seus domínios esta-
vam imprensados a norte e a oeste pelos reinos de Leão e Castela, sua
única possibilidade de expansão estava no rumo sul. Essas campanhas
serão levadas adiante por seus descendentes até que em 1249, com a
conquista da cidade de Faro, no extremo sul da faixa ocidental da Pe-
nínsula Ibérica, o reino de Portugal adquire o território que desde então
tem permanecido praticamente intacto. Com isso, Portugal é o único
país da Europa ocidental que teve suas fronteiras nacionais definidas bem cedo, ainda na Idade Média.
À medida que o reino se expandia para o sul, o centro de gravidade
político e administrativa também se deslocava: a capital do novo reino
foi estabelecida primeiro em Coimbra e mais tarde, em 1255, já com o
país formado, em Lisboa. O destino da Galiza foi bem diferente. As vi-
cissitudes políticas e familiares levaram o território galego a permane-
cer integrado à coroa de Leão e Castela. Desde então, a Galiza é uma
dependência territorial da Espanha, nunca se tornou um país indepen-
dente. Só a partir do final dos anos 1970 é que o galego se tornará lín-
gua oficial da região autônoma da Galiza, que, apesar do nome, não é
um Estado soberano.
Quando o conde Afonso Henriques se tornou o primeiro rei de Por-tugal, a língua que se falava em seu Condado Portucalense não era dife-
rente da que os habitantes da Galiza falavam. Essa certeza se firma no
fato do galego moderna ainda ser muito semelhante ao português e de
os dialetos do norte de Portugal apresentarem muitas semelhanças com
os dialetos do sul da Galiza. Outra comprovação é a documentação es-
crita que sobrevive desde aquelas épocas remotas: produzidos na Gali-
za ou no território que viria a ser Portugal, esses textos são registrados
numa língua que podemos dizer que é uma só, ao menos em sua norma
escrita.
A esse respeito, é interessante atentar para as palavras de Esperança
Cardeira, autora portuguesa de um livro sobre a história de sua língua: “À entrada do ano mil, no Noroeste peninsular, a Galécia Magna, uma
região que se estendia da Galiza a Aveiro, abarcando, ainda, uma faixa
das Astúrias, delimitava já um romance com contornos peculiares. (...)
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2670
Não é ainda Portugal, não é ainda língua portuguesa. (...) Antes de Por-
tugal, antes do português, no limiar do século X, já estava constituído
um romance (...)” (CARDEIRA, 2006, p. 36-37). Se “não é ainda Por-tugal, não é ainda língua portuguesa” e se a própria autora diz que esse
romance era falado em toda a Galécia Magna, que outro nome se pode-
ria dar a essa língua senão galego? Não parece haver razão por que
chamar de galego-português uma língua que surgiu “antes de Portugal,
antes do português”, como faz também, por exemplo, o dicionário bra-
sileiro Aurélio: “galego-português. (...) Língua românica que era falada
a noroeste da Península Ibérica... e cujas fronteiras, a leste, eram o leo-
nês e o castelhano e, ao sul, abaixo do rio Minho, os dialetos moçárabes
que ali se desenvolviam. [Atestada pelo menos desde o século VIII, os
primeiros documentos nela conhecidos e redigidos por inteiro datam do
século XI. No século XII Portugal, mas não a Galiza, torna-se indepen-dente de Leão e se estende para o sul, criando-se assim uma fronteira
política que, no século XIV, já seria também uma fronteira linguística:
ao norte, o galego, e ao sul, o português]”.
Marcos Bagno (2012a, p. 222) observa que esse texto do verbete
exibe algumas incoerências, a começar pelo próprio nome dado à lín-
gua. Se ela é “atestada pelo menos desde o século VIII”, quando não
existia a entidade política chamada Portugal (e nem mesmo o Condado
Portucalense) e se somente no século XIV se estabeleceria uma “fron-
teira linguística” entre o galego e o português, por que chamar a língua
de “galego-português” e não simplesmente galego, uma vez que a enti-
dade político-geográfica chamada Galécia existia desde a época dos
romanos? É somente no século XIX que os estudiosos portugueses vão criar
uma denominação para essa língua única em que foi produzida a rica li-
teratura trovadoresca medieval. Essa denominação será galego-
português. No entanto, esse nome não aparece em nenhum documento
antigo. Ao contrário, quando se faz alguma referência à língua da poe-
sia medieval, o nome que aparece é galego. Na análise de Marcos Bag-
no (2012a, p. 222), “o termo galego-português foi cunhado como uma
espécie de compromisso ideológico entre duas tensões: o reconheci-
mento de que a língua da poesia medieval era basicamente o galego, e o
anseio, de inspiração nacionalista, de incorporar aquela produção literá-
ria ao patrimônio cultural do povo português”. De fato, como relata Beatriz García Turnes (2002, p. 333), numa
investigação sobre as origens do termo galego-português e seu empre-
go pelos filólogos lusitanos, “[a]o longo de todo o século [XIX] fomos
José Pereira da Silva
2671
vendo aparecer distintas variantes como portugez galliciano, portuguez
galleziano, galliziano-português, gallezio-luzitano ou gallecio-
portuguez. Não será senão às vésperas do século XX, pela mão de Ca-rolina Michaëlis, autora que desenvolverá o grosso e o fundamental de
sua obra nesta centúria, que encontraremos, alternando com outras
formas, o atual galego-português”. A pesquisadora argumenta que Ca-
rolina Michaëlis será, de fato, a principal responsável pela difusão, nos
estudos históricos, do termo galego-português que, na avaliação de
Marcos Bagno (2012a, p. 223), “se transformará numa hipóstase con-
veniente para designar uma língua que, em tudo, era pura e simples-
mente o galego, numa versão literalizada, convencional, cortesã, pró-
pria para o uso na poesia lírica e que, com toda probabilidade, nunca
foi realmente falada como variedade espontânea, materna, de nenhuma
comunidade linguística autêntica”. Henrique Monteagudo, por sua vez, depois de apresentar as mais antigas denominações para a língua gale-
ga, já a partir do século XIII, afirma que “a denominação que recebia a
língua dos cancioneiros, ao menos nos ambientes eruditos e trovadores-
cos (...) era a de galego, e convida-nos a questionar a moderna denomi-
nação, surgida nos ambientes filológicos lusitanos de finais do século
XIX, de galego-português” (MONTEAGUDO, 1999, p. 119-121).
Por causa de sua localização afastada, com relação aos centros polí-
ticos, econômicos e culturais do resto da Espanha, a Galiza tem sido há
séculos a região mais pobre e menos desenvolvida do país. Sua popula-
ção e sua língua viveram marginalizadas e sempre sofreram forte dis-
criminação por parte dos demais povos que habitam a Espanha (e por
parte dos portugueses também, como eixam transparecer as acepções que o Dicionário Houaiss oferece de galego como suo característico de
Portugal: “Indivíduo rude, grosseiro”, e de galegada como “ato impen-
sado, ignorância, estupidez”).
Com isso, o galego ficou durante séculos relegado a uma língua de
camponeses, à língua das camadas sociais menos favorecidas da região,
sem cultivo literário, enquanto a elite letrada se expressava (e se ex-
pressa) em castelhano. Foi necessário esperar o século XIX para se as-
sistir o Rexurdimento (Ressurgimento), um movimento de intelectuais e
artistas que desejavam resgatar a língua e a cultura galegas da quase
milenar obscuridade em que tinha permanecido.
Ainda segundo Marcos Bagno (2012a, p. 224), “a situação margina-lizada do galego decerto contribuiu para que os filólogos portugueses
do século XIX não sentissem grande estímulo em reconhecer e assumir
a evidência de que o português era e é a continuação histórica da lín-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2672
gua galega, levada cada vez mais para o sul, à medida que os reis por-
tugueses expandiam seu território. Não seria digno de um povo sobera-
no e conquistador, responsável pelas aventuras marítimas que revela-ram o resto do mundo aos europeus, ter como ancestral uma língua de
campônios rudes, uma língua sem prestígio. Daí a designação galego-
português. Por isso (...), não é correto do ponto de vista histórico-
geográfico, afirmar, como fazem todas as obras filológicas e gramáticas
históricas, que ‘o português vem do latim’. O português vem do galego
– o galego, sim, é que representa a variedade do latim vulgar que se
constituiu na Gallaecia romana e na Galiza medieval”.
Uma voz que se levantou contra essa afirmação da descendência di-
reta do latim para o português, e antes mesmo da criação do nome ga-
lego-português, foi a do religioso e erudito Martín Sarmiento (1695-
1772), nascido na Galiza. Numa de suas muitas obras sobre a língua ga-lega, ele se contrapõe ao gramático e historiador português Duarte Nu-
nes de Leão (1530?-1608) com palavras muito ásperas a esse respeito:
“Duarte Nunes de Leão, português, escreveu um Compêndio das Crô-
nicas Portuguesas, uma Geografia de Portugal, outro de Ortografia
Portuguesa, e outro com este título: Origem da Língua Portuguesa. Es-
se título é semelhante ao que teria um livro disparatado, Origem da
Língua Andaluza, no qual não se fizesse menção de que era derivada do
idioma castelhano. Origem da Língua Portuguesa sem mencionar que é
derivada do dialeto galego é uma fábula, uma quimera, uma nescidade
monstruosa, uma fanfarronada e um desvario (...). A linguagem que ho-
je falam os portugueses e que se acha escrita nos livros até Duarte Nu-
nes nem é língua nem dialeto, mas um subdialeto da língua galega que hoje se fala e antigamente se escrevia. O que devia ter posto Nunes era
a origem das vozes mouriscas, das brasileiras, das africanas e das asiá-
ticas que jamais foram galegas, e com as quais se contaminou o primi-
tivo dialeto depois das conquistas dos portugueses rumo ao sul”.
De fato, a língua falada no reino de Portugal, surgido no final do sé-
culo XII, vai levar quatrocentos anos para receber explicitamente o
nome de português. O primeiro testemunho literário do emprego dessa
denominação parece ser a tradução do De Officis, de Cícero, empreen-
dida pelo infante D. Pedro (1392-1449), Duque de Coimbra e Regente
do Reino, entre 1439 e 1448. Essa tradução deve ter sido empreendida
entre 1433 e 1438. Nela aparece o seguinte trecho: “E quanto mais liia, tanto me parecia melhor e mais virtuoso [o livro de Cícero], e nom
soomente a mym, mas assy parecia a alguu s outros a que eu liia em
portugues alguus seos capitulos, em tanto que per elles algu as vezes
José Pereira da Silva
2673
fuy requerido que tornasse este livro em esta linguagem. E esguardando
eu como todo bem quanto a mais presta tanto he melhor, e nom embar-
gando que o latim na christandade he mais geral que o portugues, em Portugal esta linguagem he mais geral que o latim (...)” (grifos de Mar-
cos Bagno).
Como em todos os reinos da Europa medieval, o latim literário era a
língua oficial da administração e da política, a língua da filosofia e da
teologia, mesmo em lugares onde o latim nunca tinha sido falado, em
territórios que não tinham feito parte do Império Romano (como a
Hungria, por exemplo). O domínio espiritual da igreja católica romana,
que só viria a ser contestado no século XV, com o protestantismo, in-
centivou esse uso do latim como língua da cultura e da burocracia. Nos
países onde o latim vulgar passou a ser falado, as línguas nascidas nele
recebiam nomes genéricos como “romance”, “romanço” e “vulgar”, en-tre outros. Em Portugal era muito comum a designação de linguagem
ou nossa linguagem para a língua falada pela população em geral.
Eram redigidos em latim, portanto, os documentos oficiais, os tex-
tos eclesiásticos, as leis etc. No reinado de D. Dinis (iniciado em 1279),
a língua falada pelo povo se torna a língua da chancelaria. Mesmo as-
sim, o latim permanecerá por longo tempo ainda como língua da alta
cultura e da religião. Esse emprego do vernáculo como língua da chan-
celaria tem sido rotulado por muitos historiadores como a transforma-
ção do idioma do povo em “língua oficial” do reino. Carlos Alberto Fa-
raco (2016, p. 23), no entanto, enfatiza que “h claros exageros e equí-
vocos nessa assertiva”, porque, prossegue ele, “língua oficial é um
conceito e uma expressão criados num contexto inteiramente diverso daquele dos finais do século XIII. Só começam, de fato, a ocorrer no
século XIX como desdobramento de eventos políticos do século anteri-
or, em especial a Revolução Francesa (1789), quando se estabeleceu
um vínculo entre Estado e língua e se desenvolveu também a doutrina
política de que o Estado pode e deve legislar sobre a língua” (FARA-
CO, 2016, p. 28). O mesmo autor relembra que, apesar do uso do ver-
náculo na chancelaria real, o ensino continuou a se fazer em latim até o
século XVIII; os médicos (chamados “físicos”) ainda redigiam suas
prescrições em latim; as comunidades de judeus e mouros “dispunham
(...) de tribunais, magistrados e tabeliães próprios, sendo-lhes franquea-
do o uso da língua do seu costume – hebraico ou árabe” (FARACO, 2016, p. 25).
Em 1255, a capital do reino é transferida para Lisboa, no centro
quase exato do país, de modo a facilitar as comunicações entre o norte
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2674
e o sul do reino. A instalação da capital em Lisboa terá profundas con-
sequências sociolinguísticas: a língua, nascida no extremo norte, se di-
funde até o sul e, nesse processo, vai sofrendo influências e confluên-cias que terminarão por caracterizar os diversos dialetos do português
europeu. O português da zona central, onde está Lisboa, aos poucos se
diferenciará marcadamente dos dialetos do norte, mais conservadores e
mais próximos do galego. Na condição de capital, Lisboa se tornará o
centro irradiador da norma linguística: a pronúncia, o léxico e a mor-
fossintaxe lisboetas pouco a pouco se tornarão “a língua portuguesa”,
relegando as demais variedades a usos regionais, sem reconhecimento
no sistema educacional e político.
A relação ideológica entre língua e Estado-nação, no caso das de-
signações galego, galego-português e português é analisada em por-
menor por Xoán Carlos Lagares (2013, p. 342). Segundo esse autor, “[p]ara a historiografia tradicional, nascida da abordagem histórico-
comparativa que permeou toda a linguística do século XIX, seria in-
concebível reconhecer o nascimento da língua nacional fora das fron-
teiras da própria nação. E é por isso que a ‘origem’ galega da língua
portuguesa acaba representando, para esses relatos históricos, uma es-
pécie de fardo, que é preciso abandonar para delimitar as origens ‘pu-
ras’ do português dentro dos limites políticos de Portugal. (...) Talvez
por esse motivo a língua medieval ainda seja (re)conhecida no Brasil
com o nome de ‘português arcaico’. O lugar do galego nos estudos his-
tóricos do português, por causa dessa ótica nacional, era frequentemen-
te um não lugar, ou um lugar incômodo, restrito, no melhor dos casos, à
língua das cantigas medievais. (...) Dessa maneira, o galego fica confi-nado na forma de uma koiné artística, com uma funcionalidade limitada
e um fim perfeitamente datado”.
O galego moderno se diferencia do português europeu e do portu-
guês brasileiro por alguns traços bastante característicos. Por um lado,
é uma língua mais conservadora, em que os ditongos escritos ei e ou
mantêm sua pronúncia primitiva [ey] e [ow], resultantes das assimila-
ções dos ditongos latinos ai e au: laicu > leigo; paucu > pouco. Esses
ditongos se monotongaram no português brasileiro, enquanto no portu-
guês europeu [ow] se reduziu a [o], e [ey], por dissimilação, se tornou
[y].
O algarismo 2 até hoje se chama dous e a palavra cousa, que para os brasileiros soa antiquada, é viva no cotidiano dos galegos. As formas
verbais correspondentes ao pronome vós são amplamente usadas e com
suas formas mais antigas, isto é, sem a síncope do [d] intervocálico:
José Pereira da Silva
2675
cantades, falades, pedides.
O galego não desenvolveu a consoante [z], de forma que a palavra
casa é pronunciada [‘kaśa] com um [ś] ápico-alveolar semelhante ao do castelhano e ao dos dialetos do norte de Portugal. Do mesmo modo,
não desenvolveu a distinção entre [b] e [v], o que também o torna mais
próximo do castelhano e dos dialetos portugueses do Norte. As termi-
nações -ane, -anu e -one não evoluíram, como em português (já no pe-
ríodo chamado “clássico”, séculos XIV-XV), para o ditongo [ãw] ou
[ãw], o que mais uma vez aproxima o galego do castelhano. Outro de-
senvolvimento fonético semelhante ao do castelhano foi a consoante in-
terdental [], que se escreve z ou c (diante de e e i) e totalmente desco-
nhecido dos falantes de português europeu e brasileiro (é o som que se
escreve th em inglês, como no verbo think, por exemplo). Em alguns dialetos do galeto, no entanto, essa interdental se reduz a [ś]. O galego
conserva a pronúncia africada [ʧ], que se escreve ch, pronúncia que
existiu no português medieval e que permanece no castelhano, repre-
sentada pelo mesmo dígrafo. As vogais postônicas finais -e e -o não se
reduziram no galego a [] e [] como no português brasileiro nem, mui-
to menos, no caso de -e, ao schwa [], exclusivo do português europeu.
Por outro lado, o galego seguiu outros desenvolvimentos que repre-
sentam passos adiante no processo de mudança linguística. Sem dúvi-da, o mais característico de todos é a transformação da consoante pala-
tal sonora [ʒ] em sua homorgânica surda [ʃ], que na ortografia galega se
escreve com x. Assim, palavras como jantar, jeito, jogo, japonês, gen-
te, geral, geografia, hoje etc. são escritas em galego xantar, xeito, xo-
go, xaponés, xente, xeral, xeografía, hoxe etc. O antigo ditongo ui, que
o português conserva, foi transformado, por dissimilação, em oi no ga-
lego: muito > moito; luita > loita; fruito > froito.
O pronome-sujeito tu se transformou em ti. O pronome-
complemento te, quando no caso dativo, se transformou em che [tʃe],
palatalização decorrente, provavelmente, da alta frequência, em cons-
truções dativas, de te + artigo definido (o, a, os, as) e da iodização do
[e] do pronome. Esse novo pronome che também se transformou numa partícula expletiva, de valor afetivo (“pronome de solidariedade”), com
usos pragmáticos de difícil sistematização.
O galego não conhece a mesóclise: os clíticos usados com verbos
no futuro do indicativo e no futuro do pretérito se colocam depois do
verbo – por exemplo publicarase (publicará + se), que no português
clássico se escreveria publicar-se-á. A mesóclise, como se sabe, não
existe no vernáculo do português brasileiro. Na conjugação do pretérito
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2676
perfeito, a primeira pessoa do singular desenvolveu uma terminação -n,
desconhecida do português: eu fun (português eu fiu), fixen (português
fiz), estiven (português estive). Em grandes áreas do território de língua galega, a consoante [g]
passou por uma transformação conhecida por gheada, em que o [g] se
pronuncia como uma aspirada [x], semelhante ao j do castelhano em
jamon, Juan, lejos etc. e que é grafada com o dígrafo gh. Assim, gato
se escreve ghato e se pronuncia [‘xato], e galego se torna ghalegho
[xa’lexo]. O dígrafo gh é usado em holandês para representar o mesmo
om, como no nome do pintor Van Gogh.
Por fim, cabe observar que a norma oficial do galego adota opções
ortográficas próprias do castelhano, o que faz o galego escrito, à pri-
meira vista, se parecer menos com o português o que de fato parece: ll
no lugar de lh; ñ no lugar de nh; acento agudo na terminação -ía (Ma-ría).
A definição da norma ortográfica do galego (e de outras questões
linguísticas) é motivo de disputa entre duas instituições que se opõe. De
um lado, a Real Academia Galega, dotada oficialmente (pela Xunta de
Galicia, organismo governamental da Região Autônoma) do poder de
instituir normas ortográficas, gramaticais e lexicográficas para a língua,
considerada como uma língua autônoma dentre as diversas faladas no
território espanhol. Do outro, a Associaçom da Galega Lingua
(AGAL), não governamental, que considera galego como a denomina-
ção que o português tem na Galiza e assume que o nome internacional
da língua é simplesmente português. Prega o chamado reitegracionis-
mo e considera que o galego e o português são a mesma língua, além de reivindicar uma ortografia para o galego com base na do português.
Veja o verbete: Português europeu.
Galego-português
Galego-português, é o mesmo que galaico-português, que, segundo
Renato Aquino (2015, s.v.), é a língua comum aos povos que habita-
vam o condado portucalense (hoje Portugal) e a Galiza, no reino de
Leão e Castela (hoje Espanha). Com o desenvolvimento da nação por-
tuguesa, o galego-português utilizado no condado evoluiu, transfor-
mando-se na língua portuguesa, mas, na região da Galiza, o galego-
português caminhou mais lentamente, tendo se transformado no galego,
dialeto daquela região espanhola, de espírito arcaizante.
Veja os verbetes: Galego, Lusitano e Português arcaico.
José Pereira da Silva
2677
Galês
Galês é a língua outrora falada no País de Gales.
Galho
Veja: Árvore.
Galiambo
Veja o verbete: Verso.
Galicígrafo
Galicígrafo é o que escreve de forma afrancesada, utilizando gali-
cismos.
Galicismo
Palavra, locução ou construção de origem francesa, notória em vir-
tude da presença de traços linguísticos normais naquela língua, mas
inadequados em português.
Como nos lembra Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.), a influência do francês se denuncia em nosso idioma desde os primeiros tempos,
com o desenvolvimento da arte provençal. De lá para cá, não tem dimi-
nuído. É, sem dúvida, a língua que mais contribuiu para o enriqueci-
mento do léxico português. Há palavras de origem francesa que estão
de tal modo arraigadas no vernáculo, que ninguém, à primeira vista,
lhes notará a origem estrangeira.
Os galicismos de palavras ou locuções se chamam galicismos léxi-
cos e os de construção são chamados galicismos sintáticos. Os galicis-
mos léxicos são constituídos de palavras de procedência francesa, para
os quais a preguiça ou faceirice não quiseram encontrar correspondente
em nossa língua. Eis alguns exemplos: alterado (sedento), desalterar
(dessendentar), bizarro (extravagante), coalizão (coligação), conscri-ção (recrutamento), crachá (hábito, insígnia), destacar (distinguir),
emoção (comoção), fundo (fundamento), libertinagem (licenciosidade),
massacre (matança), prejuízo (preconceito), reprimenda (repreensão),
secundar (auxiliar), trem (modo, gênero de vida), viajor (viajante, ca-
minheiro), debutar (estrear). Em certos casos, o galicismo é só de acep-
ção, isto é, a palavra existe em português, mas com outro sentido. Te-
mos o fato nos seguintes exemplos: destacar (no sentido de "separar",
destacar o canhoto, por exemplo, é bom português; no sentido de "dis-
tinguir-se – Carlos destacou-se na competição – é galicismo); avançar
(no sentido de "progredir" é legítimo; mas no de "afirmar" – avançou a
sua opinião – é galicismo); querela (na acepção de "discussão" é gali-cismo; na de "queixa" é bom português; brusco (como "rápido, violen-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2678
to" é galicismo; no sentido de "escuro" é vernáculo).
A simples semelhança de palavras nossas com outras correntes em
francês não deve levar à conclusão de que o termo português é galicis-mo, pois as duas línguas têm fontes comuns. São, pois, galicismos apa-
rentes, entre outros: campanha (no sentido de campinas), reprochar
(censurar), chantre (cantor), chanceler (funcionário do Ministério do
Exterior).
Os galicismos de construção mais vulgares são os seguintes:
1 – repetição do artigo nos superlativos relativos (o homem o mais
rico por o mais rico homem);
2) substituição de uma conjunção, em oração equipolente, pela con-
junção que (Quando estive em Paris e que visitei a torre Eiffel...);
3) o emprego de gerúndio com valor de particípio presente (uma ca-
sa tendo quatro quartos, livro contendo gravuras, homem falando mui-tas línguas);
4) a anteposição do sujeito nas orações reduzidas de particípio pas-
sado (A batalha terminada, César voltou para os acampamentos);
5) o mau emprego de certas preposições: em para indicar matéria
(vestido em seda por vestido de seda); a para indicar agente (moinho a
vento por moinho de vento, fogão a gás por fogão de gás); sobre para
indicar proximidade (cidade sobre o Reno por cidade junto ao Reno, às
margens do Reno); contra com verbos que exprimem opressão (apertar
ao peito e não apertar contra o peito); sem em vez de se não (sem ele,
nada teria feito por se não fosse ele, nada teria feito);
6) emprego de de que, do qual em vez de cujo (Conheço a jovem,
da qual morreu o marido por Conheço a jovem, cujo marido morreu). O galicismo, como qualquer estrangeirismo, em princípio, não pode
ser condenado. Nenhuma língua vive numa redoma, pois o contato é
civilização. Da conveniência, oportunidade ou acerto do galicismo,
hão, sem dúvida, de julgar os gramáticos; mas a sua sentença só terá
validade quando confirmada em alguma instância, pela consagração do
uso.
Veja o verbete: Idiotismo.
Galileísmo
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), galileísmo é palavra derivada
do nome do físico e astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642). O
conceito de galileísmo foi utilizado em epistemologia da ciência da lin-guagem para caracterizar o método estruturalista em linguística, e o ci-
entificismo explícito reivindicado pelo programa gerativo chomskiano.
“Não há razão alguma para abandonar o método de abordagem ge-
José Pereira da Silva
2679
ral das ciências naturais quando se trata do estudo dos seres humanos e
da sociedade. Toda abordagem séria destas questões tentará adotar ‘o
estilo galileano’.” (CHOMSKY, 1980, apud MILNER 1989). Segundo Jean-Claude Milner, a ciência “galileana” pode ser defini-
da como uma configuração discursiva que combina dois traços:
“[...] 1) a matematicalização do empírico (a física matemática que
deve preferencialmente ser chamada física matematicalizada); 2) a
constituição de uma relação com a técnica, de maneira que a técnica se
defina como a aplicação prática da ciência (donde o tema da ciência
aplicada) e que a ciência se defina como a teoria da técnica (donde o
tema da ciência fundamental)” (MILNER, 1989).
Retomando os filósofos gregos da Antiguidade a dicotomia phu-
sis/thesis (realidades observáveis segundo a natureza, phusei, ou se-
gundo a convenção, thesi), Jean-Claude Milner descreve o galileísmo do estruturalismo como um galileísmo amplo:
“[A grandeza do estruturalismo] consiste em: ele colocou em tese
que o dilema não existia. Sustentou na sua doutrina e demonstrou atra-
vés de sua prática que aspectos inteiros daquilo que depois muitas ve-
zes haviam sido atribuídos à thesi podiam ser o objeto de uma ciência
no sentido galileano do termo. Sem que, no entanto, e nisso reside a
novidade singular, sem que no entanto a thesei fosse reconduzida no
phusei. Ainda mais, os objetos privilegiados da demonstração são jus-
tamente aqueles que constituem a exata diferença entre o homem e a
natureza: a linguagem, a família, o casamento, os mitos, os contos, a
culinária, o costume, os adornos etc.” (MILNER, 2002).
Veja os verbetes: Empiricidade, Epistemologia, Matematicalização.
Galo
Galo é o mesmo que gaulês.
Galope
Galope é o martelo de seis pés ou martelo agalopado.
Galo-românico
Galo-românico é o conjunto de falares que o latim gerou no territó-
rio das Gálias.
Gama
Gama é o nome da terceira letra do alfabeto grego ().
Gamacismo
Gamacismo é o defeito que consiste em não se pronunciar correta-
mente o fonema / g / .
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2680
Gancho
Gancho é uma espécie de lide de uma matéria jornalística que se ca-
racteriza por ter um estilo textual sui generis: deve ser escrito, em pou-cas palavras e bem criativo, de tal maneira que prenda a atenção do lei-
tor e o leve a ler o restante do texto (COSTA, 2018, s.v.).
Veja o verbete: Lide.
Ganhar linha
Ganhar linha é a operação que consiste em suprimir uma linha para
ganhar espaço, por necessidade de compaginação.
Garamond
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
garamond é o caractere de letra de tipo romano pequeno usada antiga-
mente e caracterizado por uma grande elegância. Foi criado por Claude
Garamond (1499-1561), fundidor de tipos e gravador francês, que aper-
feiçoou os tipos de Aldo Manuzio.
Gargarismo
Gargarismo é a pronúncia do / r / velar, que alguns recriminam sem
razão.
Gascão
Gascão é o dialeto românico falado na Gascunha, França. Alguns
filólogos o consideram uma língua, e não um dialeto.
Gatekeeping
O substantivo inglês gatekeeper é composto de gate, “portão”, e
keeper, “guardador, vigia”. Habitualmente se traduz por porteiro, ou
seja, alguém que controla o acesso de outras pessoas a um edifício ou,
em sentido figurado, o acesso a qualquer outra coisa. Nos estudos soci-ológicos, chama-se gatekeeping a prática de restringir o acesso a recur-
sos sociais e culturais controlados pelas camadas dominantes. No cam-
po da linguagem, diversas práticas são consideradas como dirigidas a
esse fim: a entrevista por meio da qual uma pessoa obtém acesso a um
emprego, ao ingresso nas instituições educacionais, à formação profis-
sional etc.; o uso de línguas ou de variedades linguísticas de alto pres-
tígio em contextos como a educação e o emprego; a compilação de di-
cionários e outras obras de referência que só descrevem as normas con-
sideradas cultas. Em sociedades altamente estratificadas, a prática da
gatekeeping é constitutiva das relações desiguais entre os diferentes es-
tratos. Na Rússia czarista, por exemplo, a elite cultural e política se comunicava habitualmente em francês, uma língua cujo aprendizado
José Pereira da Silva
2681
estava fora do alcance da vasta maioria da população e que, por conse-
guinte, fixava uma fronteira sociocultural muito nítida. Durante milê-
nios (e em muitos lugares do mundo, até hoje), o acesso à escrita e à cultura letrada foi cuidadosamente controlado para permanecer nas mão
de um grupo restrito de cidadãos.
Gato
Gato é o erro de impressão ou gralha tipográfica.
Gaúcho
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gaúcho (em espanhol,
gaucho [‘gawʧo], de etimologia desconhecida) designa, primeiramente,
o habitante da zona rural dos pampas (Argentina, Uruguai e Rio Grande
do Sul), dedicado à criação de gado. No Brasil, o termo passou a desig-
nar qualquer pessoa natural do estado do Rio Grande do Sul. Por ser a
parte mais meridional do Brasil, limitando-se ao sul com o Uruguai e a oeste com a Argentina, as zonas fronteiriças do Rio Grande do Sul co-
nhecem intenso contato linguístico e cultural com os países vizinhos e,
por conseguinte, com o espanhol rio-platense (não se devendo esque-
cer, porém, que do outro lado da fronteira com o Uruguai há uma popu-
lação de língua ancestral portuguesa, os chamados dialetos portugueses
do Uruguai ou português uruguaio). Além disso, como toda a região
Sul, o estado recebeu muitos imigrantes a partir do século XIX, com
destaque para os alemães e italianos, além de pomeranos, poloneses,
espanhóis, portugueses etc. Assim, em cada região específica do estado
(serra, pampas, fronteiras etc.) se desenvolveram variedades linguísti-
cas caracterizadas por formações demográficas diferentes. O que se
considera, porém, na cultura linguística brasileira, como o “típico” fa-lar gaúcho é decerto o conjunto de variedades próprias da capital, Porto
Alegre, e região metropolitana. Além da prosódia e do léxico caracte-
rísticos, um elemento que distingue as variedades sul-rio-grandenses
em geral é o uso muito frequente do pronome-sujeito tu (em alternân-
cia, porém, com você) acompanhado das terminações próprias da ter-
ceira pessoa: tu vai, fu foi, tu ia, tu quer, tu viu etc. Diversas variedades
gaúchas conservam o [l] lateral em coda silábica ou final de palavra,
sobretudo na fala de pessoas mais velhas, bem como apresentam uma
realização velarizada [ƚ] nos mesmos contextos fonéticos, onde a gran-
de maioria das demais variedades brasileiras apresenta uma semivogal
[w]: Brasil [bra’zil] ou [bra’ziƚ]. (Compare com o carioca, mineiro, nordestino etc.) .
Veja os verbetes: Carioca, Fronteiriço, Mineiro e Nordestino.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2682
Gaulês
Gaulês é a língua dos gauleses, raça céltica, indo-europeia, habitan-
tes da Gália. As inscrições são raríssimas; apesar disso, tem-se como certa a presença de palavras galas no vocabulário latino, principalmente
as palavras referentes a transportes. A suposta unidade ítalo-céltica jus-
tifica a semelhança que se observa na declinação, na conjugação e até
na fonética do latim e do gaulês (JOTA, 1981, s.v.).
Gaveta
Veja os verbetes: Artigo, Calhau, Fria, Furo, Notícia, Quente,
Stand-by.
Gazal
Gazal é o poema estíquico, de caráter idílico, de número variável de
versos (de quatro a quatorze).
Gazeta impressa
Gazeta impressa é a folha impressa publicada logo após a invenção
da imprensa.
Gazeta manuscrita
Gazeta manuscrita é a folha escrita a mão, que insere informações
de diversa natureza, vinda a público antes da invenção da imprensa.
Gazeta oficial
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gazeta oficial é a publicação periódica na qual o governo faz publicar
leis, decretos, avisos ou quaisquer declarações do país a que esse go-
verno diz respeito; publicação equivalente ao Diário Oficial da União,
no Brasil; e Diário da República, em Portugal.
Gazeta
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gazeta é a designação dada antigamente aos periódicos e que hoje se
aplica apenas àqueles que tratam de algum ramo especial: administra-
ção, ciência, literatura, técnica, cinema, artes etc. Publicação periódica
de caráter doutrinário ou político de qualquer espécie. Nome atribuído
à primeira publicação periódica portuguesa, cuja edição teve início em
novembro de 1641 e terminou em setembro de 1647, num total de 27
números. A sua estrutura se repete. A maioria dos números se encontra
dividida em duas partes: a primeira com as novas do reyno e a segunda
com as novas de fora do reyno, trazidas dos mais diversos pontos da
Europa, até julho de 1642. O aspecto gráfico é semelhante em quase
José Pereira da Silva
2683
todos os números: impresso in-4º não apresenta uma página de rosto
especial. O título encabeça o texto, que começa por uma inicial capital
de desenho de fantasia gravado em madeira.
Gazetilha
Veja os verbetes: Blognovela, Blogonovela, Folhetim, Folheto, Fo-
tonovela, Novela, Radionovela, Telenovela.
Gazofilácio
Gazofilácio é o título atribuído antigamente a obras independentes,
do gênero dos dicionários.
Geleit
Veja o verbete: Envoi.
Gemedeira
Gemedeira é a sextilha a que se acrescenta, antes do último, um
verso composto de interjeições indicativas de dor (o que justifica o no-
me).
Geminação
Geminação, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é o fenômeno
de reforço de uma articulação consonântica que prolonga a sua duração
cerca da metade e lhe aumenta a intensidade. Esse fenômeno é também
chamado, às vezes, de redobro, embora não haja verdadeiramente repe-
tição da consoante. A geminação pode ter um valor linguístico em cer-
tas línguas, como o italiano, que opõem consoantes simples a consoan-
tes geminadas. Nas outras línguas, pode igualmente aparecer com um
valor expressiva: assim, em português, a geminação pode aparecer para
exprimir uma emoção. Exemplo: "É ab-bominável!". Por outro lado,
"de um vocábulo a outro se criam geminações de consoantes em con-traste com a ausência de consoantes geminadas em interior de vocábu-
lo. Assim, se opõem pela delimitação vocabular paz sólida / passͻlida /
e pá sólida / pasͻlida / ou ar roxo / arroʃu / e arrocho / aroʃ / " (CÂ-
MARA JR., 2010, p. 36).
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), geminação é a repetição
de um elemento linguístico, seja fonema, sílaba ou palavra. Exemplos:
papai, titio, vovô (veja: Redobro). A geminação para efeito intensivo
não é rara (Exemplo: O céu está azul, azul.), bem assim a interação, em
compostos (quero-quero, reco-reco). A geminação, seja vocálica, seja
consonântica, tem em algumas línguas valor fonológico (veja: Quanti-
dade), ou expressivo, como no latim imbeccillis (por *imbacilis). Ge-minação de efeito métrico ocorre em rellige, relliquae e remmotus. A
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2684
geminação de alguns perfeitos (reppuli, rettuli) são o resultado de for-
mas de redobro sincopadas (*repepuli > reppuli; *repeperit > reppe-
rit). A geminação de fonemas, em português ocorre na juntura de pala-vras, como em faz só [faç-çó], mar róseo; em juntura interna, aparece
em diminutivos do tipo [arrozzinho] (grafia arrozinho), [florezzinhas]
(grafia florezinhas) etc. Fora desse caso, não conhece nossa língua a
geminação. Temos, sim, letras dobradas, mas para representação de um
só fonema (veja: Dígrafo), como ss e rr (JOTA, 1981, s.v.).
Veja o verbete: Geminada.
Geminada
Diz-se da consoante cujo momento chamado "tensão" (sustentação
do fonema) tem duração dupla relativamente à tensão do mesmo fone-
ma quando pronunciado normalmente (consoante simples), mas de
forma tal que o tempo da tensão fica dividido por um intervalo em duas partes iguais. A consoante geminada pertence, pois, na sua parte de-
crescente, à sílaba seguinte. É esse o esquema da articulação de gemi-
nada: intensão – tensão / tensão – distensão.
Na grafia, é comum representar as consoantes geminadas por letras
dobradas. Tais consoantes existiam em latim clássico: ille, communis,
reddo etc. No italiano ainda ocorre: femmina, quella, sotto etc. As ge-
minadas do latim clássico reduziram-se, na passagem ao romanço lusi-
tânico: ille > ele; vacca > vaga; gutta > gota etc.
A existência de letras dobradas em português não significa pos-
suirmos consoantes geminadas. Os símbolos ss e rr são meramente grá-
ficos, que representam os fonemas singelos cê e rê. Antenor Nascentes
(1886-1972) observa que, por fonética sintática, podem ocorrer conso-antes geminadas em português (rol luminoso, inter-resistente).
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a geminação é um fenômeno de
reforço articulatório das consoantes. Chamam-se geminadas as conso-
antes percebidas como mais longas que as consoantes simples, pelo
motivo de possuírem intensidade própria na sua articulação. Exemplos:
no francês illégitime, “ilegítimo” [il:eitim]; no italiano ragazzo, [ra-
gaz:ɔ] “rapaz”.
“Uma consoante só é percebida como longa quando sua duração
excede claramente a das outras que se ouvem no contexto onde ela apa-rece. [...] poder-se-á representar a extensão das consoantes através de
um ponto elevado ou de dois pontos colocados após o símbolo da con-
soante, portanto [l.] ou [l:] para [l] longo. Quando uma consoante de
longa duração se encontra entre duas vogais, é frequente que o princí-
pio seja percebido como o fim da primeira sílaba e o fim como o prin-
José Pereira da Silva
2685
cípio da sílaba seguinte. Isto dá a impressão de duas articulações suces-
sivas [...]. As consoantes longas pertencentes a duas sílabas sucessivas
são designadas geminadas” (MARTINET, 1960). Sugere-se a leitura do capítulo 3 de Linguística geral, de Robert
Henry Robins (1981), como complemento.
Veja os verbetes: Alfabeto fonético internacional (AFI), Articula-
ção, Consoante.
Genealogia
Tendo a linguística tomado a biologia como modelo, no século
XIX, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), falou-se, para as línguas,
de "vida", de "morte", de "parentesco" etc. É nessa perspectiva que se
emprega o termo genealogia. Estabelecer a genealogia de uma língua é
determinar a língua de que ela provém, bem como as línguas de mesma
origem que ela. Assim, estabelecer a genealogia do português é dar-lhe como ancestral o latim e precisar que o italiano, o espanhol, o francês e
o romeno são também oriundos do latim (diz-se que são as línguas ir-
mãs do português, sendo o latim a língua-mãe). Estabelecer a genealo-
gia do latim é, graças à gramática comparada, dar-lhe por ancestral o
indo-europeu.
Veja: Família de línguas.
Genealógico (sistema)
Segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.), são dois os sistemas
mais usados na classificação das línguas: o sistema morfológico e o sis-
tema genealógico. O sistema genealógico tem por fundamento a comu-
nidade de origem de certas línguas, que formam, assim, verdadeiras
famílias. O sistema genealógico mais seguido classifica as línguas em oito grandes famílias ou grupos: 1) indo-chinês; 2) dravídico; 3) ma-
laio-polinésico; 4) uralo-altaico; 5) cafre ou banto; 6) camítico; 7) se-
mítico e 8) árico ou indo-europeu. Este sistema é hoje muito combati-
do. Outro, assim classifica as línguas: I) línguas da África: 1- banto-
sudanês e 2- camito-semítico; II) línguas da Oceania: 3- dravítico-
australiano e 4- munda-polinésico; III) línguas da Eurásia: 5- caucásico,
6- indo-europeu, 7- uralo-altaico e 8- indo-chinês; IV) línguas da Amé-
rica: 9- americano (que inclui todas as línguas indígenas da América).
Destes grupos, o mais importante é o árico ou indo-europeu, tronco
comum do grego, do latim e do português.
Generalia
Generalia é palavra latina que, nos sistemas de classificação, é usa-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2686
da para designar o grupo de documentos que abarcam tantas matérias
que não podem se classificar dentro de uma classe precisa.
Generalidade
O critério de generalidade das regras, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), é um critério que, com simplicidade, permite avaliar a ca-
pacidade de uma gramática. A regra que poderá dar conta do maior
número possível de fatos no maior número de línguas satisfaz a essa
condição de generalidade.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o conceito de generalidade está
no centro da reflexão filosófica sobre o signo e a linguagem. Em Essai
Philosophique Concernant l’Entendement Humain (1690), John Locke
justifica o conceito ao desenvolver o argumento de que a comunicação
intersubjetiva seria impossível se cada entidade do mundo devesse ser
designada por um nome particular. A tese de John Locke é a de que a generalidade é uma produção necessária do espírito humano. Todas as
entidades do mundo (seres, coisas, ideais) são existências particulares.
Sua generalidade consiste numa atividade específica do entendimento
que é a de lhes conferir uma capacidade de representar ou de significar
diversas existências particulares. A generalidade é abstração, ou seja,
relacional. Se ela é a condição de intersubjetividade, é necessariamente
a condição da linguagem.
“A generalidade é coisa intrínseca à linguagem. Sem os signos, não
haveria comunicação, tanto não que, comumente, são necessários sig-
nos para comunicar, aos que estão fora aquilo que se passa em nosso
foro interior, porém mais sutilmente porque nossa interioridade como
tal é incomunicável sem a generalidade, e a generalidade é a instaura-ção, pelo espírito, de uma relação entre um elemento – um signo – e
outros elementos – uma significação” (AUROUX et alii, 1996).
Veja os verbetes: Filosofia da linguagem, Signo, Teoria.
Generalização
Generalização é um processo cognitivo que consiste, partindo de
um certo número de constatações empíricas, em elaborar um conceito.
Assim, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), o conceito "cadeira" é
elaborado a partir da percepção de objetos que comportam certo núme-
ro de propriedades comuns. A generalização é chamada secundária
quando se produz não diretamente, a partir dos próprios objetos, de sua
proximidade física, mas a partir de palavras ou imagens que evoquem esse objeto. Haverá generalização semântica quando uma resposta
provocada por uma palavra-estímulo é também provocada por sinôni-
José Pereira da Silva
2687
mos dessa palavra. Assim, se se condiciona uma resposta de secreção
salivar à palavra aipim, a mesma resposta será evocada, embora mais
fraca, para um estímulo semanticamente próximo, como mandioca ou macaxeira.
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), a noção de generalização interessa aos psicólogos, que a opõem à
de discriminação, assim como aos filósofos e aos lógicos, que a defi-
nem como “uma operação que consiste em reunir sob um conceito úni-
co os caracteres comuns observados em vários objetos singulares e es-
tender esse conceito a uma classe indefinida de objetos possíveis”
(ORIOL & MURY, 1968). Em linguística, ela foi utilizada para desig-
nar o fenômeno de substituição, por uma regra única, ou por regras par-
cialmente idênticas, de um conjunto de regras que se aplicam a fatos
distintos, como testemunha Georges Mounin (1974).
EM SEMÂNTICA LEXICAL
Com o propósito de dar conta das estruturas hierárquicas do léxico,
explora-se a noção de generalização, definida por Jean Dubois et al.
(1994) como “um processo cognitivo que consiste, partindo de um cer-
to número de constatações empíricas, em elaborar um conceito: assim,
o conceito ‘cadeira’ é elaborado a partir da percepção de objetos que
comportam um certo número de propriedades comuns”. Nessa perspec-
tiva, os semas genéricos permitem operar reagrupamentos de unidades
lexicais parcialmente distintas que se diferenciam umas das outras por
semas específicos. Por exemplo, assento é o sema genérico a partir do
qual se pode reagrupar cadeira, tamborete, poltrona; os traços distin-tivos “com encosto” ou “com apoio para os braços” são considerados
como semas específicos.
Em análise do discurso
Para Abdelmadjid Ali Bouacha (1994, p. 281), a generalização “é
um fenômeno que está na junção da enunciação e da argumentação”.
Preocupando-se com o estatuto linguístico e com o que está em jogo no
discurso da questão genérica, o autor se interessa pelas formas que
permitem a um locutor produzir um enunciado que se apresenta como
incontestável. Nessa perspectiva, ele opõe os “enunciados genéricos”
que se encontram apenas nas situações específicas (axiomas das lin-guagens formais, frases analíticas) – aos “enunciados generalizantes”,
que podem levar a um conjunto ponderado colocando em jogo a quanti-
ficação (verdadeiro para todo X), a aspectualização (sempre verdadei-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2688
ro) e, enfim, “a modalização (necessariamente verdadeiro)” (ALI
BOUACHA, 1994, p. 287). A noção de generalização, que pode ser de-
finida "como o que permite desconstruir a singularidade e um aconte-cimento ou de uma propriedade" (ALI BOUACHA, 1992, p. 100), é
suscetível de desempenhar “um papel comunicativo específico (procu-
rando agir, inconscientemente, talvez, sobre as crenças do outro), trans-
formando uma experiência individual em verdade de valor geral”
(MOIRAND, 1970, p. 76).
Veja os verbetes: Argumentação, Questão (em argumentação) e Re-
tórica.
Generalização linguística significativa
Expressão usada na gramática gerativa com referência ao tipo de
afirmação analítica que se espera de uma análise gramatical. Segundo
David Crystal (1988, s.v.), o propósito da gramática não é apenas gerar todas e somente todas as sentenças gramaticais de uma língua, mas fa-
zer isso de tal forma que as relações que os falantes nativos consideram
significativas sejam expressas de maneira econômica. Uma gramática
que gerou as sentenças ativas separadas das passivas, ou as interroga-
ções separadas das afirmações e que não conseguiu mostrar essas inter-
relações estaria carecendo de generalizações linguisticamente significa-
tivas. Foi esta uma das razões para a introdução das transformações na
análise linguística. A adequação de uma gramática é medida em termos
de até que ponto ela expressa as generalizações linguisticamente signi-
ficativas de uma língua.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que generalização linguisticamente
significativa é uma noção relacionada com a construção de um proce-dimento de avaliação para gramáticas alternativas e a escolha de meca-
nismos formais para a descrição gramatical.
Na formulação apresentada em Aspectos da Teoria da Sintaxe
(1965, p. 42), a noção em apreço foi assim caracterizada:
Temos uma generalização quando um conjunto de regras a respeito
de itens distintos pode ser substituído por uma única regra (ou, mais ge-
ralmente, regras parcialmente idênticas) em relação a todo o conjunto,
ou quando se pode mostrar que uma "classe cultural" de itens sofre cer-
to processo ou conjunto de processos semelhantes. Assim, a escolha de
uma medida de avaliação constitui uma decisão em relação ao que se-
jam 'processos semelhantes' e 'classes naturais', em suma, em relação ao que sejam generalizações significativas".
Na ocasião, assinalou Noam Chomsky que a noção de generaliza-
ção significativa seria definida em termos de convenções notacionais
José Pereira da Silva
2689
usadas na apresentação de uma gramática, se a extensão (ou seja, o
número de símbolos usados na descrição) fosse a medida de avaliação
adotada. Em outra oportunidade (CHOMSKY & HALLE, 1968, p. 330-331),
uma generalização linguisticamente significativa foi definida como
uma formulação verdadeira e significativa, de caráter geral, em contra-
posição a outras, do mesmo alcance, que são falsas ou, então, verdadei-
ras, mas não significativas. Na ocasião, assinalaram Noam Chomsky e
Morris Halle que os mecanismos formais adotados na descrição grama-
tical deveriam ser de molde a permitir expressar generalizações linguis-
ticamente significativas, fornecendo, ao mesmo tempo, uma base para
distinguir tais generalizações de outras de natureza diferente. A ade-
quada escolha de mecanismos formais não bastaria, entretanto, para al-
cançar esses objetivos, dada a possibilidade de muitas gramáticas for-muláveis em termos de determinados mecanismos formais, todas elas
compatíveis com os dados disponíveis em relação a certa língua. A es-
colha dentre as alternativas possíveis exigiria, assim, um procedimento
de avaliação de alguma espécie.
Generalizado
Em gramática gerativa, chama-se transformação generalizada, se-
gundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a transformação que opera com
duas (ou mais de duas) sequências geradas pela base. Assim, as trans-
formações relativa e completiva são transformações generalizadas por-
que encaixam uma sequência (relativa ou completiva) em outra se-
quência, chamada frase matriz. As transformações generalizadas e as
transformações binárias se opõem às transformações passiva, interroga-tiva, afixal etc.
O superlativo relativo costuma ser chamado, às vezes, de compara-
tivo generalizado.
Generic book
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
generic book é a expressão inglesa nascida e utilizada sobretudo nos
Estados Unidos, mais abrangente que a palavra “livro”, que serve para
designar quer os documentos impressos na sua forma tradicional, quer
todos os outros documentos, qualquer que seja a sua forma de apresen-
tação.
Genérico
Termo usado na análise semântica e gramatical para indicar um ra-
dical lexical ou proposição que se refere a uma classe de entidades
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2690
(Exemplo: o morcego é uma criatura interessante; morcegos são horrí-
veis; os ingleses / franceses... os pobres / ricos / bons...). Assim, se-
gundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a palavra peixe é o genérico de uma classe cujos membros são o lambari, a traíra, o bagre etc. Em
português, o artigo definido pode conferir ao sintagma nominal que ele
constitui com um nome esse valor de genérico. Assim, o lambari pode
ser, por sua vez, um genérico. A categoria natural assim constituída tem
por membros "lambaris" específicos. O artigo indefinido, ao contrário,
confere ao sintagma nominal um valor contrário ao de genérico (um
lambari). Veja o capítulo 7 de Semântica, de John Lyons (1980).
Veja: Hiponímia.
Gênero
Gênero ou gênero gramatical é a categoria gramatical que distribui
os seres em grandes classes, portadores de terminações específicas, as quais se opõem entre si por caracteres funcionalmente dominantes, se-
gundo o grau de cultura do povo de que a língua é instrumento. Assim,
nos seres vivos, o caráter que logo se impõe para a divisão dos seres em
categorias é o sexo. Portanto, muito natural é que a ideia de gênero se
associe quase que espontaneamente à de sexo. Daí o chamado "gênero
natural", segundo o qual os seres se repartem em três gêneros: masculi-
nos (machos), femininos (fêmeas) e neutros (coisas). Essa distribuição
lógica, porém, não se verifica integralmente em nenhuma língua falada
atual ou do passado. Dos idiomas modernos, o que dela mais se apro-
xima é o inglês, língua em que o conhecimento do gênero é de relativa
facilidade. No entanto, nesse idioma, ship, o "navio" é feminino.
A palavra "gênero", em sentido gramatical como usamos, aparece pela primeira vez empregada por Dionísio de Trácia (século I a.C)
O gênero tripartido existia também em latim; mas a distribuição dos
substantivos por essas classes não obedecia a princípios lógicos. Se os
seres machos em latim são masculinos e os nomes de fêmeas, femini-
nos, os nomes de coisas não são obrigatoriamente neutros, repartindo-
se entre os três gêneros. Assim, flumen é neutro, fluvius é masculino e
aqua é feminino. Flos, por exemplo, é masculino – gênero que conser-
vou no italiano –, mas, em português passou para o feminino, sem que
a significação da palavra mudasse (a flor). É que dois fatores intervêm
para modificar a natureza do que chamamos gênero natural; a analogia
semântica ou de significado, e a analogia formal ou de terminação. De acordo com a analogia semântica, passam a ser masculinos os nomes de
coisas que são assemelhadas aos machos (pelo porte, pela força) e fe-
mininos os que são aproximados dos seres femininos (pela gentileza,
José Pereira da Silva
2691
pela pequenez). Assim, os nomes de árvores em latim (cupressus, pru-
mus, pinus etc.), apesar da terminação em -us são femininos, porque as
árvores foram comparadas com as mães, por produzirem frutos. Mas tais comparações variam de povo para povo. Para nós, por exemplo, é
"natural" que o sol seja masculino e a lua, feminino. Em alemão, po-
rém, é o contrário. Nessa mesma língua, uma das palavras para desig-
nar a mulher, das Weib, pertence ao gênero neutro.
A analogia formal produz o que se denomina "gênero gramatical",
ou seja, gênero pela terminação. Assim, em português, a terminação –a
é própria dos nomes femininos, e a terminação –o, dos nomes masculi-
nos. A razão desse fato se encontra na origem latina do português. Os
nomes da 1ª declinação (acusativo -am) eram femininos; os da 2ª decli-
nação (acusativo -um) eram masculinos (o neutro desapareceu). Quanto
aos da terceira (acusativo -em) se distribuíam regularmente entre os três gêneros. Resultou daí que, em nossa língua, via de regra, são masculi-
nos os nomes em -o, femininos os nomes em -a, e masculinos ou femi-
ninos os nomes em -e ou consoante. Naturalmente que há exceções. Os
nomes de origem grega em -ma, por exemplo, são masculinos (pano-
rama, problema, sintoma etc.); a analogia formal, porém, tem influído
para levar alguns ao masculino. O povo diz, por exemplo, uma telefo-
nema), duzentas, quinhentas gramas (que já não se pode corrigir), a
crisma (que convém passar para o masculino), a fantasma (erro cada
vez mais raro). Ainda hoje, apesar de terminar em -a, dia (de origem la-
tina) é masculino. Note-se que os nomes em á, tônico, são masculinos:
rajá, alvará, jubá, crachá etc.
Em português, o feminino se distingue do masculino por um dos seguintes processos: a) pela terminação; b) pela anteposição do artigo
ou outro determinante; c) pela adjunção dos adjetivos macho e fêmea;
d) pela oposição de palavras.
O 1º processo é o mais comum. São terminações de feminino: -a, -
ora, -esa, -isa, -eira, -oa, -ã, -ona, -essa, -triz, -ina. Exemplos: menina,
doutora, baronesa, poetisa, lavadeira, leoa, castelã, santarrona, con-
dessa, imperatriz, heroína.
Os substantivos que só se distinguem pela anteposição do artigo (ou
pela concordância com um adjetivo biforme) se chamam comuns de
dois: o pianista – a pianista; o viajante – a viajante, o mártir – a már-
tir. São epicenos ou promíscuos os nomes de animais que precisam de
auxílio dos adjetivos macho e fêmea, sempre que se deseja determinar o
sexo do animal. Exemplos: onça macho e onça fêmea; jacaré macho –
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2692
jacaré fêmea.
Os substantivos que apresentam uma forma no masculino e outra no
feminino são chamados de heterônimos. Exemplos: homem – mulher, genro – nora, varão – matrona, frei – soror, carneiro – ovelha, bode –
cabra, cavalo – égua, boi – vaca.
Há substantivos que, embora formalmente no masculino ou no fe-
minino, podem aplicar-se, indiferentemente, a seres masculinos ou fe-
mininos; chamam-se sobrecomuns. Estão nesse caso: a testemunha
(homem ou mulher), a criança (menino ou menina), o cônjuge (marido
ou mulher). Veja o capítulo 7 de Introdução à linguística teórica, de
John Lyons (1979).
José Lemos Monteiro (2002, p. 86) lembra que a associação de gê-
nero a sexo é um grande equívoco das gramáticas modernas, princi-
palmente porque as correspondências raramente ocorrem, principal-mente porque a maioria substantivos nomeiam seres assexuados. Além
disso, é frequente haver nomes sinônimos com gênero gramatical dife-
rente, como "ave" e "pássaro", assim como substantivos que mudam de
gênero no aumentativo ou no diminutivo (mulher e mulherão).
Na toponímia, onde ocorre frequentemente a preservação de formas
arcaicas, há curiosidades de gênero como "o onça" em Serra do Onça,
no município de Tarumirim e "o cadelo" em Córrego do Cadelo, no
município do Iapu, ambos em Minas Gerais.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), em métrica, gênero é a
proporção entre as moras de um pé. No dáctilo (˗ᴗᴗ), o gênero é 2 / 2 (a
longa igual a duas breves) e no troqueu (˗ᴗ) é 2 / 1. Também se diz gê-
nero igual, num caso, e gênero duplo, no outro. Gênero é a categoria gramatical que distinguem o nome em classes.
Conhecemos nós o masculino e o feminino; outras línguas acrescentam
outro gênero a esses: o neutro. Tão arraigado ficou nessas línguas o gê-
nero condicionado ao sexo, que as palavras são encaradas ou como
masculinas ou como femininas, restando o neutro para as coisas inani-
madas. A realidade, porém, nem sempre ou nunca foi esse. É muito va-
riado o modo como as línguas distribuem o gênero: masculinos, femi-
ninos e neutros; classes de pessoas e classe de coisas; seres animados e
seres inanimados etc. Em malaio, os nomes se distribuem em humanos,
objetos arredondados, bichos com rabo, frutos etc. Mas é verdade que a
divisão bipartida e a tripartida são as dominantes nas línguas indo-europeias (ainda hoje as línguas eslavas, o inglês e o alemão contam
com três gêneros), embora no inglês só se evidenciem pelos pronomes
he, she, it, com exceção para alguns heterônimos (son / daughter; cock
José Pereira da Silva
2693
/ hen) e pouquíssimos nomes com desinência feminina (lion / lioness).
Mank / women é caso especial. Também há línguas em que o gênero
não existe gramaticalmente. Quando se quer expressá-lo, recorre-se a meio léxico: tupi membyra (filho ou filha), mas membyr-apiaba (filho)
e memby-kunhã (filha); no quimbundo também se acrescenta ao nome,
para o macho e a fêmea, mundata (homem) e muhetu (mulher), respec-
tivamente. No indo-europeu, como vimos, e no semítico havia três gê-
neros. É possível que a divisão se arrimasse na oposição animado
(masculino e feminino) e inanimado (neutro). No hitita, realmente, há o
gênero animado (seres viventes) e o inanimado (seres sem vida e os
que, embora viventes, sem maturidade sexual). No latim e no grego pa-
rece evidenciar a dualidade genérica o fato de alguns nomes de animais
designarem ambos os sexos com uma só forma, além do fato de os no-
mes de parentes (mater, pater, frater, soror etc.) nada apresentarem, no tema ou na desinência, que caracterize o gênero masculino ou femini-
no. Em latim genera: masculinum, femininum, neutrum é apenas decal-
que do grego arsenikón, thelikon, oudéteron. Também em português se
vislumbra o fato: algo (inanimado), ao lado de alguém (animado), al-
gum (masculino) e alguma (feminino). Outros fatores, contudo, muda-
ram radicalmente essa concepção original. A analogia semântica e a
formal podem, em muitos casos, explicar a mudança ou, melhor, a
acomodação do gênero. Em latim, por exemplo, a maioria dos nomes
da primeira declinação eram femininos, e os da segunda declinação
eram masculinos. Em outras palavras, isto quer dizer que eram femini-
nos os nomes do tema em a e masculinos os de tema em o, o que justi-
fica o sentimento do gênero que temos em língua portuguesa, tão arrai-gado que até mesmo nomes femininos (mulher, fêmea etc.) podem pas-
sar para o masculino, de acordo com o sufixo (mulherão, femeaço). A
analogia semântica explica, de outro lado, por que em latim nomes de
plantas (que sugerem fêmea), embora terminados em us (quarta decli-
nação), eram femininos. Vejamos agora o que ocorre em português.
Epicenos, como vimos, são os nomes que, sob uma única forma ge-
nérica, designam ambos os sexos: o cônjuge, a criança, a testemunha,
o algoz, o verdugo, o indivíduo etc.
Tende a língua a passar alguns desses nomes (os menos usuais) à
categoria dos comuns-de-dois, como já ocorreu a chefe, atualmente
masculino ou feminino, conforme se refira a homem ou a mulher, e vem ocorrendo a o/a algoz, o/a cônjuge etc.
Os epicenos referentes a animais se valem da aposição das palavras
macho e fêmea para diferenciar os sexos. Mas tais nomes virão separa-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2694
dos por hífen, de acordo com as regras de formação de palavras, fato
que as gramáticas primam por desrespeitar: a cobra-marcho, a cobra-
fêmea, o jacaré-macho, o jacaré-fêmea. Mas, igualmente, podemos empregar tais palavras como adjetivos e, portanto, concordando com o
gênero gramatical do substantivo: a cobra macha, a cobra fêmea, o ja-
caré macho, o jacaré fêmeo. Com exceção de uns poucos nomes de
animais, que as gramáticas consignam, os demais, quase que que po-
demos assegurar, são epicenos: onça macha, onça fêmea, gaturamo-
fêmea, gaturamo-macho etc.
No entanto, cumpre-nos algumas ponderações. Certos nomes, em-
pregados quase sempre no feminino, nos levam a supor inexistente o
masculino, o que não é real com nomes como coruja (corujo), mula
(mulo), pega (pego), perdiz (perdigão), raposa (raposo), abelha (zan-
gão ou zângão), cadela (cadelo) etc. Outros, supomo-los sem feminino, já pelo hábito de não o empre-
garmos, principalmente porque tememos empregá-los, julgando ser isso
privilégio de uns tantos escritores. Exemplos: asno (asna), búfalo (bú-
fala) burro (burra ou besta), camelo (camela), cervo (cerva), coelho
(coelha), corço (corça), corvo (corva, corvacha), gamo (gama), ganso
(gansa), hipopótamo (hipopótama, por analogia), jumento (jumenta),
lobo (loba), melro (melra ou mélroa), mocho (mocha), papagaio (pa-
pagaia, analogia), pardal (pardoca), pavão (pavoa), pinto (pinta), po-
tro (potra), rato (rata, ratazana), sapo (sapa), veado (veada), zagal
(zagala), zebu (zebua).
Estranham alguns os nomes veada, gama etc. Não há razão para
tanto como também não se há de estranhar se tomem corço, gamo, vea-do e cervo em pé de igualdade. O cervo é o veado-galheiro; o corço é
uma espécie de cervo comum na Ásia; o gamo, diferente na galharia, é
da mesma família dos cervídeos. Mu (antigo muu, latim lulus) é talvez
mais empregado que mulo. Há o sinônimo macho (de mulacho), que
nada tem com outro macho (latim masculus). Boi é o masculino grama-
tical de vaca. por ser estéril, porém, toma-se touro igualmente para fa-
zer-lhe par. Cadelo (latim catellus, cãozinho) tinha cadela (latim catel-
la) por feminino. Esquecido cadelo, obliterou-se o sentido diminutivo
de cadela, que passou a feminino de cão, que não tinha companheira
gramatical. Em cachorro (feminino cachorra) também houve esqueci-
mento de sufixo diminutivo orro. Já equivale a cão. Jacaroa é femini-no calcado em jacaréu, forma popular e desusada de jacaré, a seme-
lhança de tabaréu (tabaroa), ilhéu (ilhoa) etc.
Constituem regionalismos: anori (de tracajá ou tracaiá), bitu ou
José Pereira da Silva
2695
sabitu (içá), caloqueio (capongui), cambiro (curimã), capincho (capi-
vara), capitari (tartaruga) carocho (pailona), caxarelo (baleia) cuco (cu-
rió), cupim (arará), gaturamo (gaipava), jatubi (jabota) tigre (tigresa) etc. Mas, de uso frequente e geral: bode (cabra), boi ou touro (vaca),
cão (cadela), carneiro (ovelha), cavalo (égua), cervo (cerva, corça
etc.), coelho (coelha) corço (corça, cerva etc.), elefante (elefanta), fai-
são (faisã ou faisoa), galo (galinha), gamo (gama, corça) ganso (gan-
sa), gato (gata), grou (grua), jumento (jumenta) lobo (loba), mu ou
mulo (mula), pardal (pardoca), pavão (pavoa), perdigão (perdiz), peru
(perua), raposo (raposa) sapo (sapa), veado (veada, cerva etc.), zân-
gão ou zangão (abelha). Ratazana é, na realidade, feminino de um su-
posto ratazão (aumentativo de rato). Elefoa, conquanto consignado em
Morais, que o não abona, é sem dúvida produto de confusão, se não er-
ro. Elefanta é o bom feminino; aliá é regionalismo. Nada de anormal no feminino ladrona, substantivo ou adjetivo, co-
mo seu sinônimo ladra.
Dados como masculinos: anátema, champanha, clã, eclipse, epíto-
me, formicida, fibroma, hosana, lança-perfume, proclama, sabiá, san-
duíche telefonema. E como femininos: aluvião, análise, cal, chaminé,
cascavel, curul, amálgama, enxó, fênix, cerviz, sucuri, cataplasma, di-
namite, omoplata, juriti, sucuri, virago. No rol das dubiedades: perso-
nagem, pijama, tapa, suéter, víspora, avestruz, preá, gambá e caudal.
A realidade, diante da qual nada valem argumentações, menos ainda
imposições de gramáticas, é que muitos dos nomes acima dados como
masculinos, uns, e femininos, outros, giram no rol da indecisão na boca
do povo. Nada estranhável que em nomes de animais como preá, gam-bá etc., a própria dubiedade do artigo venha a servir de morfema gené-
rico: o gambá (macho), a gambá (fêmea). Sentinela e ordenança, como
femininos, se justificam no masculino pelo fato de designarem nomes
de funções normalmente atribuídas ao homem e não à mulher.
A frequência do uso nos habilita a dizer qual o gênero a predomi-
nar. Noutros casos, contudo, um só indivíduo emprega ora o masculino,
ora o feminino (veja: Comum-de-dois, Sobrecomuns e Epicenos). A
mudança de gênero é outro fato que as gramáticas, desatualizadas na
maioria, não têm sabido interpretar. Aluvião e usucapião, conquanto
pouco usados, dificilmente o são no feminino, como recomentam as
gramáticas. O mesmo se diga para grama (medida), que, apesar das gramáticas, a norma consagra como feminino. O gênero, em português,
como em muitas outras línguas, está incorporado à forma do nome, que
não apresenta o radical puro, com abstração de gênero, tal como ocorre
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2696
em alguns idiomas. Mesmo isolada, portanto, a palavra tem gênero
(donde sua implicação na morfologia); de outro lado, porém, o gênero
carreia concordância (daí sua pertinência também na sintaxe). Em raros nomes, concomitante ao gênero, surge a metafonia: este / esta, aquele /
aquela, bondoso / bondosa etc. Em algumas línguas (banto, algenquim)
o verbo concorda em gênero com o substantivo. No semítico, o verbo é
flexionado também em gênero.
Gênero, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é a classifica-
ção dos substantivos em duas ou mais classes com propriedades grama-
ticais diferentes. Em muitas línguas do mundo, os substantivos se re-
partem em duas ou mais classes, que exigem formas gramaticais dife-
rentes no próprio substantivo e em determinadas palavras ligadas gra-
maticalmente a um ou mais substantivos em sentenças específicas. Por
exemplo, em matéria de gênero, o alemão tem três classes, que exigem formas diferentes para os determinantes e adjetivos associados ao subs-
tantivo. Assim, a mesa é der Tisch, a pena e die Feder, e o livro é das
Buch, em que der, die e das são diferentes formas do artigo definido;
uma velha mesa é ein alter Tisch, uma velha pena é eine alte Feder, e
um velho liro é ein altes Buch.
Numa língua dotada de gênero, o gênero precisa ter pelo menos du-
as classes, mas pode ter um número maior delas – oito, dez, possivel-
mente mais. Em algumas línguas dotadas de gênero podemos frequen-
temente adivinhar, com base na forma e um substantivo, a que gênero
ele pertence; em muitas outras, porém, não podemos fazer esse tipo de
previsão, porque a distribuição do gênero é arbitrária. Em alemão, por
exemplo, um nome que denota um indivíduo de sexo masculino ou um indivíduo de sexo feminino recai usualmente (não sempre) no gênero
der ou die, respectivamente, e os substantivos com uma determinada
desinência recaem habitualmente num gênero previsível. Isto posto, en-
tretanto, o gênero dos demais substantivos é imprevisível a partir da
forma. Em navaho, os substantivos que denotam seres humanos são,
habitualmente, de um primeiro gênero, os substantivos que denotam
coisas redondas são de um segundo, os que denotam coisas longas e
duras são de um terceiro gênero, e assim sucessivamente, mas não é
possível adivinhar dessa maneira o gênero de todos os substantivos.
É importante perceber que o gênero gramatical pode não ter nada a
ver com sexo. Em alemão, como em outras línguas europeias, há uma relação perceptível, mas imperfeita, entre o sexo e a atribuição do gêne-
ro; contudo, a maioria dos substantivos denota coisas que não têm sexo,
e ainda assim é preciso atribuir-lhes um gênero.
José Pereira da Silva
2697
É digno de nota que o inglês não tem gênero. Essas línguas possu-
em alguns pronomes que dão indicação de sexo, como he e she (ele e
ela) e alguns poucos nomes marcados para sexo, como duke e duckess (duque e duquesa), mas o inglês não apresenta gênero gramatical.
Os sociolinguistas, entre outros, usam frequentemente o termo gê-
nero de um modo muito diferente, significando aproximadamente o se-
xo biológico da pessoa, encarado especialmente do ponto de vista do
papel social que lhe á associado. Esse uso precisa ser cuidadosamente
distinguido do uso estritamente gramatical do termo. Uma jovem se-
nhora na Alemanha pertence ao gênero feminino (neste segundo senti-
do), mas o substantivo Fräulein (senhorita), é gramaticalmente neutro.
Os não linguistas frequentemente vão além e usam gênero para signifi-
car papel social marcado com referência ao sexo, independentemente
da biologia. Nesse uso, um indivíduo biologicamente masculino, mas que se vista e viva como uma mulher, pertence ao gênero feminino.
Sugerimos como leituras complementares: Gender, de Greville
Corbett; páginas 78 a 81 de Grammar: a student’s Guide, de James R.
Hurford; e páginas 40 a 44 de Language: The Basics, de Robert
Lawrence Trask.
Veja: Categoria gramatical.
Também se chama gênero, segundo Robert Lawrence Trask (2015,
s.v.), uma variedade de texto historicamente estável, dotada de traços
distintivos evidentes. O conceito de gênero é comum, pelo menos, a
linguística, à antropologia e à crítica literária. Seu estudo está bastante
institucionalizado, mas é motivo de controvérsias, e figuras tão díspares
como o linguista russo Roman Jakobson (1896-1982) ou o crítico lite-rário marxista Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) responderam
por contribuições importantes nesse campo.
O fato fundamental a respeito de um dado gênero é que ele tem al-
guns traços distintivos, prontamente identificáveis, que o opõem mar-
cadamente a outros gêneros, e que esses traços permanecem estáveis
por um período de tempo considerável. Na maioria dos casos, um gêne-
ro particular também ocupa um lugar bem definido na cultura do povo
que o utiliza.
Entre os gêneros conhecidos da maioria de nós estão a poesia lírica,
a liturgia religiosa, os documentos legais, os provérbios, os contos de
fadas, os trabalhos escolares e o noticiário dos jornais. Outras socieda-des podem apresentar mais tipos, tais como os cantos de doença e cura
dos xamãs maias ou os poemas épicos orais dos sérvios e dos antigos
bardos gregos. Com frequência, dominar um certo gênero é encarado
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2698
como uma exigência para uma determinada profissão: é o que acontece
com os advogados, os contadores de histórias, os professores universi-
tários, os xamãs, os cientistas e os médicos, entre outros. É próprio de cada gênero que a forma exterior da expressão seja de
vital importância, pelo menos tão importante quanto o conteúdo; em
alguns casos, a forma pode ser realmente mais importante do que o
conteúdo, a exemplo de muitos tipos de poesia, como as villanelles
francesas ou o haikai japonês. Em muitas comunidades, os gêneros mu-
sicais e de poesia são caracterizados por traços como o uso de palavras
totalmente diferentes das do dia a dia, ou a exigência de não repetir ne-
nhuma palavra. Mas mesmo um artigo científico está sujeito a regras de
forma rígida: a ordem de apresentação precisa ser: panorama / metodo-
logia / resultados / interpretação / conclusões; o artigo precisa ser es-
crito em terceira pessoa impessoal; e todos os erros, acidentes e prazos que se acumularam durante o trabalho precisam ser silenciados e omiti-
dos. Um químico que tivesse a ideia de dizer em seu artigo “Nesse
momento eu deixei cair a proveta no chão e tive que começar tudo de
novo” não teria seu trabalho aceito para publicação.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gênero vem sendo
empregado progressivamente em substituição ao termo sexo, para des-
tacar os aspectos culturais, psicológicos, ideológicos e socialmente
construídos e, assim, diferenciá-los dos componentes meramente bioló-
gicos. O gênero é um argumento social ou um aspecto da identidade
social e tem atraído cada vez mais interesse na sociolinguística e em
áreas correlatas (antropologia linguística, psicologia social etc.). O
termo sexo aparece em estudos iniciais (da década de 1960 e 1970), mas, a partir dos anos 1980, tem se preferido gênero, o que reflete uma
distinção comum feita nas ciências sociais entre “sexo” como atributo
biológico e “gênero” como atributo sociológico. O sexo/gênero aparece
em diversos estudos variacionistas como uma variável social na análise
da variação e da mudança, como se pode ver no verbete Fala feminina.
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), dos mais complexos da no-
menclatura literária, o problema dos gêneros remonta à Antiguidade
greco-latina e, apesar do descrédito de uns e do ataque de outros, per-
manece vivo até os nossos dias. Os primeiros esboços de um pensa-
mento acerca do que mais tarde receberia o rótulo de “gênero” se en-
contra em As Rãs, de Aristóteles (século V-IV a.C.), representada em 405 a.C. Entretanto, a mais recuada notícia de uma consciência do pro-
blema se localiza na República (III, 394), de Platão, para quem haveria
três modalidades de imitação ou mimese: 1) a tragédia e a comédia,
José Pereira da Silva
2699
vale dizer, o teatro; 2) a poesia épica e criações afins. Ainda não era,
porém, a divisão tripartite dos gêneros, que parece oriunda do movi-
mento romântico. Com Aristóteles (384-322 a.C.), presenciamos a primeira tentativa
de uma sistematização das “formas” literárias: como, todavia, a sua
Poética ficasse incompleta, apenas temos uma ideia aproximada do que
seria a sua concepção de gênero. Refere a epopeia, a tragédia, a comé-
dia, a ditirambo, aulética e a citarística, mas se demora tão-somente nas
três primeiras, sobretudo a tragédia.
“Não parece que na Antiguidade, depois de Aristóteles, a doutrina
dos gêneros poéticos recebeu amplo e rico desenvolvimento” (CROCE,
1950, p. 491). No entanto, o problema aflora aqui e ali, de modo frag-
mentário, como no Tradado Coisliniano, de inspiração aristotélica, es-
crito por um grego anônimo do século I, ou as obras perdidas de Teo-frasto, cuja matéria se infere de menções helênicas ou latinas posterio-
res, ou a Geografia, de Estrabão (século I a.C.-I d.C.), em que, “a pro-
pósito de estilo, se estende na distinção entre gênero e espécie” (GA-
RASA, 1971, p. 87).
A pobreza doutrinária em assuntos literários no curso da Idade Mé-
dia se compensou com a criação de variedades formais novas: na poe-
sia lírica, “as formas estróficas tão sábias, tão musicais e tão puras; o
verso silábico em todos os metros e cortes, o emprego generalizado da
rima, sem mesmo excluir a alternância; o romance em prosa [ou nove-
la], e o teatro moderno” (COHEN, 1940, p. 132).
Tais inovações permitem acreditar que os escritores medievais,
“malgrado a ausência de textos teóricos, tiveram a consciência de cer-tos modelos aos quais se esforçavam por se assemelhar – o que repre-
sente a própria noção de gênero” (Albert Pauphilet (1884-1948), em
comentário às ideias de Gustave Cohen, idem, p. 134).
Com o Renascimento e o seu afã de restaurar o espírito greco-
latino, os teóricos antigos, sobretudo Aristóteles e Horácio, voltaram à
baila. Tomando-lhes as ideias como verdadeiros dogmas, o papel dos
humanistas se restringiu, geralmente, ao comentário e glosa dos textos
clássicos, aos quais acrescentavam o resultado de suas meditações. As-
sim, aos gêneros e subgêneros ali mencionados ou herdados da Idade
Média somaram-se outros então descobertos. Não raro, o entusiasmo
posto na aceitação das regras e leis dos antigos resultou em tomarem ao pé da letra ou levarem ao extremo os postulados estéticos que defendi-
am.
Seja como for, a partir da Renascença, a questão dos gêneros entra a
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2700
ser corriqueira, como se observa em Da Composição de Comédias e
Tragédias (1943), de Giovanni Battista Giraldi (1504-1573); Poética
(1529-1563), de Gian Giorgio Trissino dal Vello d'Oro (1478-1550); Art Poétique (1555) de Jean Pelletier (1935-2009); De Poeta (1559) e
L’Arte Poetica (1564), de Antonio Sebastiano Minturno (1500-1574);
Poética (1561), de Júlio César Escalígero (1484-1558); Poètica
d’Aristotele Vulgarizzata et Sposta (1570), de Lodovico Castelvetro
(1505-1571).
As mais das vezes, entendiam os gêneros como fórmulas fixas, sus-
tentadas por doutrinas e regras inflexíveis, às quais os criadores de arte
deveriam obedecer cegamente. Entretanto, deve-se às teorias poéticas
italianas a inclusão da lírica como o terceiro gênero, ao lado da épica e
do teatro; e a Agnolo Segni (1522-1577), com o seu Regionamento So-
pra le Cose Pertinenti alla Poetica (1581), o havê-los colocado em pé de igualdade. Por outro lado, os tratadistas italianos dedicam atenção
pela primeira vez a uma modalidade nova, o romanzo, poema épico de
cunho cavaleiresco, como fizeram Giovan Battista Giraldi Cinzio
(1504-1573), no seu Discorso Intorno al Comporre dei Romanzi
(1554), Giovan Battista Pigna (pseudônimo di Giovan Battista Nico-
lucci, 1529-1575), com I Romanzi (1554) e Torquato Tasso (1544-
1595), com Discorso dell’Arte Poetica (1587).
Além da estratificação dos gêneros, os neoclássicos conceberam
uma hierarquia hedonista de valor, ora colocando a tragédia (segundo o
pensamento aristotélico), ora a epopeia (como alguns entraram a consi-
derar) no vértice da pirâmide classificatória. Por fim, graças ao seu ra-
cionalismo e absolutismo, admitiam que os gêneros eram não só pree-xistentes como estanques e puros. Nem sempre, contudo, foram coeren-
tes: “se recorrermos à crítica neoclássica para definir o gênero ou esta-
belecer um método com que distinguir um gênero do outro, encontra-
mos pouco consequência ou inclusive minguada consciência da neces-
sidade de fundamento racional” (WELLEK & WARREN, 1976, p.
229).
Porventura em razão de tais contrassensos, desde as primeiras horas
os neoclássicos provocaram animosidade e recusa: Giordano Bruno
(1548-1600), no diálogo Eroici Furore (1585), e Giovanni Vincenzo
Gravina (1664-1718), no Discorso sull’Endimione del Guidi (1692), re-
futaram energicamente a procedência dos gêneros. Todavia, os postula-dos racionalistas e rígidos permanecem até o fim do século XVIII. Em
1674, Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) concentra, na Arte Poé-
tica, todo o saber neoclássico a respeito dos gêneros. Espécie de vitória
José Pereira da Silva
2701
do culto das regras, o tratado de Nicolas Boileau-Despréaux somente
adia por algum tempo o momento de crise, que deflagra em 1693,
quando estoura a Querelle des Anciens et des Modernes, na qual os “antigos” sofrem profundo abalo, que denuncia o colapso da preceptiva
clássica, e, por consequência, dos gêneros puros ou genres tranchés.
Com o Romantismo, a situação se define: a noção clássica de gêne-
ros é substituída por outra que considera os gêneros “impuros”, mistos
ou intercomunicantes. À ordem clássica sucede a liberdade, ao absolu-
tismo, o relativismo; ao caráter normativo da teoria dos gêneros segue-
se uma teoria “manifestamente descritiva. Não limita o número de pos-
síveis gêneros nem dita regra aos autores. Supõe que os gêneros tradi-
cionais podem ‘mesclar-se’ e produzir um novo gênero (como a tragi-
comédia)”, resultante da fusão entre a comédia e a tragédia (WELLEK
& WARREN, 1976, p. 234-235). A libertação da preceptiva clássica não significou que o problema
dos gêneros mergulhava em completo esquecimento, mas que adquiria
novo colorido e relevância, como se nota pela Estética (1832-1843), de
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), talvez a mais ambiciosa
tentativa de investigar as questões fundamentais suscitadas pelo fenô-
meno estético. A concepção platonizante de Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831) seria logo posta em cheque com o avanço das ciên-
cias da natureza na segunda metade do século XIX. Até que, com Fer-
dinand Vincent-de-Paul Marie Brunetière (L’Évolution des Genres
dans l’Histoire Littéraire, 1890), os gêneros passam a ser estudados à
luz das teorias evolucionistas preconizadas, sobretudo por Herbert
Spencer (1820-1903 – Principles of Biology, 1864-1867; Principles of Psichology, 1870-1872): considera-se que os gêneros, como autênticos
seres vivos, nascem, crescem e morrem, sujeitos às mesmas leis da evo-
lução que regem a existência de todo ser biológico.
O apoio das ciências na questão dos gêneros, denotando uma espé-
cie de ressurreição do passado clássico, provocou a imediata repulsa de
Benedetto Croce (1866-1952), num estudo acerca de La critica Lettera-
ria. Questioni Teoriche (1894), mais tarde recolhido em Primi Saggi
(1918), a que se seguiu a Estetica come Scienza dell’Espressione e Lin-
guistica Generale (1902), o Breviario d’Estetica (1912) e La Poesia
(1936). Acusando os gêneros de serem classificações mais ou menos
arbitrárias dos velhos tratadistas, não só lhes nega validez e existência real como julga que cada obra de arte deve ser encarada isoladamente:
“visto que cada obra de arte exprime um estado de espírito, e o estado
de espírito é individual e sempre novo, a intuição implica infinitas in-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2702
tuições, o que é impossível reduzir a um quadro de gêneros, a não ser
que também ele seja composto de infinitos quadrículos e, assim, não
mais de gêneros, mas de intuições”; em suma: “entre o universal e o particular não se interpõe filosoficamente nenhum elemento intermé-
dio, nenhuma série de gêneros ou de espécies, de generalia” (CROCE,
1954, p. 56 e 57).
Embora assista ao pensador italiano alguma razão, o seu furor ico-
noclasta somente se justifica como antagonismo e antídoto ao exagero
dos que antes se demoraram no exame dos gêneros.
Por outro lado, repondo a velha questão em debate, o III Congresso
Internacional de História Literária, reunido em Lyon (França), nos me-
ses de maio-junho de 1939, evidenciou que o problema não só continu-
ava aberto, como também merecia toda a consideração dos estudiosos.
De lá para cá, e mesmo antes, não poucos se debruçaram sobre os gêne-ros, como Giovanni Gentile (1875-1944 – Filosofia dell’Arte, 1931),
Emil Staiger (1908-1987 – Conceitos Fundamentais de Poética, 1946),
Guido Calogero (1904-1986 – Estetica, Semantica, Istoria, 1947), Lu-
ciano Anceschi (1911-1995 – Progetto di una Sistematica dell’Arte,
1961), Herman Northrop Frye (1912-1991 – Anatomy of Criticism,
1965), Mario Fubini (1900-1977 – Critica e Poesia, 1966), além de
tantos outros, como se pode ver na bibliografia que acompanha esta
obra. Entre nós, cumpre assinalar Fidelino de Sousa de Figueiredo
(1888-1967 – Aristarcos, 2ª ed. em 1941; Últimas Aventuras, 1941) e
Antônio Augusto Soares Amora (1917-1999 – Teoria da Literatura,
1944).
Ao longo de todas as vicissitudes históricas e ideológicas por que passou o problema dos gêneros, dois aspectos foram progressivamente
ganhando relevo: primeiro, é forçoso distinguir a concepção clássica da
concepção moderna sempre que o problema está em causa; segundo,
frequentemente os gêneros se convertem numa simples questão de lin-
guagem, mascarando divergências de ordem filosófica e estética.
Tanto que a alguns membros do referido congresso de Lyon, bem
como a Albert Thibaudet e a Fidelino de Sousa de Figueiredo, pareceu
que, em última análise, a polêmica a respeito dos gêneros apenas pro-
longa o remoto problema dos “universais” ou das ideais platônicas,
“problema que todos os filósofos não fazem senão reavivar. E da mes-
ma forma que não é crítico quem não se coloca sobre o problema dos gêneros, não é filosófico que não se coloca sobre os problemas das
ideias” (THIBAUDET, 1948, p. 162).
Desse prisma, a questão dos gêneros comportaria duas alternativas
José Pereira da Silva
2703
de interpretação: 1) realista, pressupõe que os gêneros, à semelhança
das ideias platônicas, constituem realidade única, perene e preexistente;
2) nominalista, encara as ideias, e os gêneros, coo simples denomina-ções da verdadeira realidade, as obras literárias. Esta dualidade e reflete
claramente nas indagações com que Władysław Folkierski (1890-1961)
encerrou a sessão de abertura do referido congresso de Lyon: “os gêne-
ros literários são preexistentes às obras ou, ao contrário, abstrações ex-
traídas de algumas obras-primas mais geralmente imitadas? Se não são
preexistentes, terão todavia influência direta nas obras, nos autores, na
crítica? Constituem um código suscetível de constranger a liberdade do
escritor?” (FOLKIERSKI, 1940, p. 117).
Uma tentativa de resposta, ainda que sem oferecer resultados defini-
tivos, deve começar pela análise do conceito de gênero. Na verdade, aí
reside o primeiro núcleo de discórdia, uma vez que o termo “gênero” não é empregado de forma unívoca: não raro, serve para designar cate-
gorias literárias situadas em diversos níveis, como a prosa, a poesia, a
poesia lírica, a épica, a novela, a novela picaresca, o soneto, a ode, o
epigrama etc.
O exame do sentido etimológico do vocábulo “gênero” nos permite
equacionar devidamente o problema “família”, “raça”, “linhagem”,
“espécie”. Com efeito, se nos propuséssemos a colecionar as caracterís-
ticas das obras literárias uma a uma, acabaríamos fatalmente por encon-
trar um denominador comum: a semelhança ou a identidade que sugere
um parentesco “natural”. A essa comunidade se dá o nome de “gêne-
ro”. Note-se, porém, que se trata da recorrência de características ge-
rais. O “gênero” designaria os aspectos primários, amplos e reiterativos
de uma série de obras. Na esteira da história natural, o gênero se divide
em “espécies”: a reunião de obras que apresentam características se-
cundárias comuns. E as “espécies” se desmembrariam em “formas”:
moldes em que se concretizam.
Os gêneros são, ao mesmo tempo, imanentes e transcendentes às
obras: a classificação empírica revela semelhança entre as obras, diga-
mos semelhança espontânea e natural, denominada “gênero”. Realizada
a abstração, tem-se a ideia e que a comunhão entre as obras igualmente
as transcende, não no sentido de um a priori, de um ab aeterno, mas no
de uma unidade formal ou estrutural que preside a todas as manifesta-ções parcelares.
Segue-se que, após inferir dos textos a unidade que os aproxima e
os aparenta, podemos tratar o problema dos gêneros como teoria. Da
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2704
perspectiva teórica, nenhuma obra é capaz de representar exemplar-
mente um gênero, espécie ou forma: nenhuma narrativa pode ser para-
digma do conto, da novela ou do romance; o paradigma é, por definição da ordem da teoria, do conceito, da abstração.
Outra questão diz respeito à preexistência ou não dos gêneros. An-
tes de mais nada, é preciso levar em conta que os gêneros existem, mas
como “uma ‘instituição’, como é a Igreja, a Universidade ou o Estado.
Não existem como existe um animal, ou como um edifício ou uma ca-
pela, uma biblioteca ou um Capitólio, mas como existe uma institui-
ção” (WELLEK & WARREN, 1976, p. 226). Por outro lado, “a forma-
ção dos gêneros é obra coletiva, que se efetua por etapas sucessivas”
(KOHLER, 1940, p. 140).
Por conseguinte, o problema somente se coloca a partir de certo
momento histórico. Antes disso, os gêneros nasceriam por sugestão na-tural, fruto de adequação do indivíduo ao ritmo das estações, o fluxo e
o refluxo das marés etc. E também da sua condição humana, pois “pa-
rece (...) limitada a escala das emoções humanas e da variedade de suas
expressões, do tom e dos meios de arte dessas expressões” (FIGUEI-
REDO, 1941, p. 221).
Na verdade, “os conceitos de lírico, de épico e de dramático são
termos da ciência literária para representar com eles possibilidades
fundamentais da existência humana em geral, e há uma lírica, uma épi-
ca e uma dramática porque as esferas do emocional, do intuitivo e do
lógico constituem a própria essência do homem, igual em sua unidade e
em sua sucessão, tal como aparecem refletidas na infância, juventude e
maturidade” (STAIGER, 1966, p. 213). Ademais, a reiteração dum modo expressivo e duma correspondente
visão do mundo obedece à tendência inata do ser humano para a ordem
e para a regra, na direção das quais parece movido por uma necessida-
de psicológica. Em consequência, determinadas características se tor-
nam constantes, enquanto outras permanecem como variáveis. As pri-
meiras é que constituem os gêneros.
Ao mesmo tempo, o pendor do homem para classificar, por analo-
gia ou por semelhança, os objetos e os seres o induziria a se dar conta
da existência de moldes repetidos no terreno da criação literária. A arte
é uma construção em que está implícita uma estrutura, qual um edifício
que só se define como tal quando a arrumação de vigas, estacas, tijolos etc. resulta num corpo harmonioso e coeso.
O gênero, como recorrência de um molde e de uma cosmovisão, se-
ria resultado do esforço de expressão dum conteúdo: ao exprimi-lo, o
José Pereira da Silva
2705
artista em lhe empresta forma, ou antes, descobre a sua estrutura pró-
pria, enquadra-o num molde que, à custa de repetido, se converte no
gênero. Daí que o processo de nascimento e desenvolvimento dos gêneros
seja simultaneamente indutivo e dedutivo: ao princípio, os gêneros
existem sem que alguém tenha consciência disso. Por indução, a sua
existência passa a ser atestada, analisada e codificada. A seguir, tem-se
a dedução: posta a categoria “gênero” em face de novas obras produzi-
das, pode-se verificar em que medida seguem ou negam o esquema
classificatório, agora e só agora preexistente.
Portanto, o processo criador dos gêneros percorre três etapas: 1) an-
tes da tomada de consciência, os gêneros existem de fato; 2) por indu-
ção, toma-se consciência da sua existência; 3) por dedução, os gêneros
são classificados e passam a ser preexistentes aos escritores. Em suma, os gêneros preexistem desde que a sua existência entrou
em circulação. Todavia, a preexistência não pressupõe nem determi-
nismo nem autoritarismo: sem obrigar a qualquer sujeição, adverte que
o escritor tem atrás de si uma tradição, da qual pode e deve partir para
conformá-la ou modificá-la, mas sem pensar em criar gêneros novos.
É que “o gênio não perde o seu tempo criando gêneros, mas se es-
força sobretudo em exprimir a sua personalidade no quadro dos gêneros
que existem e que lhe são dados de antemão” (COHEN, 1940, p. 145),
e “tira partido das regras e emprega utilmente os gêneros consagrados a
fim de se exprimir com arte perfeita, com uma intensidade até certo
ponto desconhecida” (KOHLER, 1940, p. 140).
Eis por que, os gêneros não são leis nem regras fixas, mas categori-as relativas dentro das quais cada escritor se move à vontade: elas é que
estão a serviço dele, não ele a serviço delas. Ao contrário de espartilhos
sufocantes, são estruturas que a experiência histórica ensina serem bá-
sicas para a expressão do pensamento e de certas maneiras de encarar a
realidade circundante. Desenham dupla função, a de orientar e a de
simplificar: cada escritor encontra à sua disposição recursos expressi-
vos que lhe facilitam a tarefa da comunicação.
Por outras palavras, os gêneros constituem uma ponte de ligação,
“plataformas de encontro do escritor com seu público” (FIGUEIREDO,
1941, p. 223), “uma soma de artifícios estéticos à disposição do escritor
e já inteligíveis para o leitor”, uma espécie de código, de linguagem ci-frada entre ambos. Daí que “o bom escritor se acomoda em parte ao
gênero tal como é, e em parte o distende”.
Compreende-se, assim, que “raramente os grandes escritores – Sha-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2706
kespeare, Racine, Molière, Johnson, Dickens e Dostoievski – são in-
ventores de gêneros, mas entram pelas trilhas abertas pela faina e ou-
tros homens” (WELLEK & WARREN, 1976, p. 235). Na verdade, ca-da escritor repete o processo de indução e dedução que norteia os gêne-
ros: se tivesse de procurar um meio adequado à comunicação com o lei-
tor, acabaria fatalmente encontrando os gêneros que a tradição lhe dei-
xou.
A dificuldade básica do escritor reside, pois, na escolha de um gê-
nero, espécie ou forma apropriada ao que pretende transmitir, visto que
cada uma dessas categorias serve a fins específicos. Por exemplo, o
conto se presta a algo diverso do soneto. Improfícuo, para não dizer
manifestação de inabilidade ou falta e talento, seria que um escritor op-
tasse por um soneto a fim de expressar o conteúdo próprio do conto, ou
vice-versa. E no momento em que pratica a opção correta, não está en-carcerado, mas livre dentro dela, pois o fato de contar previamente com
um equipamento de estruturas não lhe resolve o problema da criação
nem lhe rouba autenticidade. E mesmo quando acerte com o modelo
expressivo, nem por isso se torna escritor de gênio, uma vez que apenas
cumpriu a imposição elementar do trabalho criativo; se o molde se
adapta perfeitamente ao conteúdo, resta ver a altura e originalidade des-
te, e o modo como o escritor se utiliza daquele.
De onde falhar o escritor que faz da escolha do molde um mero
exercício mecânico, ou o emprega com vistas a dispor um conteúdo já
expresso em forma diversa, como procedeu Eça de queirós em A Cida-
de e as Serras, mera ampliação do conto Civilização, ou acaba falsean-
do o conteúdo de uma obra a tentativa e exprimi-la noutros moldes, por meio da paráfrase, da versificação ou da prosificação, exceto por moti-
vos satíricos ou cômicos.
Analogamente, o leitor e o crítico devem estar aptos a julgar o em-
prego correto dos gêneros, pois o seu conhecimento insuficiente “pode
levar-nos por vezes a dúvidas acerca da estrutura de certo poema, ou
acerca da significação de certos pormenores. Pode igualmente levar-
nos a falsas expectativas ou a formular perguntas insensatas. Poucos de
nós deverão objetar quando a raposa ou o corvo das fábulas de La Fon-
taine fala dum modo integralmente humano, desde que saibamos que
este gênero não pretende dar-nos uma imagem realista das personagens
animais” (DANZIGER & JOHNSON, 1961, p. 90). Daí ser forçoso admitir que a noção de gênero não tem caráter nor-
mativo, mas instrumental e operatório: constitui ponto de partida e não
de chegada de qualquer tratamento o texto literário, seja analítico, in-
José Pereira da Silva
2707
terpretativo, histórico, seja crítico.
Decerto, os gêneros, espécies e formas evoluem no curso do tempo,
mas não no sentido determinista em voga nos fins do século XIX: o romance do século XIX não é o mesmo que o dos nossos dias; contudo,
para ainda merecer o apelativo de romance, deve apresentar caracterís-
ticas comuns. Em contrapartida, os vocábulos empregados para desig-
nar subespécies ou formas literárias podem assumir conotação diversa
no curso do tempo, como é o caso de “tragédia”, que começou denomi-
nando qualquer encenação em homenagem a Baco e acabou por crista-
lizar-se no sentido que possui hoje. E certas formas podem sair de cir-
culação, como o triolé, o pantum, o canto-real, o vilancete, a epopeia
etc.
Resta considerar a classificação dos gêneros. Desde o século XVIII,
a maioria dos estudiosos tem preconizado uma divisão tripartite: a líri-ca, a épica e a (arte) dramática. Definida juntamente com o ideário ro-
mântico, tal segmentação ganhou ares de notória e indiscutível, como
bem exprime o depoimento de Wolfgang Kayser: “a tridivisão (lírico,
épico, dramático) é hoje, por certo, pertença geral da maneira de pensar
científica”, “e parece ser tão segura e adequada que, sempre de novo, se
fizeram tentativas para a entender como logicamente necessária. Georg
Wilhelm Friedrich Hegel e Friedrich Theodor Vischer derivaram-na,
como tese, antítese e síntese, da relação sujeito-objeto (subjetivo: lírica;
objetivo: épica; subjetivo/objetivo: dramático)” (KAYSER, 1958, vol.
II, p. 216).
Não obstante de emprego universal, esta classificação mostra pon-
tos vulneráveis que a invalidam. Iniciemos pela arte dramática ou tea-tro: é sabido que o teatro é uma das artes do espetáculo (ballet, ópera,
circo) e, por isso, se cumpre sobre o palco. Quanto ao seu texto, apesar
de enquadrável no âmbito literário, ainda não é teatro. Neste caso, ca-
beria excluir o texto dramático da ordenação dos gêneros ou incluí-lo
num dos gêneros. Ou, finalmente, situá-lo no capítulo das manifesta-
ções híbridas, que ainda abrangeria o ensaio, a cônica, a oratória, o jor-
nalismo, o poema didático, a historiografia.
Em segundo lugar: pela divisão em causa, a prosa de ficção (o con-
to, a novela e o romance) participa da épica. Ora, não parece pertinente
colocar no mesmo escaninho obras tão díspares como Os Lusíadas e
Judas, o Obscuro, ou Jerusalém Libertada e O Estrangeiro, ou Odis-seia e Bola de Sebo, ou Paraíso Perdido e D. Quixote. Mais ainda: se
considerarmos que o ciclo histórico das epopeias terminou no século
XVIII, acabaremos por inferir, erroneamente, que nos últimos duzentos
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2708
anos não tem havido obras épicas.
Na realidade, a poesia épica continua a ser cultivada, embora dentro
de novos moldes. E o aparecimento do romance, acompanhado da gra-dativa intelectualização do conto e a persistência da novela, sugerem
muito mais do que uma extensão da épica. Convém não esquecer que o
romance, surgido no século XVIII, herdou o aspecto narrativo das epo-
peias, enquanto o seu componente épico foi assimilado pela poesia.
Diante disso, não parece haver outra alternativa senão concluir pela
existência de apenas dois gêneros e não três: a poesia (correspondente à
lírica e à épica da tripartição convencional) e a prosa, – entendidas não
na sua aparência formal, ma no modo como divisam a realidade, se-
gundo a qual a poesia seria a expressão do “eu” e a prosa, do “não eu”.
A poesia, por sua vez, apresenta duas espécies (o lírico e o épico) e
uma série de formas (o soneto, a ode, a balada, a canção etc.). A prosa não se fragmenta em espécies, mas em três formas: o conto, a
novela e o romance.
Sugere-se como leitura complementar: o capítulo 18 de Anthropo-
logical Linguistics: An Introduction, de William A. Foley; Analysing
Genre, Language Use in Professional Settings, de Vijay K. Bhatia; as
páginas 1976-1981 de The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten
Malmkjaer; Los géneros literarios: sistema e historia, de Antonio Gar-
cía Berrio e Javier Huerta Calvo (1995); o artigo “L’origine médiévale
des genres littéraires modernes”, de Gustave Cohen (1940); The resou-
rces of Kind: Genre Theory in the Renaissance, de Rosalie Littell Colie
(1973); Les genres littéraires, de Dominique Combe (1992); The The-
ory of Literary Kinds: I. Ancient Classifications of Literature (1943) e The Theory of Literary Kinds: II. The Ancient Classes of Poetry (1949),
de James Jim Donohue; Genre, de Heather Dubrow (1982); o artigo
“The Novel as Genre”, de Gustavo Pérez Firmat (1979); Kinds of Lite-
rature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, de Alastair
Fowler (1982); Genres, “types”, Modes (1977) e Introduction à
l’architexte, de Gérrard Genette; Literaure as System, de Claudio Gui-
llén (1967); A lógica da criação literária, de Käte Hamburger (1975);
HELICON: Révue Internationale des Problèmes Généraux de la Litté-
rature, (1940); . Beyond Genre, de Paul Hernadi (1972); Validy in In-
terpretation, de Eric Donald Hirsch (1967); o artigo “Les genres littéra-
ires”, de Jean Molino (1993); Poetics, vol. 10, n. 2/3 (número especial, dedicado aos gêneros), 1981; Poétique, n. 32 (número especial, dedica-
do aos gêneros), 1977; o artigo “Pandora’s Box Revisited”, de David
H. Richter (19740; o artigo “Toward a Competence Theory of Genre”,
José Pereira da Silva
2709
de Marie-Laure Ryan (1979); Géneros literarios, de Kurt Spang
(2000); Os gêneros literários, de Yves Stalloni (2001); Théorie des
Genres, de vários autores (1986); Théorie des genres littéraires, de Abbé Claude-Marie Vincent (1948); o artigo “Expressionism: Style or
Weltanschauung?”, de Ulrich Weisstein (1973); Discriminations:
Further Concepts of Criticism, de René Wellek (1971).
Veja os verbetes: Adjetivo, Categorização, Concordância nominal,
Desinência nominal, Epiceno, Fala feminina, Feminino, Flexão, Mas-
culino, Nome, Número, Palavra, Pessoa, Pronome, Substantivo e Tex-
to.
Gênero ambíguo
Gênero ambíguo é o que serve indiferentemente para masculino e
feminino. Exemplos: um ou uma juriti, um ou uma tapa etc. Nada tem
com o comum-de-dois, embora, em certos casos, seja possível aprovei-tar a ambiguidade como elemento diferenciador. Assim, um juriti ou
uma juriti (qualquer dos dois para o macho e para a fêmea), mas é pos-
sível pretendamos um juriti (para o macho) e uma juriti (para a fêmea).
Em alguns exemplos, o gênero se amolda ou a um nome oculto com o
qual se relaciona o substantivo considerado, ou à terminação desse
substantivo: uma linotipo (máquina) ou um linotipo (terminação o do
nome), um vemaguete (automóvel) ou uma vemaguete (terminação ete,
de feminino) (JOTA, 1981, s.v.).
Gênero animado
Gênero animado é o gênero atribuído aos seres viventes, em oposi-
ção ao gênero inanimado, dos seres inertes. A distinção ainda se obser-
va em algumas línguas da África e da Índia. Em russo, como em vasco, ainda se observam algumas diferenças nas declinações de masculinos e
femininos, conforme sejam animados ou inanimados (JOTA, 1981,
s.v.).
Gênero de discurso
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), a noção de gênero remonta à Antiguidade. Volta-se a encontrá-la
na tradição da crítica literária que assim classifica as produções escritas
segundo certas características; no uso corrente, no qual ela é um meio
para o indivíduo se localizar no conjunto das produções textuais; final-
mente, mas ainda submetida a debates, nas análises de discurso e análi-
ses textuais. Na Antiguidade coexistiram dois tipos de atividade discursiva. Um,
que nasceu na Grécia pré-arcaica, era o fazer dos poetas. Esses eram
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2710
encarregados de representar o papel intermediário entre os deuses e os
humanos, de um lado celebrando os heróis, de outro, interpretando os
enigmas que os deuses enviavam aos humanos. Assim, foram codifica-dos certos gêneros tais como o épico, o lírico, o dramático, o epidítico
etc. O outro teve nascimento na Grécia clássica e seu desenvolvimento,
na Roma de Cícero; apareceu como resposta às necessidades de gerir a
vida da cidade e os conflitos comerciais, fazendo da fala pública um
instrumento de deliberação e de persuasão jurídica e política.
Na tradição literária, presume-se que os gêneros podem permitir a
seleção e a classificação dos diferentes textos literários que pertencem à
prosa ou à poesia. Mas isso se deu ao longo dessa tradição literária se-
gundo critérios que não são todos da mesma natureza:
a) Critérios ao mesmo tempo de composição, de forma e de conteú-
do que distinguem os gêneros: poesia, teatro, romance, ensaio. Depois, no interior desses, o soneto, a ode, a balada, o madrigal, a estância etc.
para a poesia; o épico, o elegíaco etc. para a narrativa; a tragédia, o
drama, a comédia etc. para o teatro.
b) Critérios que remetem a diferentes modos de conceber a repre-
sentação da realidade, definidos por meio de textos ou manifestos, ten-
do por função fundar escolas, e que corresponderam a períodos históri-
cos – os gêneros: romântico, realista, naturalista, surrealista etc.
c) Critérios que remetem à estrutura dos textos e, particularmente, a
sua organização enunciativa: o fantástico, a autobiografia, o romance
histórico etc.
O problema apresentado por essas classificações é que um mesmo
tipo de texto pode acumular vários desses critérios de modo homogê-neo (a tragédia, no século XVII, sob forma teatral, com estrutura parti-
cular) ou heterogêneo (o fantástico que se encontra em diferentes épo-
cas, sob diferentes formas, em diferentes estruturas).
Em semiótica, análise do discurso e análise textual, encontra-se de
novo essa noção aplicada igualmente aos textos não literários. Mas aqui
coexistem, realmente opostas, diferentes definições que testemunham
cada posicionamento teórico ao qual elas se filiam. Ainda que seja difí-
cil classificar esses diferentes posicionamentos, distinguir-se-ão vários
pontos de vista.
a) Um ponto de vista funcional, desenvolvido por certos analistas,
que procuram estabelecer funções com base na atividade linguageira, a partir das quais as produções textuais podem ser classificadas segundo
o polo do ato de comunicação em direção ao qual elas são orientadas.
Assim, há classificações baseadas no esquema da comunicação, pro-
José Pereira da Silva
2711
postas por Roman Jakobson (1963): função emotiva, conativa, fática,
poética, referencial e metalinguística, ou, mas de maneira diferente,
porque mais sociologizadas, as funções propostas por Michael Alexan-der Kirkwood Halliday (1973): funções instrumental, interacional, pes-
soal, heurística, imaginativa, ideacional, interpessoal etc., ou por Gil-
lian Brown e George Yule (1983): funções transacional e interacional.
b) Um ponto de vista enunciativo, iniciado por Émile Benveniste
(1966) que, apoiando-se no “aparelho formal da enunciação” propôs
uma oposição entre discurso e história – frequentemente reformulada
em discurso versus narrativa. No prolongamento desse ponto de vista,
desenvolveram-se análises que tentam descrever os gêneros, conside-
rando as características formais dos textos e reunindo as marcas mais
recorrentes. Para Jean-Claude Beacco e Sophie Moirand, por exemplo,
trata-se de “colocar em evidência regularidades ou invariantes dos dis-cursos no nível de sua estruturação longitudinal (por exemplo: estrutura
do parágrafo) ou no nível de suas atualizações linguageiras (formas de
indicações metadiscursivas, formas de intertextualidade, formas de pre-
sença do enunciador e do ouvinte...)” (BEACCO & MOIRAND, 1995,
p. 47). Para Douglas Biber (1989), uma coleta estatística de traços gra-
maticais lhe permite construir uma tipologia dos discursos: interação
interpessoal interação informativa etc.
c) Um ponto de vista textual, mais voltado para a organização dos
textos, que procura definir a regularidade composicional desses textos,
propondo, por exemplo, como o fez Jean-Michel Adam, um nível in-
termediário entre a frase e o texto chamado sequencial que tem um va-
lor prototípico de narrativa, descrição, argumentação etc.: “As sequên-cias são unidades composicionais um pouco mais complexas do que
simples períodos com os quais elas se confundem algumas vezes”
(ADAM, 1999, p. 82). Vários autores falam a esse propósito de “gêne-
ros textuais”.
d) Um ponto de vista comunicacional, que confere a esse termo um
sentido amplo, ainda que com orientações diferentes. Para Mikhail Mi-
khailovich Bakhtin (1984, p. 267), por exemplo, os gêneros dependem
da “natureza comunicacional” da troca verbal, o que lhe permite distin-
guir duas grandes categorias de base: produções “naturais”, espontâ-
neas, pertencentes aos “gêneros primários” (aqueles da vida cotidiana),
e produções “construídas”, institucionalizadas, pertencentes aos “gêne-ros secundários” (aquelas produções elaboradas, literárias, científicas
etc.) que derivariam dos primários. Para Dominique Maingueneau e
Frédéric Cossutta, trata-se de selecionar e descrever “tipos de discurso
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2712
que aspiram a um papel [...] fundador e que nós chamamos constituin-
tes” (MAINGUENEAU & COSSUTTA, 1995, p. 112), cuja finalidade
simbólica é determinar os valores de um certo domínio de produção discursiva. “São constituintes, essencialmente, os discursos: religioso,
científico, filosófico, literário e jurídico” (idem, ibidem). Para Patrick
Charaudeau, que procura ancorar o discurso no social, mas em uma fi-
liação mais psicossociológica, trata-se de determinar os gêneros no
ponto de articulação entre “as coerções situacionais determinadas pelo
contrato global de comunicação”, “as coerções da organização discur-
siva” e “as características das formas textuais”, localizáveis pela recor-
rência das marcas formais (CHARAUDEAU, 2000b). Mas, para esse
autor, as características dos discursos dependem essencialmente de suas
condições situacionais de produção, nas quais são definidas as coerções
que determinam as características da organização discursiva e formal; os gêneros de discurso são “gêneros situacionais”.
A diversidade dos pontos de vista mostra a complexidade da ques-
tão dos gêneros, incluindo as denominações, já que alguns falam de
“gêneros de discurso”, outros de “gêneros de textos”, outros ainda de
“tipos de textos”: Jean-Michel Adam (1999) opõe “gêneros” e “tipos de
textos”; Jean-Paul Bronckart (1996) opõe “gêneros de textos e tipos de
discurso”; Dominique Maingueneau (1998), em relações de encaixa-
mento, "tipo de texto", “hipergênero” e “gênero de discurso”; Patrick
Charaudeau (2001) distingue “gêneros e subgêneros situacionais” e, no
interior desses, variantes de gêneros de discurso.
Vê-se que, para definir essa noção, ora se leva em conta, de modo
preferencial, a ancoragem social do discurso, ora sua natureza comuni-cacional, ora as regularidades composicionais dos textos, ora as carac-
terísticas formais dos textos produzidos. Pode-se pensar que esses dife-
rentes aspectos estão ligados, o que cria, aliás, afinidades em torno de
duas orientações principais: aquela que está mais voltada para os tex-
tos, justificando a denominação “gêneros de texto”, e a mais voltada
para as condições de produção do discurso, que justifica a denominação
“gêneros do discurso”.
Veja os verbetes: Constituinte (discurso –), Contrato de comunica-
ção, Matriz discursiva, Sequência e Tipologia dos discursos.
Gênero do adjetivo
Gênero do adjetivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o gênero que, pela desinência nominal e/ou concordância nominal com
o núcleo substantivo, indica o masculino ou o feminino do adjetivo.
Assim, em gato manhoso, gata manhosa, além da oposição -o para
José Pereira da Silva
2713
masculino e -a para feminino, o adjetivo manhoso concorda em gênero
masculino com o substantivo gato, e manhosa concorda em gênero fe-
minino com gata. Algumas vezes, a marca de gênero do adjetivo pode também ser efetuada pelo timbre da vogal. Manhoso – manhosa →
timbre fechado /o/, para o masculino, e timbre aberto /ɔ/, para o femi-
nino. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser:
a) uniforme, quando possui uma só forma para os dois gêneros, co-
mo o menino triste X a menina triste e o trabalho simples X a tarefa
simples. Neste caso, o que determina o gênero masculino ou feminino é
a palavra à qual se refere (o menino, a menina, o trabalho ou a tarefa).
b) biforme, quando possui uma forma para o masculino e outra para
o feminino, como o menino bom X a menina boa.
Veja: Adjetivo, Concordância nominal, Desinência nominal, Femi-
nino, Gênero, Grau, Língua portuguesa, Masculino, Núcleo, Palavra,
Sílaba átona, Substantivo, Timbre e Vogal.
Gênero do numeral
Gênero do numeral, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é
o gênero que, pela desinência nominal e/ou concordância nominal com
o núcleo substantivo, indica o masculino ou o feminino do numeral.
Exemplo: José comprou uma caneta, e Joana, dois lápis. Neste proces-
so, distinguem-se os numerais:
a) cardinais (apresentando mudança de gênero masculino e femini-
no somente com os numerais um, dois e os terminados em -entos. As-
sim: um X uma, dois X duas, duzentos X duzentas, trezentos X trezen-
tas, novecentos X novecentas). Quando os numerais um, dois, duzen-
tos..., novecentos vierem depois do núcleo substantivo, ficam invariá-veis. Exemplos: casa um, rua dois, página duzentos etc.
b) ordinais – variáveis, seguindo a regra dos nomes terminados em
-o no masculino. Exemplos: primeiro dia X primeira lição; vigésimo
trabalho X vigésima tentativa; milionésimo acidente X milionésima
vez.
c) multiplicativos – admitindo a desinência -a para o feminino em
oposição ao masculino em -o. Exemplos: duplo X dupla, quíntuplo X
quíntupla, nônuplo X nônupla, cêntuplo X cêntupla. Ficam invariáveis:
dobro, dúplice e tríplice.
d) fracionários – admitindo a desinência -a para o feminino em
oposição ao masculino em -o. Exemplos: meio X meia, terço X terça, quarto X quarta, décimo X décima, centésimo X centésima. Quanto ao
gênero, o numeral pode ser uniforme (com uma só forma para os dois
gêneros. Exemplos: dez meninos X dez meninas, cem carros X cem ca-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2714
sas) ou biforme (com uma forma para o masculino e outra para o femi-
nino. Exemplos: o primeiro menino X a primeira menina).
Veja: Concordância nominal, Desinência nominal, Feminino, Gê-
nero, Masculino, Nome, Núcleo, Numeral e Substantivo.
Gênero do pronome adjetivo
Gênero do pronome adjetivo, segundo Gilio Giacomozzi et al.
(2004, s.v.), é o gênero que, pela desinência nominal e/ou concordância
nominal com o núcleo substantivo, indica o masculino ou o feminino
do pronome adjetivo. Assim, em nosso gato manhoso – nossa gata ma-
nhosa (além da oposição -o para masculino e -a para feminino), o pro-
nome adjetivo nosso concorda em gênero masculino com o substantivo
gato, e nossa concorda em gênero feminino com gata. Algumas vezes,
a marca de gênero do pronome adjetivo pode também ser efetuada pelo
timbre da vogal. Exemplos: pronomes adjetivos aquele – aquela (tim-bre fechado /e/, para o masculino, e aberto /ε/, para o feminino).
Veja: Concordância nominal, Desinência nominal, Feminino, Gê-
nero, Masculino, Núcleo, Pronome adjetivo, Substantivo, Timbre e Vo-
gal.
Gênero do substantivo
Gênero do substantivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004,
s.v.), é o que indica o masculino ou o feminino do substantivo. Assim,
o substantivo lápis é masculino, como se pode perceber pela concor-
dância que com ele pode fazer o determinante (artigo definido ou inde-
finido, adjetivo, pronome adjetivo ou numeral). O substantivo cadeira é
feminino, como também se pode comprovar através da concordância
que com ele faz o determinante (artigo definido ou indefinido, adjetivo, pronome adjetivo ou numeral).
Fique claro, portanto, que o substantivo não flexiona em gênero,
porque a noção de gênero é imanente ao substantivo, com o qual, ne-
cessariamente concordam os seus determinantes. O fato de a maioria
dos substantivos femininos terminar em -a e ser masculina a maioria
dos substantivos terminados em -o é mera consequência de evolução
fonética de sua base lexicogênica, que é o acusativo latino.
Assim, é normal dizer os meus dois lindos gatinhos e minhas duas
lindas cadeiras, sem nenhuma intenção de dizer se os gatinhos são ma-
chos ou fêmeos nem é a cadeira é fêmea ou macha. A evolução fonética
também levou vários substantivos masculinos a terem a vogal tônica fechada em oposição aos substantivos femininos correspondentes, que
têm vogal tônica aberta; fato que não acontece somente com substanti-
José Pereira da Silva
2715
vo como avô – avó, bisavô – bisavó etc., mas também com pronomes
como ele – ela, aquele – aquela e adjetivos como formoso – formosa,
plebeu – plebeia, cadelo – cadela etc. Quanto ao gênero, o substantivo, normalmente é uniforme, ora, semanticamente significando seres de
gêneros naturais diferentes (artista, estudante, águia, onça, criança, ví-
tima etc.), ora, semanticamente também uniformes (como mapa, certe-
za, casa, Brasil etc.) excetuando os que indicam nomes de alguns ani-
mais domesticados ou que participam, positiva ou negativamente da vi-
da do homem ou os nomes referentes aos seres humanos. Trata-se, esta-
tisticamente de um insignificante percentual que não chega a quatro por
cento dos substantivos.
Os substantivos que, semanticamente, indicam o macho e a fêmea,
de uma mesma espécie costumam ser considerados um o masculino do
outro, quando, na realidade, são substantivos completamente diferentes, como boi – vaca, bode – cabra, homem – mulher, genro – nora etc.
Enfim, somente a gramática de uso vai estabelecer se o par opositi-
vo via fazer parte do sistema da língua. Assim, general X generala, te-
nente X tenenta, árbitro X árbitra, soltado X soldada ainda não são
muito usuais na comunicação diária.
Veja: Adjetivo, Artigo, Comum de dois gêneros, Comunicação,
Concordância nominal, Desinência nominal, Epiceno, Feminino, Gê-
nero, Gramática, Língua, Masculino, Norma culta, Numeral, Pronome
adjetivo, Radical, Significado, Sobrecomum, Substantivo, Timbre, Vo-
gal e Zero.
Gênero e história
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.), desde os anos 90, pesquisadores desenvolvem trabalhos sobre as
mudanças das práticas discursivas que dão um lugar importante aos
fenômenos genéricos definidos como instituições de fala, articulando
uma identidade enunciativa com um lugar social ou com uma comuni-
dade de locutores (MAINGUENEAU, 1993, cap. 3; BEACCO, 1992,
p. 11). Essa abordagem interpretativa, que coloca, na esteira dos traba-
lhos de Hans-Robert Jauss (1978), o receptor no centro do processo,
distingue-se da tradição literária e retórica dos gêneros que salientava
as particularidades de textos modelos para perpetuar o ensino de formas
canônicas consideradas admiráveis. Ela se distancia igualmente da pri-
meira análise do discurso francesa, que desconstruía os gêneros para selecionar enunciados dispersos em uma pluralidade de domínios de
discursos, a fim de relacioná-los a posicionamentos historicamente de-
terminados (PÊCHEUX, 1969; HAROCHE, HENRY & PÊCHEUX,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2716
1971). A nova perspectiva, frequentemente mais centrada nos textos
correntes, articula um programa de pesquisa em torno de dois eixos de
preocupações principais: a reflexão crítica sobre o caráter histórico das tipologias; a descrição das condições de emergência de novas categori-
as de gêneros e de mutação dos antigos.
DOS GRANDES TIPOS DE DISCURSO AOS GÊNEROS SÓCIO-HISTÓRICOS
COMO INSTITUIÇÕES DE FALA
As classificações retóricas tradicionais repousam sobre critérios
institucionais exteriores ao discurso. A retórica grega determinava, as-
sim, a partir das funções fundamentais da cidade, três grandes tipos de
discurso: o gênero deliberativo para a assembleia, o gênero judiciário
para o tribunal, e o gênero epidítico para as cerimônias. Entretanto, essa
divisão da atividade social é sócio-histórica e, portanto, sujeita a varia-ção. Atualmente, em razão da importância dos setores concernidos pe-
las sociedades modernas, pesquisadores acrescentam a essa lista os dis-
cursos midiáticos (CHARAUDEAU, 1997a) ou os discursos em situa-
ção de trabalho (BOUTET, GARDIN & LACOSTE, 1995). De todo
modo, tais tipologias não permitem fazer corresponder regularidades
discursivas precisas a setores de atividades tão vastas.
Analistas de sistemas como Douglas Biber (1988) propuseram, in-
versamente, partir das distribuições estatisticamente notáveis de formas
linguísticas no interior de grandes corpora informatizados. Vê-se, en-
tão, emergir tipos de discursos definidos por correlações estatísticas,
nas quais intervêm construções sintáticas (como as nominalizações) ou
categorias (como os marcadores de tempo verbal ou os pronomes). Mas a lista das marcas linguísticas consideradas corresponde a hipóteses do
pesquisador sobre a definição dos gêneros, conforme permitem ou não
a expressão da subjetividade ou a densificação das mensagens. Consti-
tui, de fato, uma tipologia que não é característica, e que deveria ser re-
examinada. Além disso, os tipos que se constituem assemelham-se
mais a registros que a gêneros. Eles não correspondem a condições de
produção precisas e não permitem considerar os enunciados do ponto
de vista dos mecanismos que os condicionam.
Se procuramos articular formas linguísticas e funcionamentos soci-
ais, situamo-nos ao nível de gêneros menores (não o religioso, mas, por
exemplo, o sermão; não a prosa administrativa, mas os relatórios dos assistentes sociais). A lista se renova com as práticas sociais: uma mo-
dificação da finalidade do discurso, dos estatutos dos parceiros do tem-
po e do lugar da comunicação, do suporte material, das condições de
José Pereira da Silva
2717
aprendizagem das formas textuais etc. ocasiona, no fim, uma modifica-
ção das rotinas empregadas pelos locutores para a execução de suas ta-
refas. O procedimento de análise não consiste em varrer toda a superfí-cie textual dos discursos e em encadear as unidades na linearidade dos
enunciados, mas em privilegiar as categorias que estabilizam formas de
associações entre formas de ação (papéis discursivos, tarefas cogniti-
vas), conteúdos e maneiras de dizer (dispositivos de enunciação, novas
denominações, aparecimento de fórmulas que permitem ritualizar as
práticas etc.).
A renovação constante dos gêneros implica logicamente a impossi-
bilidade de estabelecer tipologias a priori. Em compensação, deve-se
descrever o modo de coexistência dos gêneros em um espaço-tempo
dado, que constitui um elemento importante da definição das formações
discursivas de uma sociedade (MAINGUENEAU, 1987, p. 27).
CRIATIVIDADE LINGUAGEIRA E ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO
Longe de discorrer sempre nos moldes previstos pelas normas dos
gêneros, os sujeitos falantes, peritos como locutores comuns, afastam-
se, frequentemente, dos funcionamentos linguísticos esperados. Mas
não se pode falar de transformação dos gêneros independentemente da
interpretação dada a esses fatos. Uma primeira dimensão concerne à
interpretação do desrespeito às convenções atribuídas a um gênero da-
do: diante de duas cartas de negócio enviadas pela internet, uma com-
portando erros de ortografia e saudações finais reduzidas a um breve
“tudo de bom”, a outra em ortografia padrão e terminando com “Quei-
ra, senhor, aceitar a expressão de minha mais alta consideração”, o re-ceptor pode considerar que se trata de variações em um gênero social
dado, ligadas ao aprendizado escolar dos escreventes; ou, então, consi-
derar que a carta com desvios pertence a um novo gênero “correio ele-
trônico”, caracterizado pelo relaxamento da pressão normativa. Assim,
a distinção entre o que é efeito de um gênero novo e o que é efeito da
mobilidade em um gênero (que constitui um traço dos enfrentamentos
sobre os modos de se exprimir em uma atividade social dada) coloca
igualmente em jogo o julgamento reflexivo dos membros da sociedade
com essas zonas de estabilidade e de instabilidade (ACHARD, 1995;
BRANCA-ROSOFF, 1998). Notar-se-á, aliás, a importância das desig-
nações na legitimação dos novos gêneros. Uma segunda dimensão concerne ao reconhecimento da existência
de coerções discursivas nas quais se via um exercício natural da lin-
guagem. É assim que os pesquisadores em ciências sociais começam a
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2718
ver em sua entrevista um gênero caracterizado por um dispositivo
enunciativo coercitivo, e não unicamente uma conversação entre um
entrevistador e um entrevistado (BLANCHET & GOTMAN, 1992). A emergência dos gêneros resulta em parte dos processos que o pesquisa-
dor segue. Levar em conta essa temporalidade é um dos aspectos da
história reflexiva das representações que as sociedades elaboram de si
mesmas.
Veja os verbetes: Análise do discurso, Cena de enunciação, Cor-
pus, Escrito/oral, Prescrito, Regime discursivo e Tipologia dos discur-
sos.
Gênero específico
Gênero específico é o que designa apenas a si mesmo, como o fe-
minino: a mãe. O não específico (veja: Termo marcado) pode se referir
a ambos os sexos: os pais (pai e mãe). Ser feminino, no caso, indica não ser masculino, ao passo que ser masculino não implica não ser fe-
minino (JOTA, 1981, s.v.).
Gênero feminino
Gênero feminino é o gênero gramatical dos nomes que indicam se-
res de gênero natural feminino ou considerados como tais. Como, em
geral, os substantivos não têm marca de gênero, o gênero feminino cos-
tuma ser identificado pela anteposição de um determinante (artigo, ad-
jetivo etc.) feminino. Exemplos: a mesa, a febre, a hospedagem, a ra-
magem, a moto, a torre etc. O elemento -a será considerado desinência
de gênero feminino quando estiver em oposição a uma forma masculina
da mesma palavra, o que ocorre normalmente para os artigos (a, uma),
adjetivos (bela, bonita, esbelta), numerais (uma, duas, primeira, segun-da, dupla, tripla etc.) e pronomes (ela, esta, essa, sua, nossa etc.), e cos-
tuma ser assim considerado também para alguns substantivos (moça,
professora, mestra etc.). Nos nomes em que não houver esta oposição
de gênero feminino em relação ao masculino, o -a será considerado vo-
gal temática, o que é comum em relação aos substantivos. Exemplos:
vaca, cabra, onda, rosa, tema, poesia etc.
Em alguns casos, a marca de gênero feminino pode também ser efe-
tuada pelo timbre aberto da vogal tônica, o que é mais frequente em ad-
jetivos e pronomes, apesar de ocorrer também em substantivos. Assim,
em bondosa há duas marcas de feminino: a desinência -a e o timbre
aberto da vogal tônica, assim como ocorre em pronomes como ela, es-ta, essa, aquela. Em alguns substantivos, o timbre pode ser a única
marca de gênero, como em avó, bisavó e tataravó, apesar de o plural
José Pereira da Silva
2719
genérico dessas palavras também terem o timbre aberto (avós, bisavós
e tataravós, quando indicam os antepassados sem discriminação de gê-
nero). A única forma sistemática de se marcar o gênero feminino dos subs-
tantivos em língua portuguesa é o emprego de um determinante com
marca explícita de gênero feminino, como os artigos a, as, uma e umas
ou um adjetivo, pronome ou numeral que tenha essa marca.
Veja: Artigo, Desinência nominal, Gênero, Língua portuguesa,
Masculino, Nome, Palavra, Radical, Substantivo, Timbre e Vogal.
Gênero gramatical
Gênero gramatical é o que se pauta pela terminação: a cobra, o ja-
caré. O sexo, quando couber, se evidencia pelo acréscimo de macho ou
fêmea (JOTA, 1981, s.v.).
Veja: Epiceno.
Gênero inanimado
Veja: Gênero animado.
Gênero masculino
Gênero masculino é o gênero gramatical dos nomes que indicam se-
res de gênero natural masculino ou considerados como tais, podendo
ser marcado, no caso dos substantivos, por um determinante masculino
como o artigo (o, os, um, uns), adjetivo, pronome adjetivo ou numeral
que tenham marca explícita de gênero masculino (bom, mau, belo, ele,
este, esse, aquele, meu, teu, dois, primeiro, segundo etc.).
Outra forma de marcar o gênero masculino é a terminação -o ou Ø
em oposição à terminação -a do feminino (os meus lindos dois gatos,
aquele lindo primeiro brinquedo). A única forma sistemática de se marcar o gênero masculino dos
substantivos em língua portuguesa é a concordância do artigo (o, os,
um, uns) ou de qualquer outro determinante com marca explícita de gê-
nero masculino, como o adjetivo, o pronome e o numeral. Mesmo as-
sim, a forma gramaticalmente masculina dos determinantes pode indi-
car simplesmente o sentido genérico do substantivo determinado.
Exemplo: “o homem beijou a esposa” em oposição a “o homem é um
animal racional”.
Veja: Artigo, Feminino, Gênero, Língua portuguesa, Nome, Radi-
cal, Substantivo e Zero.
Gênero masculino
Veja Gênero.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2720
Gênero não específico
Veja: Gênero específico.
Gênero natural
Gênero natural é aquele que coincide com o gênero sexual. Exem-
plos: homem (masculino) / mulher (feminino); boi (masculino) / vaca
(feminino).
Gênero retórico
A retórica antiga
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), na Retórica (1358b), Aristóteles distingue três gêneros de fala pú-
blica:
1º) O gênero epidítico, o do discurso solene, que distribui o elogia
ou a reprimenda. Discurso de celebração, ele se localiza em dois luga-
res socioinstitucionais variados (festas ou lutos). Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1970, p. 66) lhe atribuem a função essencial
de revitalizar os valores da comunidade; se se considera que esses va-
lores estão no fundamento de todas as formas de argumentação, o gêne-
ro epidítico vem primeiro. Segundo Aristóteles, sua temporalidade ca-
racterística é o presente, talvez o da atualidade atemporal dos valores.
2º) O gênero deliberativo: o discurso deliberativo visa a determinar
o que convêm fazer não fazer, a orientar a decisão sobre uma operação
particular, situada no futuro e que interessa ao conjunto da comunidade
(declarar a guerra ou construir um canal...). Seu lugar institucional é a
assembleia ou o conselho.
3º) O gênero judiciário recobre os discursos proferidos diante do ju-
iz, compostos em função dos interesses de uma ou de outra das partes que se opõem. Ele determina o justo e o injusto, a propósito de uma
ação passada. Seu lugar institucional é o tribunal. É esta forma de inte-
ração fortemente codificada que faz o papel de situação de referência
para a retórica antiga.
A teoria dos três gêneros constitui um recorte de escolha da teoria
(ou do catecismo) retórica. Essa categorização explodiu no mundo mo-
derno, quando se poderia facilmente contestar esse corte.
A RETÓRICA CRISTÃ E MEDIEVAL
Nada na essência da retórica a limita a esses três gêneros. Aparecem
novos gêneros sempre que há reflexão sistemática sobre um setor da fa-la pública e a apresentação sob forma prescritiva dos resultados dessa
reflexão. Na Idade Média apareceram gêneros retóricos originais, que
José Pereira da Silva
2721
fazem referência aos gêneros clássicos e os deslocam.
A disputa é um gênero didático dialético. Ela repousa sobre o ques-
tionamento de proposições religiosas ou científicas e sobre seu trata-mento por meio de argumentos e refutações.
O gênero predicador constitui uma originalidade da Idade Média e
dos tempos modernos. Fundado sobre a letra e o espírito de um texto
sagrado, a pregação assegura a transmissão pública de uma mensagem
religiosa que diz respeito tanto aos costumes quanto à fé. Ela é acom-
panhada por uma mensagem político-social cuja importância permane-
ce primordial no mundo moderno, certamente superior àquela do dis-
curso político no sentido ocidental do termo. A Doutrina Cristã de San-
to Agostinho (354-430) constitui um momento essencial ao desenvol-
vimento da pregação cristã, as primeiras obras técnicas, conhecidas sob
o nome de artes praedicandi, que aparecem mais tarde, no século XIII. O sermão comenta e explica uma passagem tirada da Bíblia ou dos
Evangelhos com o auxílio de procedimentos retóricos de divisão e de
amplificação, enriquecido de exemplos e de apelos às autoridades es-
colhidas em função de diferentes tipos de auditórios (mulheres, estu-
dantes, comerciantes...).
O gênero epistolar (ars dictaminis) originado em Bolonha no sécu-
lo XI, aplica os princípios da retórica ciceroniana à correspondência
administrativa. Ele prevê uma disposição da carta em cinco etapas:
saudação (ou endereçamento), exórdio (captatio benevolentiae), argu-
mentação ou narração, pedido e conclusão.
A Idade Média produziu igualmente as artes notariae, reuniões de
modelos para os atos da administração privada e pública (contratos, tes-tamentos etc.); as artes orandi, que codificam a prece como “arte de fa-
lar a Deus”.
Veja o verbete: Retórica.
Gênero textual
De acordo com Luiz Antônio Marcuschi (2008, p. 147), em citação
de Marcos Bagno (2017, s.v.), o estudo dos gêneros textuais “não é no-
vo e, no Ocidente, já tem pelo menos vinte e cinco séculos, se conside-
rarmos que sua observação sistemática teve início em Platão. O que ho-
je se tem é uma nova visão do mesmo tema. Seria gritante ingenuidade
histórica imaginar que foi nos últimos decênios do século XX que se
descobriu e iniciou o estudo dos gêneros textuais. Portanto, uma difi-culdade natural no tratamento desse tema está exatamente na abundân-
cia e diversidade das fontes e perspectivas de análise”. Segundo o
mesmo autor (2008, p. 149), gênero é:
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2722
a) uma categoria cultural;
b) um esquema cognitivo;
c) uma forma de ação social; d) uma estrutura textual;
e) uma forma de organização social;
f) uma ação retórica.
Assim, o estudo dos gêneros textuais se torna “um empreendimento
cada vez mais multidisciplinar” uma vez que “a análise de gêneros en-
globa uma análise do texto e do discurso e uma descrição da língua e
visão da sociedade, e ainda tenta responder a questões de natureza so-
ciocultural no uso da língua de maneira geral” (MARCUSCHI, 2008, p.
149).
Luiz Antônio Marcuschi (2008, p. 23) ainda enfatiza a necessidade
de distinguir gênero de tipo textual: a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua com-
posição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas).
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias
conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, in-
junção.
b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção proposita-
damente vaga para referir os textos materializados que encontramos em
nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição
característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros
são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem
jornalística, aula expositiva, reunião e condomínio, notícia jornalísti-
ca, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras,
cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial,
resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferên-
cia, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim
por diante.
Ao longo de sua história, o termo gênero tem sido empregado para
fazer referência a diversos objetos e conceitos:
1) Textos literários com diferenças formais e/ou estilísticas: poesia,
romance, peça de teatro, conto, novela. Cada um desses gêneros pode apresentar subgêneros como, no caso da poesia, a ode, a balada, o sone-
to, a epopeia etc.
2) Nas análises propostas por John Malcolm Swales (1990), a noção
José Pereira da Silva
2723
de gênero se assemelha à proposta de Luiz Antônio Marcuschi, ou seja,
textos falados ou escritos que se agrupam segundo sua função, suas ca-
racterísticas formais e seus objetivos retóricos. 3) A língua e a comunicação vistas como atividades ou práticas so-
ciais. Nesse sentido, a análise de gêneros se concentra na língua como
uma das muitas atividades ou práticas que ocorrem num contexto parti-
cular.
4) Na linguística sistêmico-funcional elaborada por Michael Ale-
xander Kirkwood Halliday, a noção de gênero se assemelha à de núme-
ro 3 acima. trata-se de um dos três níveis de análise da comunicação (os
dois outros são o registro e o nível de língua ou sentença).
5) Na obra de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, os gêneros são classi-
ficados em primários e secundários. Os primários são atividades de
comunicação cotidiana, como cumprimentar alguém, comprar pão ou tomar notas. Os secundários são configurados de maneira mais explíci-
ta, como as obras literárias e os discursos políticos.
6) Em trabalhos recentes sobre multimodalidade, usa-se o gênero
como um modo de explorar a natureza de textos multimodais, isto é,
aqueles que apresentam diversidade de recursos semióticos (escrita,
gráficos, ilustrações, diagramas, cores, som etc.).
Em diversos trabalhos pioneiros sobre a variação linguística do in-
glês falado na cidade de Nova York, William Labov (1972a) investigou
as frequências de uso de determinadas variáveis sociolinguísticas ao
longo de um continuum de estilos que ia do menos monitorado ao mais
monitorado. Isolou ao todo nove desses estilos: a1) a fala fora da entre-
vista formal; a2) a fala dirigida a uma terceira pessoa; a3) a fala que não corresponde diretamente a perguntas; a4) parlendas e rimas infantis; a5)
narrativas em que ocorrem situações de risco de vida; b) a situação de
entrevista; c) estilo de leitura; d) leitura de listas de palavras e d’) leitu-
ra de pares mínimos. É fácil perceber nessa divisão uma superposição
entre etilos e gêneros textuais. As ocorrências das variáveis fonéticas
eleitas para seu estudo comprovaram a pertinência do estudo da varia-
ção sob o prisma da variação estilística aliada à variação social.
Pode se dizer que essa investigação pioneira abriu caminho para es-
tudos posteriores em que o espectro de gêneros falados e escritos é
muito mais amplo e complexo. Sobretudo, para evitar a superposição
das noções de estilo e de gênero, propõe-se atualmente um continuum de gêneros textuais que se estende do mais falado ao mais escrito, e, ao
mesmo tempo, é atravessado por uma escala de monitoramento estilís-
tico. Essa proposta de análise aparece, por exemplo, no diagrama pro-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2724
posto por Luiz Antônio Marcuschi (2001, p. 41) (que não se insere, po-
rém, nos estudos variacionistas), em que o monitoramento estilístico é
representado pela linha pontilhada horizontal.
Avançando, no entanto, para além dessa proposta de Luiz Antônio
Marcuschi, e reconhecendo que ela foi “fundamental para aprimorar nosso entendimento das relações entre língua falada e língua escrita”,
José Pereira da Silva
2725
Marcos Bagno (2012a, p. 347) considera: desde o lançamento dessa
proposta de análise, “ocorreram transformações aceleradas nos modos e
nas condições de produção da fala e da escrita, transformações ocasio-nadas pelo desenvolvimento vertiginoso dos novos meios de comunica-
ção e das novas tecnologias de informação”. Nas palavras do autor,
“toda produção textual na atualidade, falada e/ou escrita, se configura
inexoravelmente como uma manifestação semioticamente híbrida que
mobiliza os multimeios sonoros, visuais, gráficos, tridimensionais etc.
que as novas tecnologias de comunicação e informação têm colocado
ao nosso dispor” (BAGNO, 2012a, p. 348). Insistindo na noção de hi-
bridismo, Marcos Bagno alega que nem mesmo a noção de gênero tex-
tual, “recentemente introduzida nos estudos linguísticos e na prática
pedagógica, pretende apreender um objeto pronto e acabado. O que re-
almente existe são textos que se configuram, predominantemente, num determinado gênero, mas nunca integralmente nele” (BAGNO, 2012a,
p. 348). Dessa forma, por exemplo, “num mesmo texto em que encon-
tramos certas marcas de um extremo monitoramento do discurso, tam-
bém podemos encontrar regências verbais, concordâncias, colocações
pronominais e outros usos que escapam do que vem previsto nas gra-
máticas normativas. (BAGNO, 2012a, p. 348).
Um exemplo desse hibridismo pode ser visto no seguinte trecho, ex-
traído de um texto assinado por um jurista de formação, que escreve
regularmente em revista semanal e em páginas eletrônicas: “Segundo
Mendes declarou à revista Veja e confirmou em entrevistas, Lula teria
ofertado-lhe ‘blindagem’ na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) que apura o escândalo Cachoeira-Demóstenes-Delta. O motivo de proteção da CPMI teria sido o financiamento feito por Cachoeira de
uma viagem a Berlim feita por Mendes em companhia de Demóstenes.
(...) O ‘Mensalão’, que Mendes sustenta haver Lula pedido-lhe para
adiar, já foi objeto de sessões administrativas (com participação de
Mendes), quando se acertou até o tempo para manifestação das partes”
(Wálter Fanganiello Maierovitch, <http://bit.ly/2nNYOk7>, acesso em
24/4/2017).
O hibridismo do texto se revela do modo mais explícito na sentença
“que Mendes sustenta haver Lula pedido-lhe para adiar”: a) uso do
verbo haver como auxiliar, característico de estilos mais formais de fa-
la e de escrita; b) uso de uma oração reduzida de infinitivo (sustenta haver pedido), característica de gêneros textuais mais monitorados; c)
ênclise de pronome oblíquo ao particípio (ofertado-lhe; pedido-lhe),
um uso veementemente condenado pela tradição normativa e que cons-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2726
titui, de fato, uma hipercorreção, uma vez que não corresponde nem às
prescrições normativas nem aos usos vernaculares do português brasi-
leiro contemporâneo; d) regência pedir para [adiar], que caracteriza os usos vernaculares, mas não as prescrições normativas, nas quais o ver-
bo pedir só pode vir seguido de para quando se subentende a ideia de
“permissão, licença” (O aluno pediu [licença] para ir ao banheiro); nos
demais casos, a construção prescrita é pedir que + subjuntivo (“haver-
lhe pedido que adiasse”).
Todos esses fenômenos constituem, decerto, novos desafios para a
sociolinguística variacionista, que já não pode estabelecer com a mes-
ma nitidez de décadas atrás os limites de escala de variação estilística
sem levar em conta a profusão de gêneros textuais e seu caráter cada
vez mais híbrido e multimodal.
Gênero verbal
Gênero verbal é o mesmo que voz verbal.
Gêneros discursivos
Veja os verbetes Gêneros do discurso.
Gêneros do discurso
Gêneros do discurso ou gêneros discursivos, segundo Valdir do
Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), são formas discursivas reconheci-
das de uma coletividade que, em diferentes ocorrências, apresentam
uma certa semelhança, permitindo o compartilhamento de conhecimen-
tos nas interações verbais.
Os gêneros do discurso são definidos por Mikhail Mikhailovich
Bakhtin como tipos relativamente estáveis de enunciados. A comunica-
ção se dá a partir de gêneros do discurso, uma vez que todos os enunci-ados possuem formas com relativa estabilidade, as quais se empregam
de modo seguro, mesmo quando se desconhece sua existência no plano
teórico. São essas observações que permitem afirmar que, se por um
lado, fala-se por gêneros diversos sem suspeitar de sua existência, por
outro, partilham-se com os interlocutores formas discursivas comuns
que fomentam o processo interacional, não necessitando criar novos
gêneros a cada troca verbal, o que praticamente impossibilitaria a co-
municação. Os gêneros do discurso são indissociáveis das atividades
humanas, que se realizam em esferas sociais a partir das quais os indi-
víduos interagem. Logo, os gêneros discursivos são dinâmicos, pois re-
fletem de modo mais imediato, preciso e flexível as mudanças que transcorrem na vida social. Por isso, são considerados como correias de
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem.
José Pereira da Silva
2727
Considerando a inesgotabilidade das possibilidades de atividade huma-
na, Mikhail Mikhailovich Bakhtin ressalta a riqueza e a diversidade dos
gêneros do discurso. Da mesma forma, observa que a extrema hetero-geneidade dos gêneros discursivos dificulta a definição da natureza do
enunciado, característica fundamental para o estudo dos gêneros. Para
tanto, estabelece uma distinção entre gêneros discursivos primários
(simples) e gêneros discursivos secundários (complexos), procurando
observar em que esfera de atividade (familiar, militar, midiática, aca-
dêmica, jurídica, literária etc.) cada um surge e como se relaciona com
outros gêneros. Por exemplo, os gêneros secundários, como o romance,
surgem em espaço de convívio complexo, bastante desenvolvido e or-
ganizado. Em sua formação, incorporam e reelaboram gêneros primá-
rios que se transformam e adquirem um novo caráter. A diversidade
dos gêneros, sua transformação contínua, é resultante das relações in-terpessoais que se estabelecem historicamente. Ainda que os gêneros
discursivos possuam características mais ou menos estáveis, são reela-
borados, ressignificados, reacentuados a cada enunciação, pois novos
acentos valorativos se inscrevem nas práticas discursivas, como um
tom mais ou menos respeitoso, alegre, afetivo, que passam a refletir a
individualidade do falante e a movimentar efeitos de sentido. Mikhail
Mikhailovich Bakhtin observa que as palavras que constituem os enun-
ciados são tomadas de outros enunciados, representantes de gêneros
discursivos, e não do sistema da língua. Isso se deve ao fato de a pala-
vra possuir expressão típica, uma espécie de eco da totalidade do gêne-
ro, que permite uma reacentuação. O conhecimento de um repertório
comum de formas discursivas pode facilitar o relacionamento social em diferentes situações, já que cada esfera da atividade humana produz gê-
neros do discurso correspondentes. As formas discursivas não são mo-
delos a serem aplicados, mas, sim, formas híbridas que imprimem rela-
ções com a realidade e com enunciados alheios. Os gêneros são plurí-
vocos, trazem vozes, posições sociais, retomam e antecipam discursos
outros, ou seja, suscitam respostas. São materiais discursivos dinâmi-
cos, que têm como pressuposto a construção do enunciado concreto a
partir de uma esfera de atividade, em que locutor, interlocutor, tempo,
lugar e finalidade do dizer são constitutivos. Os gêneros do discurso fa-
zem parte de uma memória coletiva, e certa estabilidade que os caracte-
riza pode ser observada pelos elementos que os constituem organica-mente: a construção composicional, o tema e o estilo.
Segundo Roxane Rojo (CEALE, Glossário, s.v.), é vivendo a vida
com os textos, isto é, atuando e nos comunicando nos diferentes cam-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2728
pos/ esferas de atividade pelas quais circulamos em nosso cotidiano –
em casa, no trabalho, estudando, informando-nos por meio do jornalis-
mo, consumindo, apreciando e fruindo obras de arte, divertindo-nos – que enunciamos e materializamos nossos textos orais, escritos e multi-
modais. Os gêneros de discurso nos servem nesses momentos, pois são
as formas de dizer mais ou menos estáveis em nossa sociedade. Todos
os cidadãos sabem o que são e reconhecem notícias, anúncios, bulas de
remédio, cheques, livros didáticos, bilhetes etc.
Esses gêneros discursivos são nossos conhecidos e são reconheci-
dos tanto pela forma de composição dos textos a eles pertencentes co-
mo pelos temas e funções que viabilizam e o estilo de linguagem que
permitem. Os textos pertencentes a um gênero é que possibilitam os
discursos de um campo ou esfera social. Por exemplo, as notícias, os
editoriais e comentários fazem circular os discursos e posições das mí-dias jornalísticas. Estes três elementos – forma composicional, tema e
estilo – não são dissociáveis uns dos outros: os temas de um texto ou
enunciado se realizam somente a partir de um certo estilo e de uma
forma de composição específica.
O tema é mais que meramente o conteúdo, assunto ou tópico prin-
cipal de um texto (ou conteúdo temático). O tema é o conteúdo enfoca-
do com base em uma apreciação de valor, na avaliação, no acento valo-
rativo que o locutor (falante ou autor) lhe dá. É o elemento mais impor-
tante do texto ou do enunciado: um texto é todo construído (composto e
estilizado) para fazer ecoar um tema irrepetível em outras circunstân-
cias. O tema é o sentido de um dado texto/discurso tomado como um
todo, “único e irrepetível”, justamente porque se encontra viabilizado pela apreciação de valor do locutor no momento de sua produção. É pe-
lo tema que a ideologia circula.
A forma de composição e o estilo do texto vêm a serviço de fazer
ecoar o tema daquele texto. O estilo são as escolhas linguísticas que fa-
zemos para dizer o que queremos dizer (“vontade enunciativa”), para
gerar o sentido desejado. Essas escolhas podem ser de léxico (vocabu-
lário), estrutura frasal (sintaxe), registro linguístico (formal/informal,
gírias) etc. Todos os aspectos da gramática estão envolvidos. E o que é
a forma de composição? Ela é, pois, a organização e o acabamento do
todo do enunciado, do texto como um todo. Está relacionada ao que a
teoria textual chama de “estrutura” do texto, à progressão temática, à coerência e coesão do texto.
Seria muito interessante, para o desenvolvimento dos letramentos,
que a escola tratasse dos textos orais, escritos e multimodais em com-
José Pereira da Silva
2729
preensão e produção como exemplares de gêneros discursivos, dando
prioridade máxima aos temas que fazem ecoar por meio de seus pro-
cessos estilísticos e de sua composição, ao invés de tratá-los como faz, como gêneros textuais, enfocando a análise de sua forma e de seu estilo
por si mesmos.
Sugere-se a leitura de Marxismo e filosofia da linguagem (1981),
Estética da criação verbal (2003), Questões de literatura e de estética:
a teoria do romance (1998), de Mikhail Mikhailovich Bakhtin; Mikhaïl
Bakhtine: le principe dialogique (seguido de Ecrits du Cercle de Bakh-
tine), de Tzvetan Todorov (1981).
Veja os verbetes: Acento de valor, Coesão textual, Coerência textu-
al, Dialogismo, Enunciação Esferas ou campos de atividade humana,
Gênero de discurso, Gêneros e tipos textuais, Letramento, Sequências
textuais, Texto, Textos multimodais.
Gêneros e tipos textuais
Segundo Roxane Rojo (CEALE, Glossário, s. v.), dentre as distin-
ções entre tipos de texto e gêneros de texto, a mais famosa delas é de
autoria de Marcuschi, que define o tipo textual como “uma espécie de
construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição
(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas)”. Já o
gênero textual, para o autor, seria “uma noção propositalmente vaga pa-
ra referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diá-
ria e que apresentam características sociocomunicativas definidas por
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”.
Nessas definições do autor, fica clara a diferença entre tipos de tex-
to e gêneros de texto: os tipos de texto são classes, categorias de uma gramática de texto (Linguística Textual) – portanto, “uma construção
teórica” – que busca classificar os textos com base em suas característi-
cas linguísticas e gramaticais. Estes tipos de texto mais conhecidos –
descrição, narração, dissertação/argumentação, exposição e injunção –
vêm sendo ensinados e solicitados pela escola há pelo menos uma cen-
tena de anos, o que faz deles também gêneros escolares, que somente
na escola circulam, para ensinar o “bem escrever”. Na escola, escreve-
mos narrações; na vida, lemos notícias, relatamos nosso dia, reconta-
mos um filme, lemos romances (gêneros textuais). Na escola, redigi-
mos uma “composição à vista de gravura” (descrição); fora dela, con-
tamos como decoramos nosso apartamento, instruímos uma pessoa so-bre como chegar a um lugar desconhecido. Na escola, dissertamos so-
bre um tema dado; na vida, lemos artigos de opinião, apresentamos
nossa pesquisa ou relatório, escrevemos uma carta de leitor discordan-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2730
do de um articulista. Os gêneros de texto, portanto, não são classes
gramaticais para classificar textos: são entidades da vida. Dão nome a
uma “família de textos”. Um dos problemas do ensino de gêneros textuais na escola é que ele
herda as práticas cristalizadas de trabalho com os tipos textuais, focan-
do principalmente as estruturas linguísticas de diversos níveis e esque-
cendo de enfocar os temas, valores, a entonação e as refrações de senti-
do dos textos, formando mais analistas textuais que leitores/produtores
críticos.
Sugere-se como complemento, a leitura do capítulo “Gêneros textu-
ais: definição e funcionalidade”, de Luiz Antônio Marcuschi (2002).
Veja os verbetes: Gêneros do discurso, Sequências textuais.
Gêneros literários para crianças
Segundo Maria Zélia Versiani Machado (CEALE, Glossário, s.v.), a linguagem focalizada sob a perspectiva dos gêneros textuais se apre-
senta como matéria suscetível a classificações. Dessa forma, textos e
discursos podem ser identificados de acordo com os usos e as funções
que eles ganham nas situações comunicativas. Aquilo que é estável em
um gênero textual, ou seja, os elementos que nos levam a reconhecer
uma notícia, um conto de fadas, um anúncio, uma lenda, uma frase de
para-choque de caminhão ou uma fábula, por exemplo, resultam de ex-
periências compartilhadas social e historicamente. Os estudos de gêne-
ros literários buscam identificar estabilidades que podem ser reconhe-
cidas, podendo favorecer a compreensão dos textos lidos e ouvidos que
a literatura oferece.
Para Bakhtin, os gêneros não possuem formas fixas ou imutáveis. Eles possuem um grau de instabilidade, por isso o autor preferiu defini-
los como “tipos de textos relativamente estáveis”. Essa dinâmica de
constituição dos gêneros dá vida às criações literárias que reinventam
gêneros narrativos e poéticos, por meio da oralidade e da escrita. Nas
classificações, deve-se considerar, portanto, a força histórica orientado-
ra do modo de agrupar e organizar o que se quer compreender, que po-
de não ser a mesma para todas as sociedades e culturas.
A literatura infantil que hoje se publica para crianças bebeu em fon-
tes variadas da tradição literária, que se atualizam criativamente a cada
geração de leitores – daí a importância de identificá-las. Os nomes
Contos de fadas, Contos maravilhosos, Contos da Mamãe Gansa, Con-tos da Carochinha são algumas dessas formas de classificar que carre-
gam uma história. Falar de gêneros da literatura pressupõe, assim, o di-
álogo com a tradição e com formas orais e escritas do texto literário,
José Pereira da Silva
2731
produzidas para crianças em diferentes épocas.
Por ter a literatura infantil o adjetivo que especifica o seu endere-
çamento, por muito tempo ela foi tomada como um “gênero”, o que, de certa forma, ocultava a heterogeneidade de gêneros que a constituía.
Vale ressaltar que o conjunto de textos que nomeamos como “literatura
infantil” possui uma gama variada de gêneros literários que confirma
essa heterogeneidade: fábulas, poemas, contos, lendas, entre outros.
Hoje podemos encontrar – dentro das amplas denominações “poesia e
narrativas para crianças” –, uma série de propostas que desafiam os lei-
tores no permanente jogo de aproximações e rupturas que a literatura
favorece em relação à tradição. No processo de renovação das histórias
para crianças, observam-se modificações e, em alguns casos, até mes-
mo cerceamentos, que apontam concepções de infância predominantes
em cada época. Convém, ainda, ressaltar que os gêneros da literatura infantil se ca-
racterizam pelo equilibrado diálogo entre as imagens visuais e o texto
verbal. Essa configuração, que lhe é peculiar, instaura modos de ler
sensíveis aos efeitos produzidos pelo e no entrelaçamento dessas lin-
guagens. Para isso, é preciso contar com a percepção de elementos co-
mo a cor, as formas, os traços da composição visual, tomados como
componentes das escolhas de estilo que dividem as páginas com os tex-
tos verbais.
Sugere-se, como complemento ao verbete, a leitura de Estética da cria-
ção verbal, de Mikhail Bakhtin (1992); Literatura infantil: teoria, aná-
lise, didática, de Nelly Novaes Coelho (2000); Literatura infantil: teo-
ria e prática, de Maria Antonieta Antunes Cunha (1991) e Crítica, teo-ria e literatura infantil, de Peter Hunt (2010).
Veja os verbetes: Experiência estética literária, Gêneros e tipos tex-
tuais, Leitura literária, Letramento Literário, Literatura infantil, Media-
ção literária na Educação Infantil, Modos de ler na infância, Poesia in-
fantil.
Gênese do documento
Gênese do documento é o conjunto de processos que dizem respeito
à apresentação por escrito do ato, até ao cumprimento das finalidades
destinadas a torná-lo executório.
Gênese
Gênese é o conjunto de fatos, elementos etc. que contribuíram para
a formação de uma coisa. Formação, origem, princípio.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2732
Gênesis
Gênesis é o nome do primeiro dos livros do Antigo Testamento, em
que se descreve a história da criação do mundo e a geração dos primei-
ros homens.
Genético
Seguindo a concepção biológica que Franz Bopp (1791-1867) tinha
adotado, as línguas foram representadas (e se representam frequente-
mente) como seres humanos, de onde os termos língua-mãe, língua-
irmã, de onde a utilização de palavras como nascimento, vida e morte a
propósito da língua. Segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), o qualifi-
cativo de genético foi aplicado à linguística com esse espírito. Tende,
hoje, a se tornar um simples equivalente de histórico, na medida em
que a pesquisa de estados mais antigos implica necessariamente a pes-
quisa de uma filiação.
Genetlíaco
Genetlíaco é composição poética que canta ou celebra o aniversário
ou nascimento de alguém, tendo, naturalmente, um tom festivo.
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), genetlíaco designa poema ou
canto em louvor ao nascimento de uma criança ou ao aniversário de
uma pessoa. Não apresenta forma fixa. Poesia de circunstância, rara-
mente consegue perdurar para além do fato que a motivou. Em verná-
culo, tem sido aqui e ali cultivado, como, por exemplo, o soneto “A
Maria Ifigênia”, atribuído a Alvarenga Peixoto, ou “Mafalda Ermelin-
da”, de Eugênio de Castro.
Gênio da língua
Maneira tradicional de designar os caracteres gerais da gramática de uma língua nas suas oposições formais e funcionais. Do ponto de vista
diacrônico, refere-se a um sentido geral da evolução, a que Edward Sa-
pir (1884-1939) denominou deriva (SAPIR, 1954). Assim: 1) Não é do
gênio da língua portuguesa a ocorrência de grupos consonantais irres-
tritos, nem o recurso à ampla composição vocabular, nem a anteposição
de um substantivo a outro para lhe dar a função de adjunto, mas é do
gênio da língua portuguesa a predominância da categoria de tempo so-
bre a de aspecto, a preferência pela flexão externa etc. 2) Na evolução,
tem-se a ausência da mudança fonética chamada ensurdecimento, a pa-
latalização ampla, o enfraquecimento articulatório das consoantes
(perda das geminadas, sonorização, queda de consoantes sonoras inter-
vocálicas), o aparecimento da emissão nasal nas vogais etc.
José Pereira da Silva
2733
Genitivo
Caso que, nas línguas clássicas (grego e latim), exprimem uma rela-
ção entre dois nomes subordinando um (o que ficava em genitivo) ao outro. É o chamado "genitivo adnominal". Verdade é que também ha-
via o genitivo adverbal. Este, porém, tinha emprego restrito e o seu uso
quase sempre se pode explicar a partir do genitivo adnominal.
O genitivo adnominal compreendia, em latim, várias funções, que
podem ser reduzidas a duas gerais: restritivo do nome e complemento
do nome. Uma das funções mais gerais do genitivo restritivo adnominal
é a designativa de posse. Em inglês, por exemplo, existe um genitivo
exclusivamente possessivo (tipo man's bat – o chapéu do homem.
Também se distinguia, quanto ao sentido, o genitivo subjetivo (me-
tus hostium, o temor que os inimigos têm) do genitivo objetivo (metus
hostium – o temor que temos dos inimigos). O genitivo dos pronomes pessoais era usado com valor de genitivo objetivo, ao passo que os pro-
nomes possessivos tinham o valor de genitivo subjetivo. Assim, metus
vestri era o medo que temos de vós, ao passo que metus vester é o me-
do que vós tendes de alguém ou de alguma coisa.
Em português, os possessivos conservaram esse valor subjetivo.
Exemplo: os meus temores (os temores que eu tenho). Quando pospos-
to, porém, o possessivo pode assumir em português valor objetivo:
Exemplo: Está com saudades minhas (= de mim). Cf. o famoso verso
camoniano: Mova-te a piedade sua e minha (Lusíadas, III, 127). Veja o
capítulo 7 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979).
Veja o verbete: Caso.
Genotexto
Em semiologia, chama-se genotexto a estrutura profunda de um tex-
to ou enunciado longo. Em outras palavras, é o conjunto das várias fa-
ses do processo de elaboração de um texto (notas, esboços, rascunhos
etc.).
Veja também o verbete: Fenotexto.
Genótipo
Na terminologia do linguista soviético Sebastian K. Chaumjan
(1971), os genótipos são objetos sintáticos abstratos, independentes dos
meios linguísticos que servem para exprimi-los, ou fenótipos.
Genovês
Genovês é um dos dialetos setentrionais do italiano, de substrato gá-
lico.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2734
Gentílico
Diz-se do adjetivo que exprime uma relação entre a pessoa ou coisa
e o lugar de sua proveniência. Também se chama adjetivo pátrio. A maioria dos gentílicos se forma com os sufixos -ano, -ão, -ense, -
ês. Mas há outros menos comuns: -ita, -ota, -eno, -ino. No Brasil, o su-
fixo -ista, normalmente, usado para indicar profissão (jornalista, fo-
guista, dentista etc.), aparece nos seguintes gentílicos: paulista, cam-
pista, nortista, sulista. O sufixo –eiro, que também indica profissão
(jornaleiro, padeiro, açougueiro etc.) aparece em brasileiro e mineiro,
que, a princípio, indicavam os que trabalhavam na extração do pau-
brasil e no fundo das minas de metais e pedras preciosas. Não há razão
para susceptibilidades nativistas que procuram um outro gentílico para
os que nascemos no Brasil; o adjetivo tem a chancela da história, que é
irreversível, e já foi nobilitado através de uma plêiade de heróis e até mártires, que imprimiram ao termo ressonâncias afetivas inseparáveis
do sentimento glorioso da nacionalidade de que nos orgulhamos. Lem-
bramos que o natural de Póvoas de Varzim (Portugal) se denomina po-
veiro.
Apresentamos a seguir uma lista de adjetivos pátrios (ou gentílicos)
que convém conhecer: Abissínia – abissínio ou abexim; Afganistão –
afegane; Algarves – algarvio; Andaluzia – andaluz; Argélia ou Argel –
argelino; Artois – artesiano; Ásia – asiático, ásio; Batávia – batavo;
Baviera – bávaro; Berlim – berlinense, berlinês; Bizâncio – bizantino;
Boêmia – boêmio ou cheque; Bordéus – bordelense ou bordelês; Bor-
gonha – borgonhês, borguinhão; Bragança – bragantino ou brigantino;
Brasil – brasileiro ou brasiliano; Brasília – brasiliense; Bretanha – bre-tão; Bulgária – búlgaro; Buenos Aires – portenho, bonaerense, buenai-
rense; Cádis – gadiano; Cairo – cairola; Canárias – canário; Cândia –
candiota; Catalunha – catalão; Cochinchina – cochinchino, cochinchi-
nense; Constantinopla – constantinopolitano; Ceilão –cingalês; Chipre
– cipriota, cíprio; Coimbra – coimbrão, conimbricense; Corrientes –
correntino; Córsega – corso; Creta – cretense; Damão – damanense;
Damasco – damasceno; Devon – devoniano; Eslováquia – esloveno;
Estremadura – estremenho; Évora – eborense; Filipinas – filipino, taga-
lo; Flandres – flamengo; Florença – florentino; Gasconha – gascão;
Germânia – germano; Goa – goense, goês, canarim; Granada – grana-
dino; Gália – gaulês; Guatemala – guatemalteco, guatemalense; Guiana – guianense, guianês; Guiné – guinéu, guineense; Hamburgo – ham-
burguês; Hindostão – hindu; Honduras – hondurenho; Hungria – hún-
garo, magiar; Ibéria – ibero; Índia – hindu, indiano; Java – javanês; Je-
José Pereira da Silva
2735
rusalém – hierosolimita, hierosolimitano; Líbano – libanês; Libéria –
liberiano; Lima – limenho; Lombardia – lombardo; Madagáscar – mal-
gaxe; Madri – madrileno; Málaga – malaguenho; Malásia – malaio; Maiorca – maiorquino, mariorquim; Manchúria – manchu; Marrocos –
marroquino; Minho – minhoto; Mongólia – mongol; Moscou – mosco-
vita; Nilo – nilótico; Nova Zelândia – neozelandês; Pádua – paduano,
patavino; País de Gales – galês; Palermo – panormitano; Leão – lionês,
lugdunense; Lisboa – lisboeta, lisbonense, ulissiponense; Limoges –
limusino; Marselha – marselhês; Mancha – manchego; Panamá – pa-
namenho, panamense; Papuásia – papua; Parma – parmesão; Patagônia
– patagão; Polônia – polaco, polônio, polonês; Póvoa de Varzim – po-
veiro; Peru – peruano, peruviano; Porto – portuense; Pireneus – pire-
naico; Porto Rico – portorriquenho; Provença – provençal; Romênia –
romeno, valáquio; Rússia – russo; Santarém – escalabitano, santareno; São Domingos – dominicano; Sardenha – sardo; Sião – siamês; Sintra –
sintrão, sintrense; Suíça – suíço; Tânger – tangerino; Terra do Fogo –
fueguino; Tibre – tiberino; Transvaal – transvalino; Trás-os-montes –
trasmontanno; Trento – tridentino; Trieste – triestino; Trípoli – tripoli-
tano; Tunísia – tunisino; Venezuela – venezuelano, venezolano; Zulu-
lândia – zulo, zulu.
Genuinidade de obra literária
Genuinidade de obra literária é a qualidade de que é autêntico,
verdadeira, próprio, numa obra escrita de caráter literário.
Geofonema
Veja: Diassistema.
Geografia linguística
Método de indagação linguística que consiste em localizar as dife-
rentes maneiras de dizer correspondentes a um mesmo conceito ou ob-
jeto, dentro de uma área determinada. Essas "maneiras de dizer" podem
ser palavras, expressões ou construções. Ou seja, a geografia linguística
não se limita ao léxico, onde tem sido mais aplicada, mas, tomando
como unidade linguística a palavra, daí parte para estudos fonéticos, le-
xicológicos, morfológicos, semânticos e até sintáticos (relações entre as
palavras).
A localização no espaço geográfico dos fenômenos linguísticos que
se quer estudar (por exemplo, os diferentes nomes – abeille, avette,
mouchette, mouche à miel... – para a ideia de "abelha" em território francês) exige a elaboração de um mapa. Uma coletânea de mapas lin-
guísticos referentes ao mesmo território é um atlas. A organização de
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2736
um atlas requer as seguintes atividades ou elementos: planejamento,
questionário, inquiridor, inquirição, informante.
PLANEJAMENTO.
Antes de se lançar ao trabalho de campo, o linguista precisa limitar
a área da pesquisa, marcar dentro dessa área os pontos onde será apli-
cado o inquérito (rede de investigação), organizar o questionário, esta-
belecer o critério da transcrição fonética, delimitar a amplitude dos es-
tudos, além de outras preliminares metodológicas.
QUESTIONÁRIO.
É o instrumento do inquérito. O organizador do atlas formula uma
série de perguntas capazes de lhe fornecer um material de estudo tanto
quanto possível específico da região escolhida. Pode haver um questio-nário geral, para noções que digam respeito, de maneira ampla, à con-
dição humana (grau de parentesco, vida religiosa, o solo, a fauna, a flo-
ra...) e outro específico, determinado pelas condições culturais do meio
que se quer estudar (gênero de trabalho: agricultura, pesca, indústria
extrativa; gênero de vida: a alimentação, a moradia, o vestuário).
INQUIRIDOR.
Trata-se da pessoa que deve proceder ao inquérito. Pode ser um lin-
guista (tendência moderna), ou simplesmente um amador dotado de
certas qualidades favoráveis (gosto pelo trabalho, disposição física,
bom ouvido, conhecimento razoável dos falares que deve investigar).
INFORMANTE.
É a pessoa que deve ser inquirida. Há de estar radicada no lugar,
não possuir instrução (quando se trata de língua não escrita), ter boa
fonação, ser inteligente.
INQUIRIÇÃO (ou INQUÉRITO).
É a aplicação do método de pesquisa: formular as perguntas do
questionário a fim de obter as respostas adequadas. Pode ser feito in lo-
co (sem dúvida o melhor sistema), ou por meio de correspondência
(serve apenas para sondagens preliminares).
Recolhido o material, segue-se a fase mais delicada e de maior va-lor cultural; a da interpretação das cartas e das conclusões científicas.
Claro que em tal fase só devem intervir linguistas realmente capacita-
dos para o ofício.
José Pereira da Silva
2737
A geografia linguística representa um corte sincrônico no território
estudado, no sentido de que é um instantâneo linguístico tomado em
determinado momento da evolução de um idioma. Todavia, tal instan-tâneo revela a superposição de vários estágios evolutivos e não traduz
de forma alguma uma homogeneidade histórica. Daí que a geografia
linguística se completa com a geologia linguística. Uma estuda as áreas
espaciais, por assim dizer, e outra as áreas cronológicas (qual a camada
mais antiga e qual a mais moderna). A geologia linguística se aperfei-
çoa com a estratigrafia linguística, que estuda como se deu a superposi-
ção de estratos, valendo-se de informações buscadas em documentos
antigos, os quais, no domínio românico, são medievais. Daí dizer Be-
nedek Elemér Vidos (1902-1987) que a estratigrafia linguística não é
senão geografia linguística medieval.
Do estudo dos atlas se obtêm resultados da mais alta importância científica, como sejam: a) o traçado das isoglossas, isto é, das linhas
que delimitam a área de um fenômeno linguístico; b) o descobrimento
de causas que levam ao desgaste e desaparecimento de certas palavras
em benefício de outras, ou seja, a chamada "biologia da linguagem",
onde Jules Gilliéron (1854-1926) estudou a "patologia e terapêutica
verbais"; c) a determinação dos grandes centros de irradiação de inova-
ções linguísticas, as viagens de palavras, o contato e a mistura de lín-
guas, enfim, tudo que pertence à sociologia linguística.
Atlas linguísticos têm sido organizados vários, quer no domínio
românico, quer fora dele. Foi o fundador da geografia linguística, o suí-
ço-francês Jules Giliéron (1854-1926) quem organizou o primeiro atlas
linguístico e inaugurou o novo método. Trata-se do Atlas Linguístico Francês (ALF, 1902-1910), que teve por inquiridor Edmond Edmont.
Seguiram-se o Atlas Linguístico e Etnográfico da Itália, Sardenha e
Suíça Meridional, de Karl Jabert e Jakob Jud (AIS, 1928-1940) e o
Atlas Linguístico-Etnográfico Italiano da Córsega, de Gino Bottiglioni
(ALEIC, 1933-1942), sem falar nos atlas incompletos de Antoni Griera
(1887-1973) para a Catalunha (ALCat, 1923...) e o de Sextil Puscario
(1877-1948), Sever Pop (1901-1961) e Emil Petrovici (1899-1968) pa-
ra a Romênia (ALR, 1937...).
Entre nós, até a década de 1960, praticamente quase nada se fez em
tal domínio. Citemos, de Serafim da Silva Neto (1917-1960), o Guia
para Estudos Dialetológicos (1955); Antenor Nascentes (1886-1972), as Bases para a Elaboração do Atlas Linguístico do Brasil (1958) e os
estudos e recomendações do 1º Congresso Brasileiro de Etnografia e
Dialetologia, realizado em Porto Alegre, em setembro de 1958.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2738
Geográficos (nomes)
Segundo João Ribeiro (1906, s.v.), em geral, há a tendência para es-
tender as denominações locais aos produtos industriais de qualquer zo-na. Daí, os termos usuais no Brasil: petrópolis (bengala), jacobina (do-
ce), e poucos outros. O número de semelhantes etimologias é crescidís-
simo. Exemplos: a) NOMES DE POVOS: arabesco < árabe; vasquim <
colete basco; gálico, mal gálico < francês; ladino < latino; judiar, ju-
diaria < judeu; vândalo, bárbaro < vândalo; escrevo < slavo, escravi-
dão etc.; turquesa (pedra preciosa) < turco; cafre (infiel) < Cafraria;
índios < indígenas da América que se supunha ser o prolongamento
ocidental da Índia; cigano (< egipciano), supunha-se que os ciganos
eram do Egito. Há outras derivações, de menor importância. A maior
parte e as mais interessantes dessas formações se encontram nos nomes
geográficos de vilas, cidades, províncias etc. É a de que vamos dar a lista seguinte, sem rigor de ordem alfabética: ardosia (ardoise) – pedra
de Ardenes; arminho < da Armênia; artesiano < (poço) do Artois; bal-
daqui < de Baldaco, Bagdá; beócio < da Beócia; bugia < (vela) da ci-
dade de Bouge; cariátides < de Caria; carmelita < do monte Carmelo;
cilício < da Cilícua. cirdivçai < de Córdova. É dessa origem o francês
cordonnier; gravata < de Croácia; damasco < de Damasco; ilota < de
Elos (em Esperta); faiença < de Faenza; jalde < de Gages (Lícia);
guiéo < moeda inglesa de Guiné (África), donde veio o ouro para a fa-
bricação das moedas; laconismo < de Lacônia (Lacedemônia); liceu <
de Liceu; madrasto < de Madras (Índia); marroquim < de Marrocos;
musselina < de Mossul; nanquim < de Nanquim; parmesão < de Par-
ma; pergaminho < de Pérgamo; pêssego < da Pérsia, persicus; farol < de Frros (Egito); faisão < de Fasis; romaria < de Roma; porcelana <
de Puzzola; sardônico (riso) < da Sardenha; solecismo < de Soles
(Grécia); tabaco < de Tobago (Antilhas), terra-nova; vaudevile < de
vaux (vales) de Vire (Vide Sapper. Dictionnaire Etymologique); cobre
< de Chipre. Deixamos de citar os nomes que devem ser excessiva-
mente familiares: cunhaque, xerez, cachemira, sibarita, sedlitz, bisan-
tino, frígio, moscovita etc., assim como os nomes científicos, como de-
voniano (< Devon), jurássico (< Jura) e vários outros.
Geolinguística
Geolinguística é o estudo das variações na utilização da língua por
indivíduos ou grupos sociais de origens geográficas diferentes. A pala-vra geolinguística é assim a forma abreviada de geografia linguística.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), geolinguística, também cha-
mada às vezes de linguística geográfica ou geografia linguística, é uma
José Pereira da Silva
2739
área de estudo multidisciplinar e relativamente recente. A geolinguísti-
ca atual é continuação da tradição dialetológica inaugurada no século
XIX pelo suíço Jules Gilliéron (1854-1926). No entanto, graças aos co-nhecimentos acumulados pela pesquisa sociolinguística variacionista a
partir dos anos 1960, o estudo espacial das línguas alargou suas expec-
tativas e adotou novas perspectivas. Ele combina a enorme quantidade
de dados compilados nos atlas linguísticos pelos dialetólogos, o rigor
metodológico da sociolinguística quantitativa e uma maior sensibilida-
de para com os aspectos do espaço, como as redes espaciais e a difusão
das inovações através delas, dada pela geografia. É uma disciplina cen-
trada na distribuição espacial (geográfica) das variedades linguísticas,
no estudo da dispersão geográfica dos elementos linguísticos, e seu ob-
jeto de investigação é a difusão geográfica das inovações linguísticas.
Propõe uma dimensão mais dinâmica para o estudo dos fenômenos lin-guísticos, postulando que é preciso ir além da mera descrição da distri-
buição geográfica dos traços linguísticos distintivos, como se faz tradi-
cionalmente na dialetologia, para também explicar essa distribuição:
por que e como os traços linguísticos pertinentes em processo de mu-
dança se difundem de um lugar ou grupo social para outro. Uma análi-
se apoiada nos dados estatísticos (população, distância, comunicações,
conexões e tráfego terrestre, marítimo e aéreo) fornecidos pela geogra-
fia humana é de relevância para evidenciar empiricamente a influência
do espaço físico, além do tempo e do contexto social, na difusão das
inovações sociolinguísticas.
Um balanço da história da geolinguística no mundo e no Brasil se
encontra na obra de Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (2010).
Veja os verbetes: Geografia linguística e Linguística geográfica.
Geometria de traços
Proposta teórica que sugere a organização de traços distintivos em
nós específicos hierarquicamente organizados, segundo Thaïs Cristófa-
ro Silva (2011, s.v.), cuja representação utilizada tem formato de árvo-
re, em que os traços são agrupados em nós terminais ou nós intermediá-
rios. Os nós terminais são traços fonológicos e os nós intermediários
são classes de traços, todos associados às posições esqueletais.
Geomorfema
Veja: Diassistema.
Geônico
Geônimo é o criptônio formado de um adjetivo gentílico.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2740
Geonomástica
Geonomástica é o mesmo que toponímia.
Geonomástico
Geonomástico é o mesmo que topônimo e toponomástico.
Georgiano
Georgiano é uma das línguas caucásicas (não indo-europeia).
Geórgica
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), geórgica, do grego georgi-
kós, relativo à agricultura, de georgós, agricultor, pelo latim georgica, é
um poema que celebra a vida no campo.
Apologia da vida rural, a sua ideia central remonta a Os Trabalhos e
os Dias (750 a.C.), de Hesíodo. Mas coube às Geórgicas (37-30 a.C.),
de Públio Virgílio Maro (70-19 a.C.), não só definir o tema, como ain-
da lhe emprestar o nome, tornando-se a mais alta criação no gênero e o modelo para as gerações vindouras. Tito Lucrécio Caro (99-55 a.C.)
(De Rerum Natura, século I a.C.); Lúcio Júnio Moderato (4-70), (De
Re Rustica, século I d.C.), entre outros, seguiram-lhe os passos. Na Re-
nascença e centúrias seguintes, serviu de inspiração a Agnolo Poliziano
(1454-1494), (Rusticus, 1493); Marco Girolamo Vida (1485-1566), (De
Bombyce, 1527); René Rapin (1621–1687), (Horti, 1665); James Tho-
mson (1700-1748), chamado o “Virgílio inglês” (The Seasons, 1724-
1730) etc. E mesmo no século XX, Francis Jammes (1868-1938), poeta
francês, aderiu à longeva tradição, com Géorgiques Chrétiennes (1911-
1912).
Em vernáculo, encontram-se, nos fins do século XVIII, ecos de
Thomson nas Recreações Botâncias da Marquesa de Alorna. E de Pru-dêncio do Amaral veio a público, em 1780, De Sacchari Opificio Car-
men, acerca da “lavoura do açúcar”, e no ano seguinte, José Rodrigues
de Melo anexou-o aos seus poemas em torno das “coisas rústicas do
Brasil” (De Rustici Brasiliae Rebus Carminum). Traduzidos por João
Gualberto Ferreira dos Santos Reis, em 1830, sob o título de Geórgica
Brasileira, voltaram a circular em 1941, com o título mudado para
Geórgicas Brasileiras.
Poesia didática, a geórgica visava a estimular o interesse e o respei-
to pela agricultura, o cultivo das vinhas, das abelhas, pássaros e peixes,
sem perder de vista, como Virgílio mostrou nos seus versos, o recurso à
imaginação e à sensibilidade, em busca da perfeição das ideias e das formas: a doutrina careca da lavoura não dispensava a inventividade lí-
José Pereira da Silva
2741
rica e a beleza da expressão poética.
Veja os verbetes: Égloga, Idílio e Pastoral.
Geração
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), embora não o vocábulo (que
é do século XII), a ideia nele contida remonta à história pré-cristã. As-
sim como os latinos, que dividiam o século em três aetates, três gera-
ções, procedia Heródoto (485-425 a.C.) nas suas Histórias (vol. II, p.
142), Hesíodo (c. 750-650 a.C.) na sua Teogonia, e a própria Bíblia.
Depois de mais ou menos esquecido durante séculos, o problema das
gerações voltou a circular no século XIX, e de um modo que evidenci-
ava um interesse consciente pelo assunto.
Na França, merecem relevo as considerações de Isidore Auguste
Marie François Xavier Comte (1798-1857), Honoré de Balzac (1799-
1850), Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), Jules Michelet (1798-1874), Joseph Ernest Renan (1823-1892), Hippolyte Adolphe
Taine (1828-1893) e outros. Entretanto, “seria preciso aguardar os der-
radeiros anos do século XIX para ser ver críticos e romancistas utiliza-
rem na prática o conceito de geração na França”, como, por exemplo,
Maurice Barrès (1862-1923) e o seu Déracinés (1897), “romance de
uma geração”, “romance coletivo” (PEYRE, 1948, p. 65 e 67).
Na Alemanha, ressalta-se Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel
(1772-1829), cuja História da Literatura Antiga e Moderna (1815), di-
visa três gerações de escritores alemães no século XVIII; e sobretudo
Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (1833-1911), pensador que primeiro
levou às últimas consequências a especulação em torno da matéria, no
ensaio dedicado a Novalis (1865), em que introduziu o conceito histó-rico de “geração”, mais tarde desenvolvido em Acerca do Estudo da
História das Ciências do Homem, da Sociedade e do Estado (1875).
No entanto, os debates alcançariam o apogeu no século XX, nota-
damente na terceira e quarta décadas. Tirante a Inglaterra, cujos teóri-
cos e críticos se mostram pouco interessados nesse assunto, a França
apresenta uma série de estudiosos “geracionistas” ou voltados para o
exame da questão, como Georges Renard (1876-1943), autor de La Mé-
thode Scientifique de l’Histoire Littéraire (1900); François Mentré
(1877-1950), autor de Les Générations Sociales (1920); Cristian
Sénéchal (1886-1938), autor de Les Grands Courantes de la Littérature
Française Contemporaine (1934); Albert Thibaudet (1874-1936), autor de Réflexions sur la Littérature (1938), em que comenta a ideia de ge-
ração, e de História da Literatura Francesa de 1789 aos Nossos Dias
(1936), fundada no modelo das gerações; Jean Pommier (1922-2018),
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2742
“então professor na Sorbonne e depois no Colégio de França, consa-
grou à ‘ideia de geração’ uma das três conferências que proferiu em de-
zembro de 1942 na Escola Normal Superior” (idem, p. 96); e René Jas-inski (1898-1985), autor de uma História da Literatura Francesa
(1947), tendo por base a sequência temporal das gerações. No plano da
ficção, registra-se o aparecimento de “numerosos romances de uma ge-
ração”, como, por exemplo, La Chasse du Matin (1937, p. 68), de Jean
Prévost (1901-1948).
Mas é na Alemanha que os estudos referentes à matéria atingiram a
máxima tensão, com Georg Maximilian Wilhelm Pinder (1878-1947),
autor de O Problema das Gerações na História da Arte Europeia
(1926); Alfred Ottokar Lorenz (1868-1939), autor de História da Músi-
ca Ocidental segundo o Ritmo nas Gerações (1928); Karl Mannheim
(1893-1947), autor de O Problema das Gerações (1928-1929); Julius Peter Christian Petersen (1839-1910), autor de um livro intitulado Das
Gerações Literárias (1930), e de um ensaio, com idêntico título, inserto
no volume coletivo dirigido por Emil Ermantinger (1873-1953), (Filo-
sofia da Ciência Literária, 1930); Eduard Wechssler (1869-1949), au-
tor de Gerações de Escritores Alemães (1933), e outros.
Tais investigações repercutiram nos Estados Unidos graças a dois
germanistas: Harold Stein Jantz (1907-1987), autor dos artigos “The
Factor of Generation in German Literary History” (Modern Langua-
gem Notes, maio de 1937) e “Herder, Goethe and Fr. Schleger on the
Prolem of the Generations” (Germanic Review, outubro de 1933); e
Detlev W. Schumann (190-1986), autor de “Cultural Age-Groups in
German Thought” e “The Problem of Age-Groups: a Statistical Appro-ach” (Publications of the Modern Language Association, dezembro de
1936 e junho de 1937).
Na Península Ibérica também encontraram eco os estudos nessa
área: na Espanha, o primeiro a discutir o problema foi José Ortega y
Gasset (1883-1955) em El Tema de Nuestro Tiempo (1923), e de tal
modo o fez que um seu compatriota chegou a declarar que “a tentativa
mais séria e perspicaz de formular o problema das gerações é, incompa-
ravelmente, a de Ortega; das demais contribuições a esse problema, as
melhores lhe são devedoras” (MARÍAS, 1960, p. 333). Seguiu-se-lhe
Pedro Salinas Serrano (1891-1951) com “El Concepto de ‘Generacion
Literaria’ Aplicado a la de 98” (Revista de Occidente, vol. XIII, de-zembro de 1935); Pedro Laín Entralgo (1908-2001), autor de Las Ge-
neraciones en la Historia (1945); e Julián Marías Aguilera (1914-
2005), autor de El Método Histórico de las Generaciones (1949).
José Pereira da Silva
2743
Em Portugal, ressalta-se Fidelino de Sousa de Figueiredo (1888-
1967), que várias vezes tratou do assunto, principalmente em Antero
(1942) e Motivos de Novo Estilo (144). Entre nós brasileiros, a questão ressoou também, como atesta a Sociologia das Gerações (1952), de
Paulo Cretella Sobrinho e Irineu Strenger.
Ao longo da sua história, o conceito de geração não só se foi aden-
sando como ganhando progressiva nitidez. Dado que o exame de todas
as propostas a respeito se torna impossível e inadequado neste contex-
to, limitemo-nos a salientar as mais relevantes. Wilhelm Christian
Ludwig Dilthey (1833-1911), engolfado na estruturação do mundo his-
tórico, considera a existência de “uma relação entre vida, referências
vitais, experiência da vida e formação de ideias que sustenta e vincula
os indivíduos no interior de um determinado círculo de modificações da
captação de objetos, da formação de valores e da proposta de fins” (DILTHEY, 1944, p. 202).
Ou seja: “a vida em torno, estados sociais, políticos e culturais di-
versos, especialmente o novos fatos intelectuais; Estas condições fixam
certos limites às possibilidades de progresso que se ofereciam partindo
da anterior geração Sob a ação destas condições tem lugar a formação
de uma soma de indivíduos homogêneos determinados por elas”
(DILTHEY, 1945b, p. 439-440). Como interpretasse a ideia de geração
do prisma filosófico, Wilhelm Christian Ludwig Dilthey acabou deri-
vando para a abstração e desprezando a categoria “idade”, que viria a
ser considerada rotineira daí por diante.
Todavia, a obra de objetivação e esclarecimento do conceito decor-
reria do pensamento de um seu discípulo espanhol, José Ortega y Gas-set (1883-1955): “As variações da sensibilidade vital que são decisivas
em história se apresentam sob a forma de geração. Uma geração não é
um punhado de homens egrégios, nem simplesmente uma massa: é co-
mo um novo corpo social íntegro, com a sua minoria seleta e a sua mul-
tidão, que foi lançado sobre o âmbito da existência com uma trajetória
determinada. A geração, compromisso dinâmico entre massa e indiví-
duo, é o conceito mais importante da história, e, por assim dizer, o ful-
cro em torno do qual executa os seus movimentos.
Uma geração é uma variedade humana no sentido rigoroso que dão
a este termo os naturalistas. Os seus membros vêm ao mundo doados
de certas características típicas, que lhes emprestam fisionomia comum, diferenciando-os da geração anterior. Dentro desse marco de identidade
podem estar indivíduos do mais diverso temperamento, até o ponto em
que, tendo de ver uns com os outros, porque contemporâneos, se sintam
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2744
às vezes como antagonistas. Entretanto, sob a mais violenta contraposi-
ção dos prós e dos contras, facilmente descobre o olhar uma comum fi-
ligrana. Uns e outros são homens do seu tempo, e por muito que se dis-tingam, ainda assim se parecem”; em suma, “cada geração representa
uma certa atitude vital” (GASSET, 1987, p. 78-79).
Mais precisamente, “uma geração é uma zona de quinze anos du-
rante a qual uma certa forma de vida foi vigente. A geração seria, pois,
a unidade concreta da autêntica cronologia histórica, ou, por outras pa-
lavras, a história caminha e procede por gerações. Agora se compreen-
de em que consiste a afinidade verdadeira entre os homens de uma ge-
ração. A afinidade não deriva tanto deles, como de se verem obrigados
a viver num mundo que tem uma forma determinada e única” (Prólogo
a Ángel Ganivet, 1945, p. 10). Ao mesmo tempo que iluminava o con-
ceito, o pensador castelhano acrescentava-lhe o pormenor concernente à idade, o lapso de quinze anos, para o desabrochar de uma geração.
Julius Peter Christian Petersen (1839-1910) distinguiu o assunto
com um estudo germanicamente sistemático e minucioso. Fundamen-
tando-se numa perspectiva “histórico-temporal”, é de parecer que “não
se pode identificar a geração, como conceito temporal, com certo nú-
mero de anos, como de 1890 a 1900, que ignificam o mesmo em todos
os países com calendário cristão; trata-se, mais propriamente, de um
tempo interior que, à semelhança do florescimento, maturidade e fruti-
ficação, se diversifica por diferenças climáticas, e à semelhança de cada
um dos referidos países, dispõe de um meridiano próprio e experimenta
o nascer e o pôr do sol a horas determinadas” .
Discerne ainda, em cada geração, três tipos: o diretivo, que “não só alcança o desenvolvimento completo da sua peculiaridade, o incremen-
to das suas disposições, a transformação de formas velhas e a criação
de novas, graças a fatores que lhe favorecem a formação, como tam-
bém consegue, pela sua unidade compacta, atrair a si a outra parte da
geração, com disposições tipicamente diferentes” (ERMANTINGER,
1946, p. 186); o dirigido, “que, mediante a sua adaptação, reforça a su-
perioridade do primeiro tipo e, mediante a sua mudança, completa a
impressão de unidade de geração que se torna visível de fora para den-
tro” (ERMANTINGER, 1946, p. 144-145); o oprimido, “que não pode
se fazer valer conservando a sua própria peculiaridade e se encontra,
portanto, forçado a eleger entre caminhar por vias abandonadas, har-monicamente com a sua índole, negar a sua própria peculiaridade ao
marchar em compasso com a moda, desempenhando, por isso, um pa-
pel subordinado, ou esperar obstinadamente a ressonância que no futu-
José Pereira da Silva
2745
ro há de ter o que lhe é peculiar, fechando-se asperamente em sua soli-
dão”.
E, por fim, enumera os “fatores que formam a geração” (ERMAN-TINGER, 1946, p. 159-160): a herança, a data de nascimento, elemen-
tos educativos, comunidade pessoal (“vivência temporal comum limi-
tada a determinado espaço, e que estabelece afinidade pela análoga par-
ticipação nos mesmos acontecimentos e conteúdos vivenciais – expres-
sões –, que remove o solo e cria a disposição para uma direção vital pa-
recida”) (ERMANTINGER, 1946, p. 166), experiências da geração
(como a Revolução Francesa, os barcos a vapor, a eletricidade, a bom-
ba atômica etc.), o guia (“determinado ideal de homem para o Renas-
cimento, l’uomo universale, o Barroco, o cortesão, a Ilustração france-
sa, o bel esprit, a inglesa, o gentleman, a alemã, o homem honrado, a
época do Sturm und Drang, o gênio sensível, a época da Restauração, o desgarrado, a decadência do século XIX, o dandy” (ERMANTINGER,
1946, p. 172).
Entende-se como guia “o organizador que se coloca à cabeça dos
homens da mesma idade; o mentor que atrai e assinala o caminho aos
mais jovens que ele; o herói adorado por sua época”) (ERMANTIN-
GER, 1946, p. 179), a linguagem da geração (“entre todos os fatores
que provocam a comunidade de geração é a linguagem a mais elemen-
tar, na medida em que toda a compreensão recíproca, as atitudes ante
experiências comuns, toda a crítica das situações as superar, todo acor-
do sobre metas comuns, requer o meio da linguagem”) (ERMANTIN-
GER, 1946, p. 180), “o anquilosamento da velha geração” (ERMAN-
TINGER, 1946, p. 182-183) (“apresenta-se uma nova geração sempre que a obra da anterior se encontra acabada no seu perfil. As lacunas que
deixa o sistema da geração precedente assinalam o caminho à vindoura.
Toda simplicidade abre possibilidade à força e ao exagero; toda unilate-
ralidade excessiva desencadeia a unilateralidade contrária. Neste senti-
do, o espírito dos velhos participa, com o seu malogro, da formação de
uma nova geração, não menos que o espírito dos jovens mediante o seu
fomento” (ERMANTINGER, 1946, p. 186).
Julián Marías Aguilera (1914-2005), seguindo na esteira de José
Ortega y Gasset (1883-1955), admite que “a geração não é um conceito
biológico e sim histórico, porque o decisivo não é a idade biológica que
cada homem tem, mas, sim, sua inserção – ainda que, naturalmente, condicionada por aquela – numa determinada figura de mundo”, visto
que “a estrutura do mundo que cada um encontra é que impõe certos
traços comuns a esses homens, não o que cada um deles faça para vi-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2746
ver, que pode ser muito diferente em cada caso, sendo sempre, porém,
determinado pelo fato de que, o que quer que faça cada indivíduo, o faz
para viver num mundo que é o mesmo que o de seus companheiros de geração, e portanto, em vista desse mesmo mundo” (MARÍAS AGUI-
LERA, 1960, p. 333).
Enquanto Fidelino de Fidelino de Sousa de Figueiredo (1888-1967)
prefere falar em “revoadas de gosto”: “uma geração é também uma va-
ga revoada de espíritos eleitos, com certa uniformidade na superiorida-
de, com certo descontentamento do horizonte coetâneo, mas fundamen-
te mergulhados nos problemas e preocupações da sua hora e do seu
quadro social” (FIGUEIREDO, 1944, p. 64-65), acentuando, deste mo-
do, o caráter não biológico do conceito de geração.
Karl Mannheim (1893-1947), num longo estudo consagrado ao pro-
blema das gerações, julga que “o fenômeno social ‘geração’ representa não mais do que um particular tipo de identidade de situação, enfeixan-
do ‘grupos etários’ inseridos num processo histórico-social” (MAN-
NHEIM, 1952, p. 292).
Mais recentemente, os dois estudiosos brasileiros mencionados
(Paulo Cretella Sobrinho e Irineu Strenger) propuseram o seguinte con-
ceito de geração: “é um conjunto de indivíduos, pertencentes a vários
grupos de idade, portadores de conteúdo determinado e cujas ativida-
des, anseios e tendências se orientam no sentido de uma síntese que é a
síntese geracional” (CRETELLA SOBRINHO & STRENGER, 1952,
p. 93).
Em tais depoimentos, simples mostruário de uma controvérsia que
fez correr muita tinta, nota-se a generalizada tendência a conferir à ideia de geração relevância primordial: ora se julga a geração indispen-
sável à história do gosto (PEYRE, 1948, p. 49), ora é “o conceito mais
importante da história, e, por assim dizer, o fulcro em torno do qual
executa os seus movimentos” (GASSET, 1987, p. 78), ora se afirma
que “todas as ciências que se ocupam do homem e de suas criações par-
ticipam, de algum modo, do problema das gerações: história universal,
história das ideias políticas, história da cultura, filosofia da história, so-
ciologia, etnologia, antropologia, teorias da evolução e da herança, bio-
logia, psicologia e pedagogia, história da linguagem e do estilo, história
do gosto, história de todas as artes e das ciências” (PERSEN, in ER-
MATINGER, 1946, p. 137). Não obstante essas entusiásticas postula-ções estarem datadas e serem obviamente discutíveis, parecem ainda
válidas da perspectiva histórica, apesar de o assunto interessar pouco
ou nada às novas gerações.
José Pereira da Silva
2747
Seja qual for a importância que se atribua ao tema e seja qual for o
conceito preconizado, a noção de geração pode levar a pressupor, erro-
neamente, que as gerações se sucedem de forma linear no curso da his-tória, como se os grupos de indivíduos se encadeassem numa sucessão
inflexível e estanque, obedientes a uma ritmo de alternâncias infindá-
veis, de modo que uma geração nova haveria de se seguir matematica-
mente a uma outra, agonizante; e fazer pensar que todos os membros
sociais próximos em idade devam ser ideológica e/ou culturalmente
identificados. Na verdade, podem ter a mesma idade e filosofias opos-
tas (“retrógrados” e “progressistas”), e idades diversas e apregoar dou-
trinas semelhantes ou iguais.
Consequentemente, o conceito de “geração” implicaria sempre dois
fatores básicos fundidos: a idade e a ideologia. Pertencem à mesma ge-
ração, via de regra, indivíduos nascidos em datas próximas e dotados de afinidades culturais. Entretanto, pode ocorrer discrepância de idade
e nem por isso dois escritores deixariam de se situar na mesma geração,
como no caso de Machado de Assis, nascido em 1839, e Aluísio Aze-
vedo, nascido em 1857.
Por sua vez, escritores em idade aproximada, podem filiar-se, ideo-
logicamente, a correntes divergentes, como, por exemplo, Guilherme
de Almeida, nascido em 1890, e os promotores da “Semana de Arte
Moderna”. sobretudo Mário de Andrade, nascido em 1893, e Oswald
de Andrade, nascido em 1890. Lato sensu, pois, uma geração se identi-
fica pela idade de seus membros e por uma determinada visão do mun-
do.
De onde ser conveniente estabelecer distinções, como entre “gera-ção” e “grupo de idade”: confundidos, no geral, pelos estudiosos do as-
sunto, impõe-se discriminá-los, na medida em que “o grupo de idade
comporta indivíduos de idades aproximadas. Pelo fato de serem mais
ou menos da mesma idade, pertencerão ao mesmo grupo, mas não
obrigatoriamente à mesma geração” (CRETELLA SOBRINHO &
STRENGER, 1952, p. 24).
Efetivamente, vários escritores podem compor um grupo de idade
sem constituir a mesma geração: situam-se nesse caso os tipos oprimi-
dos, na classificação de Julius Peter Christian Petersen (1839-1910),
que são forçados a optar por uma solução vigente na geração passada,
tornando-se epígonos, ou a projetar-se no futuro, tornando-se vanguar-distas. Assim, um corte vertical que seccionasse a massa pensante de
uma nação no espaço de quinze anos, encontraria indivíduos da mesma
idade ideologicamente aparentados, ou ideologicamente antagônicos,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2748
além de outros que representam a geração no ocaso ou que ainda não
manifestaram as suas virtualidades intelectuais.
Daí a segunda discriminação, entre contemporaneidade e coetanei-dade: no lapso de quinze anos, convivem indivíduos de todas as idades
possíveis, e de certo modo, de todas as gerações (pelo menos as três
que tradicionalmente constituem um século); são contemporâneos, per-
tencem ao mesmo tempo, coexistem em determinado momento históri-
co. A coetaneidade implica, a rigor, a comunhão de idade, diz respeito
aos escritores contemporâneos nascidos em idade aproximada: são con-
temporâneos e coetâneos. Portanto, os membros de uma geração são
necessariamente contemporâneos, mas nem todos os seres contemporâ-
neos formam uma geração.
Outra distinção cabe estabelecer, entre “geração”, “era”, “época”,
“período”, “fase”. Posto que se trate de rótulos mais ou menos cômo-dos e apenas didaticamente pertinentes, há que encará-los sempre que
se impõe qualquer análise de natureza historiográfica. De modo amplo,
podemos dizer que a “era” corresponde ao lapso maior de tempo em
que se fragmenta a história literária de um povo; a “época” seria a sub-
divisão da “era”; o “período”, da “época”; a “fase”, do “período” ou da
biografia dos autores.
Exemplo: a literatura brasileira ostenta duas eras: a colonial (1500-
1838) e a nacional (1836 em diante), a era colonial, três épocas (Ori-
gens e Formação: 1500-1601; Barroco: 1601-1768; Arcadismo: 1768-
1836); a nacional, épocas (Romantismo: 1836-1881; Realismo: 1881-
1893; Simbolismo: 1893-1922; Modernismo: 1922 até hoje ); a época
romântica, três períodos (1º, entorno de Gonçalves Dias; 2º, Casimiro de Abreu; 3º, Castro alves); o primeiro período modernista (1922-1945)
apresenta duas fases (1922-1928 e 1928-1945).
A geração poderia identificar-se com o período e a fase, enquanto a
época e a era constituiriam o suceder de gerações irmanadas sob os
mesmos ideais: a era nacional se caracteriza pela sequência de gerações
que, apesar de suas divergências ocasionais, se mostram contagiadas
pelos mesmos valores implícitos no vocábulo “nacional”. Uma suspen-
são, relativa e circunstancial, nesse evolver contínuo daria lugar à épo-
ca ou período, conforme fosse mais drástica ou mais profunda: a época
do Realismo se identifica pela reação contra a estética romântica, mas
sem perder de vista o nacionalismo em moda desde o começo do século XIX.
Na verdade, uma época pode abarcar duas gerações ou mais que se
digladiam sem ocasionar as fundas rupturas que separam as eras: as ge-
José Pereira da Silva
2749
rações componentes de uma época funcionariam como vasos comuni-
cantes, de forma que a ambiência cultural de uma geração seria inte-
grada, ao mesmo tempo, da herança dos valores e padrões da anterior e das expectativas surgidas da impressão, na mente dos jovens, de que a
precedente teria falado ou deixado em aberto perspectivas férteis (PE-
TERSEN, in ERMATINGER, 1946, p. 163).
O vocábulo “geração”, bem como os demais, relacionados com a
historiografia literária, envolve uma complexa tarefa de conceituação,
deslinde e limitação, que nem sempre corresponde ao esforço despen-
dido. Sem dúvida, trata-se de um conceito útil e necessário ainda hoje,
quando as caracterizações de ordem historiográfica ou taxionômica pa-
recem relegadas ao plano dos instrumentos de cultura peremptos ou
improdutivos.
Contudo, espreita-lhe os passos o fantasma da impraticidade, teori-camente válido e fecundo, “menos falaciosamente cômodo que o recur-
so aos períodos, aos movimentos e aos grupos” (PEYRE, 1948, p. 174),
a ideia de geração não só resiste a qualquer formulação precisa e uní-
voca, aceita pela unanimidade dos usuários, como também se revela
pouco eficaz quando posta em prática.
De onde as polêmicas na vintena áurea do problema das gerações
(terceira e quarta décadas do século XX) gravitarem ao redor da teoria
ou teorias suscetíveis de se organizar e defender, sempre de acordo com
o prisma filosófico ou científico adotado pelo estudioso. E quando, ul-
trapassada a fase teorizante, se punha em confronto com os fatos, a no-
ção tombava num relativismo tal que comprometia a robustez da dou-
trina arduamente elaborada, acabando mesmo por desautorizar a proce-dência do intuito conceptualizador.
Em resumo: buscava-se um conceito que superasse as restrições
mecânicas das datas (séculos, movimentos etc.), caindo no vazio da
inoperância ou re regressando ao ponto de partida. Daí que um estudio-
so mais próximo dos nossos dias declarasse que o vocábulo “geração”,
“nos estudos históricos, está absolutamente obsoleto e desacreditado;
em sociologia, também; em boa medida, por sua futilidade, por sua
inapreensibilidade e pela dificuldade absoluta de determinação. O pro-
blema surge quando o dito conceito se desnaturaliza e se deseja preen-
cher de conteúdo literário. Até que surgem os problemas, as ambigui-
dades, as falsificações, e a ausência de realidade do mesmo por pura obviedade” (GAMBARTE, 1996, p. 18).
De qualquer forma, a palavra “geração”, além de integrada definiti-
vamente no vocabulário da teoria da literatura, torna-se muitas vezes
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2750
imprescindível, sobretudo quando se abrem questões de natureza histó-
rica ou histórico-ideológica.
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), em reprografia, geração é uma indicação sobre a antiguidade de uma
cópia em relação à cópia original. A reprodução original do documento
é chamada primeira geração (microfilme). As cópias feitas a partir des-
ta são denominadas de segunda geração e as cópias feitas a partir desta,
de terceira geração etc. Chama-se quinta geração à dos computadores
do futuro caracterizados pela inteligência artificial e pela facilidade da
sua utilização por principiantes. As quatro primeiras gerações de com-
putadores foram fruto de progressos técnicos: se a primeira utilizava
tubos eletrônicos, a segunda se beneficiava da invenção do transistor, a
terceira reagrupava os componentes em circuitos impressos e a quarta,
que conhecemos atualmente, utiliza circuitos integrados. Genealogia; descrição genealógica de uma família; concepção, criação, produção.
Veja o verbete: Crítica.
Geral
Uma caracterização comum na linguística, quando se quer enfatizar
a aplicabilidade universal de uma teoria ou método linguístico no estu-
do das línguas. A linguística geral, assim, engloba os conceitos teóri-
cos, descritivos e comparativos do assunto. Por vezes, opõe-se a outros
ramos da linguística em que há uma orientação aplicada ou interdisci-
plinar, como a sociolinguística e a linguística aplicada. Tinha um sen-
tido semelhante a gramática geral, nos primeiros estágios dos estudos
linguísticos (como a gramática de Port Royal). Com a mesma acepção,
o termo é usado na gramática universal da linguística gerativa. A se-mântica geral, ao contrário, nada tem a ver com o moderno sentido do
adjetivo, referindo-se a um movimento filosófico desenvolvido na dé-
cada de 1930 pelo polonês Alfred Habdank Skarbek Korzybski. Seu
objetivo era tornar as pessoas conscientes da relação convencional en-
tre as palavras e as coisas, como uma maneira de melhorar os sistemas
de comunicação e esclarecer as ideias. Veja o primeiro capítulo da Lin-
guística geral, de Robert Henry Robins (1981). Generalização é a
propriedade das análises e descrições linguísticas que são aplicáveis a
uma quantidade razoavelmente grande de dados de uma língua, e ex-
pressas em termos relativamente abstratos. Quando uma afirmação só
se aplica a unidades individuais (itens lexicais, sons, construções etc.) ou a pequenas classes de unidades "carece de generalidade". O objetivo
do linguista é fazer generalizações sobre seus dados, com o menor nú-
mero de qualificações possível (sobre as exceções ou contextos restritos
José Pereira da Silva
2751
de uso, por exemplo) e que sejam significativos para os falantes nativos
(ou seja, generalizações linguisticamente significativas). Do mesmo
modo, as teorias linguísticas deveriam ser o mais gerais possível, pro-curando estabelecer as características universais da linguagem humana.
Dentro deste enfoque amplo, o termo recebeu diversas aplicações espe-
cíficas, como na gramática de estrutura frasal generalizada ou na con-
dição de generalização verdadeira da fonologia gerativa natural – uma
restrição que insiste em que todas as regras têm de expressar generali-
zações acerca da relação entre todas as formas de estrutura superficial,
da maneira mais direta e transparente possível. As regras fonológicas
devem relacionar as formas da superfície umas com as outras, e não re-
lacioná-las com um conjunto de formas subjacentes, abstratas, como
quer a fonologia gerativa tradicional. Na aquisição da linguagem,
"generalização" se refere ao processo pelo qual uma criança amplia seu uso inicial de um traço linguístico para uma classe de itens. Quando a
criança aprende, por exemplo, uma terminação de verbo, aplica esta
terminação a toda a classe dos verbos. A hipergeneralização ocorre
quando o traço se estende além da gramática do adulto – como aconte-
ce quando as formas dos verbos regulares são aplicadas a verbos irre-
gulares, como em cabeu, fazi etc.
Generalização é um tipo de regra transformacional reconhecida
nos primeiros modelos da gerativa que opera sobre duas ou mais cadei-
as terminais. Há dois tipos de transformações generalizadas: as trans-
formações de conjunção, que lidam com a coordenação, e as transfor-
mações de encaixamento que lidam com a subordinação. Veja o capí-
tulo 6 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979).
Gerar
Uma gramática, considerada como um mecanismo, gera frases
quando, por meio de regras em número finito, enumera explicitamente
as frases de uma língua, isto é, permite formá-las, dando uma descrição
da sua estrutura. Seja a gramática constituída pelas seguintes regras: F
→ SN = SV; SN → D + N e SV → V + SN, o que significa que o nú-
cleo da frase (F) é formado (reescrito) por um sintagma nominal (SN)
seguido de um sintagma verbal (SV), que o sintagma nominal (SN) é
formado de um determinante (D) e um nome (N) e o sintagma verbal
(SV), de um verbo (V) seguido de um sintagma nominal (SN). Essa
gramática gera um número muito grande de frases, pois os nomes e os verbos, isto é, os valores que podem tomar os símbolos N e V, são mui-
to numerosos. Exemplos: "As crianças olham a televisão", "O pai lê o
jornal", "A mãe arruma a cozinha" etc. Cada frase assim obtida é gra-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2752
matical por definição, porque é produzida e descrita pelas regras dessa
gramática. Se as regras dessa gramática são recorrentes (por exemplo, a
regra que permite acrescentar uma relativa a um sintagma nominal), a gramática gera um número infinito de frases dessa língua. Exemplos: O
pai que lê o jornal..., O pai que lê o jornal que ele comprou etc.
Veja: Descrever, Engendrar, Produzir.
Gerativa (gramática gerativa, geração)
Diz-se da linguística ou da gramática que descreve as maneiras co-
mo, ou registra as regras segundo as quais, se constroem ou se geram as
frases de uma língua. Uma modalidade é chamada gerativa transfor-
macional ou simplesmente transformacional.
Segundo David Crystal (1988, s.v.), gerativo é termo derivado da
matemática e introduzido na linguística por Noam Chomsky em seu li-
vro Estruturas Sintáticas, cuja primeira edição em inglês é de 1957, re-ferindo-se à capacidade de uma gramática definir o conjunto de sen-
tenças gramaticais de uma língua (isto é, as sentenças que pertencem a
este conjunto). Tecnicamente, uma gramática gerativa é um conjunto
de regras formais que projeta um conjunto de sentenças sobre o con-
junto potencialmente infinito de sentenças que constituem a língua co-
mo um todo. Ela faz isso de maneira explícita, atribuindo a cada sen-
tença uma série de descrições estruturais. Já foram pesquisados diver-
sos modelos possíveis de gramática gerativa, seguindo a discussão ini-
cial de Noam Chomsky a respeito de três tipos: gramáticas de estados
finitos, gramáticas de estrutura frasal e gramática transformacional.
Nos últimos anos, o termo passou a ser aplicado a teorias de vários ti-
pos, mesmo aquelas não desenvolvidas por Noam Chomsky, como a gramática de arcos, a gramática funcional-lexical e a gramática de es-
trutura frasal generalizada. Há dois ramos principais de linguística ge-
rativa: a fonologia gerativa e a sintaxe gerativa. A expressão semântica
gerativa também é utilizada, mas com sentido diferente.
A escola de pensamento da semântica gerativa foi proposta, dentro
da teoria da linguística gerativa, por linguistas americanos, em especial
George P. Lakoff (1941-), James David McCawley (1938-1999), Paul
Martin Postal (1936-) e John Ross (1938 -2011), no início da década de
1970. Essa escola considera que o componente semântico de uma gra-
mática é a base gerativa da qual pode ser derivada a estrutura sintática.
Este tipo de análise tem início com a representação semântica de uma sentença, e este nível é o único realmente necessário para especificar as
condições que produzem estruturas superficiais bem-formadas. As re-
gras sintáticas subsequentes são apenas interpretativas, e não existe um
José Pereira da Silva
2753
nível intermediário. Com tudo isso, a abordagem se opõe claramente às
afirmações de Noam Chomsky e outros (na teoria-padrão), que argu-
mentavam pela necessidade de um nível sintático de estrutura profun-da, assim como um nível semântico de análise. Sendo assim, "gerativo"
adota um sentido mais restrito do que na "gramática gerativa" como um
todo, uma vez que se opõe especificamente aos modelos que operam
com uma noção diferente, interpretativa da semântica. Os proponentes
desta abordagem são conhecidos como "semanticistas gerativistas". Ve-
ja o capítulo 8 de As ideias de Chomsky, de John Lyons (1974).
O termo gerativa, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), caracteriza
um tipo linguístico de descrição fundamentado no postulado de que a
língua é um sistema formal que se assenta num conjunto de instruões
ou de regras cuja aplicação permite produzir enunciados gramaticais
numa dada língua. Uma gramática gerativa é uma gramática da compe-tência dos sujeitos falantes, cujo caráter explícito é garantido pelo fato
de que ela se aplica a um objeto tido por ela como formalizável. O ob-
jetivo de uma gramática gerativa é de separar dos parâmetros específi-
cos ligados à diversidade das línguas as invariantes fonológicas, sintáti-
cas e semânticas que constituem os princípios da gramática universal.
Veja os verbetes: Algoritmo, Competência, Estrutura profunda, In-
trospecção, Invariante, Locutor-auditor ideal, Matematicalização,
Princípios e parâmetros, Reescrita, Sintaxe.
Gerativismo
Proposta teórica, geralmente associada às ideias de Noam Cho-
msky, que sugere que a gramática universal tem propriedades formais
e contém o conhecimento linguístico inato da espécie humana. O gera-tivismo assume a existência de uma forma de superfície, do domínio do
desempenho, que é entendida como o produto de transformações sofri-
das pela forma subjacente, do domínio da competência, através da apli-
cação de regras da gramática. A fonologia, nessa abordagem, é com-
preendida como um módulo gramatical. As regras fonológicas geram
ou transformam as formas subjacentes em formas superficiais. No mo-
delo gerativo, a sintaxe é o componente central da gramática, fornecen-
do informações para o componente fonológico e semântico.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gerativismo define a
escola de pensamento linguístico inaugurada por Avram Noam Cho-
msky no final da década de 1950 e que ganha vigor a partir dos anos 1960. Recebe também outras denominações como gramática gerativa,
gramática gerativo-transformacional, linguística gerativa e gramática
transformacional. O gerativismo surge como reação à linguística de
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2754
matriz behaviorista que dominava o mundo acadêmico estadunidense
graças à poderosa influência de Leonard Bloomfield. O behaviorismo
postula um movimento de estímulo (exterior) → configuração psicoló-gica → reação e se apoia pesadamente na noção de condicionamento.
Contra esses postulados, Avram Noam Chomsky recupera a tese platô-
nica do inatismo da linguagem e lhe empresta nova roupagem, como a
hipótese de que a estrutura da linguagem estaria inscrita no código ge-
nético do ser humano e seria ativada pelo ambiente após o nascimento
do indivíduo. O gerativismo chomskiano se torna o maior representante
do formalismo nos estudos da linguagem na segunda metade do século
XX e no início do século XXI. Alguns dos princípios definidores da te-
oria gerativa são:
1) a língua é um conjunto de sentenças; disso decorre o foco prati-
camente exclusivo dos gerativistas na sintaxe, ao contrário do estrutu-ralismo clássico, que se dedicava primordialmente à fonologia e à mor-
fologia;
2) a função primária da língua é a expressão do pensamento; daí a
proposta de Avram Noam Chomsky de incluir a linguística no campo
da psicologia cognitiva;
3) o correlato psicológico da língua é a competência, a capacidade
de produzir, interpretar e julgar sentenças;
4) o estudo da competência tem prioridade lógica e metodológica
sobre o estudo do desempenho;
5) as sentenças de uma língua devem ser descritas independente-
mente do contexto em que ocorreram (autonomia da sintaxe);
6) a faculdade de linguagem é inata; o que se adquire é uma língua particular, a partir de input restritos e não estruturados;
7) os universais linguísticos são propriedades inatas do organismo
biológico e psicológico dos seres humanos.
O programa teórico de Avram Noam Chomsky pode ser sintetizado
em sua célebre declaração (1965, p. 3): “A teoria linguística se interes-
sa primordialmente por um falante-ouvinte ideal, numa comunidade de
fala completamente homogênea, que conhece sua língua perfeitamente
e não é afetado por condições gramaticalmente irrelevantes tais como
limitações de memória, distrações, desvios de atenção e interesse, e er-
ros (aleatórios ou característicos) ao aplicar seu conhecimento da lín-
gua no desempenho real”. Para a teoria gerativa, portanto, a variação é mero “acidente de per-
curso”, um epifenômeno que não invalida os postulados de uma “gra-
mática universal” e que se manifesta apenas no desempenho, sem alte-
José Pereira da Silva
2755
rar a competência, que pode ser algebricamente transcrita por meio de
regras formais.
Em sua investigação dos processos de mudança linguística, William Labov se contrapõe em parte ao gerativismo ao postular que é precisa-
mente a variação a responsável pelas mudanças que as línguas apresen-
tam ao longo do tempo. A mudança não fazia parte dos interesses de
Avram Noam Chomsky, concentrado, como herdeiro do estruturalismo
clássico, na sincronia, no estado da língua conforme a conhecem intui-
tivamente seus falantes nativos. William Labov propõe, então, o con-
ceito de regra variável em contraposição à regra categórica. Com esse
conceito, William Labov tenta descrever a probabilidade de que uma
regra opcional (ou seja, uma regra que ocorre variavelmente, não cate-
goricamente) será aplicada pelos membros de um dado grupo social – é
esse recurso ao contexto social de uso da língua e a uma metodologia empírica de coleta de dados (ao contrário do gerativismo, que se vale
de dados produzidos pelo próprio linguista como “falante ideal” da lín-
gua) que fará surgir a sociolinguística variacionista. A convivência,
num mesmo estado de língua, de formas inovadores e formas conser-
vadores em concorrência levantará a necessidade de uma fusão da
abordagem diacrônica com a abordagem sincrônica. Quanto à tentativa
de William Labov de formalizar a regra variável por meio de símbolos
algébricos, veja as críticas apresentadas nos verbetes formalismo e fun-
cionalismo.
O gerativismo é algo de pesadas críticas da parte dos estudiosos que
consideram impossível, senão inútil, promover a separação língua ver-
sus sociedade, uma vez que só existe uso da língua em contextos soci-ais de interação. A hipótese de uma gramática universal também tem
sido descrita por diversos pesquisadores como um mito intelectual, tão
antigo quanto a filosofia ocidental, desprovido de qualquer possibilida-
de de comprovação empírica.
Veja os verbetes: Fonologia gerativa, Formalismo, Funcionalismo
e Gramática universal.
Gerativo
Uma gramática é gerativa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
quando é feita de um conjunto de regras (com um léxico associado) que
permite, para toda combinação das palavras da língua, decidir se essa
combinação é gramatical e fornecer-lhe, nesse caso, uma descrição es-trutural. Uma gramática gerativa é explícita no sentido de que a natu-
reza e o funcionamento das regras são descritos de maneira rigorosa e
precisa, que permite a sua formalização. Uma gramática gerativa não
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2756
tem necessariamente transformações como a "gramática gerativa" de
Noam Chomsky.
Geringonça
Geringonça é o mesmo que linguagem vulgar ou informal, jargão,
calão, gíria.
Germânico
Germânico é o grupo linguístico do tronco indo-europeu, falado no
noroeste europeu ou o que se diz desse grupo. Dele fazem parte: o ger-
mânico oriental, já extinto (gótico), o germânico setentrional (islandês,
norueguês, sueco e dinamarquês) e o germânico ocidental (alto-alemão,
baixo-alemão, antigo inglês, holandês, frisão e flamengo) (JOTA, 1981,
s.v.).
Germanismo
Os germanismos são elementos de origem germânica que entraram no português, mas, rigorosamente, germanismo é o nome que se dá ao
termo alemão adotado pelo léxico vernáculo. Alguns gramáticos, no
entanto, fazem distinção entre os termos "elementos germânicos" e
"germanismos". Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.) lembra que, ge-
ralmente, são assinaladas três fontes de entrada dos elementos germâni-
cos no léxico português: 1) os soldados bárbaros alistados no exército
romano, invasor da península, de onde provêm palavras como: burgo,
ganhar, guarda, guante, saia etc.; 2) o direito feudal – instituições polí-
ticas e judiciárias que os suevos, alanos, godos e visigodos trouxeram
consigo na ocasião da conquista. Nesta leva, em geral, incluem-se ter-
mos de guerra e títulos nobiliárquicos como: alabarda, alta, arsuto,
bacinete, baluarte, barão, bacharel, boldiré, cota, dardo, elmo, esca-ramuça, estoque, feudo, marechal, sabre etc.; 3) os navegantes nor-
mandos que, desde o século IX, invadiram a Galiza e se estabeleceram
às margens do Minho. Em geral, são termos náuticos, como: arpão, ar-
péu, avaria, banco, barco, barril, batel, bordo, bosque, bote, brasa,
brisa, bruxa, cábrea, canivete, canoa, chalupa, cofre, colchete, copo,
dique, escota, espeto, espora, estofo, ganho, ganso, grenha, jardim, la-
ta, rato, renda, rico, rocim etc. O v- germânico, ao passar para o verná-
culo, muda-se em g- ou gu-. Exemplos: verra > guerra; vardare >
guardar; Vimaranis > Guimarães etc.
No entanto, vale a pena registrar que os germanismos, via de regra,
se introduziram no português através do francês, sendo também incon-táveis os antropônimos de origem germânica, como se pode exemplifi-
car com os seguintes: Adalberto, Adelaide, Adelmar, Adolfo, Arnulfo,
José Pereira da Silva
2757
Astolfo, Ataúlfo, Bernardo, Clodoaldo, Clodomiro, Clodorico, Dago-
berto, Edelberto, Edgar, Eduardo, Frederico, Godorico, Guilherme,
Hilda, Landulfo, Odorico, Odulfo, Osvaldo, Ranulfo, Ricardo, Roberto, Rodolfo, Rodrigo etc.
Veja: Superstrato e Barbarismo.
Gerundial
Oração reduzida gerundial é aquela que tem o verbo no gerúndio e
pode exercer variadas funções.
Em gramática gerativa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a
transformação gerundial encaixa uma frase no sintagma preposicional
de uma frase matriz com o valor de adjunto adverbial, sendo o sintag-
ma nominal sujeito da frase encaixada idêntico ao sujeito da frase ma-
triz. Em português, o afixo de tempo é substituído pelo afixo -ndo. Se-
jam as duas frases: 1) Eu soube a notícia + sintagma preposicional e 2) Eu + Tempo + ler + o jornal. Se a frase 2 for encaixada no sintagma
preposicional da frase 1, sendo a preposição em ("por esse meio"), ob-
tém-se, se Tempo é substituído por -ndo, a frase "Eu soube a notícia,
lendo o jornal", sendo apagado o sujeito da subordinada, idêntico ao da
matriz.
Veja: Gerúndio.
Gerúndio
Forma nominal do verbo que corresponde a um substantivo verbal
em função de advérbio. Exemplo: "Cantando, espalharei por toda a
parte". A ideia é adverbial de modo.
Em latim, o gerúndio tinha quatro casos: acusativo, genitivo, dativo
e ablativo. Só o ablativo (-ndo) persistiu nas línguas românicas. Daí a ideia adverbial de modo a que nos referimos. Todavia, para indicar cir-
cunstância concomitante, o gerúndio começa, desde cedo, a substituir o
particípio presente.
Por isto, certamente, algumas gramáticas do século passado se refe-
riam, às vezes, ao gerúndio como particípio presente, de modo que o
que, atualmente é chamado simplesmente de particípio, era chamado de
particípio passado.
Há exemplo em Cícero (106-43 a.C.), mas tal sintaxe só se desen-
volveu na época imperial (27 a.C.-284 d.C.), tendo se expandido no
baixo latim. É o caso de frases portuguesas como o povo acompanhava
chorando (= enquanto chorava) a procissão. Em frases desse tipo, po-dia predominar a ideia participial, isto é, adjetiva-verbal, e dizer-se, por
exemplo: o povo acompanhava o esquife chorando lágrimas amargas,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2758
etc. (o que também se pode interpretar como o povo que chorava lá-
grimas amargas). Por isso, o gerúndio adquiriu funções de adjetivo
verbal em português, mas sempre associadas com uma ideia adverbial. Exemplos: Vi um boi passando a ponte. Isto é, que passava (função ad-
jetiva) ou quando passava (função adverbial).
Deu-se mais um passo quando o gerúndio passou a ser empregado
exclusivamente com função adjetiva, posta de lado a função adverbial a
que estava vinculado por sua origem ablativa. Nesse sentido, o seu uso
não é clássico, e tem suscitado controvérsias. Uma construção como
caixa contendo borboletas só admite a interpretação que contém e, por
isso, deixa de ser gerundial para se tornar puramente participial. Os
gramáticos costumam considerar galicismo esse modo de dizer, conde-
nando-o, por isto. Não obstante, são corretas as expressões água fer-
vendo e pez ardendo. Segundo Vittorio Bergo (1960, s.v.), gênero é a forma nominal do
verbo, correspondente em geral ao advérbio. Entra na constituição de
locuções verbais como: estou escrevendo, estava escrevendo, estive es-
crevendo, esteja escrevendo estarei escrevendo, estaria escrevendo
etc., as quais exprimem com maior precisão os acidentes da ação do
que os tempos simples.
Com o gerúndio se formam também orações reduzidas, que podem
exprimir várias circunstâncias, a saber: tempo – Viajando pelo interior,
encontrei vários amigos (= quando viajei); condição – Havendo tempo,
irei até aí (= se houver tempo); fim – Oficiaram ao diretor, pedindo o
relatório (= para pedirem o relatório); meio – Um ofício se aprende fa-
zendo (= por este meio); causa – estando doente, não pude comparecer (= porque estava doente); concessão – Tendo prestígio junto ao gover-
no, nada fez pela sua região (= embora tivesse prestígio junto ao go-
verno).
Além de exprimir circunstâncias várias, o gerúndio pode apresentar,
insulado na frase, valor puramente narrativo, como neste exemplo: “Os
cavalinhos correndo, e nós, cavalões, comendo...” (Manuel Bandeira).
Tendo sentido progressivo, pode equivaler a uma subordinada adjetiva:
“Vi a bandeira portuguesa flutuando com a brisa da manhã” (Almeida
Garrett). Aliás, é comum, em português, substituir o gerúndio ao es-
quecido particípio presente, inclusive em expressões vulgares, como
água fervendo (por água fervente). Na linguagem clássica, costuma o gerúndio ser precedido da prepo-
sição em: “Em qualquer terra, em havendo um par de testemunhas fi-
dedignas, prova-se logo tudo” (António Feliciano de Castilho). É vul-
José Pereira da Silva
2759
gar tal sintaxe na expressão “em se tratando disso...”.
Em certos casos, o gerúndio equivale a uma oração coordenada adi-
tiva. Exemplo: “Escrevemos a carta, pondo-a em seguida no correio” (= e pusemo-la em seguida no correio).
Sobre o gerúndio, Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.) escreveram
que é a forma nominal do verbo que indica o processo verbal como ge-
nérico, sem noção de modo e tempo, apresentando a desinência -ndo
precedida da vogal temática -a- para a primeira conjugação, -e- para a
segunda conjugação ou -i- para a terceira. Exemplos: falando, correndo
e saindo. Com o verbo pôr e seus derivados (compor, depor, dispor,
repor etc.), a vogal temática vem implícita (pondo < poendo < põendo
< ponendo < ponere), constituindo, pois verbos da segunda conjuga-
ção.
É também a forma nominal que assume enquanto forma nominal o duplo valor de verbo e nome. Assim, em Ele está se formando em me-
dicina é um verbo, mas em O formando (ou a formanda) em medicina
ainda não apareceu é um substantivo. Em Ela está se doutorando em
psicologia, doutorando é verbo, mas em O doutorando (ou a doutoran-
da) em psicologia deverá apresentar a tese no dia marcado, doutoran-
do (ou doutoranda) é substantivo.
Nos dicionários, só aparece como verbete quando for nome, como
nos seguintes exemplos extraídos do Moderno Dicionário da Língua
Portuguesa, de Carolina Michaelis (1998, s.v.):
“e.du.can.do sm (lat. educandu). 1 aquele que está recebendo edu-
cação. 2 pensionista numa casa de educação. 3 aluno, colegial, discípu-
lo.” “ve.ne.ran.do adj (lat. venerandu). Que deve ser acatado; respeitá-
vel, venerável.”
O gerúndio apresenta duas formas:
a) simples (falando, correndo, ouvindo), podendo exprimir ordem,
com valor de imperativo, de uso mais restrito (– Marcando! – disse o
capitão aos seus soldados), ou ação em curso, que pode ser anterior,
posterior ou simultânea à de verbo da oração principal (Falando assim,
vocês não conseguirão nada. Veio até a casa, dizendo que era polícia.
Partiu para cima do adversário, esbravejando).
b) composta (apresenta um verbo auxiliar ter ou haver no gerúndio
e o verbo principal no particípio), como tendo falado, havendo partici-pado, tendo ouvido. Esta forma pode se estruturar com outro verbo (o
verbo auxiliar) para formar locução verbal, sendo neste caso o verbo
principal e constituindo apenas uma oração. Exemplos: O menino esta-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2760
va correndo pelo pátio. Os meninos estavam correndo pelo pátio. Nós
estávamos correndo pelo pátio. A locução verbal com gerúndio expri-
me aspecto durativo e indica uma ação com ideia de momento preciso, exato (O Brasil está mudando), movimento reiterado, repetido (Todos
andam falando de nossa viagem. Vivem reclamando da vida), situação
progressiva, isto é, por etapas (– Como você está? – Vou levando, vou
indo) e direção ou época em que se encontra (Vem chegando mais gen-
te. Está chegando o inverno).
Pode constituir oração subordinada reduzida de gerúndio, em perío-
do composto, com possibilidade de desdobramento em oração desen-
volvida (O presidente fazendo a proposta, todos a discutiremos = As-
sim que o presidente fizer a proposta, todos os discutiremos).
Compare a oração reduzida de gerúndio em período composto com
a locução verbal com gerúndio nos pares seguintes: Vimos as crianças brincando na praça (valor de subordinada adjetiva = que brincavam)
com As crianças estão brincando na praça (período simples – oração
absoluta) e Treinando assim, vocês serão vencedores (valor de subor-
dinada adverbial = se treinarem assim) com Estamos treinando para a
competição (período simples – oração absoluta).
As formas de gerúndio em -ano, -eno, -ino e -ono, não aceitas pela
norma culta e são consideradas de influência africana. Exemplos: ama-
no, correno, ouvino e pono no lugar de amando, correndo, ouvindo e
pondo.
Leia o que diz Thaïs Cristófaro Silva, em Fonética e Fonologia do
Português (1999, p. 12) em relação ao português de Belo Horizonte:
“No português de Belo Horizonte, por exemplo, a terminação ‘-
ndo’ das formas de gerúndio é pronunciada como ‘-no’: ‘comeno, fa-
zeno, quereno, dançano, vendeno etc.’. Note que a redução de ‘-ndo’
para ‘-no’ ocorre somente nas formas de gerúndio. A forma verbal
‘(eu) vendo’ não permite a redução de ‘-ndo’ para ‘-no’. e uma senten-
ça como ‘*Eu veno banana’ não ocorre”.
Veja: Aspecto, Asterisco, Conjugação, Contexto, Desinência, For-
ma nominal, Imperativo, Locução verbal, Modo, Nome, Norma culta,
Oração, Particípio, Período, Substantivo, Tempo, Verbo e Vogal temá-
tica.
Gerúndio progressivo
Gerúndio progressivo é o gerúndio integrante de forma progressiva.
José Pereira da Silva
2761
Gerundivo
Forma nominal que corresponde a um adjetivo verbal com ideia de
necessidade. O gerundivo existia em latim e é conhecido pelo nome de particípio
futuro passivo. Terminava em -dus. Na passagem do latim para o por-
tuguês, desapareceu o gerundivo. Ficaram algumas formações eruditas
como examinando (o que está para ser examinado), venerando (o que
deve ser venerado), memorando (o que deve ser lembrado), colendo (o
que deve ser cultuado) etc. Para indicar, na linguagem estudantil, os
que estão prestes a terminar o curso, criaram-se neologismos como ba-
charelando, doutorando, doutorando (quem está para ser bacharelado
ou doutorado). E daí, abusivamente, surgiram outras formações, etimo-
logicamente absurdas, como professorando, engenheirando, farmaco-
lando etc. Do plural neutro, provieram algumas formas em -a: agenda (coisas
que devem ser efetuadas), corrigenda (coisas que devem ser corrigi-
das), adenda (coisas que devem ser acrescentadas), fazenda (coisas que
devem ser feitas) etc. O substantivo considerando (plural consideran-
dos) não vem de gerundivo latino e sim do gerúndio português, usual
na justificativa de leis e regulamentos (considerando que..., conside-
rando que...).
Gesta
Gesta é o mesmo que canção de gesta. A palavra gesta significa
proeza, feitos guerreiros e só se emprega atualmente na expressão can-
ções de gesta (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Canções de gesta e Épica.
Gesta municipalia
Gesta municipalia é a locução latina que indica os registros públi-
cas guardados nos municípios romanos a fim de legalizar os contratos
privados.
Gestalt
Veja o verbete: Estrutura.
Gestalt linguística
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gestalt linguística é o conceito
proposto por George Lakoff (1977), no esquema da linguística vivenci-
al, para designar uma estrutura que serviria de base para a organização
da linguagem. Segundo o autor, outras manifestações da vivência hu-mana, como a atividade motora, a percepção, o pensamento, as emo-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2762
ções e o processamento cognitivo estariam organizadas em termos de
estruturas análogas. A noção de gestalt linguística teria, entre outras, a
vantagem de permitir caracterizar o mesmo fato de diferentes pontos de vista, sem necessidade de derivações de qualquer espécie ou descrições
em termos de níveis de representação, com todas as complicações daí
decorrentes. Tal resultado seria alcançado mediante o mecanismo das
representações reticulares de relações.
Gestão
Gestão é o ato e o efeito de gerir, dirigir, orientar; é a administração
ativa ou o gerenciamento.
Sobre os diversos tipos de gestão, sugere-se a leitura dos verbetes
relativos no Dicionário do Livro, de Maria Isabel Faria e Maria da Gra-
ça Pericão (2008, p. 360-361).
Gesto
Configuração em que a articulação de um segmento pode ser de-
composta em sua organização fisiológica, segundo Thaïs Cristófaro
Silva (2011, s.v.). A fonologia de dependência adota a noção de gestos
para a representação segmental, enquanto a fonologia articulatória su-
gere que as representações fonológicas são constituídas de sequências
de gestos, que são os elementos primitivos da organização fonológica.
Nessa abordagem, os gestos podem ser sobrepostos na organização
temporal da fala, oferecendo uma explicação elegante para os fenôme-
nos de assimilação e de lenição.
Veja: Linguagem gesticulada e Mimema.
Gesto sonoro
Gesto sonoro é o fonema cuja articulação decorre mais de um mo-vimento fisiológico natural dos órgãos articulatórios, tal como o gesto
dos lábios a indicar o beijo, a palavra papá, do movimento de mastiga-
ção ou de mamá, do de sucção, no ato de mamar (JOTA, 1981, s.v.).
Gestualidade
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), a gestualidade comunicativa compreende qualquer movimento
corporal (gesto propriamente dito, mas também postura, olhar ou mí-
mica) que sobrevém no decorrer de uma interação é perceptível pelo
parceiro daquele que o produz (seja o gesto intencional ou não). Seu es-
tudo se desenvolveu a partir dos anos 60 com as observações de campo
que rapidamente evidenciaram as multicanalidade das interações face a face. Chama-se frequentemente cinesia (tradução do termo kinesics,
José Pereira da Silva
2763
proposto por Ray Lee Birdwhistell) ao estudo da mímico-gestualidade
(às vezes chamada também “comunicação não verbal”).
CARACTERÍSTICAS DOS GESTOS
A gestualidade comunicativa pode ser mais ou menos estreitamente
ligada às produções verbais; Adam Kendon (1977) via, a esse propósi-
to, um continuum que vai da gesticulação coverbal, caso em que o lia-
me é necessário, até aos signos das línguas gestuais, no qual o liame
desapareceu, passando pelas pantomimas e as “quase-linguísticas”, de
liame facultativo. Com o desenvolvimento dos estudos conversacio-
nais, são os gestos coverbais que se tornam objeto dos mais variados
estudos.
Além do fato de empregarem o canal visual, os gestos se distin-
guem dos sinais linguísticos por um certo número de propriedades se-mióticas: eles têm um caráter global e sintético (admite-se, geralmente,
que não apresentam “dupla articulação”), não obedecem a nenhuma
“gramática” (regras de organização sintagmática), são fortemente polis-
sêmicos e dependentes do contexto, são largamente idiossincráticos,
ainda que sejam muito frequentemente “motivados” (por oposição aos
signos linguísticos nos quais domina o arbitrário) (confira CALBRIS &
PORCHER, 1989).
A maior parte dos autores (Paul Ekman, Wallace V. Friesen, Adam
Kendon, David McNeill, Jacques Cosnier etc.) concordam em distin-
guir as categorias semiofuncionais seguintes: os gestos dêiticos (gestos
de designação do referente, como os gestos de apontamento); os gestos
ilustrativos (de um conteúdo concreto: gestos icônicos; ou de um con-teúdo abstrato: gestos ideográficos ou metafóricos); os gestos de ento-
nação (marcações ou batidas), que acentuam certos momentos precisos
do discurso; gestos quase-linguísticos (ou emblemas), gestos convenci-
onais que podem funcionar sem fala associada; os gestos expressivos
faciais (mímicas faciais), transcategoriais, na medida em que podem
ser associados a todas as categorias precedentes e que se tornaram, na
esteira da criação do Facial Action Coding System (EKMAN & FIE-
SEN, 1982), objeto de uma verdadeira especialização. O interesse cres-
cente atribuído à interação levou a descrever, além disso, os gestos de
coordenação (ou copilotagem), gestos que asseguram a manutenção
dos turnos de fala e a mudança dos locutores (CUNCAN & FISKE, 1977). Mencionemos, enfim, os gestos extracomunicativos: automani-
pulações ou manipulações de objetos, que têm a reputação de possuir
funções autocalmantes; e os gestos práxicos, ligados a atividades para-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2764
lelas ou justificadores da interação (atividades de trabalho ou esportivas
etc.)
AS FUNÇÕES DOS GESTOS COVERBAIS
Elas podem ser consideradas em relação a:
1) Sua utilidade para a atividade enunciativa do emissor: o trabalho
cognitivo do falante é facilitado pela atividade corporal motora, que pa-
rece mesmo indispensável a seu bom desenvolvimento – tudo se passa
como se não se pudesse falar sem se movimentar. A gestualidade do fa-
lante representa assim um papel importante do ponto de vista da regu-
lação emocional: a atividade verbo-gestual permite uma moderação da
emotividade subjacente.
2) Sua utilidade para o receptor (aquele que se encontra em situa-
ção de escuta), que se traduz pela contribuição da gestualidade do fa-lante na significação do enunciado total: os gestos ilustrativos contribu-
em para seu aspecto denotativo (portador de informações), os gestos
expressivos (particularmente as mímicas faciais) contribuem para seu
aspecto conotativo. Essa mímico-gestualidade ligada à atividade locu-
tória pode estar em simples redundância, em convergência, em com-
plementaridade, em independência ou em contradição com o enuncia-
do verbal.
3) Sua utilidade para a coordenação interacional: a atividade fática
do falante e a atividade reguladora do ouvinte participam da sincroni-
zação dos locutores e de seu acordo afetivo. William S. Condon e Wil-
liam D. Ogston (1966) descreveram os primeiros fenômenos de sincro-
nia interacional que apresentam dois aspectos: 1º) Autossincronia: as atividades motoras corporais e de fala do su-
jeito falante estão muito estreitamente sincronizadas; geralmente, o
ritmo do gesto corresponde ao ritmo da fala, mas frequentemente a ati-
vidade mímico-gestual ilustrativa antecipa a expressão verbal (a verba-
lização se apoia na gesticulação).
2º) Intersicronia: a coordenação das atividades dos interactantes,
graças ao dispositivo de sinais fáticos e reguladores, está associada a
um processo corporal que as ecoa (identificação psicomotora), que
permitem as inferências enfáticas e o acordo (ou o desacordo) afetivo.
A associação desses dois mecanismos dá a impressão de uma “dança
dos interactantes” mais ou menos observável segundo a qualidade e a natureza da relação; assim se podem descrever intersincronias simétri-
cas ou complementares, simultâneas ou sucessivas.
Observemos, para terminar, que a maior parte dos estudos da gestu-
José Pereira da Silva
2765
alidade comunicativa concerne a situações nas quais a interação verbal
é predominante. Porque, se é verdade que a espécie humana é uma es-
pécie “faladeira”, pode também comunicar-se por outros meios além dos discursivos. Um certo número de pesquisadores (STREECK, 1966)
se interessa hoje pelas interações que se realizam essencialmente por
meios não verbais, de acordo com o programa já antigo de Kenneth Lee
Pike (1967), o qual preconizava, desde os anos 60, uma “teoria unifica-
da da estrutura do comportamento humano”.
Veja os verbetes: Interação e Proxêmica.
Ghost-Writer
Expressão inglesa que significa “escritor fantasma”, segundo Mas-
saud Moisés (2004, s.v.), designa o escritor que emprega a sua pena a
fim de redigir obra publicada sob nome alheio. Vincula-se, geralmente,
à atividade jornalística, política, artística, atlética etc., em que não raro a pessoa interessada, carente de recursos próprios para exprimir de
forma inteligível e correta os seus pensamentos, contrata os serviços de
um escriba profissional ou de um escritor momentaneamente necessita-
do de ampliar o seu orçamento ou seduzido pela oferta. Embora possa
ocorrer na elaboração de livros, é mais frequente em artigos de jornal e
revistas ou em discursos formais.
Gibi
Bibi é uma publicação (revista) em quadrinhos, geralmente infanto-
juvenil (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: História em quadrinhos, HQs, Banda desenhada,
Comics, Desenho animado, Mangá.
Gigabyte
Gigabyte é a palavra inglesa que significa um milhão de bytes.
Gigahertz
Gigahertz é um milhão de hertz (ciclos por segundo).
Gíria
Linguagem especial de tipo afetivo, característica de determinados
círculos sociais.
O elemento afetivo da gíria é que lhe comunica "expressividade" e
essa expressividade pode ser negativa ou positiva.
Expressividade negativa (ou interna) é a que só existe para os inici-
ados do grupo e que, portanto, assume, dentro da língua geral, caráter
secreto. É própria da linguagem dos malfeitores. Expressividade positiva (ou externa) é aquela que só por acidente
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2766
assume aparência secreta. Na verdade, gíria é maneira particular de di-
zer de um grupo social unido por atividades comuns, diferenciadas den-
tro da comunidade civil. Temos, assim, a gíria dos soldados (ou das ca-sernas), dos marinheiros, dos estudantes etc. De todos os tipos de gíria
não-secreta, o mais característico é o das novas gerações, que o empre-
gam, não só para se distinguir ostensivamente das gerações mais ve-
lhas, mas ainda para chamar sobre si a atenção dos indivíduos adultos.
O fenômeno da gíria é tipicamente urbano. Não existe, pois, nas
comunidades rurais, onde o que ocorre são os falares locais.
Não se deve confundir também "gíria" com "linguagem técnica". A
gíria se caracteriza pela expressividade, o que, obviamente, falta na lin-
guagem técnica. A linguagem dos tipógrafos, dos médicos, dos bancá-
rios etc. (a linguagem profissional, em suma) se define através de ter-
mos técnicos e não de termos de gíria. Para o linguista italiano Giacomo Devoto (1897-1974), uma língua
apresenta quatro polos, que são: a linguagem usual (é a língua falada
correntemente, na linguagem da conversação diária: o latim dito vulgar,
por exemplo), a linguagem expressiva (são as gírias secretas ou sim-
plesmente motivadas por atividades comuns), a linguagem técnica (ou
jargão profissional) e a linguagem literária. Mas essas formas da língua
urbana, a que se devem acrescentar os falares regionais.
A gíria atinge simplesmente o léxico de um idioma, palavras ou lo-
cuções: a gramática continua inalterada.
As gírias são passageiras: o seu caráter expressivo exige, em virtude
do desgaste, uma renovação constante, de forma que são raríssimos os
termos de gíria que conseguem sobreviver. Um dos processos típicos de gíria consiste no truncamento de palavras da língua comum: zura
(por usurário, usura), bofete (por bofetada), barraco (por barracão),
proleta (por proletário). Também é muito usual a chamada derivação
imprópria, isto é, mudança no sentido de palavra da língua usual: mo-
rar (entender: morar no assunto), adorar milhões (entusiasmar-se), es-
tar por fora (não entender a alusão: está mais por fora que arco de bar-
ril) etc.
Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), gíria são formas lin-
guísticas informais e frequentemente efêmeras. Todos nós usamos nos-
sa língua de maneiras diferentes, dependendo das circunstâncias. O as-
pecto mais nítido dessa variação é que falamos de maneira diferente em contextos formais e contextos informais. Sobretudo, quando falamos
informalmente, gostamos de apelar para a gíria: palavras e expressões
informais mais pitorescas.
José Pereira da Silva
2767
As expressões de gíria costumam ser introduzidas por membros de
um grupo social particular; podem continuar sendo típicas desse grupo
e servir como uma de suas marcas de identidade ou, ao contrário, tor-nar-se mais amplamente conhecidas e suadas. A maioria das formas de
gíria é passageira: são empregadas por alguns meses ou alguns anos, e
então caem em desuso, sendo substituídas por termos de gíria mais no-
vos.
Apenas nos últimos anos, em português do Brasil, algo que fosse
realmente excelente já foi descrito em determinados momentos, por
certos grupos de falantes pelo menos, como sendo de fechar o comér-
cio, fora de série, fora do sério, uma brasa, legal, bárbaro, tártaro, ba-
cana, supimpa, o fino, demais, da hora, dez, e um sem-número de ou-
tros termos. É possível que algumas dessas formas ainda sejam usadas,
mas as demais já se tornaram anacronismos, às vezes anacronismos de-sagradáveis. De um homem que está ou sempre fica bêbado, têm-se di-
to várias coisas: que ele está alto, de fogo, mamado, chumbado, bêba-
do, chutado, tomado, torrado, xambregado, de pileque, de porre, na
água, ou então que ele tomou, ou toma todas, que é um pau d’água, um
chupa-folha, uma esponja. Algumas décadas atrás, o termo de gíria
corrente para “copular” foi meter; atualmente, essa palavra foi substitu-
ída, pelo menos entre os falantes mais jovens, por trepar e transar; e
no momento em que está sendo lido este verbete, é bem possível que
transar já tenha por sua vez sido substituído por outro termo de gíria.
Um caso incomum no termo de gíria com vida longa é manjado,
significando muito conhecido. Esse termo está na língua portuguesa há
séculos, mas ainda é usado, e ainda é encarado como gíria. às vezes, um termo de gíria pode perder seu status de gíria por completo; isso
aconteceu com cola (plágio nas provas da escola), uma antiga gíria de
estudantes que, hoje, faz inquestionavelmente parte do português.
A gíria tem sido descrita como língua em estado de jogo: é que as
melhores gírias são pitorescas, exuberantes, espirituosas e fáceis de
lembrar, como quando chamamos a cadeia de pensão do governo, ou
quando se qualifica uma relação sexual entre mulheres de roçadinho.
Os críticos pedantes vêm tentando, há várias gerações, desqualificar a
gíria como se fosse uma doença da língua. A gíria não é nada disso: se
sua existência prova alguma coisa é precisamente a vitalidade da lín-
gua. Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), a maioria dos dicionários de língua registra o surgimento do termo
argot (em português, “gíria”) em 1628 com uma acepção primeira de
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2768
“corporação, confraria dos indigentes, dos mendigos”. Dessa origem
resulta o fato de que o termo foi frequentemente associado a grupos so-
ciais mais ou menos marginais: gíria dos malandros, gíria dos presidiá-rios. O termo conheceu uma ampliação de sua acepção e, desde então,
fala-se de “gíria dos jovens” ou “gíria das profissões”.
De um ponto de vista lexicológico, as gírias constituem subconjun-
tos do vocabulário comum, e a maior parte dos procedimentos para sua
criação está integrada à morfologia da língua: a derivação morfológica
(antena > antenado); o truncamento (apartamento > apê ou português
> portuga), a afixação (bunda > desbundar), os empréstimos (down >
pra baixo, deprimido). Inúmeros procedimentos retóricos também estão
a trabalho das gírias, como a metáfora (mala > pessoa inconveniente),
a metonímia (tirar o cavalinho da chuva > desistir), o eufemismo (a
morte > a morada dos céus), a hipérbole (palito > pessoa magérrima). Por outro lado, há procedimentos que são específicos de cada lín-
gua. Em francês, em geral, consistem na modificação do agenciamento
silábico de palavras. Por exemplo, em largonji, substitui-se a consoante
inicial por “l” para colocá-lo em final de palavra (en douce > en louce
> en loucedé). Em verlan, procedimento bastante produtivo na fala dos
jovens franceses, inverte-se a ordem silábica nas dissílabas (cramé >
mécra) ou se alteram os constituintes nas monossílabas (là > àl). O
conjunto desses procedimentos pode ser combinado (voleur > tireur
como gíria, > reurti como verlan). [Em português, poder-se-ia pensar
na língua do pê, fenômeno linguístico praticado principalmente em ati-
vidades lúdicas infantis, que consiste na modificação do agenciamento
silábico pela inserção, no final de cada sílaba da palavra, de uma sílaba formada por /p/ mais o final da sílaba original. Assim, na composição
de Gilberto Gil, intitulada “Língua do P”: “Ga-pa-ran-pan-to-po / Que-
pe vo-po-cê-pê / Garanto que você / Não-pão vai-pai, não vai / Não-
pão vai-pai, não vai / Com-pom-pre-pre-en-pend-der-per bulhufas, bu-
lhufas / Do-po que-pe ten-pen-tan-pan-mos-mos / Lhe-pe di-pi-zer-per
(...)” (Gilberto Gil, O Sol de Oslo, Pau Brasil, 1998)].
Não é, pois, tanto na língua que se pode mostrar uma especificidade
das gírias quanto em suas enunciações em discurso, em seus usos, as-
sim como nas situações sociais de emprego. As gírias, assim, dizem
respeito à sociolinguística.
As funções das gírias foram objeto de debate. A função crítica (GUIRAUD, 1963), por muito tempo alegada, é claramente convocada
em benefício das funções lúdicas e identitárias. Não mais trabalhando
unicamente a partir das fontes lexicográficas e da escrita, os estudos re-
José Pereira da Silva
2769
centes sobre os usos reais dessas gírias nas interações efetivas, assim
como as enquetes sobre as representações dos locutores, mostram que
as gírias são claramente marcadores de coesão de grupo, grupo de ida-de, grupo social, grupo profissional (LABOV, 1976; GOUDAILLER,
1997). Nesse sentido, se não é justo falar de um “código secreto”, como
podem ser consideradas as linguagens de iniciação, o uso das gírias,
não obstante, leva a estabelecer demarcações no interior de uma comu-
nidade linguística entre os que a utilizam, “nós”, e os que não o fazem,
“eles”. O caso dos apelidos no meio profissional ilustra bem esta pro-
priedade das gírias: os chefes e dirigentes de uma empresa recebem
frequentemente apelidos dos funcionários, mas eles só podem ser usa-
dos no interior do grupo dos subordinados e jamais na comunicação en-
tre eles e seus superiores.
A gíria dos jovens. A existência de um falar específico dos jovens desfavorecidos foi reconhecida nos anos 80. Os termos “franceses das
periferias, das cidades, dos bairros” surgiram na imprensa. As caracte-
rísticas do francês dos jovens não são somente lexicais, mas também
fonéticas, melódicas e sintáticas. No entanto, são as palavras utilizadas,
em particular o verlan, as que mais impressionam (SÉGUIN & TEIL-
LARD, 1996). Uma das características desse falar dos jovens é o recur-
so simultâneo ao conjunto dos procedimentos morfológicos de criação
disponíveis em francês. Assim, a palavra “deblèdou”, que significa
“não malandro, mal-inserido” advém de três operações morfológicas:
empréstimo do árabe “bled”, vernaculização como “deblèd” e, em se-
guida, sufixação com “ou”.
As gírias das profissões. Para designar os vocabulários criados no trabalho, inúmeros termos estão disponíveis como “vocabulários de
profissão, jargões, gírias”. Se não são totalmente substituíveis uns pelos
outros, eles remetem ao mesmo fenômeno sociolinguístico: a abundân-
cia da criação lexical no meio profissional (BOUTET, 2001). Esse fato
foi percebido há muito, e desde o século XIX são encontradas reuniões
de vocabulários profissionais (BOUTMY, 1883). Essa atividade de re-
nomeação abrange todo o ambiente do trabalho: o pessoal (no serviço,
chama-se de “carrasco” um chefe particularmente duro, porque todos se
“borram de medo” quando o encontram), nas atividades produtivas (na
França, diz-se tailler un bifteck – cortar um bife – na tipografia quando
se cortam os grandes rolos de papel que alimentam as rotativas), nos objetos da atividade (na França, os talhadores de pedra designam, por
eufemismo, como mon caillou – meu cascalho – o bloco de várias tone-
ladas com o qual devem trabalhar).
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2770
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gíria designa inicial-
mente um vocabulário próprio de um setor da sociedade tido como
marginal. Seus usuários o criam, aprendem e transmitem com finalida-des conscientemente crípticas, evitando dessa maneira sua compreen-
são por pessoas de fora do grupo. Também se emprega o termo para fa-
zer referência a um conjunto de palavras que constituem uma moda de
determinado momento dentro de algum setor social específico. com
muita frequência, essas palavras se difundem pelo resto da sociedade
ou por grande parte dela.
Os repertórios lexicais das gírias tendem à diversidade e à mudança
e, nesse sentido, fariam parte do universo dos socioletos, entendidos
como as variedades faladas pelas coletividades fechadas em si mesmas
e com forte consciência de grupo. Um exemplo característico seria o
pajubá (ou bajubá), um conjunto de termos oriundo das práticas religi-osas afro-brasileiras adotado pelas travestis e, em menor medida, pelo
resto da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais).
A gíria mais característica é a da marginalidade social. As ocupa-
ções a que se dedicam aqueles que pertencem a esses setores não estão
integradas na estrutura econômica, social e política da comunidade
mais ampla e é precisamente isso que permite o surgimento de varie-
dades muito estigmatizadas e fortemente diferenciadas das do resto da
comunidade (como o caso citado das travestis).
Para Emili Boix-Fuster e Francesc Xavier Vila i Moreno (1998), é
possível distinguir três grandes fontes de diferenciação linguística com
relação à gíria:
1) a procedência social dos falantes: as gírias refletem a origem ge-ográfica e social predominante dos membros das coletividades concer-
nidas, de maneira que costumam apresentar características das comuni-
dades dialetais mais pobres, traços de grupos imigrantes etc.;
2) a necessidade de definir a realidade em função das próprias ex-
periências. Levando em conta que se trata de grupos não integrados
nem econômica nem ideologicamente na ordem estabelecida, é previsí-
vel que as gírias subvertam as ordens de valores institucionais;
3) as necessidades instrumentais dos falantes: as ocupações dos fa-
lantes de gíria exigem certo número de conceitos (técnicos) inexistentes
nas variedades a seu dispor. Servem de exemplo, no submundo brasilei-
ro do crime, os termos alabama (“pessoa que atrai outra para jogo de azar”), mula (“entregador de droga em grande quantidade”) e teresa
(“corda feita de trapos para fugir da prisão”).
Visto que o importante é destacar e manter a diferença que separa a
José Pereira da Silva
2771
gíria da língua comum, as acepções novas conferidas aos termos enve-
lhecem rapidamente, sendo preciso renová-las todo o tempo. Além dis-
so, as gírias tendem a se difundir progressivamente rumo à fala cotidia-na dos outros grupos sociais, perdendo desse modo seu caráter críptico.
Assim, por exemplo, termos empregados para se referir à maconha,
como palha ou paia (“maconha de má qualidade”), baseado ou beque
(“cigarro de maconha”), bode (“sensação de cansaço ou desânimo su-
cessiva ao consumo da droga”) e larica (“fome que se segue à passa-
gem do efeito da droga”), há muito pertencem ao linguajar geral, inclu-
sive de não consumidores de cannabis sativa.
Outra espécie de gíria é a que surge entre gerações mais jovens com
o propósito, semelhante ao das gírias dos grupos marginais, de marcar
uma separação, uma distinção, desta vez com relação à geração mais
velha. Essa gíria envelhece junto com seus usuários e se vê ultrapassa-da pelas novas gírias surgidas no seio da geração seguinte. Termos co-
mo pão (“homem bonito”), broto (“garota atraente”), papo firme (“pes-
soa confiável”) etc. eram empregados pela juventude brasileira da dé-
cada de 1970 e soam mais do que datadas para os jovens de hoje.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere pá-
gina 182 de The Cambridge Encyclopedia of the English Language, de
David Crystal; e A Dictionary of Slang and Unconventional English e
Slang To-Day and Yesterday, ambos de Eric Partridge.
Veja os verbetes: Criptonímia, Fala coloquial, Jargão, Javanês,
Palavra e Vocabulário/léxico.
Giro
Giro é cada uma das estruturas de que pode revestir a frase. Assim, estou com fome pode ter outros giros ou boleios: tenho fome, sinto-me
com fome etc.
Gitano
Gitano é a língua indo-europeia dos nômades ciganos, muito mes-
clada, como é óbvio, em cada país, pela língua indígena. É o mesmo
que caló e romani.
Glicônico
Glicônico ou glicônio é o verso composto de um espondeu ou tro-
queu seguido de dois dáctilos. Pode, contudo, ser interpretado como um
espondeu, um coriambo e um iambo (JOTA, 1981, s.v.).
Glicônio
Veja o verbete: Verso.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2772
Glide
Segmento que apresenta características articulatórias de uma vogal,
mas que não pode ocupar a posição de núcleo de uma sílaba. Diz-se que o glide é uma vogal assilábica, ou seja, uma vogal que não pode
ser o núcleo de uma sílaba. Portanto, um glide não pode receber acento.
Tipicamente, os glides ocorrem nas línguas naturais como vogais altas
assilábicas. Em ditongos centralizados, o glide pode ser um schwa co-
mo, como na palavra bola, por exemplo, pronunciada b[ɔə]la. Glides
sempre ocorrem precedendo (nac[ɪo]nal) ou seguindo (c[aʋ]sa) uma
vogal. Quando são seguidos de uma vogal, formam ditongos crescen-
tes, como nac[ɪo]nal; mas quando são precedidos de uma vogal, for-
mam ditongos decrescentes, como em c[aʋ]sa. Geralmente, os glides
se manifestam com características articulatórias de vogais altas anterio-
res ou posteriores. Outras denominações para glide são semivogal e semiconsoante. Veja também o capítulo 4 de An Introduction to the
Pronunciation of English, de Arnold C. Gimson (1980).
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se glide um fonema que
ocupa uma posição entre a articulação vocálica e a articulação conso-
nantal. Exemplos: /j/ pied [pje] “pé”; /w/ oui [wi] “sim”; /ɥ/ huit [ɥit]
“oito”. Em português, na palavra rês – pronunciada [Reys] – o y é em
glide. Este tipo de fonema é designado, muitas vezes, impropriamente,
pelo termo semivogal ou semiconsoante.
Veja os verbetes: Alfabeto fonético internacional (AFI), Consoante,
Vogal.
Glifo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), glifo é a unidade gráfica identificável sobretudo graças ao espaço que a
rodeia, que se distingue das personagens pelo fato de a composição dos
seus elementos constitutivos não criar forçosamente uma imagem rea-
lista. Com frequência, é constituída por diversos elementos que trans-
crevem os valores fônicos correspondentes a diversas unidades da lín-
gua: sílabas, raízes ou palavras, sendo a aglutinação destes elementos
que permite a leitura das palavras ou expressões assim escritas. Picto-
grama gravado em pedra, nome que é dado sobretudo aos caracteres da
escrita maia.
Gliptografia
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), gliptografia é a ciência das pedras antigas gravadas. Estas pedras po-
dem ser constituídas por substâncias animais como o marfim, as con-
José Pereira da Silva
2773
chas, o nácar das pérolas, o náutilo, o coral, e outros moluscos provin-
dos de conchas, vegetais e minerais. Dentre as substâncias, distinguem-
se a madeira e o âmbar. As substâncias minerais são os betume, os me-tais como a hematita, o óxido de ferro que os egípcios empregaram
muito, a malaquita e o óxido de cobre, mais frequentemente usado na
atualidade; em terceiro lugar vêm as pedras, sobretudo as pedras calcá-
rias, de que se destaca o xisto calcário, usado pelos egípcios para gra-
var, as pedras argilosas, entre as quais o lápis-lazúli, as pedras de quar-
tzo, que são mais duras etc. As pedras preciosas, nas suas numerosas
variedades e outras, foram igualmente suporte de grvura ou de escrita.
Global
Termo usado na teoria da linguística gerativa, no início da década
de 1970, para indicar um tipo de regra (regra global) que se estende
por derivações inteiras, ou partes de derivações. Segundo David Crystal (1988, s.v.), ela não pode ser satisfatoriamente explicada em
termos das operações transformacionais que definem as condições para
que uma estrutura seja bem-formada em relação a marcadores frasais
separados ou pares de marcadores frasais adjacentes em uma derivação.
As regras globais (ou "restrições derivacionais globais") contrastam as-
sim com as regras de estrutura frasal e as transformacionais, conforme
são entendidas tradicionalmente. Ou seja, definem as condições para
que as estruturas sejam bem-formadas em configurações de nódulos
correspondentes em marcadores frasais não adjacentes. Diversos tópi-
cos da fonologia, da sintaxe e da semântica foram analisados nestes
termos (como a concordância de caso, as formas contraídas e a colo-
cação do acento contrastivo). Veja o capítulo 4 de Phonology: Theory and Analysis, de Larry M. Hyman (1975).
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a oposição entre níveis local e
global é frequentemente empregada em semântica textual para aludir à
insuficiência descritiva e explicativa na perspectiva lógico-gramatical
no exame do sentido dos enunciados.
Do ponto de vista retórico-hermenêutico, o texto é pensado como a
unidade linguística fundamental, que condiciona o acesso às unidades
de classe inferior, esta unidade sendo, ela mesma, determinada pela
unidade superior que é o corpus, objeto construído e não dado. Neste
quadro, o nível global do enunciado determina necessariamente o nível
local, sobretudo a configuração dos segmentos linguísticos do tipo sin-tagmático, proposicional e frasal.
O objetivo da oposição local/global é, portanto, o de formular uma
crítica epistemológica na versão da linguística restrita (ou microlinguís-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2774
tica), tendo à frente o fato de que a atualização das unidades do discur-
so não pode ser compreendida fora do processo interpretativo, e que um
segmento de linguagem verbal não deveria ser pertinentemente descrito e categorizado pelo recurso a estratégias de análise que têm, como pos-
tulado, a necessidade de uma descontextualização da língua.
A oposição local/global, hoje em dia frequente em linguística e em
semântica interpretativa, foi desenvolvida nos anos trinta por Albert
Lautiman (1908-1944), especialista em epistemologia e filosofia das
ciências, numa obra, publicada após sua morte, consagrada à unidade
das matemáticas. Nela encontramos algumas das orientações funda-
mentais do estruturalismo.
“O estudo local se orienta para o elemento, o mais frequentemente
infinitesimal, da realidade; ele busca determiná-lo na sua especificida-
de, e depois, caminhando passo a passo, estabelece progressivamente ligações bastante sólidas entre as diferentes partes assim reconhecidas,
para que uma ideia de conjunto se desligue de sua justaposição. O estu-
do global busca, ao contrário, caracterizar uma totalidade independen-
temente dos elementos que o compõem; atinge, sem dificuldade, a es-
trutura do conjunto, determinando assim seu lugar dentre os elementos
antes mesmo de lhes conhecer a natureza; ele tem a tendência, sobretu-
do, de definir os seres matemáticos por suas propriedades funcionais,
estimando que o papel que lhes desempenham lhes confere uma unida-
de bem mais garantida que aquela que resulta da reunião das partes [...]
Ou se parte do conjunto do qual se conhece a estrutura e se buscam
as condições que os elementos devem satisfazer para que se tornem
elementos deste conjunto, ou se dão elementos que apresentam certas propriedades e se busca ler nessas propriedades locais a estrutura de
conjunto na qual esses elementos permitem ser classificados. Num e
noutro caso, busca-se estabelecer uma ligação entre a estrutura do todo
e as propriedades das partes pelo que se manifesta nas partes a influên-
cia organizadora do todo ao qual elas pertencem” (LAUTIMAN, 1977).
Veja os verbetes: Epistemologia, Hermenêutica, Lógico-gramatical,
Texto, Textualidade.
Globalização
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo globalização (ou
mundialização) tem sido empregado, desde os anos 1990, para designar
uma nova fase do capitalismo internacional, iniciada após o colapso da União Soviética e de seu império de países-satélites, dando fim à cha-
mada Guerra Fria, em que se opuseram durante meio século o bloco li-
derado pelos Estados Unidos e seus aliados e o bloco conduzido pela
José Pereira da Silva
2775
União Soviética (URSS). Dissolvido esse conflito bipolarizado, o capi-
talismo pôde se expandir de forma exponencial sem encontrar pratica-
mente nenhum obstáculo. O marco simbólico do início dessa fase foi a Queda do Muro de Berlim (1989).
Suas principais características são a deslocalização econômica (a
transferência de indústrias de seus países de origem para outros, como a
China, onde a mão de obra é muitíssimo mais barata por operar em
condições de quase escravidão), a desestabilização de antigas estruturas
sociais, novos fluxos migratórios, o aprofundamento do abismo entre
uma ínfima minoria rica (1% da população mundial) e uma gigantesca
população de pobres. É o que Milton Santos (2001, p. 19) rotula de “a
globalização (...) como uma fábrica de perversidades”. Na produção
desse estado de coisas, Milton Santos destaca o progresso tecnológico:
“Há uma relação de causa e efeito entre o progresso técnico e as demais condições de implantação do atual período histórico. É a partir da uni-
cidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que sur-
ge a possibilidade de existir uma fiança universal, principal responsável
pela imposição a todo o globo de uma mais-valia universal. Sem ela,
seria também impossível a atual unicidade do tempo, o acontecer local
sendo percebido como um elo do acontecer mundial. Por outro lado,
sem a mais-valia globalizada e sem essa unicidade do tempo, a unici-
dade da técnica não teria eficácia” (SANTOS, 2001, p. 27). O autor,
que morreu em 2001, já antecipava a profunda crise que afetaria a eco-
nomia global em 2008, resultante da financeirização de todos os aspec-
tos da vida e da cultura: “Tirania do dinheiro e tirania da informação
são os pilares da produção da história atual do capitalismo globalizado. Sem o controle dos espíritos seria impossível a regulação pelas finan-
ças. Daí o papel avassalador dos atores hegemônicos, que agem sem
contrapartida, levando ao aprofundamento da situação, isto é, da crise”
(SANTOS, 2001, p. 35).
Outra marca registrada dessa época é a chamada “guerra ao terror”.
A data de 11 de setembro de 1001, quando dois aviões sequestrados
(alegadamente) por militantes islâmicos extremistas foram lançados
contra a torres gêmeas do World Trade Center em Nova York (provo-
cando a morte de mais de cinco mil pessoas) tem sido vista por muitos
como o verdadeiro início do século XX, caracterizado pela radicaliza-
ção e expansão de movimentos “terroristas” mundo afora, especialmen-te os de matriz islâmica (Al-Qaeda, Taleban, Estado Islâmico, Boko
Haram etc.). No entanto, esses movimentos são produtos da ação das
próprias potências ocidentais, com destaque para os Estados Unidos,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2776
que, na ânsia de controlar territórios dominados por movimentos ideo-
lógicos antiocidentais, treinaram e armaram grupos fundamentalistas
que, de forma mais do que previsível, acabaram por se voltar contra su-es próprios criadores. A atuação das forças ocidentais no Afeganistão,
no Iraque e na Líbia, e seu apoio incondicional ao terrorismo de Estado
praticado impunemente por Israel só têm servido para acirrar a ojeriza
daquelas organizações “terroristas” contra tudo o que provém do Oci-
dente. Um doloroso efeito colateral dessas intervenções (e de não inter-
venções, como no caso da Síria) tem sido a tragédia humanitária consti-
tuída pela fuga de milhares de pessoas rumo à Europa, com várias cen-
tenas de mortes por afogamento no Mediterrâneo, a partir de 2014, que
se transformou num verdadeiro cemitério marinho.
Por seu turno, alguns autores, como Immanuel Wallerstein (2004)
têm se esforçado por demonstrar que globalização não é um fenômeno novo, talvez só o termo seja. A expansão marítima das potências euro-
peias a partir do século XVI e a colonização que se seguiu a ela foi,
sem dúvida, uma forma de globalização em que valores culturais, reli-
giões, línguas, sistemas econômicos e pessoas se transferiram maciça-
mente de seus locais de origem para outros mundo afora. O que tem se
chamado mais recentemente de globalização se caracteriza pela emer-
gência de novas tecnologias de comunicação, pelo incremento, intensi-
ficação e mundialização de processos capitalistas de acumulação, pela
radicalização da divisão do trabalho e das desigualdades em nível pla-
netário, o que resulta em intensos fluxos migratórios que, por sua vez,
geram o que Jan Blommaert (2010) chama de superdiversidade nas
áreas metropolitanas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Todas essas transformações têm levado muitos pesquisadores a
enunciar a necessidade de novos quadros teóricos e novos métodos em-
píricos para o estudo das línguas dentro dessa nova sociedade globali-
zada. Reflexões nesse sentido se encontram, por exemplo, na obra cole-
tiva organizada por Nikolas Coupland (2013).
Jan Blommaert, por seu turno, reivindica uma reorientação da so-
ciolinguística para que ela dê conta dessa nova situação geopolítica e
geocultural. Segundo ele, a sociolinguística não “destruiu necessaria-
mente a velha sincronia saussuriana. A imagem artefactual é a imagem
desenvolvida na linguística moderna, da língua como uma unidade de-
limitada, nomeável e contável, frequentemente reduzida a estruturas gramaticais e vocabulário e chamada por nomes como ‘inglês’, ‘fran-
cês’ etc.” (BLOMMAERT, 2010, p. 12). Com isso, um problema muito
comum aos estudos sociolinguísticos clássicos é que as pessoas cujos
José Pereira da Silva
2777
repertórios linguísticos são estudados, mesmo quando são migrantes,
são “fixadas”, por assim dizer, no espaço e no tempo: “A sincronia sau-
ssuriana também era, claro, uma sintopia” (BLOMMAERT, 2010, p. 14).
Segundo Jan Blommaert, atualmente a mobilidade das pessoas tam-
bém implica a mobilidade de recursos linguísticos e sociolinguísticos,
padrões “sedentários” ou “territorializados” de uso da língua são agora
complementados por formas de uso linguístico “translocais” ou “dester-
ritorializadas”, e a combinação desses dois fenômenos é muitas vezes
responsável por efeitos sociolinguísticos inesperados. A possibilidade
de contato eletrônico frequente com o país de origem, por exemplo,
pode gerar novas formas de inovação linguística em comunidades sur-
gidas de diásporas e, por conseguinte, também pode contribuir para a
conservação da língua nessas comunidades. Línguas marginalizadas, faladas por poucos indivíduos, podem, no contexto do turismo, adquirir
novas e inesperadas formas de prestígio. Fenômenos de cultura popular
como o reggae e o hip-hop podem se tornar veículos da disseminação
planetária de formas linguísticas particulares, inclusive de novas for-
mas de letramento e de configuração de mensagens.
Em sua crítica aos modos tradicionais de estudo sociolinguístico,
Jan Blommaert delineia dois paradigmas distintos. O primeiro ele cha-
ma de sociolinguística da distribuição, no qual o movimento de recur-
sos linguísticos é visto como movimento num espaço horizontal e está-
vel e num tempo cronológico: dentro desses espaços, a estratificação
vertical ocorre segundo a classe social, o gênero, a idade etc.: “O obje-
to de estudo, no entanto, continua a ser um ‘instantâneo fotográfico’. e, que as coisas estão no lugar, por assim dizer” (BLOMMAERT, 2010,
p. 14); O segundo paradigma é chamado por Jan Blommaert de socio-
linguística da mobilidade, que se concentra, não na língua no lugar,
mas na língua em movimento, com vários quadros espaço-temporais in-
teragindo entre si. É uma oposição metafórica, portanto, entre a foto-
grafia imóvel e o filme em movimento. Além disso, enquanto a socio-
linguística da distribuição se interessa predominantemente pelas “lín-
guas” (objetos linguisticamente definidos), a sociolinguística da mobi-
lidade se interessa por recursos concretos: é uma sociolinguística da fa-
la, dos recursos linguísticos reais desdobrados em contextos sociocultu-
rais, históricos e políticos reais. Segundo o autor, “a chave para se en-tender esse padrão complexo [de interações sociolinguísticas] é aquilo
que conta como língua em contextos particulares, aquilo que é retifica-
do e reconhecido como um código válido para alguém se fazer enten-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2778
der. A chave é, em outras palavras, o valor indexical que recursos lin-
guísticos particulares têm em certos espaços e situações” (BLOM-
MAERT, 2010, p. 14).
Glosa
Glosa é uma anotação muito concisa que alguns manuscritos trazem
acima ou à margem de uma palavra ou de uma expressão que explica
por um termo suscetível de ser conhecido pelo leitor. As glosas são,
frequentemente, traduções de uma palavra rara ou incomum. Por isso, o
glossário é um dicionário das palavras raras ou dos termos de uma lín-
gua diferente da língua corrente.
Glosa, segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), é uma composi-
ção poética que desenvolve o pensamento sintetizado no mote, termi-
nando, cada estrofe, com um verso do mote.
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), glosa é a explicação ou comentário manuscrito ou impresso de um tex-
to difícil de entender. Pode ser marginal ou interlinear. Por vezes rode-
ava o texto comentado, que era manuscrito em corpo maior que o da
glosa. A utilização de um corpo menor para a glosa era duplamente
vantajosa: permitia que o texto a comentar avultasse mais e, por outro
lado, uma vez que a glosa era bastante mais extensa que aquele, era
possível coexistirem na mesma página.
Veja também os verbetes: Anotação, Apostila, Apostilha, Comentá-
rio, Glossa, Vilancete e Vilancico.
Glosa enquadrante
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glosa enquadrante é a apostila ou explicação disposta à volta de um texto colocado no centro de uma página, normalmente composto em ti-
po diferente daquele. Ela interpreta e anota o texto principal e pode ser
impressa ou manuscrita, servindo de comentário ou interpretação.
Glosa formal
Glosa formal é a anotação que constitui por si mesma um texto or-
ganizado e transmitido de cópia para cópia.
Glosa intercalada
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glosa intercalada é a glosa formada por uma sucessão de parágrafos
que vêm tomar lugar no corpo da página entre cada um dos parágrafos
do texto, do qual se distingue geralmente por um modelo de tipo me-
nor.
José Pereira da Silva
2779
Glosa intercalar
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glosa intercalar ou glosa interposta é o comentário constituído por uma sequência de linhas que ocupam um lugar no corpo da página en-
tre cada um dos parágrafos do teto. Distingue-se do texto por ser ge-
ralmente composta num corpo menor do que ele.
Glosa literal
Glosa literal é a apostila que explica o sentido próprio das palavras
que figuram num texto ou as suas características gramaticais, sem
qualquer referência ao sentino geral deste texto.
Glosa marginal
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glosa marginal é a composição muito mais estreita do que a do teto e
em tipo menor, que ladeia as páginas na respectiva altura, como cita-ção, nota ou nota ou explicação do texto. As glosas marinais começa-
ram a ser usadas nos textos manuscritos do século XII: por vezes rode-
avam o texto central escrito em letras maiores, esquema seguido pelos
primeiros tipógrafos.
Veja os verbetes: Apostila, Apostilha, Comentário escolástico, Nota
marginal.
Glosa metaenunciativa
Glosa metaenunciativa, autocomentário reflexivo, forma metaenun-
ciativa ou Modalidade autonímica, segundo Valdir do Nascimento Flo-
res et al. (2018, s.v.), é a forma de retomada utilizada pelo locutor para
comentar seu próprio dizer.
O termo glosa metaenunciativa é utilizado para designar os autoco-mentários reflexivos da enunciação, tais como: “Ela me convidou...
convidou modo de dizer... melhor, me intimou a ir à conferência”; “Es-
petacular, o termo talvez seja um pouco exagerado”; “É uma gentalha,
como diria seu pai”; etc. As glosas metaenunciativas possuem as se-
guintes propriedades: 1) são identificáveis na linearidade discursiva,
uma vez que possuem características sintático-semânticas passíveis de
serem descritas; 2) são estritamente reflexivas, pois num único ato de
enunciação duplicam o dizer de um elemento através de um comentário
“simultâneo”; 3) são opacificantes, no sentido de que o elemento ao
qual se referem perde a transparência que normalmente o caracteriza
em seu uso padrão. Sugere-se a leitura das páginas 3 a 45 de Palavras incertas: as não
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2780
coincidências do dizer; e Entre a transparência e a capacidade: um es-
tudo enunciativo do sentido, de Jacqueline Authier-Revuz.
Glosa orgânica
Glosa orgânica é a anotação estreitamente associada a um texto, do
qual faz parte integrante.
Glosa sistemática
Glosa sistemática é a explicação de cada uma das palavras ou pas-
sagens de um texto, à pedida que surgem.
Glosador
Glosador é aquele que escreve glosas: apostilador, apostilhador,
comentador, especialmente de textos medievais do direito canônico e
do civil.
Glossa
Veja o verbete: Epilinguística.
Glossário
Vocabulário em que são arroladas palavras de difícil inteligência
para o leitor comum, ou por serem raras, ou antigas, ou regionais, ou
técnicas, ou estrangeiras. Nas edições críticas de textos arcaicos, por
exemplo é comum o autor anexar à obra um glossário.
Glossário é também um dicionário que dá, sob a forma de simples
traduções, o sentido de palavras raras ou mal conhecidas.
Segundo Sérgio Roberto Costa (2018, s.v.), historicamente, na Ida-
de Média e Renascença, reuniam-se na parte final de um manuscrito ou
enfeixada num volume próprio, anotações, antes interlineares (glosas),
sobre o sentido de palavras antigas ou obscuras encontradas nos textos.
Isso era um glossário. Hoje, são compilações várias, apresentadas em ordem alfabética ou temática, de opiniões, ideias de um indivíduo (es-
critor, filósofo etc.) ou de um grupo de indivíduos, ou palavras, opini-
ões, ideais utilizadas e difundidas numa época, num movimento etc.
Também podem ser compilações de informações sobre alguma área de
saber ou fazer humano etc., como informática, zoologia, hotelaria, car-
pintaria etc. (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Dicionário, Enciclopédia, Vocabulário, Wikipé-
dia.
Glossário documental
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glossário documental é o dicionário de indexação, termos e definições,
José Pereira da Silva
2781
dispostos por ordem alfabética e compreendendo remissivas do tipo ver
e ver também. Este dicionário pode ser utilizado pelo indexador huma-
no ou então ser pré-registrado e servir para a indexação efetuada pelo
automático.
Glossema
Termo usado na glossemática para indicar as formas invariantes
abstratas mínimas estabelecidas pela teoria, como a base de explicação
de todas as áreas da análise linguística.
Segundo José Lemos Monteiro (2002, p. 19), o conceito de glosse-
ma equivale, praticamente, ao de morfema, mas tem aplicação mais ge-
ral, porque inclui também o de tagmema e, no plano da expressão e do
conteúdo, é identificado como uma invariante irredutível, uma forma
mínima não sujeita a novas divisões.
Em glossemática, glossemas são as formas mínimas que, no plano da expressão, como no plano do conteúdo, a análise determina como
invariantes irredutíveis.
Glossemática
Ciência que tem por objeto o estudo da língua como um sistema de
relações internas, independentemente, quer da substância física em que
se manifesta, quer da substância psíquica a que serve de expressão.
O fundador da glossemática é o linguista dinamarquês Louis Trolle
Hjelmslev (1899-1965), chefe do Círculo Linguístico de Copenhague.
Os princípios da glossemática derivam das posições teóricas de
Ferdinand de Saussure (1857-1913), uma das quais se consubstancia
nesta afirmação célebre: "a língua é uma forma, não uma substância".
Esta frase contém o chamado princípio da imanência, segundo o qual, apelar para explicações físicas, fisiológicas, psicológicas e sociológicas
(que pertencem a outro domínio, o da substância) não é fazer linguísti-
ca, e, sim, para explicações que sejam de fato "linguísticas", isto é, de-
correntes da própria realidade linguística, que é uma rede de relações,
uma estrutura, um sistema, enfim uma forma e não uma substância. A
esse estudo meramente formal da realidade linguística, Louis Trolle
Hjelmslev (1899-1965) denominou "álgebra da linguagem". A antiga
distinção da ciência da linguagem em estudo da expressão (fonética) e
estudo do conteúdo (semântica) é mantida, mas com a importante res-
salva de que o que então se deve estudar é a forma da expressão e a
forma do conteúdo. Daí as duas novas denominações propostas para substituir as anteriores: cenemática (forma da expressão) e pleremática
(forma do conteúdo).
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2782
As especulações da glossemática se caracterizam por pronunciada
tendência abstrativista, que não se compadece com o conceito tradicio-
nal que se tem vindo dando ao termo linguística. Por isso, com Eugenio Coseriu (1921-2002), é preferível ver na glossemática não uma nova
linguística, e, sim, uma outra linguística. Veja também o capítulo 4 de
A linguística estrutural, de Giulio Ciro Lepschy (1975).
A palavra glossemática foi criada a partir do grego glossa "língua",
segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), para designar a teoria linguísti-
ca que consideraria a língua como fim em si mesmo e não como meio,
a partir das ideias de Ferdinand de Saussure.
A glossemática implica uma crítica rigorosa da linguística anterior,
que se fundaria em dados exteriores à própria língua e se reduziria, com
efeito, a técnicas que tenham por objeto o conhecimento dos fatos pré-
históricos, históricos, físicos, sociais, literários, filosóficos ou psicoló-gicos. A ciência da linguagem que quer ser a glossemática, ao contrá-
rio, é imanente, concentrando-se na língua considerada como uma uni-
dade fechada em si própria, uma estrutura sui generis. A glossemática
procura constantes que não sejam extralinguísticos, com a pretensão de
determinar o que é comum a todas as línguas humanas, quaisquer que
sejam, e o que faz com que, através de diversas flutuações, uma língua
permaneça idêntica a si mesma. A glossemática se opõe, assim, à con-
cepção humanista da linguística para a qual os fenômenos que depen-
dem do humano só se produzem uma vez e não podem, por conseguin-
te, contrariamente aos fenômenos naturais, ser estudados cientificamen-
te.
A glossemática apresenta, assim, uma teoria geral que se aplica a todas as ciências humanas. A todo processo deve corresponder um sis-
tema, visto que o processo se deixa analisar através de um número limi-
tado de elementos que se combinam de diversas maneiras.
O método tradicional ou "indutivo" pretende ir do particular (os da-
dos) ao geral (as leis ou normas). É sintético e generalizável, e só pode
depreender conceitos válidos para um sistema linguístico dado. Sendo
assim, termos como subjuntivo, condicional, médio, passivo, nominati-
vo etc. não podem produzir nenhuma definição comum e são aceitáveis
somente para um dado sistema, enquanto categorias gramaticais, po-
dendo-se dizer, portanto, que há contradição na descrição.
A glossemática parte do texto, enunciado ou conjunto de enuncia-dos a analisar; o texto constitui uma classe divisível em gêneros, divisí-
veis em classes. Qualquer que seja o texto, a descrição deverá ser não
contraditória e exaustiva. Trata-se de dar conta das relações que as pró-
José Pereira da Silva
2783
prias substâncias mantêm entre si e que a linguística tem por tarefa de-
finir e descrever, e não de dar conta das próprias substâncias. Aplican-
do com rigor a frase final do curso de Ferdinand de Saussure ("A lin-guística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si
mesma e por si mesma"), Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) faz da
estrutura imanente da língua o único objeto da linguística.
A noção de função definida como uma relação entre dois termos de-
sempenha um grande papel para Hjelmslev. Além disso, o texto lin-
guístico é caracterizado por sua analisabilidade em unidades menores,
contrariamente a outras formas de comunicação, tais como os semáfo-
ros vermelhos ou verdes, por exemplo. Entre as unidades da análise
linguística, umas são signos e têm uma significação, outras são figuras
de expressão, privadas de conteúdo próprio.
A língua aparece, portanto, como um sistema de figuras, contraria-mente aos sistemas de comunicação construídos a partir de signos não
analisáveis: sistemas simbólicos (sinalização de estrada), sistemas ges-
tuais, e mesmo escritas ideográficas. A solidariedade do conteúdo e da
expressão é outro caráter importante da língua, ficando bem entendido
que um enunciado deve ter um conteúdo, mesmo se este for falso, inco-
erente e inverossímil. A definição do signo decorrente dessa concepção
é necessariamente fiel à que foi dada por Ferdinand de Saussure (1857-
1913), mesmo Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) se contentando em
caracterizar o signo com a ajuda das funções internas que o constituem
e das funções externas que ele mantém com as outras unidades linguís-
ticas.
O conteúdo e a expressão têm sua forma e sua substância. Portanto, deve ser possível analisar essa forma do conteúdo em figuras de conte-
údo, como se analisa a forma da expressão em figuras de expressão. Es-
tas últimas, também chamadas cenemas, opõem-se aos pleremas. As-
sim, o signo égua analisado em cenemas dará [ε] + ]g] + [w] + [a] e,
analisado em pleremas: "cavalo" + gênero "ela". Distinguir-se-ão, as-
sim, variantes caracterizadas pelo fato de que as diferenças morfológi-
cas não se acompanham de mudanças de expressão e invariantes carac-
terizadas pelo fato de que as diferenças morfológicas acarretam uma
mudança na expressão. Assim, em português, o objeto e o sujeito (à
parte o problema dos pronomes) são variantes, embora em latim sejam
invariantes. A glossemática tende, assim, a atribuir a todas as línguas, como ca-
racterística comum, o princípio da estrutura. As línguas se diferenciam
simplesmente pela maneira como, em cada caso particular, esse princí-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2784
pio se aplica. Semelhança e diferença estão em relação com a forma,
não com a substância. Esta é suscetível de uma descrição científica
através da forma e não através dos sons ou das significações. Isto ex-clui, por exemplo, a possibilidade de um sistema fonético universal. In-
do até o fim da concepção saussuriana, Hjelmslev apresenta o fonema
como uma unidade abstrata independente da realização fonética da fala.
Assim, a língua é uma estrutura na medida em que: a) é consti-
tuída de um conteúdo e de uma expressão; b) é constituída de um pro-
cesso (ou texto) e de um sistema; c) conteúdo e expressão são ligados
um ao outro por meio da comutação; d) há relações determinadas no
seio do processo e no seio do sistema, e e) não há correspondência dire-
ta entre conteúdo e expressão, sendo os signos divisíveis em compo-
nentes menores.
Glossemática, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é a teoria lin-guística desenvolvida pelo linguista dinamarquês Louis Hjelmslev
(1899-1965), que visa a explicitação de certos aspectos da concepção
saussuriana da língua e do signo, e que se assenta sobre uma epistemo-
logia radicalmente dedutivista, na qual a língua é apreendida em ima-
nência, como forma e não como substância.
Veja os verbetes: Língua, Signo e Substância.
Glossogenia
No vocabulário da psicomecânica da linguagem, segundo Franck
Neveu (2008, s.v.), glossogenia designa o processo de construção da
língua no tempo. Opõe-se ao termo praxeogenia que designa o proces-
so de construção do discurso. Gustave Guillaume utiliza mais frequen-
temente o termo ontogenia (formado a partir do grego ôn, ontos, “o ser, o que é”) para designar esta noção de construção contínua e histórica da
língua:
“[...] eu me utilizei, não gostando de inovar em terminologia, dois
termos saussurianos: ‘diacronia’ e ‘sincronia’. No ponto em que me en-
contro em meus estudos, prefiro, em lugar deles, os termos [...] ontoge-
nia e praxeogenia. A ontogenia libera condições de grandeza e de for-
ma de que dispõe a linguagem por afastamento histórico (diacrônico)
do primitivo. A praxeogenia: emprego da linguagem no momento da
fala [...]” (GUILLAUME, 1982).
A ontogenia, ou glossogenia, fornece assim a definição existencial
da linguagem, por distinção com a praxeogenia, que lhe fornece a defi-nição funcional.
Veja os verbetes: Diacronia, Discurso, Língua, Praxeogenia, Psi-
comecânica da linguagem, Sincronia.
José Pereira da Silva
2785
Glossografia
Glossografia é a escrita de glosas ou comentários. Compilação de
glossários; indexação de palavras antigas ou desconhecidas.
Glossógrafo
Glossógrafo é o escritor que se aplica ao estudo das línguas; pessoa
que trabalha em glossografia.
Glossolalia
Termo usado por alguns linguistas para indicar o fenômeno de cer-
tas pessoas criarem novas palavras, deformadas, resultando em uma
linguagem incompreensível (como se fosse uma alucinação). A glosso-
lalia é praticada por membros de vários grupos religiosos. Veja Glosso-
lalias: ficção, semblante, utopia, de Nina Virgínia de Araújo Leite
(2007) e Línguas de anjos: sobre glossolalia religiosa, de Antonio Wel-
lington de Oliveira Júnior (2004).
Glossologia
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
glossolalia é a ciência que faz o estudo comparativo das línguas, sobre-
tudo das suas origens e evolução; Conjunto dos termos ou palavras que
são usadas numa especialidade dos conhecimentos humanos.
Veja os verbetes: Ciência da linguagem, Filologia, Glótica, Gloto-
logia.
Glossólogo
Glossólogo é o especialista em glossologia.
Glossomania
O termo glossomania, distinto de glossolalia, segundo Louis Trolle
Hjelmslev (1899-1965), designa o delírio verbal de doentes maníacos. É caracterizada por jogos verbais, desprovida de um caráter sistemáti-
co. O doente, que pretende poder falar tal ou tal língua, desconhecida
ou imaginada, emite sequências de sílabas sem sentido e sem regras
sintáticas definidas.
Glotal
Lugar ou ponto de articulação de uma consoante cujo articulador
ativo e articulador passivo são os músculos da glote. No português, as
consoantes glotais são [h, ɦ], como em marca, larga, que são sons em
variação dialetal com outros sons de r.
Segundo David Crystal (1988, s.v.), trata-se de termo usado na clas-
sificação dos sons consonantais, com base em seu ponto de articula-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2786
ção, referindo-se ao som produzido na laringe, devido ao fechamento
ou estreitamento da glote, a abertura dentre as cordas vocais. O ruído
do ar saindo depois de um fechamento completo da glote é conhecido como oclusiva glotal, transcrita como (?). A oclusiva glotal é frequen-
temente usada em inglês, no caso das vogais articuladas forçadamente
(are you) ou entre vogais adjacentes (co-operate). Em vários sotaques
do inglês (como aqueles influenciados pelo cockney), este som tem sta-
tus fonêmico, sendo utilizado em algumas posições que, na receibed
pronunciation do inglês, seriam ocupadas por uma oclusiva surda (es-
pecialmente [t] e [k]). Bottle / bd?l / . Também da glote se originam vá-
rios graus de fricção audível, como a fala sussurrada, ou o som [h] em
inglês. Outros efeitos glotais, derivados do modo de vibração das cor-
das vocais, constituem um traço importante dos sons da fala, tais como
a variação de pitch e de sonoridade, e a fonação sussurrante e laringa-da.
O termo glotal, empregado como sinônimo de laringal, segundo Je-
an Dubois et al. (1998, s.v.), aplica-se a tudo o que é relativo à glote e
às cordas vocais. As vibrações das cordas vocais são chamadas, às ve-
zes, de "vibrações glotais" e as consoantes devidas a uma brusca aber-
tura da glote são oclusivas glotais etc.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a glote, que é um orifício situa-
do na laringe, forma um espaço triangular disposto entre as cordas vo-
cais. Ela é circundada por uma saliência cartilaginosa, a epiglote, que
fecha a laringe quando da deglutição, porém se ejeta para trás da língua
quando da fonação, de maneira a abrir a passagem para o ar laríngeo.
Durante a emissão de sons vozeados (vogais, consoantes sonoras), a glote se fecha, o que permite às cordas vocais vibrarem. Durante a
emissão das consoantes surdas, a glote permanece aberta, como no caso
do estado de não fonação, impedindo a vibração das cordas vocais, bem
distanciadas uma da outra. Qualificam-se de glotais, sobretudo, as con-
soantes oclusivas articuladas por meio de uma brusca abertura da glote.
O termo é frequentemente utilizado com o sentido de laríngea. As con-
soantes ditas glotais são articuladas através de uma dupla oclusão si-
multânea bucal e glotal. A articulação glotal é representada pelo sinal
[ʔ] no alfabeto fonético internacional.
Veja os verbetes: Alfabeto fonético internacional [AFI], Articula-
ção, Consoante, Laríngea, Oclusão.
Glotálico
Um dos mecanismos de passagem da corrente de ar, além do meca-
nismo pulmonar e velárico. No mecanismo de passagem de corrente de
José Pereira da Silva
2787
ar glotálico, o ar presente na faringe é expelido através de movimento
iniciado pela ação da glote. As consoantes produzidas com o mecanis-
mo de corrente de ar glotálico são denominadas ejectivas. No portu-
guês, não há som produzido com o mecanismo de ar glotálico.
Glotalização
Glotalização é um termo geral que se aplica a qualquer articulação
que envolve uma constrição glotal simultânea, especialmente uma
oclusiva glotal. Em inglês, segundo David Crystal (1988, s.v.), as oclu-
sivas glotais são muito usadas para reforçar uma oclusiva surda em fi-
nal de palavra (What? [wdt?). No entanto, se a abertura da glote é re-
tardada até o final da saída do ar do som glotalizado, é produzido um
efeito sonoro diferente. Estes sons, quando a glote está fechada, são
produzidos sem que haja uma participação direta do ar que sai dos
pulmões. O ar fica comprimido na boca ou na faringe, acima do fecha-mento da glote, e sai enquanto a respiração ainda está presa. Os sons
resultantes deste mecanismo de passagem do ar glotálico são conheci-
dos como ejetivos, "glotálicos" ou "glotalizados" (embora este último
termo em geral se limite aos sons que têm o traço glotal como articula-
ção secundária). São transcritos com um apóstrofo ao alto, como [p'],
[t'], [s']. Em inglês, tais sons só têm força estilística (como no caso de I
think, que pode ser pronunciado de forma precisa e entrecortada, pro-
vocando um [k'] ejetivo), mas línguas como o quíchua e o haussá usam
as consoantes ejetivas como fonemas. Existe uma outra categoria de
sons, que usam o mecanismo de passagem do ar glotálico, conhecida
como implosivo.
Na teoria fonológica de traços distintivos de Noam Chomsky e Morris Halle, as constrições glotálicas constituem um dos tipos de sons
estabelecidos para as variações no ponto de articulação (traços de cavi-
dade). As constrições glotais são formadas pelo estreitamento da glote
além de sua posição neutra, como nos sons acima descritos.
Glotalizado
Som glotalizado, ou ejetivo, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
é aquele cuja articulação comporta uma batida rápida da glote. O som
glotalizado existe também em línguas indígenas da América e em cer-
tas línguas da África, do Extremo Oriente e do Cáucaso.
Glote
Parte do aparelho fonador onde se acham as cordas vocais (ou pre-gas vocais), cuja função é fornecer o traço distintivo da sonoridade, na
oposição sonoro / surdo ou vozeado / áfono.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2788
É o espaço normalmente triangular, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), compreendido entre as cordas vocais, de cerca de 16 mm
de comprimento e suscetível de abrir até uns 12 mm. A abertura é o fe-chamento total ou parcial da glote é determinado pelo afastamento ou
junção das cordas vocais, arrastadas pelo movimento das aritenoides e
dos músculos que as controlam. Durante a respiração normal e durante
a articulação de certas consoantes chamadas "aspiradas" (como as oclu-
sivas não sonoras do inglês), a glote fica aberta. Por ocasião da fonação
(articulação das vogais, dos glides, da maioria das consoantes sonoras),
a glote fica fechada e só se abre periodicamente, sob a pressão do ar
sublaringal. Essas aberturas e fechamentos sucessivos provocam ondas,
que produzem o murmúrio laríngeo chamado voz. A glote fica meio fe-
chada para a produção da voz cochichada.
Veja o verbete: Glotal.
Glótica
O mesmo que glotologia ou linguística, ou, mais precisamente, a
ciência que trata do estudo comparativo das diferentes línguas e suas
origens e formação.
Segundo José Leite de Vasconcelos (1858-1941), em suas Lições de
Filologia Portuguesa, a palavra "glótica" foi importada da Alemanha e
fez o seu aparecimento em Portugal em 1868, no livro A Língua Portu-
guesa, de Francisco Adolfo Coelho (1847-1919). Foi, porém, depois do
livro Da "Glótica" em Portugal (1872) de Manuel de Melo (1834-
1884), que o termo se tornou mais conhecido.
Veja os verbetes: Filologia e Glossologia.
Glótico
Glótico é o que é relativo à glote.
Glotocronologia
Termo usado na linguística em uma tentativa de quantificar a exten-
são em que as línguas divergem de uma fonte comum. Técnica propos-
ta por Morris Swadesh (1909-1967) e Robert Benjamin Lees (1922-
1996) e utilizada, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), para datar
línguas comuns primitivas, isto é, para estabelecer a época em que duas
ou mais línguas aparentadas se separaram de uma língua original co-
mum.
A gramática comparada procura datar as mudanças linguísticas e
determinar o grau de parentesco das línguas (cuja história não nos é co-nhecida de outra maneira) através da glotocronologia. Assim, constata-
se que o desaparecimento de morfemas se fez mais ou menos no mes-
José Pereira da Silva
2789
mo ritmo para todas as línguas (lei da perda morfemática). Em mil
anos, o léxico fundamental definido nas bases de conceitos universais
(comer, beber, homem, cabeça etc.), que formam um conjunto de umas 100 palavras, perde por volta de 19 por cento das bases que tinha no
início. Se se tomam duas línguas que se separam completamente, pode-
se admitir que, mil anos depois, elas terão em comum cerca de 66 por
cento do estoque de base (na medida em que não perdem as mesmas
unidades). Em sentido inverso, a glotocronologia fará remontar a data
aproximativa de separação a mil anos desde que o vocabulário funda-
mental seja o mesmo a 66 por cento.
Glotofagia
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), glotofagia é o termo emprega-
do por Louis-Jean Calvet (1974) no subtítulo de seu livro Linguistique
et Colonialisme: Pedit Traité de Glottophagie para designar o processo pelo qual a imposição da língua do ex-colonizador europeu sobre as
populações colonizadas, escravizadas e exploradas tem levado ao desa-
parecimento de incontáveis línguas regionais. O caso do Brasil e das
línguas indígenas é exemplar: das muitas centenas de línguas faladas no
território no início da dominação portuguesa, restam hoje pouco mais
de 180, das quais a grande maioria conta com um número escasso de
falantes, o que sinaliza seu provável desaparecimento iminente.
Louis-Jean Calvet não limita a glotofagia, porém, aos casos de co-
lonialismo. A imposição das línguas dominantes nos diferentes países
europeus também levou à extinção ou à sobrevivência anedótica das
antigas línguas regionais. O processo de imposição do francês ao resto
da França logo depois da Revolução de 1789, processo planejado e am-parado por dispositivos legais, resultou na acelerada redução do núme-
ro de usuários das muitas línguas faladas no território. Processo seme-
lhante ocorreu em seguida à unificação política da Itália (1861), quando
o toscano se tornou língua oficial do novo Estado e empurrou para a
marginalização as muitas e diferentes línguas regionais, pejorativamen-
te rotuladas de “dialetos”, num movimento que atingiu seu ápice duran-
te o período fascista (décadas de 1930-1940) em que o uso dos “diale-
tos” foi proibido por lei.
Glotofobia
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo glotofobia é proposto
por Philippe Blanchet em obra publicada em 2016, “para insistir nas dimensões humanas e sociais das discriminações linguísticas”. Philippe
Blanchet (2016, p. 45) oferece a seguinte definição do termo: “O des-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2790
prezo, o ódio, a agressão, a rejeição, a exclusão de pessoas e a discri-
minação negativa efetiva ou pretensamente fundada no fato de conside-
rar incorretas, inferiores, ruins certas formas linguísticas (percebidas como línguas, dialetos ou usos e línguas) utilizadas por essas pessoas,
focalizando em geral as formas linguísticas (e sem ter sempre plena
consciência da amplitude dos efeitos produzidos sobre essas pessoas)”.
O autor prossegue afirmando: “A hegemonia das ideologias linguísticas
glotófobas está tão poderosamente instalada em numerosas sociedades,
sobretudo ocidentais, que as práticas linguísticas constituem um caso
quase único em que essa rejeição não é compreendida como uma alte-
rofobia direcionada a pessoas, mas como uma espécie de avaliação ‘pu-
ramente’ linguística, quando não objetiva e incontestável” (BLOM-
MAERT, 2010, p. 14). Para Philippe Blanchet, o termo glotofobia
“apresenta de fato o interesse de reinserir as discriminações linguísticas no conjunto das discriminações que incidem sobre pessoas, ao invés de
restringi-las (sem ração e deixando-se apanhar pela ideologia que pro-
duz a glotofobia) a discriminações que incidem sobre línguas”
(BLANCHET, 2016, p. 44).
A noção segundo a qual o que se discrimina é a pessoa e não, de fa-
to, sua maneira de falar já tinha sido postulada por Marcos Bagno
(2003, p. 16): “O preconceito linguístico não existe. O que existe, de
fato, é um profundo e entranhado preconceito social”. Conforme escre-
ve o mesmo autor (2003, p. 192), “a discriminação explícita contra os
que ‘não sabem português’ ou contra os que ‘atropelam a gramática’
(discriminação estampada e difundida quase diariamente nos meios de
comunicação) é simplesmente a face visível de um mecanismo de ex-clusão que atua num nível bem mais sutil e insidioso”, e cita as seguin-
tes palavras de Maurizzio Gnerre (1985, p. 22-23): “A gramática nor-
mativa é um código incompleto que, como tal, abre o espaço para a ar-
bitrariedade de um jogo já marcado: ganha quem, de saída, dispõe dos
instrumentos para ganhar. Temos assim pelo menos dois níveis de dis-
criminação linguística: o dito ou explícito e o não dito ou implícito”. E
Marcos Bagno prossegue: “Essa discriminação não dita ou implícita é
que configura a norma oculta, o disfarce linguístico de uma discrimi-
nação que é, de fato, social. O conhecimento pleno e eficaz do ‘bom
português’, o domínio das regras padronizadas não vai garantir que um
indivíduo deixe de ser discriminado por outros critérios de avaliação, que impõem uma ‘gramática normativa não escrita’, como sugere Mau-
rizzio Gnerre” (BAGNO, 2003, p. 193). Esses outros critérios de avali-
ação, segundo Marcos Bagno, são a cor da pele, o sexo ou a orientação
José Pereira da Silva
2791
sexual (assumida ou presumida), o modo de se vestir, a compleição fí-
sica, a procedência geográfica (explicitada ou suposta), a zona de resi-
dência, a opção religiosa, a impostação da voz em sua correlação com os papéis sociais atribuídos aos gêneros masculino e feminino (ao ho-
mem cabe falar “grosso” e impositivamente; à mulher, ser “delicada” e
condescendente), os sinais exteriores de filiação do falante a conjuntos
de atitudes não convencionais (e, portanto, não “cultos”: muitos brincos
na orelha, barba comprida, piercings, tatuagens, cabeça raspada, cabe-
los e/ou unhas pintadas de cores “extravagantes” etc.), ou o ter ou não
ter automóvel (e a marca do automóvel), entre tantas outras coisas...
“Conhecer a ‘norma culta’ não poupará o falante de ser avaliado tam-
bém (e às vezes até principalmente) por essa grade de critérios quando
ele se encontrar em situação de assimetria de poder social, cultural e
econômico” (BAGNO, 2003, p. 194). Em seu livro, Philippe Blanchet destaca a ausência de legislação
oficial, na França, contra a discriminação que se funda nos usos lin-
guísticos e conclui: “Do ponto de vista legal, na França, as discrimina-
ções linguísticas não existem e estão, portanto, autorizadas” (BLAN-
CHET, 2016, p. 14). Mais uma vez, a mesma visão do fenômeno já ti-
nha sido expressa por Marcos Bagno em seu livro de 1999 dedicado ao
preconceito linguístico na sociedade brasileira: “Podemos apreciar cada
vez mais nos dias de hoje, uma forte tendência a lutar contra as mais
variadas formas de preconceito, a mostrar que eles não têm nenhum
fundamento racional, nenhuma justificativa, e que são apenas o resulta-
do da ignorância, da intolerância ou da manipulação ideológica. Infe-
lizmente, porém, esse combate tão necessário não tem atingido um tipo de preconceito muito comum na sociedade brasileira: o preconceito
linguístico. Muito pelo contrário, o que vemos é esse preconceito ser
alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colu-
nas de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o
que é ‘certo’ e o que é ‘errado’, sem falar, é claro, nos instrumentos
tradicionais de ensino da língua: as gramáticas normativas e boa parte
dos livros didáticos disponíveis no mercado. O preconceito linguístico
é tanto mais poderoso porque, em grande medida, ele é ‘invisível’, no
sentido de que quase ninguém se apercebe dele, quase ninguém fala de-
le, com exceção dos raros cientistas sociais que se dedicam a estudá-lo”
(BAGNO, 2015a, p. 21-22).
Glotogonia
Glotogonia é o estudo da origem da linguagem.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2792
Glotologia
O mesmo que linguística, glótica ou glossologia.
O termo é de origem italiana e a sua introdução em Portugal data talvez de 1881, segundo José Leite de Vasconcelos (1858-1941), quan-
do Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914) publicou os seus
Estudos Glotológicos. Segundo David Crystal (1988, s.v.), através de
uma técnica chamada lexicoestatística, estuda-se a extensão em que as
línguas hitpoteticamente relacionadas fazem uso comum de certas pa-
lavras básicas (cognatos). A partir daí, faz-se uma dedução da distân-
cia, no tempo, em que estas línguas se separam. A teoria e os métodos
envolvidos são de uso limitado e altamente controvertidos. Veja, a res-
peito, o capítulo 7 de Linguística geral, de Robert Henry Robins
(1981).
Glotônimo
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo glotônimo se refere ao
nome que se dá às línguas. Em ensaio dedicado especificamente a esse
tema, e que vamos sintetizar aqui, Marcos Bagno (2011) afirma que o
nome é um aspecto fundamental da transformação das línguas em obje-
to, em hipóstase cultural e social, sujeita aos movimentos ideológicos e
políticos de cada sociedade específica. Dar um nome a um modo de fa-
lar, rotulá-lo de “língua”, afirma o autor, não é um ato inocente. No
senso comum, tudo parece “natural”: se é a língua da Espanha, é o “es-
panhol”. se é a língua da França, é o francês; se é a língua da Itália, é o
“italiano” etc. Mas não há nada de natural no processo de nomear uma
“língua”. Aliás, a atribuição do rótulo “língua” a um modo de falar já é
um ato político. A língua como algo com limites definidos e seguros é resultado de um processo histórico e cultural. Na vida íntima das pes-
soas e das comunidades, não existem “línguas”: o que existe são varie-
dades linguísticas, o que também se costuma chamar de “dialetos”, um
termo que a sociolinguística contemporânea prefere evitar por causa do
caráter tradicionalmente depreciativo que lhe foi atribuído com o passar
do tempo.
A eleição de uma variedade linguística específica como língua ofi-
cial impõe, entre outras coisas, a necessidade de nomear essa entidade.
Durante muitos séculos, as línguas maternas europeias foram chama-
das de “vulgares”. Nos territórios do antigo Império Romano, esses
“vulgares” foram chamados de “romances”, sem outra designação es-pecífica. Isso porque, durante quase mil anos, a única língua digna des-
se rótulo foi o latim, a única estudada sistematicamente, a única empre-
gada em obras de caráter filosófico, científico, moral etc. Somente a
José Pereira da Silva
2793
partir do Renascimento as línguas vulgares passaram a ser valorizadas
como instrumentos que permitem a comunicação direta do poder com
seus súditos. E, para isso, elas precisam de um nome. O caso da língua castelhana é muito particular. Ao contrário do que
ocorreu com outras línguas, que assumiram definitivamente o nome de
seu país, a língua do poder central da Espanha até os dias de hoje con-
serva seu nome de origem regional, isto é, o nome do dialeto, do ro-
mance, do vulgar empregado pelas forças sociais e políticas que unifi-
caram o território ibérico depois de expulsarem os mouros. Embora
também seja chamada de “espanhol” ou “língua espanhola”, o nome
“castelhano” se conserva. Como consequência da redemocratização da
Espanha no final dos anos 1970, após quarenta anos de ditadura fran-
quista, foi desenhada uma nova política linguística para aquele país,
com o reconhecimento de estatuto cooficial para algumas das línguas regionais: galego, catalão e basco. Outras línguas regionais, no entanto,
não tiveram a mesma sorte, como o leonês e o aragonês. Para não ferir
suscetibilidades, a língua majoritária, a língua do centro do poder, é re-
ferida nessa política com o nome de “castelhano”, porque, ao fim e ao
cabo, o galego, o catalão, o basco, como também o aragonês e o leonês,
são “línguas espanholas”, isto é, línguas faladas na Espanha por cida-
dãos espanhóis. Mas para a política linguística externa, o nome do cas-
telhano é “língua espanhola”, sem mais, como se vê, por exemplo, no
sítio do Instituto Cervantes na internet, que é assim apresentado: “El
Instituto Cervantes es la institución pública creada por España em 1991
para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difu-
sión de la cultura española e hispanoamericana” (grifos de Marcos Bagno).
Em outros países, no entanto, o nome da língua perdeu completa-
mente sua referência à origem regional, provinciana, da variedade so-
bre a qual se construiu o idioma oficial. É o caso do francês que, no en-
tanto, levou muito tempo para se firmar como a “língua da França”. Até
a Revolução de 1789, as línguas e dialetos regionais eram muito vivos
e dinâmicos. Mas a ideologia revolucionária exigia o fim das divisões
feudais, a unificação do país em torno do centro político que era Paris.
E mesmo o nome “França” precisou de muito tempo para se estabelecer
como designação de todo o território francês atual. A França como en-
tidade nacional centralizada só aparece no imaginário do povo francês a partir precisamente da Revolução e mais ainda depois das façanhas im-
periais de Napoleão I. Por seu turno, a língua “francesa” só se propaga
e se impõe a todo o território nos cinquenta anos seguintes à Revolu-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2794
ção. Em 1794, o clérigo, erudito e revolucionário francês Henri Gré-
góire escreve um documento no qual lamenta que a língua francesa seja
falada somente em quinze dos oitenta e três departamentos do país, o que evivale a somente um quarto da população. O documento se cha-
ma, muito significativamente, Rapport sur la nécessité et les moyens
d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française
[Relatório sobre a necessidade e os meios de aniquilar os patoás e de
universalizar o uso da língua francesa]. Começa assim uma explícita e
sistemática política de repressão das línguas regionais e de imposição
do ensino exclusivo da língua francesa em sua modalidade parisiense.
A história do português também apresenta suas vicissitudes políti-
co-ideológicas. Historicamente, o português outra coisa não é senão a
continuação histórica do galego, romanço surgido no extremo noroeste
da Península Ibérica após a colonização romana, que suplantou a civili-zação céltica ou celtibérica que havia por lá. As peripécias históricas,
as guerras intrafamiliares, as etapas da Reconquista cristã dos territó-
rios sob controle muçulmano, tudo isso conduziu à criação de um reino
de Portugal em 1139, separado da coroa de Leão. O território galego,
no entanto, jamais se separou, nunca obteve sua independência e assim
é que até os dias de hoje. A Galiza é somente uma região administrativa
da Espanha. No Renascimento, os primeiros gramáticos portugueses
trataram de destacar a elegância e a riqueza da língua que então passou
a se chamar “português”, em contraposição declarada à língua galega.
O historiador e gramático Duarte Nunes de Leão, em 1606, escreveu
com perspicácia: “... as quais ambas [galega e portuguesa] eraõ antiga-
mente quasi hua mesma, nas palavras & nos diphtongos e na pronunci-
açaõ que as outras de Hespanha naõ tem. Da quel lingoa Gallega a Por-
tuguesa se aventajou tanto, quanto na copia e na elegancia della vemos.
O que e causou por em Portugal haver Reis e corte que he a officina
onde os vocabulos se forjão e pulem e onde manão pera os outros ho-
mes, o que nunqua houve em Galliza...”. A presença de reis e de uma
Corte permitiu à língua portuguesa se distinguir e se separar do galego,
uma língua que por muitos séculos não será objeto de cultivo literário,
relegada aos usos menos valorizados, sempre oprimida pelo castelhano
centralizador.
As histórias do “alemão” e do “italiano” também servem como ca-sos exemplares. A Alemanha e a Itália foram durante muitos séculos
territórios divididos entre diferentes poderes políticos. É somente no fi-
nal do século XIX que surgem os países unificados que hoje chamamos
Itália e Alemanha, o primeiro em 1861 e o segundo em 1871. São dois
José Pereira da Silva
2795
países que sempre conheceram uma grande multiplicidade linguística.
Mas a unificação territorial e política exigiu também a unificação lin-
guística. Assim, na Alemanha se cria uma língua padrão, chamada Ho-chdeutsch, “alto-alemão”, construída não a partir de um só dialeto, mas
com base em diversos dialetos centrais e do sul do território. O Ho-
chdeutsch é eminentemente uma língua que se escreve, mas que não é a
língua materna, íntima e familiar de praticamente ninguém.
Na Itália, depois da unificação, o problema da língua nacional, de-
batido durante séculos, foi resolvido com a eleição do toscano como
base para o que se chamará a partir de então “língua italiana”. O tosca-
no não é o dialeto de Roma, a capital. É o dialeto da Toscana, cuja ca-
pital, Florença, foi durante séculos um importante centro político, cul-
tural e econômico. Por causa disso, o toscano adquiriu o maior prestí-
gio cultural entre todas as demais línguas faladas na Península Itálica, graças ao trabalho literário de grandes figuras como Francesco Petrarca
(1304-1374), Giovanni Boccaccio (1313-1375), Nicolau Maquiavel
(1469-1527), Francesco Guicciardini (1483-1540), Ludovico Ariosto
(1474-1533) e, sobre todos os outros e em caráter pioneiro, Dante
Alighieri (1265-1321). De fato, Dante Alighieri, no ano de 1305, escre-
ve em latim um opúsculo chamado De Vulgari Eloquentia, no qual de-
fende a tese de que as línguas vulgares, se forem transformadas em ob-
jeto de investimento cultural por seus falantes, podem muito bem ser
empregadas na alta literatura. E o próprio Dante Alighieri comprovará
isso, escrevendo em toscano sua Comédia, que passará à posteridade
com o epíteto e “Divina”. Está criada assim a língua literária da Itália.
O toscano se impôs, portanto, como língua nacional após a unificação política do território italiano. O fato de o toscano ser somente um diale-
to como os demais é comprovado pela curiosa situação linguística do
primeiro rei da Itália unificada: Vítor Manuel II teve de aprender a no-
va língua oficial de seu reino, o “italiano” recém-criado, porque era,
inicialmente, apenas o rei de Piemonte e da Sardenha e, portanto, falan-
te nativo do piemontês, uma língua muito diferente do toscano, aliás
incompreensível para os falantes do italiano padrão. A criação do “ita-
liano” representou também a divisão da Itália em duas categorias lin-
guísticas: a primeira, a categoria de “língua”, ficou reservada exclusi-
vamente ao toscano, que passou a se chamar “língua italiana”; a segun-
da, a categoria de “dialeto”, é empregada até hoje para designar todas as muitas entidades linguísticas presentes no território da Península. No
caso da Itália, o termo “dialeto” já não tem sua acepção tradicional nos
estudos linguísticos: variedades regionais de uma mesma língua. “Dia-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2796
leto” na Itália é qualquer forma de falar que não seja a “língua italiana”.
Os chamados “dialetos” italianos, no entanto, são línguas muito dife-
rentes entre si e incompreensíveis para seus respectivos falantes. Com isso, ocorrem no mundo duas situações distintas: 1) o mesmo
nome aplicado a modos de falar bem diferentes e 2) nomes diferentes
aplicados a modos de falar muito semelhantes. As duas situações, obvi-
amente, são resultantes de processos históricos e ideológicos.
Um caso clássico da primeira situação é a da língua chamada “ára-
be”. Por razões de natureza religiosa, o que os falantes de “árabe” cha-
mam de “árabe” é a língua na forma como ela se encontrava quando o
profeta Maomé redigiu o livro sagrado do Islã, o Corão, no século VII.
Essa língua, também chamada de “árabe clássico”, é uma língua morta,
não é falada por ninguém como idioma materno, está restrita à literatu-
ra religiosa. Nos diferentes países chamados “árabes”, existem formas de falar tão diferentes entre si quanto, por exemplo, o português e o ita-
liano, sem possibilidades de intercompreensão total entre seus falantes,
e não poderia ser de outra maneira. É impossível que num território
imenso, que vai do extremo ocidental da África até a fronteira do Ira-
que com o Irã, passando por todo o Oriente Médio, se fale uma só e
única “língua árabe”. No entanto, essa ilusão ideológica é sustentada
pela própria cultura “árabe” tradicional, já que na maioria dos vinte e
dois países “árabes” o sistema educacional se dedica exclusivamente ao
ensino do “árabe clássico” e de sua forma mais modernizada, o “árabe
padrão”, enquanto os chamados “dialetos” particulares falados nos di-
ferentes países não recebem apoio institucional nem são valorizados,
embora sejam as verdadeiras línguas maternas nacionais. é inconcebí-vel que centenas de milhões de pessoas, distribuídas por um território
tão dilatado, subdividido em tantas unidades políticas soberanas, falem
uma mesma e única língua “árabe”.
Já como exemplo da segunda situação, dois nomes para modos de
falar semelhantes, pode se citar o caso do híndi e do urdu. O urdu é a
língua oficial do Paquistão. Como língua falada, o urdu é praticamente
indistinguível do híndi, língua oficial mais importante da Índia. A dife-
rença entre as duas línguas está no fato de o urdu ser utilizado por fa-
lantes muçulmanos e escrito numa forma ligeiramente adaptada do al-
fabeto persa que, por sua vez, é uma variante do alfabeto árabe. O hín-
di, por seu lado, se escreve no alfabeto defanágari, originalmente em-pregado para o sânscrito, e é utilizado pelos falantes de religião hindu.
A rivalidade histórica entre Paquistão e Índia, que gerou terríveis guer-
ras sanguinárias entre os dois países, junto com a divisão religiosa, ex-
José Pereira da Silva
2797
plica a atribuição de nomes diferentes a um único sistema linguístico.
A situação das línguas da Índia e do Paquistão se reproduz, em certa
medida, na antiga Iugoslávia. Depois da sangrenta divisão da antiga confederação socialista em diferentes pequenos Estados independentes,
a língua, que sempre se chamou servo-croata, recebeu três nomes dis-
tintos: sérvio, croata e bósnio. As diferenças entre o sérvio e o croata
sempre se restringiram à escrita: os croatas, católicos romanos, empre-
gam o alfabeto latino; os sérvios, católicos ortodoxos, empregam o al-
fabeto cirílico; os bósnios, muçulmanos, empregam tanto o alfabeto la-
tino quanto o cirílico. Com a criação dos Estados independentes da
Croácia e da Bósnia, a língua, que para os linguistas é um sistema úni-
co com variedades locais que não impedem a intercompreensão dos fa-
lantes, passou a ser designada com nomes distintos, nomes dos países,
de nações. Por fim, afirma Marcos Bagno (2012a, p. 383): “há muito de políti-
co e ideológico na designação ‘língua’ que se aplica a um modo de fa-
lar específico. Por exemplo, o alego é considerado uma ‘língua’ dife-
rente do português, mas o português do Brasil não é oficialmente cha-
mado de ‘brasileiro’, em contraposição ao português europeu, embora
os estudos linguísticos venham comprovando que, do ponto de vista
sistêmico (fonológico e morfossintático, semântico e pragmático), são
duas línguas diferentes. Ora, o galego não pode ser confundido com o
português, para que a Galiza não tenha a pretensão de se separar da Es-
panha e criar um Estado soberano ou, talvez, de se unir ao território de
Portugal. Mas, por outro lado, a ideologia colonialista que sempre im-
perou nas elites brasileiras impede que se reconheça o idioma majoritá-rio dos brasileiros como uma língua independente do português euro-
peu e que possa ser chamado simplesmente de brasileiro”.
Veja o verbete: Galego e Hipóstase.
Glotopolítica
Glotopolítica é a aplicação dos resultados de pesquisas linguísticas
no campo político-social. Já se concluiu, por exemplo, através de inves-
tigações, que maior desenvolvimento intelectual terá quem primeiro
aprende seu dialeto materno e depois a língua oficial (JOTA, 1981,
s.v.).
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo glotopolítica foi pro-
posto pelos sociolinguistas franceses Louis Guespin e Jean-Baptiste Marcellesi (1986, p. 16), que assim se exprimiram: “Essencialmente,
ele oferece, a nosso ver, a vantagem de neutralizar a oposição entre lín-
gua e fala, sem se exprimir a esse respeito. Designa as diversas aborda-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2798
gens que uma sociedade faz da ação sobre a linguagem, tenha ela ou
não consciência disso; seja sobre a língua, quando a sociedade legisla
sobre os status recíprocos do francês e das línguas minoritárias, por exemplo; seja sobre a fala, quando reprime determinado uso por parte
desta ou daquela pessoa; seja sobre o discurso, quando a escola torna
matéria de exame a produção de determinado tipo textual – a glotopolí-
tica é necessária para englobar todos os fatos de linguagem em que a
ação da sociedade reveste a forma do político”. Segundo os autores, o
termo política linguística (e seu par frequente, planejamento linguísti-
co) implica muito mais uma aplicação de decisões em torno da língua
do que uma perspectiva teórica sobre as muitas e complexas relações
entre linguagem e sociedade. Por isso, em sua visão, o termo glotopolí-
tica “pode ser utilizado com duas finalidades: ao mesmo tempo para a
evocação das práticas e para a designação da análise; a glotopolítica é, portanto, ao mesmo tempo, uma prática social à qual ninguém escapa
(todo mundo ‘faz política sem saber’, seja um simples cidadão, seja o
ministro da economia), e tem vocação de se tornar uma disciplina de
pesquisa, um ramo hoje necessário da sociolinguística” (GUESPÍN &
MARCELLESI, 1986, p. 16).
O termo glotopolítica não tem emprego muito amplo entre os auto-
res de língua inglesa, mas vem sendo cada vez mais empregado nas
línguas românicas, especialmente na América Latina. Assim, Elvira
Beatriz Narvaja de Arnoux e Susana Nothstein (2014, p. 9) oferecem,
como definição de glotopolítica, “o estudo das intervenções no espaço
público da linguagem e das ideologias linguísticas que elas ativam e
sobre as quais incidem, associando-as com posicionamentos dentro das sociedades nacionais ou em espaços mais reduzidos, como o local, ou
mais amplos, como o regional ou o global. Esta disciplina atenta para
intervenções de diferentes tipos: entre outras, regulamentação de lín-
guas oficiais num organismo internacional, criação de um museu da
língua, elaboração e circulação tanto de instrumentos linguísticos (gra-
máticas, retóricas, ortografias, dicionários...) como di dispositivos nor-
mativos destinados aos meios de comunicação, antologias ou compila-
ções de textos considerados significativos para a circulação em deter-
minados âmbitos, artigos jornalísticos ou ensaios que tematizam as lín-
guas, inquéritos sociolinguísticos ou programas de ensino de línguas.
Os textos são analisados como discursos, interrogando as zonas sensí-veis ao contexto e estudando o jogo semiótico quando diferentes moda-
lidades se conjugam. A análise contrastiva dos materiais permite, por
José Pereira da Silva
2799
outra parte, reconhecer posições dentro do campo no qual foram produ-
zidos” (ARNOUX & NOTHSTEIN, 2014, p. 9).
Glotosofia
Glotosofia é o mesmo que filosofia da linguagem.
Glototécnica
Glototécnica é o mesmo que linguística aplicada.
GMD
GMD é a sigla de general mention deignation, designação genérica
do material, usada em descrição bibliográfica internacional normaliza-
da.
Gnoma
Correspondente à máxima e vocábulos afins, segundo Massaud
Moisés (2004, s.v.), o gnoma consiste num pensamento expresso de
forma concisa, lapidar e breve. E se refere, tanto quanto seus derivados, gnômico e gnômica, à poesia. Deste modo, consideram-se versos gnô-
micos aqueles que encerram um aforismo, sentença, provérbio ou equi-
valentes. Não obstante, uma certa prosa ensaística ou moralística, como
a de Francis Bacon (1561-1626) nos princípios de sua carreira, pode ser
tida por gnômica.
A poesia gnômica remonta aos antigos gregos, que não raro inseri-
am, em suas composições épicas, trágicas, elegíacas etc. versos aforís-
ticos que podiam perfeitamente se destacar do conjunto. A partir do sé-
culo V a.Cl, graças a Teogonis de Megara (século VI a.C.), Focílides
de Mileto (século VI a.C.), Solon (638-558 a.C.), Simônides de Amor-
gos (século VII a.C.) e outros, os poemas gnômicos adquiriram auto-
nomia. Entre os gregos, recebiam também o apelativo de hypothecai, e entre os latinos, exhortationes ou sententiae.
O hábito de compilar gnomas teve início com os gregos e latinos,
como, por exe0plo, Publius Syrus (século II-IV a.C.) e seus Dicta Ca-
tonis, ou Dísticos Morais, em quatro volumes, que exerceram conside-
rável influência ao longo da Idade Média. A primeira coleção de versos
gnômicos greco-latinos, inspirada no movimento de ressurreição da
cultura clásica, foi empreendida por João Láscaris (1445-1535), em
Florença (1495). Meia década após, em 1500, Erasmo de Rotterdam
(1466-1536) inicia a publicação dos Adágios, coletânea de mais de qua-
tro mil provérbios greco-latinos. O exemplo frutificou imediatamente:
em 1512, Girolamo Aleandro (1480-1542), humanista italiano, dá a pú-blico, em Paris, sob o título de Gnomologia, sive Moralium Sententi-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2800
arum Collectanea, os versos gnômicos de vários poetas da Antiguidade
(gnome diversorum poetarum).
Entretanto, o esplendor de tal tipo de poesia decorre nos últimos de-cênios do século XVI. em 1574, por imitação dos antigos, Guy Du Faur
de Pibrac (1529-1584) estampa Les Quatrains Contenant Précepte et
enseignements Utiles por la Vie de l’Homme, e em 1633, o inglês Fran-
cis Quarles (1592-1644) publica Emblems. Posteriormente, de tempos
em tempos, novas edições da poesia gnômica têm aparecido em vários
idiomas europeus. No geral, abrangem mais sabedoria que lirismo au-
têntico, mais raciocínio que expansão poética.
A despeito da sua origem helênica, a poesia gnômica não é exclusi-
va não é exclusiva da cultura dita ocidental ou mediterrânea: na verda-
de, constitui uma espécie de repositório de saber, encontrável na Es-
candinávia, no antigo Egito, na literatura chinesa, na literatura hindu,
no antigo irlandês etc.
Gnômico
Qualifica-se de gnômica uma forma verbal (tempo ou modo) em-
pregada para marcar um fato geral de experiência. Nas sentenças e má-
ximas, em grego, emprega-se, assim, o aoristo gnômico. Em português,
o presente gnômico é utilizado nos enunciados de valor geral. Exem-
plo: A terra gira em torno do sol.
Goidélico
Goidélico é o mesmo que gaélico.
Goliardos
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o vocábulo designava os clé-
rigos ou estudantes vagabundos que, seguindo as pegadas de um ima-ginário Golias (clerici vagantes, clerici vagi, vagi scholares, clerici ri-
baldi, maxime qui dicuntur de familiae Goliae), levavam vida errante e
boêmia, registrada em poemas tabernários, que não raro descambavam
na pornografia. Satirizavam a Igreja e o Papa e exaltavam os prazeres
da mesa e do leito, num hedonismo em que se vislumbra a revivescên-
cia do carpe diem horaciano. Ainda chamados vagos scholares aut go-
liardos, o “concílio de Treveris em 1227 proíbe-os de cantar nas missas
verso a Sanctus e a Agnus Dei”, ou cléricos joculatores seu goliardos
aut bufones, “excluídos dos privilégios cle4ricais pelo decreto de Boni-
fácio VIII” (PIDAL, 1945, p. 30).
Os goliardos surgiram e exerceram notável influência durante os sé-culos XI e XII; nos últimos anos do século XIII, com o sínodo de Salz-
bourg (1292), praticamente desapareceram. Disseminados pela Europa
José Pereira da Silva
2801
Central, França e Alemanha, foram desconhecidos na Península Ibéri-
ca: “houve, contudo, clérigos-jograis, que substituíram os Vagantes, na
poesia vulgar, e cujo tipo fundamental é, nos nossos cancioneiros, o clérigo Martim Vasques” (LAPA, 1929, p. 156).
A poesia goliárdica se encontra reunida numa coleção de manuscri-
tos descoberta no mosteiro beneditino de Beuren, na Baviera. Daí pro-
vém a denominação pela qual se tornou conhecida: Carmina Burana.
Joseph Andrews Schmeller, pesquisador alemão, publicou-a na íntegra
em 1847, numa edição textualmente duvidosa, mas que se reproduziu
por mais três vezes até 1907. Com o título de fragmenta Burana, Wil-
helm Meyer editou, em 1901, parte dos manuscritos. Entre 1961 e
1978, Alfons Hilka e Otto Schumann deram a lume uma completa edi-
ção crítica, em 4 volumes, considerada a melhor. Não há notícia da
pauta musical que provavelmente acompanharia as cantigas. Em 1937, Karl Orff (1895-1982) musicou uma seleção da Carmina Burana, tor-
nando essa poesia, escrita em latim e alto antigo alemão, acessível aos
interessados fora dos círculos eruditos.
Exaltando a primavera e o vinho, e cantando o intercurso erótico em
minúcias, seria de crer que os goliardos houvessem aprendido a arte de
versejar com os trovadores e jograis. Parece que a relação entre eles se-
guiu trajeto inverso: “sendo o trovadorismo, como é, um produto de
cultura mais ou menos requintada, forçoso nos é procurar os seus agen-
tes primitivos nos clérigos de vida fácil, nos elegantes sibaritas dos
mosteiros e nos capelães e confessores de corte, habituados ao convívio
mundano, ao trato mulheril e à confidência amorosa” (LAPA, 1929, p.
206, 207 e 212). Mas parece que a poesia goliárdica teria recebido ulte-riormente influência da arte dos trovadores.
Cultos, mercê da sua condição eclesiástica, lidos em Virgílio, Horá-
cio e Ovídio, os goliardos ainda se beneficiavam, no curso da sua vadi-
agem, do trato com as formas literárias populares. De onde o papel que
entraram a desempenhar como difusores da poesia trovadoresca, a pon-
to de os adeptos da tese médio-latinista acerca das origens da lírica oc-
citânica os invocarem como argumento de força. De todo modo, sem o
seu concurso “não seria possível a literatura trovadoresca”, visto que
estabeleceram “a transição entre os focos de cultura literária e o povo,
representado pelos jograis” (LAPA, 1929, p. 206). E o seu legado cons-
titui “o mais completo documento da Idade Média alemã” (SILVA PRATAS, 1974, p. 288).
Da massa anônima em que os goliardos se constituíram, destacam-
se as figuras de Hugo de Orleans, o Arquipoeta Hugo Primas de Orle-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2802
ans (1093-1160), e Gualtério de Châtillon (1135-1180). No que respeita
à métrica, cultivavam um tipo estrófico que acabou recebendo o seu
nome: “o quarteto de 13 sílabas, com rima feminina [vocábulos paroxí-tonos], às vezes terminando com um hexâmetro, chamado auctoritas
[...], que alguns estudiosos modernos chamam de ‘G. V.’ (alemão Va-
gantesnstrophe)” (WINTHROP WETHERBEE, in PREMINGER E
GROGAN, 1993, s.v.).
Gongorismo
Veja o verbete: Barroco.
Gorjia
Gorjia, no toscano, é a troca do fonema /k/ por uma aspiração.
Exemplo: la carne > la harne.
Gossip
Muito comum em veículos especializados da impressa falada, escri-ta e internética, o gossip constitui uma informação ou comentário sobre
fatos de caráter pessoal e privado (fofoca, mexerico, boato) de persona-
lidades do mundo esportivo, político, artístico etc. Geralmente são tex-
tos “maldosos”, jocosos, ambíguos que circulam em colunas sociais ou
em seções especializadas que se dedicam aos bastidores da vida social
dos chamados VIP (Very Important People) (COSTA, 2018, s.v.).
Veja Blogue, Boato, Ciberfofoca, Ciberfofoquice, Comentário, Fo-
foca, Hoax, Lorota, Mentira.
Gosto dos leitores
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gosto dos leitores é a apreciação e definição daquilo que os leitores pre-
ferem ler, elaboradas a partir de uma análise daquilo que leem: clássi-cos, fixação, história em quadrinhos, história, biografias, fotorromance,
romance de aventuras, romances de viagens, romances policiais etc.
Gót.
Gót. é abreviatura de gótico.
Gótica alemã
Gótica alemã é a letra de tipo moderno, muito usado na Alemanha.
Gótica de forma, gótica de fratura, gótica de transição, gótico bastardo,
gótico de forma, gótico de summa, gótico de transição, gótico primitivo
e gótico schwabacher são os diversos tipos de letras ou caracteres góti-
cos, como se pode ver no Dicionário do Livro, de Maria Isabel Faria e
Maria da Graça Pericão (2008, s.v.).
José Pereira da Silva
2803
Gótica
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o vocábulo “gótico” designa,
primeiramente, um estilo de arquitetura em moda na Europa ocidental entre os séculos XII e XIV, caracterizado sobretudo pela utilização de
arcos em ogiva que simbolizavam, graças ao acentuado movimento
vertical, a ascensão mística do homem medieval. Ainda empregava,
com o mesmo espiritualismo, os largos vitrais e as esculturas adorna-
das, primordialmente no que toca à indumentária.
Iniciado por volta de 1140, “quando o abade Suger de Saint-Denis
(1081-1151) começou a construir o coro de sua igreja e quando a con-
sagrou em 11 de julho de 1144” (LEICHT, 1667, p. 363), o estilo góti-
co atribuía especial ênfase à fachada e à nave central das catedrais, se-
gundo modelos variados de construção que introduziam o imprevisto e
o sutil na arte simétrica dos clássicos. E a presença de gárgulas, florões rasteiros e outros ornatos análogos, traduziam a secularização progres-
siva da arquitetura e o apelo à natureza como reservatório de inspira-
ção.
Nascido na França, o gótico se difundiu pela Europa medieval. A
palavra que o designa foi usada pela primeira vez na Renascença, por
Giorgio Vasari (1511-1574), pintor, arquiteto e historiador italiano, que
divisava na arte d Alta Idade Média o influxo desequilibrador dos bár-
baros godos sobre a harmonia perfeita dos clássicos. Como sinônimo
de “bárbaro”, o termo permaneceu até o fim do século XVIII.
No plano literário, a palavra “gótico” assinala um tipo de prosa fic-
cional despontado no século XVIII, na Inglaterra, com um romance de
Horace Walpole (1717-1797), The Castle of Otranto, publicado em 1764, e que levava como subtítulo a expressão A Gothic Story. Segui-
ram-se-lhe outras obras: The Champion of Virtue, a Gothic Tale, publi-
cado em 1777 e um ano depois reintitulado The Old English Baron”
(ALLEN, [s.d.], p. 106) de Clara Reeve (1729-1807); The Recess
(1785), de Sophia Lee (1750-1824); Vathek, an Arabian Tale (1786),
de William Thomas Beckford (1760-1844); The Misteries of Udolpho
(1794), de Ana Radcliffe (1764-1823), “que se tornou quase exemplo
básico do romance gótico” (ALLEN, [s.d.], p. 110); The Monk (1796),
de Mathew Gregory Lewis (1775-1818); e Frankestein (1817), de Mary
Wollstonecraft Shelley (1797-1851).
Considera-se final do período áureo desse gênero de ficção a narra-tiva Malmoth the Wanderer (1820), de Charles Robert Maturin (1782-
1824). Acredita-se que a sua influência tenha perdurado ao longo do
século XIX e alcançado as décadas seguintes: Wuthering Heights
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2804
(1847), de Emily Jane Brontë (1818-1848); Moby Dick (1852), de
Herman Melville (1819-1891), “talvez o maior dos romances góticos, e
quase um exemplo perfeito na matéria” (HUME, 1969, p. 287), “a mai-or parte dos romances de Thomas Hardy (1840-1928), quase todos os
de William Cuthbert Faulkner (1897-1962)” (ALLEN, [s.d.], p. 111)
constituem peças acabadas no gênero.
Derivando o seu nome do fato de se passar em ambiente medieval, a
prosa gótica apresenta, de forma genérica, as seguintes características:
histórias de horror e terror, transcorridas em castelos arruinados, com
passagens secretas, portas falsas, alçapões, conduzindo para locais mis-
teriosos e lúgubres, habitados por seres estranhos que convivem com
fantasmas e entidades sobrenaturais, em atmosferas penumbrosas e so-
turnas, onde mal penetra a luz do dia. Via de regra, a ação decorre em
tempos recuados, notadamente a Idade Média, o que identifica o gótico desde logo com o Romantismo.
Quer-se crer que não se trata de uma ficção menor, votada ao entre-
tenimento do leitor, mas de romances, ou novelas, dotados de outro in-
teresse, uma vez que os protagonistas, antes que meros fantoches, seri-
am autênticos casos psicológicos. Além disso, o gótico busca envolver
o leitor, mantendo-o em suspense, alarmá-lo, chocá-lo, incitá-lo, pro-
vocando-lhe em suma, uma resposta emocional.
Portanto, “a marca distintiva da ficção gótica é a sua atmosfera e o
uso que dela se faz” (HUME, 1969, p. 284): os vários expedientes ce-
nográficos (castelos em ruínas, trevas etc.) apenas colaborariam para
formular a ambiência em que se pretende imergir o leitor. A atmosfera
pode ser de terror ou de horror, conforme dependa do suspense ou me-do, no primeiro caso, ou de o leitor ser atingido “frontalmente com
acontecimentos que o chocam e o perturbam”, no segundo (HUME,
1969, p. 285).
Contudo, as mais das vezes é possível entrever um propósito mora-
lista, implícito na oposição sistemática do herói aos padrões de com-
portamento vigentes na sociedade do tempo. Daí o caráter anticatólico
ou anticristão da ficção gótica. Enfim, tratar-se-ia de “uma forma de
tratamento do problema psicológico do mal” (HUME, 1969, p. 287).
Segundo William Flint Thrall, Addison Hibbard e Clarence Hugh
Holman, em A Handbook to Literature (1962, p. 215), a ficção gótica “disseminou-se praticamente por todas as literaturas europeias, sendo
especialmente popular na Alemanha”.
José Pereira da Silva
2805
Gótico
Gótico é a língua dos godos.
Veja o verbete: Germânico.
Governar
Governar é sinônimo de reger.
Governo
Relação estabelecida entre posições esqueletais e constituintes silá-
bicos na fonologia de governo, em que um dos elementos é o governan-
te (cabeça) e o outro, o governado.
Gracioso
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), gracioso é o personagem tí-
pico do teatro espanhol do século XVII, criado por Félix Lope de Vega
y Carpio (1562-1635) na comédia La Francesilla, provavelmente com-
posta em 1598. Muito embora o dramaturgo castelhano se ufanasse de haver dado origem ao gracioso, parece que o seu despontar vinha sendo
preparado desde, pelo menos, Bartolomé Torres Naharro (1485-1520) e
a sua Himenea (princípios o século XVI), a que se seguiram as peças de
Juan Del Encina (1468-1529), em que comparecia o simple, os interlú-
dios ou pasos de Lope de Rueda (1510-1565), com o seu bobo e, fi-
nalmente, as oito comédias de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-
1616). De todo modo, é na pena de Félix Lope de Vega y Carpio que o
gracioso adquiriu “intervenção determinada e sistemática”, alcançando
“categoria estética permanente”, e, portanto, “relevo indelével” (PRAT,
1950, vol. II, p. 322 e 323).
Figura peculiarmente barroca, correspondente ao criado (valet) na
França e ao bobo (fool) no teatro elisabetano (HARTNOLL, 1970, s.v.), o gracioso representava o espírito realista, em contraste com o herói ou
fidalgo idealizado. Espécie de Sancho Pança, ou de anti-herói, encar-
nava “o baixo, o grotesco, o medo, a ausência do princípio de honra, a
rusticidade sensual, a glutonaria” (PRAT, 1950, vol. II, p. 323).
Exclusivo da comédia, “sua moral é grosseiramente realista; seus
chistes, plebeus. Apoia e valoriza a maneira de pensar do povo baixo,
critica com frequência os altos voos dos cavalheiros e damas, e por isso
encarna em muitas coisas o bom senso; mas também no seu rasteiro
modo de pensar e agir e na vulgaridade das suas convicções, constitui o
fundo sobre cuja obscuridade se destaca, em brilhante contraste, a dis-
tinção das figuras principais. Portanto, o gracioso é pelos dois lados uma concessão a determinadas classes sociais, uma forma de expressão
da ideia fundamental do ‘teatro para todos’” (PFANDL, 1952, p. 419).
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2806
Este hispanófilo germânico entrevia quatro graus na evolução do
gracioso, que vale a pena salientar (idem, p. 420): no primeiro “o gra-
cioso não é mais do que um desdobramento mecânico do protagonista, que comparte os diálogos, evita os monólogos e dá a conhecer os pen-
samentos e os sentimentos do herói”; no segundo, mostra-nos “o graci-
oso numa relação interna ainda mais débil com a ação, na forma tradi-
cional do chistoso e do bufão, como resíduo do paso que se podia inter-
calar à vontade”; no terceiro, constitui “uma figura dramaticamente
mais nobre. Representa o equilíbrio obtido pela excitação de sentimen-
tos encontrados; tanto ridiculariza cruelmente os momentos elevados
ou comovedores, como faz que uma situação trágica degenere em farsa
ou que a patética superabundância de sentimentos se converta em os-
tentosa trivialidade, produzindo o curioso efeito de que um fato, um
acontecimento ou um conflito provoquem ao mesmo tempo o riso e a emoção. Aqui, a figura do gracioso é autenticamente barroca, e foi Pe-
dro Calderón de la Barca (1600-1681) quem a soube melhor empre-
gar”; no quarto grau, “o herói e o seu criado ou acompanhante chistoso
constituem uma verdadeira unidade dramática. Assim ocorre sempre
que os conselhos, objeções, respostas, manobras, disparates e chistes do
gracioso, iluminam e põem em relevo, com todos os detalhes, o caráter
do seu senhor”.
Veja o verbete: Barroco.
Gradação
Termo usado na gramática e na semântica com referência a uma
análise das relações de sentido existentes entre os itens lexicais, que
possam ser comparados. Na semântica, segundo David Crystal (1988, s.v.), os termos sujeitos à gradação podem ser exemplificados pelos
opostos grande / pequeno, alto / baixo (cf. antônimos). Os que não es-
tão suscetíveis à gradação são do tipo complementar: solteiro / casado,
norte / sul etc. Na gramática, o termo se refere a vários tipos de modifi-
cação gramatical que pode ser usada como critério para comparação de
significações: um pedaço / naco / tico de..., algo muito / ligeiramente /
extremamente... Veja o capítulo 9 de Semântica, de John Lyons (1980).
Em retórica, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), gradação é
uma figura que consiste em apresentar uma série de ideias ou sentimen-
tos numa ordem tal que o que segue diga sempre um pouco mais (gra-
dação ascendente) ou um pouco menos (gradação descendente) do que o que precede. Exemplo de gradação descendente: Um sopro, uma
sombra, um nada, tudo lhe dava febre. (La Fontaine, A Lebre e as Rãs);
de gradação ascendente: Ande, corra, voe aonde a honra o chama (Boi-
José Pereira da Silva
2807
leau, A Estante de Coro).
Veja os verbetes: Anticlímax, Clímax, Escalar, Figura de lingua-
gem e Palavra.
Gradação vocálica
Gradação vocálica é o mesmo que apofonia.
Grade
Grade ou grelha é formalismo adotado pela fonologia métrica para
representar a hierarquia de proeminência acentual e de organização si-
lábica. Cada sílaba recebe uma posição na grade métrica e as sílabas
com maior proeminência recebem marcas adicionais na grade. Assim, a
sílaba com maior proeminência acentual será aquela que tiver maior
número de marcas na grade.
Segundo Sérgio Roberto Costa (2018, s.v.), grade é o esquema, ma-
pa de programação, geralmente semanal ou mensal, de uma emissora de rádio ou televisão, impresso ou eletrônico, à disposição dos usuá-
rios. Grade ou grelha porque o suporte que contém a programação vem
em forma de tabelas, não necessariamente simétricas, tracejadas hori-
zontal e verticalmente, com os dias da semana, títulos dos programas,
horários, duração etc. Geralmente as colunas verticais representam os
dias da semana e as faixas horizontais, os horários de cada dia (COS-
TA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Grelha e Mapa de programação.
Gradiência
Alguns linguistas usam o termo com referência a áreas de língua
sem fronteiras definidas entre os conjuntos de categorias analíticas. Os
contínuos fonéticos são exemplos claros, tal como a série de contrastes possíveis entre os padrões de entonação ascendente e descendente, mas
o termo também é encontrado na semântica, como nos estudos do con-
tínuo das cores ou dos antônimos com gradação, e na gramática, onde
não são precisos os limites entre as classes de palavras. Palavras pare-
cidas com substantivos, como pobre e alguém, dificultam a delimitação
da classe dos substantivos. (Cf. CRYSTAL, 1988, s.v.)
Gradiente
Natureza contínua da transição de elementos em alguma dimensão,
que se opõe a discreto ou categórico, em que a transição seria abrupta
de um elemento para outro, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.).
A visão clássica, ou tradicional, assume a natureza gradiente da fonéti-ca e a natureza categórica da fonologia. Por exemplo, o caráter gradien-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2808
te de abertura das cordas vocais (que perpassa uma posição completa-
mente aberta até uma posição completamente fechada na produção do
vozeamento) seria do domínio da fonética. Por outro lado, o fato de as línguas utilizarem contrastivamente apenas dois graus de vozeamento
(vozeado e desvozeado ou sonoro e surdo) demonstraria o caráter cate-
górico da fonologia. Abordagens recentes buscam reavaliar a relação
entre a fonética e a fonologia e indagam sobre a natureza gradiente das
representações sonoras.
Veja: Fonologia de laboratório.
Graduais (traços)
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), na sociolinguística variacio-
nista, as variáveis linguísticas são empregadas para investigar a estrati-
ficação social e a estratificação estilística, que podem se manifestar sob
a forma de estratificação gradual ou descontínua. Na estratificação gra-dual, as correlações entre fatores sociais e os resultados de uso das va-
riáveis linguísticas refletem um continuum graduado entre um grupo
social ou estilo e o próximo, em lugar de uma série de mudanças brus-
cas no comportamento linguístico. Na estratificação descontínua, como
diz o nome, as correlações entre fatores sociais e a frequência de uso
das variáveis apresentam uma alteração brusca de um grupo social ou
estilo para o seguinte. A proposta de traduzir gradient por graduais e
sharp por descontínuos em português se deve a Stella Maris Bortoni-
Ricardo (2004 e 2011), que vem utilizando esses conceitos em seus tra-
balhos no âmbito da sociolinguística educacional.
A divisão das variantes linguísticas em traços graduais e traços des-
contínuos pode contribuir de forma relevante para a reavaliação peda-gógica da noção tradicional de erro. Dentro da concepção purista que
ainda norteia muito do ensino de língua no Brasil, é “erro” todo e qual-
quer uso idiomático que contrarie as prescrições estritas da norma-
padrão convencional. Essa visão extremada e rígida não corresponde,
entretanto, à complexa rede de avaliações sociais da variação linguísti-
ca. Na dinâmica sociocultural, são os traços descontínuos os que mais
sofrem estigmatização da parte dos falantes que se situam nos estratos
mais elevados da sociedade. Assim, no português brasileiro, existem
diversas variantes que se restringem aos usos dos falantes que ocupam
as camadas mais baixas e desprestigiadas da população e, justamente
por isso, são os mais estigmatizados: a) rotacização de [l] em encontros consonantais como em inglês,
placa, bloco, pronunciados como ing[r]ês, p[r]aca, b[r]oco; ou em co-
da silábica comoe em calma, falta, talco, pronunciados como ca[]ma,
José Pereira da Silva
2809
fa[]ta, ta[]co ou ca[]ma, fa[]ta, ta[]co;
b) palatalização de [t] quando precedido de [y] em algumas varie-
dades regionais: muito > [muyʧu]; oito [oyʧu];
c) redução das formas verbais conjugadas à da não pessoa do singu-
lar com a consequente obrigatoriedade de enunciação do pronome-
sujeito: nós fala, vocês fala, eles fala etc.
Por outro lado, são em grande número os traços graduais, isto é,
aqueles que estão presentes na atividade linguística de todos os brasi-
leiros, com diferença apenas no grau de frequência em que ocorrem na
fala de determinados grupos sociais e/ou em estilos mais ou menos
monitorados. Entre esses, destacam-se:
a) monotongação em [o] do ditongo escrito ou em todas as suas
ocorrências: roubou [ho’bo];
b) monotongação em [e] do ditongo escrito ei diante de [], [ʒ], [ʃ]:
cheiro [‘ʃeru], beijo [‘beʒu], deixa [‘deʃa];
c) abrandamento ou apagamento total do [r] final de palavra, sobre-
tudo em infinitivos verbais: falar > [fa’la], viver > [vi’ve], sair > [sa’i]
etc.;
d) apagamento do [s] do morfema -mos da primeira pessoa do plu-
ral: falamos > [fa’lãmu], vivemos > [vi’vemu], saímos > [sa’i mu] etc.;
e) apagamento da preposição diante de pronome relativo: o timo por
que eu torço > o time [] que eu torço;
f) construção relativa copiadora: um livro com o qual eu aprendi
muito >um livro que eu aprendi muito com ele; g) emprego de ele e flexões como objeto direto: conheço-o muito
bem > conheço ele muito bem;
h) emprego do verbo ter com valor apresentacional: tem aula hoje;
i) não concordância verbo-sujeito quando o sujeito vem posposto ao
verbo: já acabaram os ingressos > já acabou os ingressos;
j) construções ergativas resultantes do desaparecimento da voz mé-
dia: o pneu furou, o livro rasgou, a camisa molhou;
k) topicalização com apagamento de preposição: Em São Paulo eu
nunca estive, só estive no Rio > [] São Paulo eu nunca estive, só estive
no Rio etc.
O conhecimento mais profundo da gramática do português brasilei-ro favorecido pelas pesquisas variacionistas pode contribuir para a ela-
boração de uma nova pedagogia de língua que, principalmente, deixe
de considerar como “erros” formas linguísticas já plenamente integra-
das ao que Marcos Bagno (2012a) chama de vernáculo geral brasileiro
e que não provocam reação negativa da parte dos falantes urbanos mais
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2810
letrados. Quanto aos traços descontínuos, os que mais sofrem estigma-
tização social, deveria ser função da escola mostrar aos aprendizes que
apresentam essas variantes em sua fala a existência de outras formas “de dizer a mesma coisa”, ressaltando que os julgamentos sociais que
pesam sobre elas se devem exclusivamente a processos culturais, polí-
ticos e ideológicos e que, do ponto de vista estritamente linguístico,
elas têm uma lógica perfeitamente demonstrável e são tão regradas e
regulares quanto as formas mais prestigiadas. Se a tarefa da educação
formal é ensinar aquilo que os aprendizes não sabem e, assim, ampliar
seu repertório sociolinguístico, o ensino explícito das variantes de
prestígio entra sem dúvida no projeto de formação cidadã que deve
presidir a atividade pedagógica. Ao mesmo tempo, a inserção plena dos
aprendizes na cultura letrada em que vivem lhes proporcionará a cons-
ciência de que a língua é variável, heterogênea e múltipla, que todas as maneiras de falar e de escrever têm sua razão de ser e suas ocasiões de
uso. Por fim, cabe salientar que, “no processo pedagógico, não se trata
de substituir uma variedade por outra (porque uma é mais rica do que a
outra, porque uma é certa e outra errada etc.). mas se trata de construir
possibilidades de novas interações dos alunos (entre si, com o profes-
sor, com a herança cultural), e é nestes processos interlocutivos que o
aluno vai internalizando novos recursos expressivos, e por isso mesmo
novas categorias de compreensão do mundo. Trata-se, portanto, de ex-
plorar semelhanças e diferenças, num diálogo constante e não precon-
ceituoso entre visões de mundo e modos de expressá-las” (GERALDI,
1996, p. 69).
Veja os verbetes: Erro, Estratificação e Vernáculo geral brasileiro.
Gradual
Na perspectiva da Escola de Praga, gradual diz respeito à caracterís-
tica de uma relação entre segmentos que possuem variações em algum
grau, como, por exemplo, a relação gradual de altura entre as vogais [u,
o, ɔ].
Gradual também é a propriedade de fenômenos em que as mudan-
ças acontecem aos poucos, e não abruptamente. A difusão lexical suge-
re que a mudança sonora seja lexicalmente gradual e foneticamente ab-
rupta. Ou seja, uma vez que a mudança sonora tenha início, atingirá
inicialmente algumas palavras. A propagação da mudança sonora será
gradual no léxico, de maneiro que todas as palavras a serem potencial-mente atingidas podem ou não sofrer mudança.
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gradual é o manual que contém as partes cantadas da missa, usualmen-
José Pereira da Silva
2811
te acompanhadas de notação musical. Compreende os intróitos, tratos,
aleluias, sequências, ofertórios e communios. O seu nome provém do
fato de os cânticos entoados entre a epístola e o evangelho serem can-tados nos degraus do altar (gradus). Também chamado livro da schola
cantorum.
Veja o verbete: Neogramática.
Gradualidade
Gradualidade, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é a propriedade do princípio argumentativo que relaciona duas es-
calas.
Oswald Ducrot afirma que o princípio argumentativo (topos) é de
natureza gradual, porque estabelece, entre duas escalas, uma corres-
pondência de valores argumentativos (mais e menos). Essa propriedade
possibilita ao topos relacionar duas escalas, duas gradações, entre as quais estabelece uma correspondência uniforme, ou seja, ao se percor-
rer uma das escalas, percorre-se, necessariamente, a outra. O sentido no
qual se percorre uma implica um determinado sentido para o percurso
da outra. Por exemplo, para que se relacione a escala da riqueza com a
da felicidade, faz-se necessário mobilizar um topos do tipo “A riqueza
traz felicidade”, e este, sob suas formas tópicas, conduzirá a que se per-
corra as duas escalas uniformemente, como em “Quanto mais riqueza,
mais felicidade” e “Quanto menos riqueza, menos felicidade”.
Sugere-se a leitura do capítulo “Argumentação e ‘topoi’ argumenta-
tivos”, de Oswald Ducrot.
Veja os verbetes: Forma tópica, Teoria dos topoi e Topos.
Grafe
Termo usado por alguns linguistas para caracterizar o menos seg-
mento discreto de um texto escrito ou impresso. Segundo David Crystal
(1988, s.v.), trata-se de uma noção análoga à de fone na fonética, com-
posta por grafes como j, J, s, é, α, β, γ etc., bem como sinais de pontua-
ção (?, !, ; etc.). A grafologia é a área de estudos que analisa estes gra-
fes linguisticamente em grafemas. Veja o capítulo 2 de Introdução à
linguística teórica, de John Lyons (1979).
O grafe, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é a realização concreta
do grafema, cuja forma varia sobretudo em função do sujeito que es-
creve, do ambiente gráfico e do tipo de escrita: o uso da forma maiús-
cula ou minúscula de um grafema é um exemplo dessa variação. Num outro domínio, chama-se grafe conceitual um sistema de representação
gráfico dos conteúdos semânticos destinado à visualização dos concei-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2812
tos, dos referentes e das relações que os unem.
Veja os verbetes: Alografe, Grafema, Grafemática.
Grafema
Termo criado, na linguística norte-americana, pelo modelo de fo-
nema. Designa os símbolos gráficos unos, constituídos por traços gráfi-
cos distintivos, que nos permitem entender visualmente as palavras na
língua escrita, da mesma forma que os fonemas nos permite entendê-
las, auditivamente na lingua oral. É uma designação, a um tempo, mais
rigorosa e mais ampla do que "letra", pois frisa o caráter opositivo dos
símbolos gráficos, de um lado, e, de outro, abarca os diacríticos, os
ideogramas, como os números e os sinais de pontuação.
Na ortografia portuguesa, há letras que em certos contextos repre-
sentam um mesmo fonema, mas como grafemas podem distinguir na
língua escrita os homônimos da língua oral. Exemplo: cela – sela. A caligrafia ou "bom talhe de letra" consiste, a rigor, em respeitar
em cada grafema, escrito à mão, o aspecto que o distingue nitidamente
dos demais grafemas, mantendo nele um mínimo de diferença em face
dos outros; a mera beleza de talhe, de que decorre o termo (grego kalós
"belo"), é secundária.
Grafema, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é cada um
dos caracteres de um sistema de escrita reconhecido como tal. Todo sis-
tema de escrita estabelecido faz necessariamente uso de algum conjun-
to de caracteres escritos. Dependendo da natureza do sistema usado e
dos fatos de língua que estão sendo escritos, esse número pode variar
entre um punhado e muitos milhares.
A título de exemplo, no nível de análise mais simples, a versão do alfabeto romano usado para escrever o português faz uso de oitenta e
tantos grafemas: as vinte e seis letras maiúsculas (<A>, <B>, <C> etc.),
as vinte e seis letras minúsculas (<a>, <b>, <c> etc.) os dez algarismos
romanos (<0>, <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8> e <9>), uma
coleção de sinais de pontuação (<.>, <,>, <;>, <:>, <?>, <!> etc.), os
diacríticos (<´>, <`>, <^>, <~> etc.)1 e o espaço em branco.
Uma análise mais requintada do sistema de escrita do português
preferiria estabelecer que existem alguns outros grafemas, a saber os
dígrafos, cada um dos quais é usado para escrever um único som, caso
do <ch> de chapéu, do <nh> de vinho, do <lh> de milho, do <am> e do
<an> de cantam e, em certas variedades de pronúncias do <ou> e <ei>
1 Convencionalmente, colocam-se os grafemas entre parênteses angulares.
José Pereira da Silva
2813
de cantou e feira.
O português e muitas outras línguas que usam o alfabeto romano
têm grafemas adicionais que envolvem uso de diacríticos, como <ç>, <ã>, <ê>, <ó>, <ü>, <ñ>, <ø> etc. (além de suas versões maiúsculas).
Esses grafemas são ora contados como letras diferentes do alfabeto, ora
não, mas ainda assim são grafemas distintos. Umas poucas línguas
acrescentam ainda algumas letras diferentes, como i islandês [þ] e o
alemão <β>. O alfabeto árabe não tem letras maiúsculas, mas as letras,
em sua maioria, têm duas ou mesmo três formas gráficas diferentes,
que são usadas em função da posição em que ocorrem na palavra, e ca-
da uma dessas formas diferentes é um grafema.
O sistema de escrita não alfabético do chinês usa para as necessida-
des do dia a dia vários milhares de grafemas, e mais alguns milhares
para objetivos especializados, e o complexo sistema misto representado pelos hieróglifos egípcios usava um total de aproximadamente cinco
mil grafemas.
O conjunto padrão de caracteres encontrados nos teclados da maio-
ria dos computadores é conhecido como ASCII (American Standard
Code for Information Interchange). Contém 95 grafemas, entre os
quais se incluem símbolos como <§>. <*>, <+>, <&> e <@>, que não
costumam ser contados como grafemas do sistema de escrita de ne-
nhuma língua.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), grafema é a mínima unidade
gráfica que constitui um sistema de escrita. deve ser considerado como
um elemento abstrato cuja realização concreta é assegurada por grafes.
Um grafema pode representar o conteúdo global de uma mensagem (escrita pictórica), um conceito (escrita ideográfica) ou um constituinte
da realização fônica de uma língua (por exemplo, uma leta na escrita
alfabética). Neste último caso, o grafema deve ser definido, mais preci-
samente, como um signo de substituição do fonema no escrito, chama-
do também unidade mínima de transcrição do fonema. Pode, portanto,
ser formado por uma letra, ou monograma (exemplo, b em bar, para
transcrever o fonema /b/), por duas letras, ou digrama (exemlo: c e h
em chá, para transcrever o fonema //), e, no francês, por três letras, ou
trigrama (exemplo: e, a, u em eau “água”, para transcrever o fonema /o/). Digramas e trigramas são frequentemente chamados grafemas
complexos. Chama-se arquigrafema o representante teórico de um con-
junto de grafemas que correspondem ao mesmo fonema fundamental
(exemplo: /o/, em francês, para o, ô, au, eau etc.; ou, em português, /S/
para máximo, essa e caça).
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2814
Segundo Gilcinei Teodoro Carvalho (CEALE, Glossário, s.v.), letra
e grafema são termos que apresentam uma sutil distinção conceitual.
Letra é um termo mais genérico, com um significado mais amplo. Gra-fema é um termo mais técnico que pretende dimensionar um caráter
mais abstrato para as unidades escolhidas para grafar os sons. Nesta di-
reção, diferentes tipos de letras podem registrar um mesmo grafema.
Por exemplo, existem várias formas de grafar a primeira letra do nosso
alfabeto (A, a, A, a) - considerando aqui a variação apenas entre maiús-
cula e minúscula e entre uma forma de imprensa e uma forma suposta-
mente manuscrita. No universo de ocorrências, é possível ampliar infi-
nitamente essas formas, indicando-se tanto as variações na caligrafia
(as inclinações do traçado, a constância no modo de grafar) quanto as
variações na tipografia (o estilo e a identidade das letras). A letra pode
dimensionar um caráter particularizante, inclusive com uma dimensão autoral que institui uma identidade na sua forma manuscrita (a possibi-
lidade de identificar a letra de alguém, por exemplo) ou um estilo na
sua dimensão editorial (o uso de um tipo de letra para uma determinada
esfera discursiva: times new roman e arial são, por exemplo, escolhas
preferenciais nos usos acadêmicos). O grafema, por sua vez, pelo seu
caráter sistêmico, não traz essa identidade pessoal ou de estilo, o que
faz com que seja equivocado dizer, por exemplo, ‘o grafema tal do meu
aluno está ilegível’.
A despeito de um universo de ocorrência de letras com formatos tão
distintos, é possível a presença de uma única interpretação: mesmo com
as diferentes formas de grafar, todas (A, a, A, a) representam o ‘A’.
Como a ação de interpretar demanda abstrair todas essas variações vi-suais e reconhecer uma função no conjunto do alfabeto, então o termo
grafema é o mais apropriado porque remete à necessidade de se pensar
o sistema, nos seus valores contrastivos. Ou seja, um aspecto é a di-
mensão gráfica (a letra), com todos os critérios da direcionalidade da
sua escrita, o que exige do aprendiz habilidades motoras e visuais para
concretizar o traçado desejado ou para reconhecer uma forma. Outro
aspecto é a dimensão interpretativa (o grafema), com o critério da cons-
trastividade, que remete a comparações de natureza mais funcional. As-
sim, pelo critério gráfico, particulariza-se a ação de grafar indicando os
requisitos do traço (ex.: orientações sobre onde começar o movimento);
pelo critério interpretativo, compara-se o valor atribuído à forma (ex.: avaliações em oposição - ‘a’ é ‘a’ porque não é ‘b’).
Assim, a letra tem uma relação com a realidade gráfica enquanto o
grafema tem uma natureza mais interpretativa. Tanto que é possível,
José Pereira da Silva
2815
para um aprendiz, traçar uma letra sem ser um leitor, já que o reconhe-
cimento ou a produção de uma determinada letra pode obedecer a um
traçado fixo que, sob a menor variação, já dificultaria a tarefa. O de-senvolvimento da habilidade de leitura, dentre outros aspectos, tem
uma relação com a emergência dessa natureza interpretativa do grafe-
ma, já que, comparando diferentes formas das letras e avaliando a rela-
ção com outras, nas diversas posições que ocorrem, o aprendiz pode
perceber que há variações gráficas que são significativas porque trazem
valor distintivo, enquanto outras são apenas superficiais. A complexi-
dade do processo de alfabetização justifica-se exatamente porque, para
o aprendiz da escrita, é preciso dominar a fronteira entre o que é uma
opção e o que é uma restrição do sistema. Não sem razão, uma das me-
todologias adotadas nesse momento de aquisição, especialmente para o
aprendizado da leitura, é a apresentação de apenas um tipo de letra (maiúscula, de fôrma – ou bastão) para que, além da percepção das par-
ticularidades das letras, seja possível iniciar uma atitude mais compara-
tiva. Isso, no entanto, não minimiza a necessidade de ensinar todos os
complexos detalhes do alfabeto. Por exemplo, o grafema ‘b’ pode, ao
se concretizar nas formas maiúsculas e minúsculas, de fôrma e manus-
crita, trazer diferentes critérios de grafia: número de semicircunferên-
cias (b e B) ou qualidade do traçado (b e B). As diferenças são, do pon-
to de vista visual, bastante significativas. No entanto, esse aprendizado
unitário da letra será importante quando permitir também a confronta-
ção com outros elementos, não sem razão aquele que poderia mais se
aproximar, por exemplo o grafema ‘d’, cuja variação de letras é igual-
mente complexa. Esses ‘detalhes’ de grafia é que justificam a afirma-ção que diz que há o aprendizado de vários alfabetos, já que as diferen-
ças são bastante significativas. No entanto, para o acesso ao significa-
do, é a abstração do alfabeto que vai permitir, em uma atitude compara-
tiva, dimensionar a ação interpretativa necessária para ‘ver’, nas letras,
os grafemas.
Sugere-se como complemento ao verbete, a leitura do capítulo 33
de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal
(1997a); A escrita infantil, de Julian de Ajuriaguerra et al. (1988); Al-
fabetização & linguística, de Luiz Carlos Cagliari (1989); Dicionário
de linguística e gramática, de Joaquim Matoso Câmara Jr. (1988); A
concepção da escrita pela criança, organizado pro Mary Aizawa Kato (1988).
Veja os verbetes: Alfabeto, Alografe, Caligrafia, Convenções da es-
crita, Escrita, Grafe, Fone, Fonema, Grafemática, Grafomotricidade,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2816
Legibilidade em textos impressos para crianças, Ortografia e Sistema
de escrita.
Grafemática
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a grafemática pode ser definida
como o estudo semiolinguístico do escrito. Abarca, sobretudo, as ques-
tões ligadas à semiótica do espaço gráfico, à didática da escrita, ao es-
crito da tela (écran).
“É [...] partindo dos tipos de unidades e dos níveis universais da
linguagem (fonemas, sílabas, morfemas, palavras, frase, texto), colo-
cando em ordem as referências originais de cada escrita e de todas as
escritas ao universo da linguagem, que conseguiremos enunciar os ele-
mentos de uma grafemática geral” (CATACH, 1988).
Como leitura complementar a este verbete, sugere-se o artigo “Une
graphématique Autonome?”, de Jacques. Anis (1988); L’écriture: Thé-orie et descriptions, de Jacques Anis, Jean-Louis Chiss e Christian Pu-
ech (1988); (Langages, n. 147 – Processus d’écriture et marques lin-
guistiques, sob a direção de Sabine Boucheron-Péillon e Irène Fenoglio
(2002); Por une théorie de la langue écrite, de Nina Catach (1988).
Veja os verbetes: Alfabeto, Escrita, Gramatologia.
Grafética
Termo usado por alguns linguistas, em analogia com a fonética, pa-
ra indicar a análise da substância gráfica da língua escrita. Teorica-
mente, segundo David Crystal (1988, s.v.), é possível definir um con-
junto universal de traços gráficos que entrem na formação dos formatos
de letras distintivas. Existem também várias propriedades do meio es-
crito que exercem uma considerável influência sobre a comunicação, como a cor, o espaço, o tamanho da impressão escrita etc. Existe, sem
dúvida, uma coincidência entre o campo de estudo da grafética e o da
gráfica ou tipografia (a palavra "gráfica" é usada ocasionalmente como
rótulo neste campo). Até agora, houve poucas análises de textos com
base neste enfoque, e permanece indefinida a relação entre a grafética e
a grafologia. Veja o primeiro capítulo de Linguística geral, de Robert
Henry Robins (1981).
Grafia
Grafia é o sistema de escrita de uma língua. Por isto, a grafia corre-
ta recebe o nome de ortografia e a errônea ou incorreta recebe o nome
de cacografia. Representação escrita das palavras de uma língua por meio de sinais
denominados letras. A grafia dá uma representação aproximada da
José Pereira da Silva
2817
imagem fônica da palavra. Nas línguas de cultura, a grafia nunca traduz
rigorosamente e de forma sistemática a pronúncia das palavras. Uma
grafia em que a cada letra correspondesse um só fonema seria denomi-nada fonética. Tal, porém, não é o caso das línguas existentes. Somente
para uso de especialistas é que existem tais sistemas de transcrição fo-
nética.
A grafia da língua portuguesa tem por base o alfabeto latino, a que
se acrescentaram alguns sinais: ç, ch, lh, nh, ~. A cedilha se coloca sob
o c, antes de a, o e u, para indicar som sibilante. Este sinal é de origem
espanhola e significa "pequeno z"; servia para indicar que o c valia por
z (em espanhol). É que, em latim, o c soava sempre como k. Os sons
palatais xê, lhê, nhê não existam em latim. Para o xê se adotou o x. O
dígrafo ch representava, a princípio, o som txê, ainda conservado diale-
talmente em Portugal; depois se reduziu a xê, de modo que hoje são homófonos xá, soberano persa, e chá, bebida, infusão. Os dígrafos lh e
nh são de origem provençal; não se deve esquecer que o h também foi
empregado com o valor de iode: sabha. As diferentes línguas români-
cas variaram na solução do problema: ll e ñ em espanhol, gn em francês
(onde não existe o som lhê); gl e gn em italiano. O til era um pequeno n
que se colocava sobre a vogal nasal (ou entre as duas vogais ou até so-
bre a segunda vogal); com o hábito da escrita, acabou tomando a forma
atual.
Com a tendência unificadora dos estados modernos, foi necessário
escolher somente um sistema de escrita para a língua em todo o territó-
rio nacional. É a grafia "correta" ou ortografia. Costuma-se dividir a
história da ortografia portuguesa em três períodos, a saber: a) período fonético ou medieval, quando a grafia oscilava muito, em virtude da
falta de uniformidade no uso dos sinais de escrita, que, entretanto, pro-
curavam representar a pronúncia, sem preocupações de ordem etimoló-
gica; b) período pseudoetimológico, a partir do Renascimento, quando
o recrudescer dos estudos clássicos recheou a ortografia portuguesa de
reminiscências ortográficas greco-latinas, quase sempre indevidas; c)
período simplificado, que se pode datar de 1904, ano em que veio a
lume a Ortografia Nacional, obra fundamental de Aniceto dos Reis
Gonçalves Viana (1840-1914), que imprimiu à escrita de nossa língua,
pela primeira vez, normas racionais e científicas.
A pronúncia evolui mais rapidamente do que a escrita, de modo que a grafia está sempre em atraso relativamente à maneira de falar. É ilu-
são pensar que escrevemos como falamos. Dizemos, por exemplo,
mũito e escrevemos muito; pronunciamos bei e grafamos bem (= be);
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2818
fazemos ouvir na pronúncia um ditongo em amam, por exemplo
(ãmãw), que, todavia, as letras não registram. Tais exemplos poderiam
ser multiplicados. Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), com o termo grafia se designa,
de maneira geral, a representação da língua através de um sistema de
escrita. A noção visa geralmente as unidades de nível lexical ou infra-
lexical. Inclui, por exemplo, em sua área de aplicação não só o ortográ-
fico, quer seja conforme ou não com o uso e as regras prescritas, mas
também as diversas formas de transcrição do oral garantidas pelos alfa-
betos fonéticos.
Veja os verbetes: Escrita, Grafema, Grafemática, Ortográfico.
Grafia falsa
Grafia falsa é a grafia que não se justifica etimologicamente, tal
como ocorria a húmido, hombro etc.
Grafia histórica
Grafia histórica é a que se mantém inalterada, apesar de já ter sido
mudada foneticamente. Exemplo: muito (por mũito).
Gráfico
Acento gráfico é um sinal que se usa na escrita das vogais para in-
dicar timbre, tonicidade etc. É uma das notações léxicas, e pode ser
agudo (´), grave (`) ou circunflexo (^). Seu emprego é regulamentado
pela ortografia oficial.
Não se deve confundir com acento tônico ou prosódico, pois este é
um fenômeno vocal, auditivo: pronuncia-se e ouve-se. O acento gráfico
é um fenômeno da escrita, visual: desenha-se (marca-se) e vê-se.
Unidade gráfica, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é uma pa-lavra simples ou composta constituída de uma sequência de grafemas,
compreendida entre dois espaços tipográficos em branco e considerada
como formando uma só unidade significativa: branco, felicidade, arco-
íris etc. são unidades gráficas, mas não estrada de ferro, porque, neste
caso, os elementos componentes não estão reunidos por um traço de
união, mas separados por espaços em branco.
Morfema gráfico é uma unidade de primeira articulação na escrita,
constituída de grafemas ou unidades de segunda articulação.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o adjetivo gráfico é frequente-
mente empregado para caracterizar uma unidade significativa de ordem
lexical (também chamada palavra, simples ou construída), formada de um conjunto de grafemas, e isolada, de maneira muitas vezes bastante
aleatória, por espaços tipográficos. Assim, porte, portátil, porta-
José Pereira da Silva
2819
guardanapos são unidades gráficas, por distinção com chave inglesa ou
chefe de cozinha, que, apesar de sua forte unidade semântica. Fala-se,
sobretudo, de palavra gráfica (versus palavra fonética) para estabele-cer uma distinção entre as unidades presumidamente empíricas da gra-
mática dita tradicional, observadas no escrito, e as estruturas presumi-
damente reais da língua oral, onde os grupos acentuados podem ser
constituídos de elementos (os clíticos, por exemplo) que não possuem
nenhuma autonomia, ainda que apresentem as características gráficas
de palavra.
O uso do adjetivo gráfico em linguística, e sobretudo entre os lin-
guistas de inspiração estruturalista, extrapola portanto amplamente a
simples descrição formal. Encontraremos uma possível origem deste
fenômenos nas teses de Ferdinand de Saussure (1857-1913) a respeito
do “prestígio da escrita”: “Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos; a única ra-
zão de ser do segundo é representar o primeiro; o objeto linguístico não
se define pela combinação da palavra escrita e da palavra falada; esta
última, por si só, constitui tal objeto. Mas a palavra escrita se mistura
tão intimamente com a palavra falada, da qual é a imagem, que acaba
por usurpar-lhe o papel principal; terminamos por dar maior importân-
cia à representação do signo vocal do que ao próprio signo. É como se
acreditássemos que, para conhecer uma pessoa, melhor fosse contem-
plar-lhe a fotografia do que o rosto” (SAUSSURE, 2012, p. 58).
Nesta perspectiva, onde o escrito, nitidamente desqualificado, é
apresentado como uma realização derivada e normatizada da língua,
que se credita a frágeis princípios de segmentação, a frase não é geral-mente esquecida. Fala-se assim, o mais frequentemente, de frase gráfi-
ca menos para sublinhar a natureza das fronteiras que delimitam um
segmento de discurso e que permitem identificá-lo como um fragmento
de texto, do que para denunciar a inaptidão deste critério em considerar
a frase como unidade linguística.
Veja os verbetes: Escrita, Frase, Grafemática, Palavra.
Grafismo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
grafismo é o modo de representar ou escrever as palavras de uma lín-
gua; arte de projetar e executar edições sob o ponto de vista artístico e
material; conjunto dos elementos (título, abertura, superlead, entretítu-lo, ilustração, legenda) que identificam e valorizam uma reportagem.
Tem como finalidade atrair a atenção do leitor na primeira página ou na
leitura de relance que se faz ao jornal ou à página.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2820
Grafista
Grafista é o conhecedor de grafismo, o projetista de edições sob o
ponto de vista artístico e material
Grafite
Veja o verbete: Grafito.
Grafito
De origem italiana (fraffito, no plural graffiti, daí o aportuguesa-
mento para grafite, forma mais usada que grafito), o grafito lembra
muito os desenhos rupestres cuja origem remonta ao homem da idade
da pedra que registrava suas pinturas nas cavernas pré-históricas. Mo-
dernamente, constituem expressão mural urbana, geralmente clandesti-
na, em forma de inscrições ou desenhos registrados em muros, paredes,
monumentos, banheiros públicos etc. Manifestação marginal assinada
por indivíduos ou grupos, com seus “rabiscos”, verdadeiros logotipos, pode ter caráter satírico, caricatural, poético, pornográfico, político ou
publicitário. Para expressarem esses tipos de caráter, constroem uma
escrita que transforma o código alfabético tradicional, usando letras
quebradas e introduzindo elementos, preferencialmente de movimento,
como setas, asas, pés, curvas, olhos, raios etc. (COSTA, 2018, s.v.).
Grafologia (grafológico)
Termo usado por alguns linguistas com referência ao sistema es-
crito de uma língua – em analogia com fonologia. Segundo David
Crystal (1988, s.v.), uma "análise grafológica" estaria preocupada em
estabelecer unidades contrastivas mínimas de linguagem visual – defi-
nidas como grafemas, traços grafêmicos, ou outro termo sem termina-
ção êmica – através de técnicas similares às usadas na análise fonológi-ca. A grafologia, neste caso, nada tem a ver com a análise da caligrafia
para determinar as características psicológicas de uma pessoa – uma
atividade popularmente associada ao termo. Veja o primeiro capítulo de
Aspects of Language, de Dwight L. Bolinger e Donald A. Sears (1981).
Grafólogo
Grafólogo é a pessoa que, pelo exame do traçado da escrita, procura
conhecer o caráter de que a fez.
Grafomotricidade
Segundo Valéria Barbosa de Resende (CEALE, Glossário, s.v.), do
ponto de vista etimológico, “grafo” vem do grego graphein e significa
escrita; “motricidade”, vem do Latim motor, do verbo movere, “mover, deslocar”. Assim, o termo grafomotricidade diz respeito ao conjunto
José Pereira da Silva
2821
das funções neurológicas e musculares que possibilitam, aos seres hu-
manos, os movimentos motores no ato da escrita.
Os métodos tradicionais de alfabetização consideravam o desenvol-vimento das habilidades grafomotoras como pré-requisito para a alfabe-
tização, uma vez que defendiam o pressuposto de que o aprendizado da
leitura e da escrita dependiam do nível de maturidade da criança – e,
segundo essa concepção, a competência motora era uma das expressões
dessa maturidade. Desse modo, o surgimento do Teste ABC de Lou-
renço Filho (1930) veio corroborar tal concepção e destacou, em alguns
subtestes, a habilidade de coordenação visual e motora através de ques-
tões nas quais a criança era solicitada a realizar cópia de figuras, repro-
duzir movimentos e recortar determinadas figuras geométricas. Ressal-
te-se que os recursos da tecnologia da escrita, na época, restringiam-se
ao lápis, à caneta e ao papel, e a caligrafia tinha um valor diferenciado, justificando a ênfase atribuída a essa habilidade. Além disso, a concep-
ção de alfabetização adotada relacionava leitura, inteligência e maturi-
dade, privilegiando a coordenação motora e visomotora, assim como
formas visuais e auditivas de memória e de discriminação perceptiva.
A metodologia tradicional de ensino era bem controlada e se basea-
va na memorização das formas gráficas das letras definidas nas carti-
lhas – de seus nomes e valores sonoros – enfatizando a habilidade de
saber traçar no caderno a escrita cursiva. Esse tipo de escrita surgiu
com a intenção de ser uma forma “mais rápida”, para uso pessoal ou
comercial, que se caracteriza por uma simplificação gráfica no traçado,
no qual todas ou a maioria das letras encontram-se ligadas dentro de
cada palavra – “letra emendada” –, e pela preferência por formas arre-dondadas.
Os estudos da Psicogênese da Língua Escrita desenvolvidos por
Emília Ferreiro e Ana Teberosky demonstraram o papel secundário da
grafomotricidade no processo de alfabetização. Evidenciando a dife-
rença entre copiar e escrever, as autoras defenderam o pressuposto de
que a escrita é muito mais do que desenvolver habilidades percepto-
motoras; envolve representação e, por isso, é fundamentalmente uma
tarefa de ordem conceitual.
A partir dos estudos da Psicogênese da Língua Escrita e da consta-
tação de que as crianças podem representar a escrita e escrever desde
muito cedo, a metodologia atual de alfabetização considera que uma forma mais fácil de registro se dá pelo uso da letra de fôrma, que pode
ser caracterizada como um tipo de escrita à mão na qual as formas das
letras se parecem com tipos da letra de imprensa e se encontram total
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2822
ou parcialmente desconectadas dentro de cada palavra. Esse tipo de es-
crita possibilita ao aprendiz visualizar cada letra grafada, contar letras,
comparar o número de letras e sílabas e confrontar sua escrita com a escrita convencional. Nessa nova perspectiva, o uso da letra cursiva é
colocado em segundo plano, embora seja importante do ponto de vista
da rapidez e da prática cultural.
Na escolarização, a letra cursiva é utilizada preferencialmente
quando o aprendiz alcança a hipótese alfabética. Seu ensino pressupõe
uma técnica apresentada ao aprendiz, incluindo a forma de inclinação,
os movimentos ascendentes e descendentes. Para as pessoas com defi-
ciência motora e que têm dificuldades para segurar o lápis e coordenar
os movimentos, é possível lançar mão de algumas adaptações nos ma-
teriais escolares, como, por exemplo, engrossar o diâmetro do lápis e
usar o teclado do computador, com auxílio de instrumentos de exten-são. Diante dos avanços dos recursos tecnológicos e da democratização
de seu acesso, o ensino da escrita cursiva vem perdendo seu valor, fi-
cando cada vez mais deixada de lado a preocupação com a habilidade
grafomotora e mesmo com a legibilidade e a padronização das escritas.
Contudo, tanto a escrita à mão, quanto a que se faz no teclado ainda
exigem o desenvolvimento de habilidades grafomotoras específicas pa-
ra o uso social da escrita.
Sugere-se, como complemento a este verbete, a leitura de A história
do alfabeto, de Luiz Carlos Cagliari (2009); Psicogênese da língua es-
crita, de Emilia Ferreiro e Ana Teberosk (1985); Teste ABC para a ve-
rificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da es-
crita, de Manoel Bergström Lourenço Filho (2008). Veja os verbetes: Alfabetização digital, Caligrafia, Cópia, Instru-
mentos de escrita, Métodos e metodologias de alfabetização, Psicogê-
nese da aquisição da escrita.
Grafopsicologia
Grafopsicologia é o estudo psicológico de um indivíduo a partir da
observação da sua letra.
Gralha tipográfica
Gralha tipográfica é o erro de impressão que consiste em colocar
uma letra ou sinal no lugar de outro.
Veja os verbetes: Gato e Erro.
Gramática
Todas as definições que se têm dado de gramática podem ser redu-
zidas a dois tipos essenciais:
José Pereira da Silva
2823
a) arte de falar e escrever corretamente;
b) ciência que estuda o sistema de uma língua.
O primeiro tipo constitui a gramática normativa, o segundo, a gra-mática descritiva.
O termo gramática tem várias acepções, como as seguintes, apre-
sentadas em Jean Dubois et al. (1998, s.v.):
Gramática é a descrição completa da língua, isto é, dos princípios
de organização da língua. Ela comporta diferentes partes: uma fonolo-
gia (estudo dos fonemas e de suas regras de combinação), uma sintaxe
(regras de combinação dos morfemas e dos sintagmas), uma lexicologia
(estudo do léxico) e uma semântica (estudo dos sentidos dos morfemas
e de suas combinações). Neste sentido, a gramática é o modelo de com-
petência.
Gramática é a descrição dos morfemas gramaticais e lexicais, o es-tudo de suas formas (flexão) e de suas combinações para formar pala-
vras (formação de palavras) ou frases (sintaxe). Nesse caso, a gramática
se opõe à fonologia (estudo dos fonemas e de suas regras de combina-
ção), confundindo-se com o que se chama também uma morfossintaxe.
Gramática é a descrição dos morfemas gramaticais (artigos, con-
junções, preposições etc.), excluindo-se os morfemas lexicais (substan-
tivos, adjetivos, verbos, advérbios de modo), e a descrição das regras
que regem o funcionamento dos morfemas na frase. A gramática se
confunde, então, com a sintaxe e se opõe à fonologia e ao léxico. Com-
porta o estudo das flexões, mas exclui o estudo da formação das pala-
vras (derivação).
Em linguística gerativa, a gramática de uma língua é o modelo da competência ideal que estabelece certa relação entre o som (representa-
ção fonética) e o sentido (interpretação semântica). A gramática de uma
linguagem L gera um conjunto de pares (s, i), em que s é a representa-
ção fonética de um certo sinal e i é a interpretação semântica ligada a
esse sinal pelas regras da linguagem. A gramática gera um conjunto de
descrições estruturais que compreendem, cada uma, uma estrutura pro-
funda, uma estrutura de superfície, uma interpretação semântica da es-
trutura profunda e uma representação fônica da estrutura de superfície.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que há diversas acepções para o ter-
mo gramática.
Além de ser empregado como forma abreviada de gramática gera-tiva e de gramática transformacional, o termo gramática é usado por
Noam Chomsky de forma sistematicamente ambígua, para designar
tanto o sistema de regras representado na mente do falante nativo de
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2824
uma língua (correspondente à competência linguística do mesmo)
quanto à descrição do referido sistema proposto pelo linguista (CHO-
MSKY, 1965, p. 25; 1972a, p. 116, nota 1; CHOMSKY & HALLE, 1968, p. 3). Essa identificação do conhecimento linguístico do falante
nativo com o modelo elaborado pelo linguista não é aceita por John
Lyons (1977, p. 29), mas Noam Chomsky a considera legítima, embora
reconhecendo que, como sistema de regras e princípios construídos pe-
lo linguista, uma gramática constitui um modelo de competência ideali-
zada, uma teoria da competência do falante nativo (p. 1972a, p. 116;
1974, p. 43), Noam Chomsky também encara uma gramática como
uma teoria de uma língua, uma teoria científica completa de uma lín-
gua, a ciência de uma língua (1957, p. 49; 1965, p. 24; 1975, p. 24;
1975c, p. 65 e 77), como uma teoria da intuição linguística de um fa-
lante nativo (1962, p. 544; 1965, p. 19) e como uma estrutura cognitiva específica (1975a, p. 28). Admitindo a possibilidade de aplicação dos
métodos usados na linguística na investigação de outros aspectos da in-
teligência humana, postula Noam Chomsky (1975c, p. 9-10) que, à se-
melhança da linguagem, outros sistemas cognitivos poderiam ser carac-
terizados em termos de um modelo análogo a uma gramática gerativa,
estendendo-se, assim, a noção de "gramática" a outros domínios.
Tratando da evolução do conceito de gramática através dos suces-
sivos modelos transformacionais, Carly Silva (1988, s.v.) ensina que,
na teoria transformacional, uma gramática é encarada como um sistema
de regras que associa descrições estruturais às orações de uma língua.
Em Estruturas Sintáticas (1957, p. 13), uma gramática gerativa foi de-
finida como um mecanismo destinado a especificar orações, mas tal ca-racterização, segundo Noam Chomsky (1974, p. 27), foi motivada por
considerações heurísticas. Como o conceito de descrição estrutural so-
freu sucessivas reformulações, variou também a concepção de gramáti-
ca adotada nos diferentes modelos transformacionais.
Na fase da teoria clássica, Noam Chomsky encarou uma gramática
como teoria da forma linguística, excluindo o significado das expres-
sões linguísticas do âmbito da descrição gramatical. Conforme esclare-
ce o autor (1975c, p. 6), o modelo então proposto tinha em vista apre-
sentar uma descrição abstrata e rigorosa de um sistema de níveis de re-
presentação e do conjunto de gramáticas possíveis das línguas naturais
e, ao mesmo tempo, fornecer os princípios gerais que determinam ple-namente, para cada gramática, a língua que ela especifica e as descri-
ções estruturais das orações da mesma. Esse entendimento foi expresso,
sucintamente, nas duas definições seguintes de gramática de uma lín-
José Pereira da Silva
2825
gua L: "mecanismo de alguma espécie (isto é, um conjunto de regras)
que fornece, pelo menos, uma especificação completa de um conjunto
de orações gramaticais de L e suas descrições estruturais" (CHO-MSKY, 1964a, p. 119-120); "Mecanismo que enumera as orações de L
de tal modo que uma descrição estrutural pode ser mecanicamente de-
rivada para cada oração enumerada" (CHOMSKY, 1964b, 240-241).
Na fase da teoria padrão, com a incorporação da semântica ao mo-
delo transformacional, uma gramática passou a ser encarada como um
sistema de regras que determina certa associação de som e significado
em uma língua, fazendo-o por intermédio da sintaxe. Tal associação de
som e significado foi também caracterizada em termos de um relacio-
namento entre "sinais foneticamente representados e interpretações se-
mânticas dos mesmos" (CHOMSKY, 1964d, p. 9) e de um relaciona-mento entre "representações fonéticas e interpretações semânticas"
(CHOMSKY, 1964a, p. 16). A concepção de uma gramática gerativa
como mecanismo que estabelece conexões intrínsecas de som e signifi-
cado foi ainda expressa na seguinte caracterização proposta por Noam
Chomsky e Morris Halle (1968, p. 3): "Podemos encarar uma língua
como um conjunto de orações, cada uma das quais com uma forma fo-
nética ideal e uma interpretação semântica intrínseca associada. A gra-
mática da língua é o sistema de regras que especifica essa correspon-
dência entre som e significado".
Na fase da teoria padrão ampliada, persistiu o entendimento de que
uma gramática é um sistema de regras que estabelece uma relação entre
som e significado em uma língua, havendo Noam Chomsky caracteri-zado tal relação ora como associação de representações fonéticas e se-
mânticas (1972a, p. 116), ora como associação de interpretações fonéti-
cas e semânticas (ibidem, p. 125). O autor definiu ainda a gramática de
uma língua em termos de especificação de "um conjunto de pares (s, l),
nos quais s é a interpretação fonética de certo sinal e l a interpretação
semântica associada ao mesmo pelas regras da língua" (ibidem, p. 116).
É relevante notar, entretanto, que as noções de representação semântica
e interpretação semântica então adotadas não correspondem às do mo-
delo da teoria padrão. Cabe assinalar, por outro lado, que James David
McCawley e George Lakoff propuseram outra concepção de gramática
(veja: Semântica gerativa). Na fase da teoria padrão ampliada revista, uma gramática é, às ve-
zes, caracterizada em termos que sugerem não ter havido qualquer mu-
dança essencial do conceito, conforme demonstram as seguintes defini-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2826
ções então propostas por Noam Chomsky: "sistema de regras e princí-
pios que especifica uma classe infinita de orações, com suas proprieda-
des formais e semânticas" (1975a, p. 41); "sistema de regras e princí-pios que determina uma relação entre som e significado, de certa espé-
cie, num domínio infinito" [em uma língua] (1976, p. 303); "conjunto
de regras que associam derivações transformacionais a representações
de som e representações de significado" (1976, p. 305).
Na realidade, entretanto, temos agora uma concepção bem diferente
de gramática, em face do entendimento de que a maior parte dos aspec-
tos do significado depende de fatores extragramaticais. Assim, uma
gramática passa a ser caracterizada em termos de um relacionamento
entre representações fonéticas e representações em forma lógica, cor-
respondendo estas últimas à representação dos aspectos do significado
que são determinados por propriedades da gramática da oração. Nesse sentido, assinala Noam Chomsky (1977a, p. 71) que uma gramática as-
socia a cada oração, em particular, um par de representações (rf, fl), re-
lacionadas, respectivamente, com os níveis de representação fonética e
forma lógica. Além disso, em vista da relevância do papel atribuído às
condições relativas à organização e aplicação das regras gramaticais,
sustentam, agora, Noam Chomsky e Howard Lasnik (1977, p. 428) que,
a rigor, uma gramática "determina uma associação de condições relati-
vas ao som e condições relativas ao significado, sendo que cada um
desses conjuntos de condições pode ser ainda especificado pela intera-
ção da gramática com outros sistemas".
Gramática, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), são as re-
gras para construir palavras e sentenças numa língua particular, ou o ramo da linguística que estuda esse tema. Toda língua tem uma gramá-
tica2; ou melhor, toda língua tem muita gramática. Línguas faladas co-
mo o latim, o inglês, o chinês e o havaho diferem substancialmente em
suas gramáticas, mas têm uma quantidade considerável de gramática. O
mesmo vale para os crioulos e para as línguas de sinais autênticas, co-
mo o American Sign Language ou o British Sign Language; e também
para línguas artificiais como o esperanto, que tem muito mais gramáti-
ca do que julgou entender seu inventor, quando falou das famosas “de-
zesseis regras”. Por outro lado, os pidgins não têm nada que possa ser
chamado de gramática, e consistem apenas em palavras suplementadas
2 O termo gramática também se aplica a qualquer descrição particular dos fatos gramaticais de uma língua, ou a qualquer livro que trata do tema. Além disso, alguns linguistas gostam de dar ao termo gramática um sentido mais amplo, que abrange todas as características estruturais das línguas, in-
cluindo a fonologia e a semântica e, às vezes, até mesmo a pragmática. Mas isto não é usual.
José Pereira da Silva
2827
por indicações contextuais.
O estudo linguístico da gramática costuma ser dividido em duas
partes: a morfologia, ou estudo da estrutura das palavras, e a sintaxe, ou estudo da estrutura da sentença.
Estudar a gramática é uma tradição veneranda: os indus, gregos e
romanos na Antiguidade, e os chineses, árabes na Idade Média produzi-
ram importantes trabalhos gramaticais sobre suas línguas prediletas, e
os gramáticos de Port-Royal, na França do século XVI, já olhavam para
a gramática de um ponto de vista universalista. Mas o advento da lin-
guística moderna, na primeira metade do século XX, deu um novo im-
pulso ao estudo da gramática; durante as décadas de 1930 e 1940, Leo-
nard Bloomfield e seus seguidores fizeram um trabalho importante em
morfologia, e, na década de 1950, Noam Chomsky transformou a sin-
taxe em uma das áreas mais destacadas da linguística, quando introdu-ziu uma nova abordagem chamada gramática gerativa, e fez reviver a
busca de uma gramática universal.
As maneiras de abordar o estudo da gramática são muitas e varia-
das. As abordagens anteriores ao século XX representam a gramática
tradicional, ao passo que a maioria das abordagens utilizadas no século
XX são variantes do estruturalismo. As abordagens mais formais de-
senvolvidas a partir da década de 1950 são conhecidas como teorias da
gramática; entre as que mais se destacaram estão as que mais se desta-
caram estão as diferentes versões da gramática sintagmática, a gramá-
tica léxico-funcional e a gramática transformacional, da qual derivou a
teoria da regência e ligação. Entre as abordagens que se enquadram no
funcionalismo, a principal é a linguística sistêmica. Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gramática tem longa
tradição cultural ocidental. Sua origem é o grego grammatike ou, mais
precisamente, tekhne grammatike , “a arte das letras”, empregado já por
Aristóteles e consolidado pelos filólogos alexandrinos do século III
a.C., que produziram justamente as primeiras gramáticas da língua gre-
ga. Com o tempo, a palavra foi adquirindo diferentes conotações, à me-
dida que penetrava no senso comum e, paralelamente, se tronava um
termo técnico dos estudos da linguagem. Numa tentativa de explicitar
essas diversas conotações, Irandé Costa Antunes (2007) oferece cinco
definições de gramática: 1) Conjunto de regras que definem o funcionamento de uma língua.
Nesta acepção, gramática é o conhecimento intuitivo e interiorizado
que qualquer falante tem de sua língua nativa e que lhe permite reco-
nhecer de imediato a boa ou má formação de determinada construção
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2828
nessa língua. Essa concepção de gramática se difundiu sobretudo a par-
tir dos postulados do gerativismo chomskiano, embora já tenha sido
também adotado por estudiosos de outras perspectivas teóricas, diante do inegável fato empírico do domínio absoluto das regras de funciona-
mento de sua língua exibido pelas crianças a partir de certa idade. A di-
ferença teórica está na forma como essa gramática é adquirida. Para o
gerativismo, a gramática particular de cada língua espelha uma gramá-
tica universal codificada na genética dos seres humanos, inata, portan-
to. Outros teóricos, como Michael Tomasello (1999), postulam origens
culturais para a cognição humana e consideram imprescindível o estu-
do concomitante de linguagem, cultura e cognição em sua coevolução,
na qual cada mudança ocorrida numa dessas três entidades dispara mu-
danças nas demais.
2) Conjunto de normas que regulam os usos idiomáticos considera-dos bons e corretos. “Nesse segundo sentido, a gramática é particulari-
zada, ou seja, não abarca toda a realidade da língua, pois contempla
apenas aqueles usos considerados aceitáveis na ótica da língua presti-
giada socialmente. Enquadra-se, portanto, no domínio do normativo,
no qual define o certo, o como deve ser da língua e, por oposição,
aponta o errado, o como não deve ser dito” (ANTUNES, 2007, p. 30).
Essa gramática normativa ou prescritiva é a que se inaugura com o
trabalho dos alexandrinos, cujos pressupostos ideológicos serão em se-
guida adotados pelos eruditos latinos e, a partir deles, difundidos por
toda a cultura ocidental. Sua concepção de língua, seus princípios de
análise e suas classificações configuram o que se convencionou chamar
de gramática tradicional. 3) Uma perspectiva de estudo dos fatos da linguagem. “Ao longo
dos estudos sobre a linguagem, diferentes perspectivas se sucederam,
umas mais centradas na língua como sistema em potencial, como con-
junto de signos à disposição dos falantes, outras mais voltadas para os
usos reais que os interlocutores fazem da língua, nas diferentes situa-
ções sociais de interação verbal. É por essas perspectivas que se fala,
por exemplo, em ‘gramática estruturalista’, ‘gramática gerativa’, ‘gra-
mática funcionalista’, ‘gramática tradicional’ etc.” (ANTUNES, 2007,
p. 27)
4) Uma disciplina de estudo. Numa pedagogia de matriz conserva-
dora e tradicionalista, o termo gramática se emprega como o estudo sistemático de nomenclatura gramatical tradicional e da aplicação dessa
nomenclatura como ferramenta de análise de frases descontextualizadas
ou, quando muito, extraídas de algum texto (literário, de preferência),
José Pereira da Silva
2829
mas sem consideração das propriedades textuais, pragmáticas, discur-
sivas da frase ou do texto maior.
5) Um compêndio descritivo-normativo sobre a língua. Trata-se aqui de um verdadeiro gênero textual, denominado simplesmente gra-
mática, que se consolidou na cultura ocidental desde, mais uma vez, os
trabalhos pioneiros dos filólogos alexandrinos. Irandé Costa Antunes
(2007, p. 33) engloba nessa categoria tanto a gramática descritiva
quanto a gramática prescritiva: “No primeiro caso, temos uma gramá-
tica que focaliza elementos da estrutura da língua, descrevendo-os ape-
nas ou apresentando-os em suas especificidades. No segundo caso, te-
mos uma gramática que focaliza as hipóteses do uso considerado pa-
drão, fixando-se assim, no conjunto de regras que marcam o que se
considera o uso correto da língua”.
A metodologia empírica da sociolinguística variacionista tem pos-sibilitado uma extensa coleta de dados que permite a produção de gra-
máticas descritivas cada vez mais próximas da realidade dos usos efeti-
vos das línguas. Até mesmo gramáticas que descrevem as variedades
urbanas de prestígio já podem contar com esses corpora e com suas
análises dos fenômenos gramaticais. Essas gramáticas [como, no caso
do português brasileiro, Ataliba Teixeira de Castilho (2010) e Marcos
Bagno (2012a)] têm o objetivo explícito de demonstrar as muitas dife-
renças existentes entre o modelo idealizado de língua proposto pelas
gramáticas normativas (norma-padrão) e os usos autênticos, falados e
escritos, dos falantes que ocupam as camadas privilegiadas da socieda-
de (norma culta). Em sua obra, Marcos Bagno opõe sistematicamente a
tradição gramatical do português ao vernáculo geral brasileiro. Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo gramática designa ao
mesmo tempo o conjunto de particularidades estruturais de uma língua,
que permitem identificar as regularidades fonológicas, morfológicas e
sintáticas, e a representação destas particularidades. Entende-se assim
que essas regularidades não são somente dados empíricos, mas resul-
tam igualmente de um trabalho de categorização, e por isso são igual-
mente dados construídos, que contribuem para uma representação me-
talinguística. A maneira de construir esses dados (científica ou não) é
provavelmente a melhor para se distinguir linguística de gramática. O
termo gramática é, portanto, necessariamente ambíguo já que designa
ao mesmo tempo um domínio de observação e de análise (a descrição gramatical), e o objeto sobre o qual assenta esse domínio (a língua).
Segundo Luiz Carlos Travaglia (CEALE, Glossário, s.v.), a gramá-
tica é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2830
permite usar a língua tanto para dizer o que queremos como para com-
preender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso conhecimento
linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como quando lemos e escrevemos, após aprender-
mos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é cha-
mado de gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer
como é esse mecanismo da língua, que unidades, regras e princípios o
constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos
linguistas resulta o que é chamado de gramática descritiva, ou teoria
linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso lembrar que
nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas varieda-
des. Trata-se da gramática normativa, que hoje não se limita a dizer
como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas
nos ensina quando podemos e/ou devemos usar cada variedade da lín-gua com seus recursos.
A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o
elemento da língua que está sendo estudado. Assim temos: a) a fonolo-
gia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A corres-
pondência dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no
processo de alfabetização; b) a morfologia, que estuda como as pala-
vras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in
(prefixo) + feliz (lexema) + mente (sufixo)] e como elas se flexionam,
isto é, mudam de forma para indicar as categorias de gênero, número,
tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as pala-
vras se combinam para formar orações, frases, períodos, tratando ainda
de questões como a concordância e a regência. Além dessas partes, tem-se também a semântica, que estuda questões de significação, como,
por exemplo, a existência de sinônimos e antônimos.
No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de en-
sino, principalmente na educação infantil e nas primeiras séries do En-
sino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem,
para selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do en-
sino, entende-se que o objetivo prioritário é desenvolver a competência
comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de
recursos da língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, pala-
vras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, tempo, pes-
soa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de palavras na frase) ou recursos suprassegmentais
(entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre outros,
para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática
José Pereira da Silva
2831
deve ser vista como o estudo e o trabalho com a variedade de recursos
linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos pa-
ra a construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os recursos linguísticos como pis-
tas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos tex-
tos e de que recursos dispomos para expressar determinados sentidos.
Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se considere a gramática
como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que es-
tão relacionadas a elementos como para quem, como, por quê e quando
as expressões linguísticas significam o que significam, por causa da in-
fluência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no senti-
do lato de como vemos os elementos do mundo, ou seja, nossa visão de
mundo, inclusive nossas crenças).
Sugere-se, como complemento ao verbete, a leitura de Gramática: ensino plural (2011) e Gramática e interação: uma proposta para o en-
sino de gramática (2009), de Luiz Carlos Travaglia; do capítulo 16 de
The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal (1997a);
Syntax: A Linguistic Introduction to Sentence Structure, de Keith
Brown e Jim Miller (1991); Grammar: a student’s Guide, de James R.
Hurford (1994); e o capítulo 4 de The language Instinct: The New Sci-
ence of Language and Mind, de Steven Pinker (1994).
Veja os verbetes: Competência discursiva, Competência linguística,
Fonética, Fonologia, Gramática gerativa, Gramática universal, Lín-
gua, Linguística, Morfologia, Semântica, Sintaxe, Variação linguística
e Vernáculo geral brasileiro.
Gramática associativa
A gramática associativa estuda a organização dos elementos lin-
guísticos da língua no plano das relações associativas. (MACEDO,
2012, s.v. Gramática)
Gramática categorial
Gramática categorial é a que trata da análise categorial
Gramática cognitiva
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática cognitiva é o termo
usado por George Lakoff e Henry Thompson (1975) para designar
"uma gramática que procura caracterizar e explicar os fenômenos gra-
maticais em termos de um processo de acréscimos sucessivos, condici-
onado a um sinal". Distinguem os autores dois tipos de gramáticas cog-nitivas: as de percepção ou reconhecimento e as de produção. Nas do
primeiro tipo, o sinal é a oração falada ou escrita, e a estrutura constru-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2832
ída paulatinamente corresponde ao conteúdo semântico; nas do segun-
do, o sinal é o conteúdo semântico desejado, progressivamente mais
minucioso, e a estrutura construída mediante acréscimos sucessivos corresponde ao enunciado usado na comunicação.
Com apoio nos resultados de estudos realizados por diversos auto-
res no campo da psicolinguística, George Lakoff e Henry Thompson
rejeitam a tese chomskyana de que as gramáticas transformacionais são
objetos abstratos, representados de algum modo na mente dos falantes
de uma língua e utilizados de forma muito indireta na produção e com-
preensão das orações (veja: Conhecimento linguístico e Competência).
Postulando haver uma relação íntima e direta entre as gramáticas e os
mecanismos de produção e reconhecimento, sugerem os autores que as
gramáticas são apenas "coleções de estratégias para entender e produzir
orações". À luz desse entendimento, sustentam que as gramáticas, ao invés de estarem representadas na mente dos falantes de uma língua,
são apenas ficções convenientes para representar certas estratégias de
processamento. Analogamente, as derivações transformacionais cor-
responderiam a ficções convenientes para representar aspectos da estru-
tura linguística, estrutura que seria plenamente determinada pela repre-
sentação cognitiva do significado, a forma do sinal linguístico e os me-
canismos de processamento que relacionam este àquela. Por conseguin-
te, uma gramática cognitiva se baseia na noção de processamento em
termos de acréscimos sucessivos. Ao invés de lidar com estruturas
completas, transformando-as uma em outra, a gramática cognitiva
constrói estruturas progressivamente, modificando-as e expandindo-as
à medida que são considerados novos aspectos do sinal pertinente. O estudo da gramática cognitiva seria parte da capacidade cognitiva em
geral, incluindo pelo menos a representação do conhecimento, da me-
mória, das estratégias e mecanismos de processamento do raciocínio,
dos princípios de interação social e de quaisquer outras capacidades e
conhecimentos que permitem ao ser humano usar a linguagem (veja:
Linguística humanística).
Noam Chomsky (1979a, p. 150-153) usa o termo gramática cogni-
tiva para designar as tentativas de integração de conhecimentos extra-
linguísticos na teoria gramatical. O autor se opõe a essa concepção,
sustentando a necessidade de excluir da descrição gramatical as crença
e atitudes do falante, à luz do princípio da idealização. Por outro lado, admite Noam Chomsky (1979a, p. 193) a possibilidade de que se venha
a demonstrar, algum dia, que uma gramática é "um feixe de estratégias
José Pereira da Silva
2833
de percepção que relacionam som e significado". O autor julga, entre-
tanto, não haver, no momento, qualquer base para tal crença.
Gramática comparada
Outras noções gramaticais gerais incluem a distinção entre as gra-
máticas diacrônicas e sincrônicas, introduzindo ou não uma dimensão
histórica em suas análises. A gramática comparada, como o nome in-
dica, compara as formas das línguas (ou estados de uma língua) e se
baseia em uma combinação de métodos descritivos e teóricos.
Segundo Maria Margarida de Andrade (2009, "Introdução"), a gra-
mática comparada realiza um estudo comparado de línguas pertencen-
tes ao mesmo "tronco" ou família, ou seja, as línguas que procedem de
uma fonte comum primitiva, como é o caso das línguas românicas, to-
das elas descendentes do latim vulgar ou popular. Este tipo de gramáti-
ca tem por objetivo estabelecer os fatos linguísticos pela relação de
"parentesco" existente entre as línguas comparadas.
Gramática comparativa
Gramática comparativa é a que estuda línguas da mesma família,
sincrônica ou diacronicamente (veja: Comparatismo). O criador dessa
disciplina foi Franz Bopp (1791-1867), cuja gramática, de 1816, com-
parava o sistema de conjugação do sânscrito, grego, latim, persa e ger-
mânico. Rasmus Kristian Rask (1787-1832) estabeleceu a comparação
entre grego, latim, germânico e balto-eslavo. Franz Bopp incluiu, mais
tarde, em sua Gramática Comparativa (Vergleichende Grammatik), o
velho eslavo, o lituano, o zenda e o armênio (na segunda edição). A es-
ses, acrescentemos Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), fundador
da gramática histórica; Friedrich Christian Diez (1794-1876), que, com sua Gramática das Línguas Românicas (Grammatik der Romanischen
Sprachen), deu início à filologia românica, provando derivarem do la-
tim vulgar as línguas neolatinas. August Friedrich Pott (1802-1887),
criador da fonética comparada das línguas indo-europeias, com a sua
Pesquisa Etimológica no campo das línguas indo-europeias, tendo em
conta as suas principais formas, sânscrito, zend-persa, grego-latim, li-
tuano-eslavo, germânico e celta (Etymologische Forschungen auf dem
Gebiete der indogermanischen Sprachen, unter Berücksichtigung ihrer
Hauptformen, Sanskrit, Zend-Persisch, Griechisch-Lateinisch, Lit-
tauisch-Slawisch, Germanisch und Keltisch). August Schleicher (1821-
1868), que tentou estabelecer leis gerais para todas as línguas, através de seus Estudos Comparativos (Sprachvergleichende Untersuchungen),
de quem havia de surgir a teoria da árvore genealógica. Além desses
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2834
autores, podem ser citados ainda: Michel Bréal (1832-1915), Johann
Kaspar Zeuss (1806-1856), Hugo Ernst Mario Schuchardt (1842-1927),
Wilhelm Ludwig Peter Thomsen (1842-1927), Holger Pedersen (1867-1953), Jerzy Kuryłowicz (1895-1978), Émile Benveniste (1902-1976),
Edgar Howard Sturtevant (1875-1952), Joshua Whatmough (1897-
1964) etc. (JOTA, 1981, s.v.).
Gramática correpresentativa
A gramática correpresentativa retrata uma teoria linguística desen-
volvida na década de 1970, como alternativa à gramática transforma-
cional, que visa relacionar a estrutura superficial diretamente com a es-
trutura semântica. A abordagem propõe uma única estrutura que "cor-
represente" tanto os aspectos sintáticos quanto os semânticos das rela-
ções internas de uma sentença. O único nível de estrutura sintática su-
perficial contém somente informações sobre a classe a que os elemen-tos pertencem, a sequência linear e a hierarquia de sintagma nominal.
A estrutura semântica contém apenas informações sobre as relações en-
tre predicados e seus argumentos. (CRYSTAL, 1988, s.v.)
Gramática da competência
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática da competência é o
sistema de regras e princípios que determina a língua usada por um fa-
lante e a estrutura da mesma (CHOMSKY, 1975c, p. 7). Segundo No-
am Chomsky, é natural supor que modelos de percepção e produção
incorporem uma gramática de competência como um de seus elementos
básicos.
Gramática da fala
Veja: Gramática estrutural.
Gramática da frase
Gramática da frase é a descrição explicativa do conjunto de regras
subjacentes às frases de uma língua
Gramática da indeterminação
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática da indeterminação é
o termo usado por George Lakoff (1973c) para designar certos meca-
nismos destinados a descrever os fatos gramaticais, à luz do entendi-
mento de que tais fatos não se enquadram em categorias bem definidas.
Nesse sentido, sustenta o autor que:
a) as regras gramaticais não são simplesmente aplicáveis ou inapli-
cáveis: existe uma escala de aplicabilidade das referidas regras; b) os elementos gramaticais não podem ser considerados simples-
José Pereira da Silva
2835
mente como pertencentes ou não a determinadas categorias gramati-
cais: a inclusão ou não em determinada categoria pode ser uma questão
de grau; c) os fenômenos gramaticais formam hierarquias que de modo geral
são constantes de um falante para outro e, em muitos casos, de uma
língua para outra;
d) diferentes falantes (e diferentes línguas) apresentam diferentes
limites de aceitabilidade ao longo dessas hierarquias.
Seguindo orientação análoga, John Robert Ross vem dando especial
atenção ao assunto (1972b e 1974).
Gramática da oração
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática da oração é o termo
usado por Noam Chomsky, no modelo da teoria padrão ampliada re-
vista (1975, p. 105; 1976, p. 306 e 336), para designar o conjunto das regras aplicáveis na derivação de uma oração, com exceção daquelas
que, em interação com outras estruturas cognitivas, convertem a forma
lógica em representações completas do significado. No modelo adotado
pelo autor na época, as regras do subcomponente de base formam mar-
cadores sintagmáticos iniciais (estruturas profundas), que são converti-
dos pelas regras do subcomponente transformacional em estruturas su-
perficiais (enriquecidas por vestígios e pelo elemento PRO). Estas úl-
timas já contêm representações fonéticas ou são convertidas em tais
representações por outras regras e, por outro lado, são interpretadas por
certas regras semânticas, daí resultando representações em forma lógi-
ca. Todo esse conjunto constitui a gramática da oração (veja diagramas
no verbete Teoria padrão ampliado revista).
Gramática de casos
Refere-se à abordagem de análise gramatical elaborada pelo linguis-
ta americano Charles John Fillmore (1929-2014) no final da década de
1960, dentro da orientação geral da gramática gerativa. Focaliza as
funções sintáticas dos elementos que compõem as sentenças, resgatan-
do relações semânticas até então negligenciadas, formalizando isto
através de casos. Veja o capítulo 8 de As ideias de Chomsky, de John
Lyons (1974).
Gramática de dependência filial
Abordagem da análise gramatical baseada em um sistema de traços
sintáticos e relações de dependência, em que existe um único nível de representação sintática, não sendo necessárias transformações. Segun-
do David Crystal (1988, s.v.), as relações "verticais" de constituição en-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2836
tre os nódulos são consideradas de "dependência filial". As dependên-
cias "horizontais" (de sujeito-verbo etc.) são consideradas de depen-
dência "tipo irmão". Todos os nódulos desta abordagem são comple-xos, com muitos traços binários (em oposição às categorias unitárias
dos primeiros modelos de gramática transformacional). As regras de
classificação definem as combinações de traços permitidas para cons-
truir categorias. As regras de dependência especificam as estruturas em
que aparecem estas categorias. Todos os constituintes são definidos em
termos de uma noção de espaço periférico relativo. Ou seja, dados dois
constituintes quaisquer, um será mais periférico do que o outro. A no-
ção de função sintática (sujeito, tópico etc.) é atribuída aos nódulos, cu-
ja principal função é determinar a ordem das palavras da estrutura su-
perficial.
Gramática de elementos não discretos
O nome foi sugerido pelo linguista americano John Robert Haj Ross
no início da década de 1970, para nomear um modelo linguístico, alter-
nativo a teoria padrão ampliada da gramática transformacional, se-
gundo David Crystal (1988, s.v.). Tal gramática analisa a língua como
uma série de contrastes discretos (gramatical X agramatical, aplicabili-
dade X não aplicabilidade de regras). Noções como gramaticabilidade,
aplicabilidade de regras, membros de classes etc. são vistas em termos
de grau. Um dos principais fins dessa teoria linguística é explicar a
existência de sentenças marginalmente gramaticais, semissentenças –
uma indeterminação deste tipo é considerada uma característica essen-
cial da competência. A terminologia idiossincrática usada pelo modelo
–squish, "nouniness" (substantividade), "clausematiness" ("companhei-rismo de oração") etc. – agradou a alguns e irritou a outros. Sua ênfase
na análise dos dados problemáticos foi bem aceita, mas até o momento,
a abordagem se desenvolveu relativamente pouco na linguística como
um todo, e sua importância teórica é polêmica.
Gramática de escala e categoria
Segundo David Crystal (1988, s.v.), trata-se de uma teoria linguísti-
ca elaborada pelo linguista Michael Alexander Kirkwood Halliday no
início da década de 1960, na qual a estrutura da língua é vista como
um conjunto combinado de escalas e categorias que operam em níveis
diferentes. São conhecidos diversos níveis de organização. No nível da
substância, os dados físicos da fala e da escrita são definidos em ter-mos fônicos e gráficos. A organização da substância em contrastes lin-
guísticos é realizada no nível da forma. A gramática e o léxico são as
José Pereira da Silva
2837
duas principais subdivisões. A fonologia é vista como um "internível"
ligando o nível de substância ao da forma. O contexto é outro "interní-
vel", ligando o nível da forma à situação extralinguística. A análise lin-guística começa estabelecendo quatro "categorias" teóricas (unidades,
estruturas, classes e sistemas) e inter-relacionando-se pelas "escalas"
de posição hierárquica, exponente e "sutiliza". (Este uso de escala não
deve ser confundido com o conceito na fonologia, em relação a valores
de força). No final da década de 1960, partes desta abordagem foram
substituídas por um modelo sistêmico de análise. Veja o capítulo 8 de
Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).
Gramática de estados finitos
Tipo de gramática discutido por Noam Chomsky em seu livro de
Estruturas Sintáticas como ilustração de um dispositivo gerativo sim-
ples. As gramáticas de estados finitos geram uma sentença, caminhan-do "da esquerda para a direita", selecionando-se, primeiramente, um
elemento inicial, e daí por diante as possibilidades de ocorrência de to-
dos os elementos são determinadas pela natureza dos elementos ime-
diatamente precedentes. Por exemplo, na sentença O gato viu o cachor-
ro, a gramática começaria especificando a primeira palavra (ou seja,
selecionando uma palavra a partir de um conjunto de primeiras palavras
possíveis para a língua), prosseguiria deste "estado inicial" para especi-
ficar a palavra seguinte (ou seja, uma de um conjunto de palavras que
podem se seguir a o), e continuaria o processo até o "estado final" da
sentença. Noam Chomsky mostra como este tipo de gramática extre-
mamente simples é incapaz de explicar muitos processos importantes
de formação de sentenças, como nas construções descontínuas. Em Os meninos que viram João estão chegando, por exemplo, a relação gra-
matical de meninos e estão não pode ser tratada em uma gramática de
estados finitos. Noam Chomsky mostra gramáticas alternativas que me-
lhoram este modelo em diversos aspectos (cf. gramáticas de estrutura
frasal e gramática transformacional). Veja também o capítulo 5 de As
ideias de Chomsky, de John Lyons (1974).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática de estado finito é o
mecanismo que especifica uma oração da esquerda para a direita, esco-
lhendo um elemento inicial e acrescentando, sucessivamente, outros
elementos, de modo que as possibilidades de ocorrência de todos eles
sejam inteiramente determinadas pela natureza dos elementos que os precedem. Assim, por exemplo, se começarmos com o elemento os,
podemos ter, sucessivamente, os elementos homens e chegaram, for-
mando a sequência correspondente à oração Os homens chegaram. O
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2838
modelo em questão, desenvolvido na teoria matemática da comunica-
ção, foi aceito por alguns linguistas e muitos psicólogos, mas Noam
Chomsky (1975, p. 18-25) o considerou inadequado para a teoria lin-guística, por não permitir explicar muitos aspectos importantes da for-
mação de orações. Admite Noam Chomsky (1975c, p. 7) que uma gra-
mática de estado finito pode ser encarada como modelo de desempenho
linguístico do falante-ouvinte, mas, a seu ver, tal colocação é destituída
de maior interesse, equivalente simplesmente à constatação de que "o
usuário de uma língua é um organismo finitamente especificável e que
o uso da linguagem pode ser descrito como um processo temporal des-
contínuo". Dela não se poderia concluir, contrariando o que nos mostra
a observação dos fatos da linguagem, que a gramática representada na
mente do falante-ouvinte corresponda a um "mecanismo" do tipo em
questão.
Gramática de estrutura frasal
Tipo de gramática discutido por Noam Chomsky em seu livro Es-
truturas Sintáticas, como ilustração de um dispositivo gerativo. Segun-
do David Crystal (1988, s.v.), as gramáticas de estrutura frasal contêm
regras capazes não apenas de gerar cadeias de elementos linguísticos,
mas também de fornecer uma análise das cadeias em constituintes, pro-
vendo, assim, mais informações do que a gramática de estados finitos.
No entanto, não são tão poderosas como as gramáticas transformacio-
nais, que são capazes de mostrar certos tipos de relação intuitiva entre
as sentenças e que, em última análise, mostraram-se mais simples. Ao
mesmo tempo, o "componente de estrutura frasal" de uma gramática
transformacional especifica a estrutura hierárquica de uma sentença, a sequência linear de seus constituintes e, indiretamente (através do con-
ceito de dominação), alguns tipos de relações sintáticas.
A principal diferença entre as gramáticas de estrutura frasal de No-
am Chomsky e as análises em constituintes imediatos de linguistas an-
teriores é que o modelo de Noam Chomsky é formalizado como um sis-
tema de regras gerativas e visa evitar a ênfase nos procedimentos de
descoberta característica de um enfoque anterior. Em sua formulação
original, as gramáticas de estrutura frasal tomaram a forma de um con-
junto de regras de reescrita, como:
Sentença → sintagma nominal + sintagma verbal
Sintagma verbal → verbo + sintagma nominal Sintagma nominal → determinante + substantivo
Foram feitas várias distinções na classificação das gramáticas de es-
trutura frasal. A principal divisão é entre os tipos livres de contexto e
José Pereira da Silva
2839
sensíveis ao contexto. Uma gramática que só consiste de regras livres
de contexto (regras que são do tipo "Reescreva X como Y", indepen-
dentemente do contexto) é muito menos poderosa do que uma gramáti-ca que contém regras sensíveis ao contexto (regras da forma "Reescre-
va X como Y no contexto Z"). Nas recentes teorias linguísticas, houve
diversas tentativas de reparar as inadequações da gramática de estrutura
frasal, sem fazer uso das regras transformacionais – introduzindo, por
exemplo, noções como filtros de superfície e regras de redundância le-
xical – e foram propostas diversas teorias gramaticais, começando a es-
tudar as propriedades das gramáticas de estrutura frasal em maior pro-
fundidade (Exemplos: gramática de dependência filial, gramática de
estrutura frasal generalizada). Veja o capítulo 6 de Introdução à lin-
guística teórica, de John Lyons (1979).
Gramática de estrutura frasal generalizada
Teoria linguística desenvolvida como alternativa aos tratamentos
transformacionais da língua. Essas gramáticas são fracamente equiva-
lentes a uma classe de gramáticas de estrutura frasal livres de contex-
to. Não existem transformações na gramática de estrutura frasal genera-
lizada, e a estrutura sintática de uma sentença é um único marcador
frasal. Igualmente, na gramática de estrutura frasal tradicional, os rótu-
los de categoria (como SN, O) não têm estrutura interna, enquanto, na
alternativa generalizada, uma categoria é um conjunto de especifica-
ções de traços (pares ordenados contendo um traço e um valor de traço)
a que as regras têm acesso. As generalizações sintáticas são vistas co-
mo generalizações sobre o conjunto de regras (sobre ordem de consti-
tuintes, concordância etc.) que formam a gramática. Diz-se, por exem-plo, que a ordem de constituintes da gramática como um todo pode ser
tratada em termos de um conjunto de "regras de dominação imediata" e
um conjunto de "afirmações de precedência linear". Junto com essas
duas noções, as gramáticas de estrutura frasal generalizada exigem me-
tas-regras – que (em uma das versões) determinam o tipo a que perten-
ce uma vasta série de regras de estrutura frasal que são integralmente
especificadas – e também um algoritmo – para admitir as descrições
estruturais das sentenças. Além disso, a abordagem exige "restrições de
coocorrência de traços" e "omissões de especificação de traços". Veja o
primeiro capítulo de Generalized Phrase Structure Grammar, de Ge-
rald Gazdar, Geoffrey K. Pullum Klein e Ivan A. Oxford Sag (1985).
Gramática de estrutura sintagmática
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática de estrutura sintag-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2840
mática é um sistema de descrição gramatical formado de um conjunto
não ordenado de regras de reescrever, aplicadas na construção de uma
derivação de uma cadeia terminal, começando pela cadeia correspon-dente ao símbolo O (oração) e terminando com uma cadeia de formati-
vos. As gramáticas de estrutura sintagmática podem ser (gramáticas)
independentes do contexto ou sensíveis ao contexto.
Noam Chomsky sustenta que quase todas as teorias sintáticas não
transformacionais formuladas na linguística moderna correspondem a
gramáticas do tipo em questão. Em particular, procura o autor demons-
trar que um sistema de regras de estrutura sintagmática está implícito
nas gramáticas "taxonômicas" baseadas nos princípios do estruturalis-
mo pós-bloomfieldiano, se as referidas gramáticas são reformuladas
como sistemas explícitos de descrição. Uma gramática de estrutura sin-
tagmática corresponderia, assim, a uma versão formalizada da análise de uma estrutura em termos de seus constituintes imediatos (CHO-
MSKY, 1957, p. 49), muito embora tal interpretação extrapole das for-
mulações explícitas dos linguistas que propuseram o referido método
de análise (CHOMSKY, 1965, p. 205, nota 30). Noam Chomsky ainda
procurou demonstrar a inadequação das gramáticas de estrutura sin-
tagmática para a descrição das línguas naturais, sustentando a necessi-
dade da adoção de modelos transformacionais para remediar tal defici-
ência (CHOMSKY, 1957, p. 34-48).
Gramática de Montague
Um movimento na teoria linguística de meados da década de 1970
que deve seu ímpeto ao pensamento do lógico americano Richard Mo-
ret Montague (1930-1971), cuja abordagem usa um dispositivo concei-tual derivado dos estudos da semântica das línguas formais (lógicas), e
o aplica à análise de línguas naturais. A gramática contém um compo-
nente sintático e um semântico que estão intimamente associados, pois
existe uma correspondência biunívoca entre as categorias estabelecidas
nos dois níveis. A sintaxe é introduzida através das regras categoriais
que definem as categorias sintáticas, e foram uma gramática de estru-
tura frasal. As regras semânticas correspondentes constroem uma in-
terpretação proposicional destas sentenças, usando as noções de lógica
do predicado condicionado à verdade. A abordagem foi modificada e
ampliada de diversas maneiras – notadamente em relação à gramática
de estrutura frasal generalizada. Veja o capítulo 11 de Semântica, de, John Lyons (1980) e "Apêndice" de A linguística estrutural, de Giulio
Ciro Lepschy (1975).
José Pereira da Silva
2841
Gramática de procedimentos
Rótulo dado a um tipo de gramática de rede que vê a análise como
um conjunto de procedimentos (ou seja, instruções para analisar ou formar uma construção) próprios para interpretar o que ouvimos – por
exemplo, reconhecendo palavras no texto, tentando indentificá-las co-
mo partes de construções, comparando-as com conclusões já existentes,
e assim por diante. Veja o "Apêndice" de A linguística estrutural, de
Giulio Ciro Lepschy (1975).
Gramática de rede
A expressão gramática de rede foi desenvolvida a partir da linguís-
tica computacional e da inteligência artificial, para mostrar como a
compreensão da língua pode ser simulada. Segundo David Crystal
(1988, s.v.), uma red é uma representação de estado e caminhos de
uma sentença – os "estados" são os pontos onde uma nova condição pode ser introduzida, ao formar a construção, e os "caminhos" são as
transições entre os estados, que dependem de uma condição ser preen-
chida. Foram propostos dois tipos principais de gramáticas de rede: as
gramáticas de procedimentos e as gramáticas de rede de transição. Es-
sas gramáticas extraem e armazenam informações de um texto, e usam
o resultado para decidir que estruturas gramaticais e semânticas estão
por trás. A decomposição gramatical de um texto é conhecida como
parse, que contém informações sintáticas, semânticas e referenciais.
Nesta abordagem, a análise é apresentada pictoricamente (com retângu-
los, círculos e linhas), bem como com palavras e fórmulas. Veja isto
melhor no capítulo 3 de Linguistc Theory and Psychological Reality, de
Morris Halle, Joan W. Bresnan e George A. Miller (1978).
Gramática de rede de transição
O nome é um rótulo dado a um tipo de gramática de rede que mos-
tra possíveis padrões de estrutura superficial, usando modelos diagra-
máticos. Quando é suplementada por traços que permitem que ela lide
com concordância e deslocamento de ordem, é conhecida como gra-
mática de rede de transição aumentada. Veja o "Apêndice" de A lin-
guística estrutural, de Giulio Ciro Lepschy (1975).
Gramática de texto
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006,
s.v.), no final dos anos 60, aparecem, na Alemanha, “gramáticas de tex-
tos”, com a ambição de produzir um conjunto infinito de estruturas tex-tuais bem formadas (IHWE, 1972, p. 10) de uma língua dada.
Com base no modelo da gramática gerativa e transformacional
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2842
frástica, essas linguísticas definem algoritmos abstratos, regras de rees-
crita que permitem gerar as “bases do texto” e as regras de transforma-
ção que permitem passar dessas estruturas profundas à linearização da manifestação linguística de superfície. Apoiando-se no fato de que não
nos comunicamos por frases, mas por textos, as gramáticas de textos
ampliaram a noção de competência do locutor ideal para a compreen-
são e para a produção de sequências textuais de frases. Fazendo da
gramática de frase uma subparte da gramática de texto, trata-se de ex-
plicar por quais razões um texto não é nem um amontoado, nem uma
simples sequência de frases, trata-se de dar conta do fato de que a signi-
ficação de um texto é outra coisa, e não a soma das significações das
frases que o compõem.
Prolongando as pesquisas de Irena Bellert, Ewald Lang, Wolf
Thümmel, Jens Ihwe e Horst Isenberg, os primeiros trabalhos de Teun Adrianus van Dijk – “Aspects d’une théorie générative du texte poéti-
que” (1972a), “Grammaires textuelles et structures narratives” (1973a)
e “Modèles génératifs en théorie littéraire” (1973b) são reveladores da
posição inicial das gramáticas textuais no cruzamento da epistemologia
gerativista e dos estudos estruturalistas da poesia e da narrativa. Após
uma passagem por uma linguística textual ancorada na psicologia cog-
nitiva (KINTSCH & VAN DIJK, 1984), Teun Adrianus van Dijk de-
senvolveu uma análise sociopolítica do discurso no espírito dos “cultu-
ral studies” americanos (1996). Combinando gramática gerativa e se-
mântica derivada da lógica matemática, os trabalhos de János Sándor
Petöfi (1975) estão entre os mais ambiciosos e mais bem-sucedidos.
Contudo, passou progressivamente da gramática formal a uma textolo-gia semiótica (PETÖFI & OLIVI, 1986). Mais rapidamente separadas
das coerções da epistemologia gerativista “gramáticas da narrativa” fo-
ram elaboradas, em particular, por George Prince (A Grammar of Stori-
es, 1973) e por Gérard Genot (Grammaire et Récit. Essai de Linguisti-
que Testuelle, 1984).
Veja os verbetes: Coerência, Linguística textual, Superestruturas
textuais, Texto e Transfrástico.
Gramática decorativa
Gramática decorativa é o conjunto de motivos e processos orna-
mentais utilizado por um artista, um ateliê ou uma escola.
Gramática descritiva
A gramática descritiva consiste na descrição do sistema de uma lín-
gua, considerando que toda língua possui duas faces: uma externa, a
José Pereira da Silva
2843
dos sons e outro interna, a das significações. A unidade do sistema fô-
nico se chama fonema, mas a unidade do sistema sêmico é chamada de
morfema. Consequentemente, a gramática descritiva se ocupa com a descrição do sistema fonológico e do sistema morfológico de uma lín-
gua. Por seu turno, o sistema morfológico ainda se subdivide, conforme
o morfema seja distribuído em categorias-tipo (declinações e conjuga-
ções, por exemplo) ou contraia relações no texto com outros morfemas.
Daí a dupla divisão do sistema morfológico em paradigmática e sin-
tagmática.
Quando a gramática descritiva se alça do estudo de uma só língua
para, através da comparação, chegar a princípios que se possam aplicar
teoricamente a qualquer língua, tem o nome de gramática geral. A mo-
derna gramática geral tem base científica, ao passo que as antigas gra-
máticas gerais tinham fundamento filosófico. Na verdade, a gramática geral fica a meio caminho entre o conhecimento empírico e o filosófi-
co.
Segundo David Crystal (1988, s.v.), uma gramática descritiva é, em
primeiro lugar, a descrição de uma língua da forma como ela é encon-
trada em amostras da fala e da escrita (em corpus de material e / ou ex-
traídas dos falantes nativos). Dependendo de sua base teórica, pode
ainda fazer afirmações sobre a língua como um todo. E essas afirma-
ções forem explícitas e previrem a competência do falante, a gramática
pode ser considerada "descritivamente adequada" e gerativa. Na tradi-
ção mais antiga, a abordagem "descritiva" se opunha à abordagem
prescritiva de alguns gramáticos, que tentavam estabelecer regras para
o uso social ou estilisticamente correto da língua. As descrições abran-gentes da sintaxe e da morfologia de uma língua são conhecidas como
"gramáticas de referência" ou simplesmente "gramáticas", como as
produzidas no presente século pelos gramáticos do norte da Europa,
Jens Otto Harry Jespersen (1860-1943).
Veja os verbetes: Gramática e Língua.
Gramática do emissor
Chama-se gramática do emissor, segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.), uma gramática de produção de frases estabelecida a fim de expli-
car os mecanismos pelos quais um falante produz frases, efetuando
uma sequência de escolhas entre as regras possíveis. A gramática do
emissor (ou gramática da codificação) se opõe à gramática do receptor (ou gramática do descodificador) e depende do modelo de performan-
ce.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2844
Gramática do receptor
Chama-se gramática do receptor, segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.), uma gramática de interpretação de frases destinada a conceder ao usuário a possibilidade de analisar e de descrever qualquer frase da lín-
gua, dando-lhe um sentido. A gramática do receptor é o conjunto de re-
gras que permitem dar conta da compreensão das frases (por oposição à
gramática do emissor, que dá conta da produção de frases).
Gramática do reconhecimento
Gramática do reconhecimento é a descrição do processo de recep-
ção e decodificação de dados discursivos.
Gramática dos casos
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática dos casos é o modelo
de gramática transformacional caracterizado por um subcomponente de
base contendo um nível de representação formado de funções semânti-cas chamadas casos da estrutura profunda. Proposta, inicialmente, por
Charles John Fillmore (1966, p. 19-33; 1969, p. 361-375; 1968, p. 1-
90; 1971a, p. 35-56; 1971b, p. 370-392), a gramática dos casos foi
adaptada por outros autores, como Walter A. Cook (1972 e 1980) e
John Mathieson Anderson (1977), que, entretanto, seguiram outros ru-
mos na formulação da teoria. Como essas diversas versões não consti-
tuem modelos gerais de estrutura linguística, é discutível a adequação
do termo "gramática" para designá-las. Aliás, o próprio Charles John
Fillmore (1977a, p. 62) veio a admitir a impropriedade da expressão
"gramática dos casos" para designar as propostas por ele apresentadas,
reconhecendo que as mesmas não constituíam um modelo de gramáti-
ca, mas tão somente um conjunto de sugestões em relação a um nível de organização relevante para o sentido e a estrutura gramatical das
orações, de par com certas ideias quanto à estrutura lexical e à classifi-
cação das orações. Assim, a denominação teoria dos casos seria mais
adequado para designar as propostas em questão.
Na gramática tradicional, a noção de casos diz respeito à morfolo-
gia da estrutura superficial. Os casos são identificados através de suas
formas, sendo, depois, estudadas as funções de cada um deles dentro de
construções maiores. Ao propor o conceito de casos da estrutura pro-
funda, sugeriu Charles John Fillmore a inversão desse processo, em fa-
vor de um enfoque no qual a organização da oração, como um todo,
fosse encarada como o esquema, dentro do qual as funções dos morfe-mas gramaticais individuais pudessem ser formuladas. Segundo o autor
(1977a, p. 62), o novo enfoque permitiria a descrição de palavras e ora-
José Pereira da Silva
2845
ções em termos de um nível de estrutura linguística no qual eram en-
contradas propriedades universais da estrutura lexical e da organização
da oração, sendo tal descrição, em certo sentido, relacionável com as maneiras pelas quais os falantes encaram as vivências e acontecimentos
que expressam nas orações de sua língua.
Durante muito tempo, procurou Charles John Fillmore elaborar uma
teoria dos casos baseada nas noções de moldura de casos e hierarquia
dos casos. Nesse sentido, procurou o autor caracterizar os papeis (como
os de agente, paciente, instrumento, meta etc.) desempenhados, em de-
terminada situação, pelas entidades participantes da mesma. Definidas
tais noções e estabelecida uma hierarquia entre elas, a estrutura e qual-
quer oração poderia ser representada por um verbo, que indicaria a na-
tureza de um evento ou situação, e uma coleção de sintagmas nominais
marcados com indicadores do papel de cada entidade nos mesmos. A organização da oração em termos de sujeito e objeto, na estrutura su-
perficial, seria determinada por regras de formação do sujeito e regras
de formação do objeto direto.
Não obstante usar a denominação "casos da estrutura profunda",
não adota Charles John Fillmore, como nível de definição das funções
semânticas em sua teoria, a estrutura profunda proposta por Noam
Chomsky no modelo da teoria padrão. A estrutura dos casos corres-
ponderia à organização da oração num nível semântico ou conceitual,
não identificado necessariamente, com a representação semântica de
outros modelos. O referido nível estaria relacionado com o de estrutura
superficial, inexistindo no esquema de Charles John Fillmore a noção
de estrutura profunda do modelo chomskyano. Em artigo publicado em (1971a, p. 38), reconheceu Charles John
Fillmore que a teoria dos casos, na formulação proposta nos trabalhos
até então publicados, só teria interesse se houvesse bons motivos para
se acreditar na existência de um repertório fixo de tipos de papéis me-
diante os quais a teoria gramatical contribui para a interpretação semân-
tica; se fosse demonstrado que tal repertório compreende um número
reduzido de tipos de papéis; e se as gramáticas nas quais os tipos de pa-
péis fossem incorporados nas representações subjacentes fossem supe-
riores às de outros modelos.
As dificuldades encontradas em relação aos critérios para a defini-
ção dos casos e a determinação do úmero deles levaram Charles John Fillmore (1977a e 1977b) a adotar nova orientação, baseada na ideia de
que o objeto da teoria dos casos é o estudo da organização de uma
mensagem em termos da noção de perspectiva. Assim, ao invés de pro-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2846
curar determinar o elenco completo das funções semânticas necessárias
para a descrição das línguas naturais, a teoria dos casos tentaria encon-
trar respostas para as duas seguintes indagações: a) que precisamos saber sobre os diversos papéis de participantes
numa situação, a fim de determinar quais desses papéis ou que combi-
nações deles podem ser colocados em perspectiva?
b) no caso dos elementos colocados em perspectiva, qual deve tor-
nar-se o sujeito e qual o objeto direto (FILLMORE, 1977a, p. 73)? Ao
mesmo tempo, adotou Charles John Fillmore o princípio de que os sen-
tidos das expressões linguísticas são relativas às cenas cognitivas a que
elas se referem. Explicando o referido princípio, diz o autor (1977, p.
74) que entendemos palavras e expressões evocando cenas, imagens ou
recordações de vivências dentro das quais a palavra ou expressão em
causa tem uma função descritiva ou classificatória. Assim, por exem-plo, se ouvimos dizer que uma pessoa passou certo período de tempo
em terra, entendemos a referência em termos de um contraste com a
expressão no mar, evocando uma cena relacionada com uma viagem
marítima. Em face dessas formulações, passou o autor a entender que a
compreensão de uma expressão linguística de qualquer espécie depen-
de, ao mesmo tempo, da evocação de uma cena e da adoção de uma
certa perspectiva em relação à mesma. Assim, ao falarmos numa tran-
sação comercial, a escolha de determinada expressão do repertório da-
quelas que põem em foco a cena do evento comercial traz à mente toda
a cena (toda a situação do evento comercial), mas apresenta no primei-
ro plano (em perspectiva) apenas determinado aspecto ou parte da cena
em questão. A nova orientação de Charles John Fillmore muito tem em comum com a proposta por George Lakoff sob a denominação de lin-
guística vivencial.
Na versão revista da teoria dos casos, Charles John Fillmore tam-
bém passou a adotar nova atitude em relação ao conceito de estrutura
profunda, em face do reconhecimento da existência de certo número de
generalizações semânticas que só poderiam ter uma formulação simples
num nível de estrutura profunda, bem como da relevância das propostas
de estrutura subjacente formuladas na gramática relacional. Nessa or-
dem de ideias, passou o autor (1977b, p. 94) a admitir a incorporação à
sua teoria, de uma noção correspondente à representação da estrutura
profunda, pelo menos em termos da associação de sujeitos e objetos, de determinada maneira, a predicados subjacentes. Todavia, o reconheci-
mento de um nível de estrutura correspondente às relações gramaticais
subjacentes não excluiria a necessidade de um nível de análise em ter-
José Pereira da Silva
2847
mos de casos.
Na formulação inicial de sua teoria, postulou Charles John Fillmore
(1969, p. 365-375) que os constituintes principais de uma oração (O) seriam modalidade (Mod), auxiliar (Aux) e proposição (Prop), de modo
que a primeira regra de estrutura sintagmática seria
O → Mod –––– Aux –––– Prop.
Na referida formulação, os diferentes casos estariam relacionados
no constituinte "proposição", com um verbo. Posteriormente (1971a, p.
37), passou o autor a sustentar que o núcleo de uma oração simples se-
ria constituído de um "predicador" (verbo, adjetivo ou substantivo) em
construção com uma ou mais entidades, cada uma das quais relaciona-
da com o predicador em um dos casos. Na versão revista da teoria dos
casos, passou o autor (1977a e 1977b) a fazer uma distinção entre ele-
mentos nucleares e elementos periféricos de uma oração. O núcleo de uma oração seria constituído dos elementos que aparecem como sujeito
e objeto direto. A hierarquia de relevo determinaria o que pode apare-
cer no núcleo ou na periferia de uma oração. O núcleo de uma oração
seria constituído dos elementos que aparecem como sujeito e objeto di-
reto. A hierarquia de relevo determinaria o que pode aparecer no núcleo
ou na periferia de uma oração e forneceria os princípios segundo os
quais certos aspectos das cenas cognitivas se projetam em representa-
ções gramaticais e determinam a estrutura sujeito / objeto.
Definindo o campo de aplicação de suas propostas, afirma Charles
John Fillmore (1977a, p. 60) que o conceito de casos da estrutura pro-
funda seria relevante par a teoria gramatical sob quatro pontos de vista,
podendo ser encarado como contribuição para a teoria dos níveis gra-maticais, para a teoria das relações gramaticais, para a teoria das colo-
cações de elementos e para a teoria das funções dos constituintes das
orações.
No tocante aos níveis gramaticais, postula Charles John Fillmore a
existência de um nível de organização estrutural das orações, distinto
das noções comuns de representação semântica e de representação sin-
tática profunda e superficial.
Quanto às relações gramaticais, a teoria do caos se ocupa da ques-
tão de como certos aspectos do sentido de um enunciado determinam
que constituinte aparecerá, na estrutura subjacente, como sujeito, objeto
etc. de uma oração. Esclarece o autor (1977b, p. 96) que a referida questão possivelmente se relaciona com o problema das razões pelas
quais determinados constituintes vêm a se tornar o sujeito ou objeto de
uma estrutura superficial, mas a teoria dos casos se interessa pela alo-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2848
cação dos constituintes anteriormente à aplicação de qualquer processo
gramatical (como o de apassivação, por exemplo) de que dependa a
função sintática de um constituinte na estrutura superficial. Em matéria de colocações de elementos, a teoria dos casos propõe,
em relação aos verbos e adjetivos, um sistema de valências semânticas,
comparável ao das valências sintáticas proposto por linguistas como
Lucien Tesnière (1893-1954), Gerhard Helbig (1929-2008), Wolfgang
Schenkel e Rudolf Emons. A teoria do léxico especificaria, para cada
verbo ou adjetivo, no tocante a cada cena cognitiva em que ele é rele-
vante, a respectiva valência semântica. Tal valência diria respeito, si-
multaneamente, à forma superficial da oração que contém o verbo ou
adjetivo e aos elementos e aspectos das cenas associadas (FILLMORE,
1977b, p. 90).
Quanto às funções dos constituintes da oração, sugere Charles John Fillmore novo enfoque do assunto, à luz da noção de perspectiva, base-
ada na distinção entre as partes de uma mensagem que estão "em pers-
pectiva" e aquelas que estão "fora de perspectiva".
Entende Charles John Fillmore que a versão revista da teoria dos
casos tem a vantagem de facilitar a solução de complexos problemas
suscitados pela versão original, em particular a questão da fixação do
elenco universal de casos da estrutura profunda. Reconhece, entretanto,
o autor (1977b, p. 106) que persistem diversos problemas, entre eles a
questão da distinção entre elementos nucleares e periféricos e das rela-
ções gramaticais entre os elementos do núcleo de uma oração. Cabe as-
sinalar, ainda, que, em razão da atenção que vem dando à análise do
discurso e à interpretação de textos (escritos e falados), Charles John Fillmore vem se afastando cada vez mais da orientação de Noam Cho-
msky, caracterizada por um interesse primordial pela gramática da
oração.
Gramática especulativa
Gramática especulativa ou gramática científica é aquela que procu-
rava estabelecer a relação entre a palavra, a causa por ela representada
e o espírito humano. Segundo seus seguidores, a palavra (significante)
não representava diretamente a coisa, mas apenas espelhava (latim spe-
culum, donde especulativa) a imagem da realidade física (JOTA, 1981,
s.v.).
Gramática estrutural
Gramática estrutural ou gramática funcional é a que estuda o fun-
cionamento e a estrutura dos sistemas linguísticos. A gramática norma-
José Pereira da Silva
2849
tiva ou gramática descritiva trataria da norma. Quanto a uma gramática
da fala, que trataria inclusive dos "erros", ainda não temos em portu-
guês, apesar dos numerosos estudos incluídos na Gramática do Portu-guês Falado (que resultou do projeto apresentado por Ataliba Teixeira
de Castilho em 1987) e na Gramática do Português Culto Falado no
Brasil (coordenada por Ataliba Teixeira de Castilho). Tais desvios da
norma geral, quando consagrados por uma norma parcial, já merecem
guarida, pelo que não se compreende a intransigência das gramáticas a
propósito desse assunto. Entre tatos exemplos de supostos "erros", as-
sinalemos a regência de certos verbos (compartilhar, assistir etc.), pe-
dir para, inconteste (por incontestável) etc. A gramática estrutural es-
tuda a língua por si mesma, quanto à forma somente (a substância não é
linguística), desvinculando-se, pois, de outras disciplinas como psico-
logia, lógica, sociologia etc. E através de línguas particulares, esboça-se uma pancronia (ou metacronia), que seria uma gramática estrutural
geral, que estuda a estrutura e funcionamento do sistema abstrato da
linguagem, do qual as línguas particulares seriam meras projeções (JO-
TA, 1981, s.v.).
Veja: Linguística funcional.
Gramática expositiva
Gramática expositiva, gramática descritiva ou gramática sincrôni-
ca é a que expõe (descreve) os fatos da língua em determinado estado
evolutivo (JOTA, 1981, s.v.).
Gramática filosófica
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática filosófica é a teoria
linguística, também conhecida como gramática universal, que flores-ceu nos séculos XVII e XVIII, sob a influência da filosofia racionalista
da linguagem. Segundo Noam Chomsky (1967a, p. 3), os partidários
dessa corrente rejeitaram a ideia de que o estudo da linguagem fosse
uma espécie de "história natural", passando a encará-lo como uma "fi-
losofia natural"; daí a expressão "gramática filosófica", na qual o adje-
tivo é usado como sinônimo atual de "gramática científica".
Noam Chomsky considera a gramática filosófica a primeira teoria
geral realmente significativa da estrutura linguística e sustenta que as
ideias defendidas pelos autores filiados à referida corrente eram, em es-
sência, teorias de gramática transformacional (1968, p. 12; 1971, p.
126). Em abono desse ponto de vista, afirma o autor (1968, p. 13-14) que "a gramática filosófica, de modo muito semelhante à gramática ge-
rativa de nossos dias, desenvolveu-se em oposição a uma tradição des-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2850
critiva que interpretava a tarefa do gramático como sendo meramente a
de registrar e organizar os dados em uso". Insurgindo-se contra essa
orientação, os partidários da gramática filosófica teriam passado a en-carar os dados como "indicações de princípios de organização ocultos,
mais profundos", cuja investigação deveria constituir o objeto dos estu-
dos linguísticos.
Gramática formal
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática formal é o estudo da
estrutura sintática e fonológica de uma língua, em contraste com os as-
pectos semânticos da mesma. Nesse sentido, o conceito de gramática
formal se apoia na noção de teoria formal.
Desde seus primeiros trabalhos, Noam Chomsky encarou a gramáti-
ca como teoria da forma linguística e insistiu na necessidade de uma
abordagem puramente formal dos fatos gramaticais, como base para o estudo da maneira pela qual a linguagem é usada e entendida (1957, p.
100, 102 e 106; 1967c, p. 6 e 57). Apoiada na tese da autonomia da
sintaxe, a orientação seguida por Noam Chomsky, nesse particular,
vem sendo mantida através dos sucessivos modelos propostos pelo au-
tor, apesar da incorporação de um componente semântico ao modelo da
teoria padrão. No modelo da teoria padrão ampliada revista, ao rea-
firmar a tese da autonomia da sintaxe, dividiu o autor (1976, p. 306) as
regras da gramática da oração em dois grupos, o primeiro dos quais
(constituído pelas regras da gramática formal) bastaria para determinar
as representações de todos os níveis linguísticos, com exceção da forma
lógica, cabendo às regras do segundo grupo associar as referidas repre-
sentações à forma lógica. As regras do segundo grupo foram inicial-mente consideradas regras de interpretação semântica (CHOMSKY,
1975a, p. 105; 1976, p. 336), mas posteriormente passaram a ser enca-
radas como regras relativas à sintaxe da forma lógica, ampliando-se,
assim, o âmbito da gramática formal (CHOMSKY, 1977a, p. 72;
1977b, p. 9-10). Na "Introdução" aos Ensaios sobre Questões de For-
ma e Interpretação (1977b, p. 10), ao reiterar o entendimento de que a
gramática formal diz respeito a todos os níveis de representação lin-
guística, afora a forma lógica, Noam Chomsky definiu a gramática
formal como o conjunto de regras de cuja aplicação resultam as estru-
turas rasas e as representações fonéticas (ou as estruturas rasas foneti-
camente representadas, se correta a teoria de Joan W. Bresnan, segundo a qual as regras fonológicas são aplicáveis são aplicáveis no decorrer
do ciclo transformacional, de modo que as estruturas rasas já contêm
representações fonéticas).
José Pereira da Silva
2851
Jerrold Jacobi Katz e D. Terence Langendoen (1976, p. 9) definem
uma gramática formal como um "sistema de regras que associa descri-
ções estruturais às orações mecanicamente".
Veja: Gramática nocional.
Gramática formalizada
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática formalizada é termo
usado por Noam Chomsky (1962, p. 530-553), com base na noção de
teoria formalizada, para designar uma caracterização rigorosa e explí-
cita de uma língua, correspondente à competência linguística de um fa-
lante nativo da mesma.
Gramática funcional
Uma teoria linguística, elaborada na década de 1970, como alterna-
tiva para a visão abstrata, formalizada da língua, apresentada pela gra-
mática transformacional, e passando a usar uma visão pragmática da língua como interação social. A abordagem localiza, segundo David
Crystal (1988, s.v.), as regras que regem a interação verbal, considera-
da uma forma de atividade cooperativa, e as regras (da sintaxe, semân-
tica e fonologia) que regem as expressões que são usadas como instru-
mentos desta atividade. Sendo assim, o predicado é o elemento básico
de uma "predicação". Aparece no léxico sob a forma de um "esquema
de predicado", especificado para o número de argumentos que toma
(agente, meta etc.). A partir dos esquemas de predicados, são formadas
"predicações nucleares", pela inserção de termos apropriados nas posi-
ções do argumento. E, a partir das predicações nucleares, são formadas
"predicações completas", através do uso de satélites (modo, locação
etc.). São então atribuídas funções sintáticas (interpretadas semantica-mente) e funções pragmáticas aos elementos de predicação e expressos
em sentenças como o uso de "regras de expressão" (que trata de ques-
tões como casos, concordância, ordem e entonação).
Gramática generativa
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gramática generativa é a gramática concebida como um mecanismo
acabado, capaz de gerar automaticamente “todas e apenas” as frases
gramaticais de uma língua. O conjunto das regras de uma gramática
generativa constitui um sistema com três componentes: sintático, se-
mântico e fonológico.
Veja o verbete: Gramática transformacional.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2852
Gramática geral
A gramática geral oferece as conceituações e definições que interes-
sa a todas as línguas. (MACEDO, 2012, s.v. Gramática) Segundo Maria Margarida de Andrade (2009, "Introdução"), gra-
mática geral se refere à teoria gramatical, também chamada gramática
universal. A teoria gramatical procura os fatos gramaticais gerais e co-
muns a vários sistemas linguísticos; estuda os fundamentos teóricos dos
conceitos gramaticais, cabendo-lhe a declinação desses conceitos. Esta
gramática investiga o plano universal da linguagem, não tem por objeto
uma língua particular, como as outras gramáticas.
A gramática geral, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), tem por
objeto enunciar certos princípios (universais) ou axiomas a que obede-
cem todas as línguas. Com sua preocupação de elaborar uma teoria da
frase como parte ou aspecto da lógica formal, a fim de sistematizar o estudo das proposições e dos juízos. Aristóteles (384-322 a.C.) lançou
as primeiras bases da gramática geral. Esta se desenvolve nos séculos
XVII e XVIII como um conjunto de hipóteses sobre a natureza da lin-
guagem considerada como decorrente das "leis do pensamento". É con-
sagrada pelo sucesso da Grammaire Générale et Raisonnée de Port-
Royal, obra, essa, que, durante dois séculos, servirá de base à formação
gramatical, explica os fatos partindo do postulado de que a linguagem,
imagem do pensamento, exprime juízos e que as diversas realizações
que se encontram nas línguas são conformes a esquemas lógicos uni-
versais. Aceita até por Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) e os
filósofos empiristas, a gramática geral conheceu um longo eclipse du-
rante o período do positivismo. Noam Chomsky nela vê atualmente o ancestral das gramáticas gerativas. Ela é também o fundamento de pes-
quisas como as de Charles J. Fillmore (1929-2014) sobre a gramática
dos casos.
Gramática gerativa
Tipo de gramática que é capaz de especificar o conjunto de senten-
ças gramaticais de uma língua, ou seja, que tem uma capacidade gera-
tiva. Tecnicamente, segundo David Crystal (1988, s.v.), uma gramática
gerativa é um conjunto de regras formais que projeto um conjunto fini-
to de sentenças sobre o conjunto potencialmente infinito de sentenças
que constituem a língua como um todo, fazendo isso de maneira explí-
cita, atribuindo a cada uma delas um conjunto de descrições estrutu-rais. Diversos modelos possíveis de gramática gerativa foram formal-
mente pesquisados, desde a discussão inicial de Noam Chomsky a res-
peito de três tipos: gramática de estados finitos, gramática de estrutura
José Pereira da Silva
2853
frasal e gramática transformacional. Veja o capítulo 8 de As Ideias de
Chomsky, de John Lyons (1974).
A gramática gerativa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é uma teoria linguística elaborada por Noam Chomsky e pelos linguistas
do Massachusetts Institute of Technology entre 1960 e 1965. Critican-
do o modelo distribucional e o modelo dos constituintes imediatos da
linguística estrutural, que, segundo eles, descrevem somente as frases
realizadas e não podem explicar um grande número de dados linguísti-
cos (como a ambiguidade, os constituintes descontínuos etc.), Noam
Chomsky define uma teoria capaz de dar conta da criatividade do fa-
lante, de sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas. Ele
formula hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da linguagem:
esta última, específica à espécie humana, repousa sobre a existência de
estruturas universais inatas (como a relação sujeito / predicado) que tornam possível a aquisição (a aprendizagem) pela criança dos sistemas
particulares que são as línguas. O contexto linguístico ativa essas estru-
turas inerentes à espécie, que subentendem o funcionamento da lingua-
gem. Nessa perspectiva, a gramática é um mecanismo finito que permi-
te gerar (engendrar) o conjunto infinito das frases gramaticais (bem
formadas, corretas) de uma língua, e somente elas. Formada de regras
que definem as sequências de palavras ou de sons permitidos, essa
gramática constitui o saber linguístico dos indivíduos que falam uma
língua, isto é, a sua competência linguística. A utilização particular que
cada locutor faz da língua em uma situação particular de comunicação
depende da performance.
A gramática é formada de três partes ou componentes: a) um com-ponente sintático, sistema das regras que definem as frases permitidas
em uma língua; b) um componente semântico, sistema das re-
gras que definem a interpretação das frases geradas pelo componente
sintático;
c) um componente fonológico e fonético, sistema de regras que rea-
lizam em uma sequência de sons as frases geradas pelo componente
sintático.
O componente sintático, ou sintaxe, é formado de duas grandes par-
tes: a base, que define as estruturas fundamentais, e as transformações,
que permitem passar das estruturas profundas, geradas pela base, às es-
truturas de superfície das frases, que recebem então uma interpretação fonética para se tornarem as frases efetivamente realizadas. Assim, a
base permite gerar as duas sequências: 1) "A + mãe + ouve + algo"
e 2) A + criança + canta.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2854
A parte transformacional da gramática permite obter A mãe ouve
que a criança cante e A mãe ouve a criança cantar. Trata-se ainda de
estruturas abstratas que só se tornarão frases efetivamente realizadas após aplicação das regras do componente fonético.
A base é formada de duas partes:
a) O componente ou base categorial é o conjunto das regras que de-
finem as relações gramaticais entre os elementos que constituem as es-
truturas profundas e que são representadas pelos símbolos categoriais.
Assim, uma frase é formada pela sequência SN + SV, em que SN é o
símbolo categorial de sintagma nominal e SV o símbolo categorial de
sintagma verbal: a relação gramatical é a de sujeito e predicado.
b) O léxico, ou dicionário da língua, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), é o conjunto dos morfemas lexicais definidos por séries de
traços que os caracterizam. Assim, o morfema mãe será definido no lé-xico como um substantivo, feminino, animado, humano etc. Se a base
define a sequência de símbolos: Art. + N + Pres. + V + Art. + N (Art. =
artigo, N = nome, V = verbo, Pres. = presente), o léxico substitui cada
um desses símbolos por uma "palavra" da língua: A + mãe + Ø + aca-
bar + o + trabalho, as regras de transformação convertem esse estrutura
profunda numa estrutura de superfície: a + mãe + acabar + Ø + o + tra-
balho, e as regras fonéticas realizam A mãe acaba o trabalho.
Foram obtidas, portanto, no fim da base, sequências terminais de
formantes gramaticais (como número, presente etc.) e morfemas lexi-
cais. Essas sequências são suscetíveis de receber uma interpretação,
conforme as regras do componente semântico. Para serem realizadas,
vão passar pelo componente transformacional. As transformações são operações que convertem as estruturas pro-
fundas em estruturas de superfície sem afetar a interpretação semântica
feita ao nível das estruturas profundas. As transformações, provocadas
pela presença na base de certos constituintes, comportam duas etapas:
uma consiste na análise estrutural da sequência oriunda da base a fim
de ver se sua estrutura é compatível com uma transformação definida, e
a outra consiste numa mudança estrutural dessa sequência (por adição,
apagamento, deslocamento, substituição). Chega-se, então, a uma se-
quência transformada correspondente a uma estrutura de superfície.
Assim, a presença do constituinte "Passivo" na sequência de base pro-
voca modificações que fazem com que a frase O pai lê o jornal se torne O jornal é lido pelo pai.
Essa sequência vai ser convertida numa frase efetivamente realizada
pelas regras do componente fonológico (diz-se também morfofonológi-
José Pereira da Silva
2855
co) e fonético. Essas regras definem as "palavras" provenientes das
combinações de morfemas lexicais e formantes gramaticais, e lhes atri-
buem uma estrutura fônica. É o componente fonológico que converte o morfema lexical "criança" numa sequência de sinais acústicos [kriãsa].
A teoria gerativa deve fornecer uma teoria fonética universal que
permita estabelecer a lista dos traços fonéticos e as listas das combina-
ções possíveis desses traços. Repousa, portanto, sobre uma matriz uni-
versal de traços fônicos. Deve fornecer uma teoria semântica universal
suscetível de estabelecer a lista dos conceitos possíveis, implicando,
portanto, uma matriz universal de traços semânticos. Enfim, a teoria
gerativa deve fornecer uma teoria sintática universal, isto é, estabelecer
a lista das relações gramaticais da vase e as das operações transforma-
cionais capazes de dar uma descrição estrutural de todas as frases. Es-
sas tarefas da gramática gerativa implicam, portanto, a existência de universais linguísticos a esses três níveis.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática gerativa é o termo
usado, em sentido amplo, como sinônimo de gramática gerativa-
transformacional.
Em sentido restrito, é termo usado para designar uma gramática que
define, especifica ou caracteriza precisamente as combinações de ele-
mentos permissíveis numa língua. A noção em apreço está relacionada
com o emprego do verbo gerar, em linguagem matemática, na acepção
de especificar. Observa Noam Chomsky (1965, p. 9) que o verbo ge-
rar, no caso, é de uso muito comum na lógica, particularmente na teo-
ria dos sistemas combinatórios de Paul Martin Postal. Explica, ainda, o
autor: "De modo geral, pode-se dizer que um conjunto de regras que re-
cursivamente definem um conjunto infinito de objetos gera o referido
conjunto. Assim, pode-se dizer que um conjunto de axiomas e regras de
inferência relativos à aritmética gera um conjunto de provas e um con-
junto de teoremas de aritmética (últimas linhas das provas). Analoga-
mente, pode-se dizer que uma gramática (gerativa) gera um conjunto
de descrições estruturais" (1972a, p. 126, nota 12).
"Dizer que uma gramática gera certo conjunto de estruturas é sim-
plesmente dizer que ela especifica esse conjunto de maneira precisa.
Nesse sentido, podemos dizer que a gramática de uma língua gera um
conjunto infinito de 'descrições estruturais'..." (1972a, p. 104). Definindo o grau de explicitude de que devem se revestir as regras
destinadas a expressar os fatos linguístico, dizem Noam Chomsky e
Morris Halle (1968, p. 60: "As regras da gramática são aplicadas meca-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2856
nicamente; podem ser consideradas como instruções que poderiam ser
dadas a um robô, incapaz de fazer qualquer juízo ou uso da imaginação
em sua aplicação". A necessidade de formulações precisas e explícitas na linguística é
justificada pelos autores (1968, p. IX) nos seguintes termos: "Uma das
melhores razões para apresentar uma teoria de determinada língua na
forma precisa de uma gramática gerativa, ou para apresentar uma hipó-
tese relativa à teoria linguística geral em termos bem explícitos, é que
apenas tal formulação precisa e explícita pode levar à descoberta de de-
feitos graves e à compreensão de como eles podem ser corrigidos".
Como caraterização explícita da estrutura de uma língua, uma gra-
mática gerativa "se distingue de formulações que meramente apresen-
tam o inventário de elementos que aparecem nas descrições estruturais,
de par com as variantes contextuais dos mesmos" (CHOMSKY, 1964d, p. 9). Por outro lado, "não apela para a faculdade da linguagem do lei-
tor, mas antes procura incorporar os mecanismos dessa faculdade"
(CHOMSKY, 1966a, p. 12). Pode ainda ser entendida como "uma des-
crição da competência tácita do falante-ouvinte, subjacente ao desem-
penho efetivo do mesmo na produção e percepção (compreensão) da fa-
la" (CHOMSKY, 1966b, p. 75).
A noção de caracterização explícita está presente em todas as defi-
nições de gramática gerativa propostas por Noam Chomsky, variando,
entretanto, o objeto da referida caracterização, conforme demonstram
as seguintes definições: "sistema de regras que, de alguma forma explí-
cita e bem-definida, associa descrições estruturais e orações" (CHO-
MSKY, 1965, p. 8), [sistema de regras] "que procura caracterizar de forma explícita a associação intrínseca de forma fonética e conteúdo
semântico numa determinada língua" (CHOMSKY, 1972a, p. 126).
Gramática gerativa, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é
a gramática de uma determinada língua que é capaz de definir todas as
sentenças gramaticais dessa língua e somente essas. A noção de gramá-
tica gerativa foi introduzida pelo linguista americano Noam Chomsky
nos anos 1950 e teve uma profunda influência. As abordagens anterio-
res visavam a extrair generalizações da observação das sentenças de
uma língua. Noam Chomsky propôs que se fosse além: quando as gene-
ralizações são exatas e completas, podemos transformá-las em um con-
junto de regras que podem ser usadas para construir sentenças gramati-cais completas, partindo do zero.
José Pereira da Silva
2857
Uma gramática gerativa3 é mecânica e não pensa; uma vez constru-
ída, dispensa as intervenções humanas. As regras da gramática, se fo-
rem construídas adequadamente, definem de maneira automática o con-junto completo das sentenças gramaticais, sem produzir qualquer entu-
lho agramatical. Como o número de sentenças possíveis em qualquer
língua humana é infinito, e como não queremos escrever um conjunto
infinito de regras, uma gramática gerativa bem-sucedida tem que incor-
porar a característica da recursividade, ou seja, é preciso que uma
mesma regra possa aplicar-se sucessivas vezes na construção de uma
mesma sentença.
O próprio Noam Chomsky definiu vários tipos bastante diferentes
de gramática gerativa, e muitos outros foram definidos nos últimos
anos por outros autores. Uma característica fundamental de qualquer
gramática gerativa é sua capacidade gerativa: quanto maior o número de tipos de fatos diferentes de que a gramática pode tratar com sucesso,
maior a capacidade gerativa dessa gramática. Mas esse é um ponto fun-
damental – nós não queremos que as gramáticas tenham uma capacida-
de infinita. Ao contrário, queremos que as gramáticas tenham apenas a
capacidade necessária para tratar com sucesso das coisas que efetiva-
mente acontecem nas línguas, descartando as que não acontecem.
Dentro de certos limites, todos os diferentes tipos de gramática ge-
rativa podem ser dispostos em uma hierarquia, que vai das mais fracas
às mais fortes; essa maneira de ordená-las é chamada a hierarquia de
Chomsky. O objetivo do programa de pesquisa de Noam Chomsky, en-
tão, consiste em identificar a classe de gramáticas gerativas que corres-
ponde da maneira mais exata às propriedades observadas nas línguas humanas. Se tivermos sucesso nesse objetivo, então, a classe das gra-
máticas gerativas que identificaremos deverá oferecer o melhor modelo
possível para as gramáticas das línguas humanas.
Duas das mais importantes classes de gramáticas gerativas investi-
gadas até hoje são a gramática sintagmática independente de contexto
e a gramática transformacional. A segunda é bem mais forte do que a
primeira – e alguns autores sustentam, talvez com razão, que é excessi-
vamente forte para servir de modelo para as línguas humanas. Quanto à
primeira, sabe-se hoje que ela é ligeiramente mais fraca do que seria de
3 Nos últimos anos, Noam Chomsky e seus seguidores têm aplicado o termo gramática gerativa, de maneira bastante livre, ao modelo conhecido como teoria da regência e ligação, mas é preciso não esquecer que este modelo não é, estritamente falando, uma gramática gerativa no sentido original do termo, porque não apresenta o grau de rigorosa fundamentação formal que costuma ser conside-
rado essencial numa gramática gerativa.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2858
esperar para essa mesma finalidade.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere os
capítulos 2 e 3 de Syntactic Theory, de Emmon Bach; os capítulos 5, 6 e 7 de Chomsky, de John Lyons; e as páginas 162 a 165 de The Linguis-
tics Encyclopedia, de Kirsten Malmkjaer.
Veja: Gramática de estrutura sintagmática e Gramática transfor-
macional.
Gramática gerativa-transformacional
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática gerativa-transforma-
cional (Gramática gerativo-transformacional ou Gramática gerativa
transformacional) é o modelo de descrição gramatical que especifica as
combinações permissíveis de elementos em uma língua e, mediante a
aplicação de transformações gramaticais, relaciona um nível de estru-
tura subjacente a um outro, correspondente à estrutura superficial ou à estrutura rasa das orações (veja: Gramática gerativa e Gramática
transformacional). No modelo da teoria padrão, Noam Chomsky
(1972a, p. 106) caracterizou uma gramática gerativa-transformacional
em termos da especificação, em relação a cada oração, de uma estrutu-
ra profunda, de par com um conjunto de regras que relacionariam o re-
ferido nível a uma estrutura superficial.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), gramática gerativa
transformacional é a corrente linguística de Noam Chomsky. Baseado
na teoria de uma gramática da língua subjacente, explicaria, abstrata-
mente, a gramática do desempenho. Em linguagem saussuriana, seria,
mais ou menos o mesmo que língua como fonte explicativa da fala.
Mas, psicologicamente, ele vai além: os usuários de qualquer língua do mundo estão condicionados para a manifestação do pensamento, às
mesmas bases neurocerebrais e musculares. Por conseguinte, nada es-
tranhável que haja, em todas as línguas, traços estruturais comuns, fo-
néticos, sintáticos ou semânticos (chamados, por isso, universais lin-
guísticos). A criança traria inato esse arsenal de conhecimentos de tra-
ços comuns. O contato com os dados desencadearia reações que levari-
am o aprendiz, diante do que lhe é inato, a um caminho já traçado gene-
ticamente. Seria, para ele, operação ao mesmo tempo indutiva e deduti-
va. A gramática gerativa procura, antes de tudo, determinar esses traços
universais (e as suas relações recíprocas) de maneira exaustiva e o mais
explicativos possível, a fim de que neles possamos enquadrar todas as línguas e por eles possamos explicar cada língua em particular.
Veja: Linguística transformacional e Gramática sintagmática.
José Pereira da Silva
2859
Gramática histórica
Depois do advento do método histórico-comparativo (princípios do
século XIX), surgiu também a gramática histórica ou gramática dia-crônica. Trata-se de uma exposição dos fenômenos evolutivos de uma
língua que se vale da distribuição tradicional dos fatos gramaticais: fo-
nética, morfologia e sintaxe. Como, porém, a gramática estuda o siste-
ma de uma língua e, não, os seus elementos isoladamente, a denomina-
ção "gramática histórica", como observou Ferdinand de Saussure
(1857-1913), é contraditória. De acordo com este conceito, não existe
gramática histórica, mas apenas linguística histórica, ou antes (para fa-
lar ainda com Ferdinand de Saussure), linguística diacrônica. Veja o
primeiro capítulo de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).
Segundo Maria Margarida de Andrade (2009, "Introdução"), gra-
mática histórica consiste no estudo da história de uma língua, conside-rando aspectos externos, ou seja, o contexto ou a história de seus falan-
tes e aspectos internos, quais sejam as mudanças ocorridas na evolução
da língua através dos tempos, desde suas origens à atualidade. A histó-
ria interna da língua é o estudo diacrônico, isto é, o estudo das origens e
da evolução de uma língua histórica.
Veja: Fonema, Gramática, Latim, Língua, Palavra, Radical e Signi-
ficado.
Gramática léxico-funcional
Teoria linguística que afirma que a estrutura sintática de uma sen-
tença consiste de uma estrutura constituinte e uma estrutura funcional,
que representam as relações gramaticais superficiais. Nesta aborda-
gem, segundo David Crystal (1988, s.v.), o componente lexical desem-penha, em grande parte, o papel antes associado ao componente sintáti-
co da gramática transformacional.
Gramática léxico-funcional (FLG), segundo Robert Lawrence
Trask (2015, s.v.), é uma teoria gramatical particular, que foi desenvol-
vida no final da década de 1970, pelos linguistas americanos Joan
Wanda Bresnan e Ronald M. Kaplan. Difere de outras teorias de gra-
mática por partir do princípio de que a estrutura sintática da sentença é
algo mais do que a estrutura de constituintes, representada pelos dia-
gramas em forma de árvore que todos conhecem. Na gramática léxico-
funcional, a estrutura de uma sentença consiste em dois objetos formais
distintos: não só uma estrutura-c do tipo com que todos estão familiari-zados, mas também uma estrutura funcional, ou estrutura-f, que apre-
senta certos tipos adicionais de informação. Na estrutura-f, tem grande
importância o fato de que há uma aplicação de etiquetas que exprimem
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2860
relações gramaticais como sujeito e objeto (chamadas funções grama-
ticais na gramática léxico-funcional).
O primeiro termo indica que uma grande parte do trabalho é feita pelas entradas lexicais, a parte “dicionário” do modelo. As entradas le-
xicais são geralmente ricas e elaboradas, e cada forma flexionada de
um item lexical (como write, writes, wrote, written e writing) tem sua
própria entrada lexical. As entradas lexicais são responsáveis por abor-
dar muitas relações e processos que, em outros modelos, são tratados
por outros dispositivos; um exemplo é a oposição de voz entre senten-
ças ativas e passivas.
A gramática léxico-funcional foi concebida para ser um instrumen-
to de trabalho de manuscrito fácil em linguística computacional, e teve
aplicações nessa área. Também foi concebido com a esperança de que
se revelaria psicologicamente realista, mas não recebeu apoio aberto dos psicolinguistas.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere os
capítulos 4 de Generativa Grammar, de Geoffrey Horrocks; o capítulo
Lexical-Funccional Grammar: a formal system for grammatical repre-
sentation, de Ronald Kaplan e Joan W. Bresnan; e o capítulo 4 de Lec-
tures on Contemporary Syntactic Theories, de Peter Sells.
Veja: Gramática gerativa, Teoria da regência e ligação e Gramáti-
ca de estrutura sintagmática.
Gramática linguística
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática linguística é a gramá-
tica que tem em vista descobrir e revelar os mecanismos que tornam
possível a aquisição da competência linguística por parte de um falante-ouvinte. Tal gramática "descreve e procura explicar a capacidade de um
falante de entender qualquer oração de sua língua e produzir uma ora-
ção apropriada em determinada ocasião" (CHOMSKY, 1966a, p. 10).
Representa, assim, uma tentativa de explicar os mecanismos subjacen-
tes ao comportamento linguístico do falante-ouvinte. Como hipótese a
respeito do sistema de regras representado na mente do falante-ouvinte,
a gramática transformacional é uma gramática linguística, e não uma
gramática pedagógica. Uma gramática linguística deve satisfazer cer-
tas condições externas de adequação (como a condição de que as ora-
ções por ela especificadas sejam aceitáveis para o falante nativo, por
exemplo) e estar em conformidade com a teoria linguística geral
(CHOMSKY, 1975c, p. 80).
José Pereira da Silva
2861
Gramática nocional
Gramática nocional é a gramática que parte da suposição de que
existem categorias extralinguísticas, de caráter universal, independen-tes, portanto, dos fatos acidentais de cada língua em particular. Opõe-
se-lhe a gramática formal que, abstraindo-se da universalidade das ca-
tegorias extralinguísticas, pretende descrever a estrutura de cada língua
através dela mesma (JOTA, 1981, s.v.).
Gramática normativa
A gramática normativa é uma tecnologia, isto é, um conjunto de co-
nhecimentos destinados a fazer alguma coisa. É uma arte, no sentido
antigo: conjunto de regras ou preceitos que permitem fazer corretamen-
te alguma coisa. Tem valor didático, ao passo que a gramática descriti-
va tem valor científico. O seu fundamento é o uso das classes cultas.
Segundo Maria Margarida de Andrade (2009, p. 2), a gramática
normativa não tem finalidade científica, mas pedagógica, prescrevendo
o modo como se deve falar e escrever, segundo o uso geral e a autori-
dade dos escritores, gramáticos e dicionaristas considerados "corretos"
ou exemplares. Ela apresenta modelos para serem utilizados em cir-
cunstâncias especiais de convívio social.
Veja os verbetes: Gramática, Gramática descritiva, Língua e Nor-
ma culta.
Gramática nuclear
Nos recentes estudos da linguística gerativa, refere-se a um conjun-
to universal de princípios linguísticos que caracterizam todos os princí-
pios gramaticais não marcados de uma língua. Uma regra que se adap-ta a estes princípios é uma regra nuclear. Este tipo de gramática pode
ser desenvolvido para uma determinada língua ou para as línguas em
geral (uma "teoria de gramática nuclear".
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática nuclear é uma noção
introduzida por Noam Chomsky, no modelo da teoria padrão ampliada
revista, em consonância com o propósito de formular hipóteses restriti-
vas no tocante aos componentes da gramática e ao relacionamento entre
eles. Nessa ordem de ideias, postula o autor (CHOMSKY & LASNIK,
1977, p. 430) que a gramática universal não é um sistema "indiferenci-
ado", mas incorpora algo semelhante a uma "teoria de marcação". Ha-
veria, então, uma teoria da gramática nuclear, com opções sobremodo restritas, poder expressivo limitado e alguns parâmetros. Os sistemas
incluídos na gramática nuclear constituiriam "o ca.j não marcado", e
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2862
uma língua seria determinada, fixando-se os parâmetros da gramática
nuclear e depois acrescentando regras ou condições de regras, mediante
o emprego de recursos muito mais amplos. Em duas outras oportunida-des, Noam Chomsky volta a referir-se ao assunto, mas sem chegar a
uma caracterização precisa da gramática nuclear. Na primeira dessas
referências (1977a, p. 72), limita-se o autor a incluir na gramática nu-
clear da língua inglesa certas regras gerais e certas condições de aplica-
ção das mesmas; na segunda (1977b, p. 8), trata o autor de certas regras
transformacionais e certas regras interpretativas que, em conjunto,
constituiriam uma espécie de gramática nuclear da língua inglesa.
Gramática pedagógica
Uma "gramática pedagógica" é planejada especificamente para fins
de ensino e aprendizado de uma língua estrangeira e / ou para o desen-
volvimento dos conhecimentos acerca da língua materna. Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática pedagógica é a gra-
mática destinada a habilitar alguém a produzir e entender as orações de
uma língua (CHOMSKY, 1966a, p. 10). Ao contrário de uma gramática
linguística, que é avaliada em termos de certas condições externas de
adequação e de conformidade com a teoria linguística geral, uma gra-
mática pedagógica é avaliada pelo critério pragmático do êxito alcan-
çado com seu uso (CHOMSKY, 1975c, p. 80).
Gramática prescritiva
Veja os verbetes: Gramática e Gramática normativa.
Gramática realística
Na recente teoria linguística, refere-se a qualquer abordagem de
análise gramatical que tenha por objetivo ser real em termos psicológi-cos, contribuindo para a explicação de certas áreas do comportamento
linguístico, como a compreensão e a memória. Segundo David Crystal
(1988, s.v.), a gramática realística pretende ser uma oposição a uma
abordagem anterior, de caracterizações formais da gramática, com base
apenas na intuição, com a intenção de "realizar" uma gramática trans-
formacional dentro de um modelo psicológico de uso da língua, de mo-
do que o modelo represente genuinamente o conhecimento da língua
por parte de seus usuários. Tal gramática também seria "realizável".
Em outras palavras, definiria as realizações explícitas que fariam o
mapeamento entre as categorias e regras gramaticais em operações de
processamento e unidades informacionais, conforme definidas pelo modelo psicológico. Espera-se, dessa maneira, que as gramáticas realís-
ticas, através do uso de critérios tanto linguísticos quanto psicolinguís-
José Pereira da Silva
2863
ticos, forneçam um conhecimento maior da natureza da competência, e
ajudem a avaliar os méritos das gramáticas formais (cf. Adequação).
Gramática relacional
Segundo David Crystal (1988, s.v.), gramática relacional é um de-
senvolvimento das ideias da linguística gerativa de meados da década
de 1970. Centraliza-se na noção de relações gramaticais (como sujeito
e objeto), e não nos termos categoriais usados normalmente nos indica-
dores sintagmáticos (como SN, SV). Aqui, as transformações são ope-
rações efetuadas em redes desordenadas de dependência das relações
gramaticais, formalizadas como árvores de dependência. Esta aborda-
gem se opõe marcadamente à maioria das versões da gramática gerati-
va, onde a ênfase se concentra nas categorias sintáticas, como SN e
SV, e na ordenação linear, sendo que as relações sintáticas só podem
ser especificadas em termos de derivação. Veja o capítulo 8 de As idei-as de Chomsky, de John Lyons (1974).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática relacional é o modelo
de descrição gramatical desenvolvido por David E. Johnson (1977),
David M. Perlmutter e Paul Martin Postal, com base na ideia de que
"relações gramaticais como 'sujeito de' e 'objeto direto de' desempe-
nham um papel central na sintaxe das línguas naturais, isto é, são as
unidades fundamentais para a descrição de muitos aspectos de estrutura
de oração em vários níveis derivacionais e figuram diretamente na for-
mulação de numerosas regras gramaticais e princípios universais que
governam a estrutura e a organização de sintaxe das línguas naturais"
(JOHNSON, 1977, p. 163). Da mesma forma que a gramática trans-
formacional, a teoria em apreço postula uma pluralidade de níveis es-truturais da oração, de modo que a caracterização de determinada ora-
ção exige a especificação da estrutura relacional da mesma em vários
níveis derivacionais. Na gramática relacional, entretanto, as noções de
sujeito, objeto direto e objeto indireto não são definíveis em termos de
'dominação' e 'precedência' na estrutura sintagmática, mas são interpre-
tadas como relações gramaticais primitivas, inicialmente associadas, de
maneira fixa, a representações subjacentes, e modificáveis por certas
regras. Justificando a orientação adotada no novo esquema, afirma Da-
vid E. Johnson (1977, p. 152, nota 4) que informações concernentes a
relações gramaticais devem estar universalmente presentes nos níveis
derivacionais, tanto subjacentes como não subjacentes. Segundo o au-tor, a gramática transformacional não fornece uma forma sistemática de
referência a relações gramaticais em qualquer nível, razão pela qual
não permite, em geral, uma formulação teoricamente adequada das re-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2864
gras pertinentes às referidas relações.
Na terminologia usada na gramática relacional, os elementos que
exercem as funções de sujeito, objeto direto e objeto indireto são cha-mados "termos"; as relações de sujeito e objeto direto são chamadas
"relações nucleares" e, paralelamente, os sujeitos e objetos diretos são
chamados "termos nucleares". Os termos obedecem a uma hierarquia,
na qual o sujeito fica em primeiro lugar, seguido do objeto direto e do
indireto. Os partidários da gramática relacional propõem diversas gene-
ralizações que, a seu ver, podem ser formuladas de maneira simples
como operações relativas a termos, como o reescalonamento de termos
e a perda da condição de termo. As noções de sujeito, objeto direto e
objeto indireto constituiriam um conjunto fixo, universal, de relações
gramaticais "puras", ao passo que noções como as de instrumento e lu-
gar, que têm conteúdo semântico independente, fariam parte de um
conjunto de relações gramaticais 'impuras' (JOHNSON, 1977, p. 153).
Gramática sensível ao contexto
Gramática sensível ao contexto é o mesmo que Gramática de estru-
tura sintagmática, formada de regras de escrever sensíveis ao contexto.
Gramática simples
O mesmo que gramática independente do contexto.
Gramática sintagmática
Gramática sintagmática é a que trata da análise em constituintes
imediatos. Mais exatamente, a gramática sintagmática corresponde à
análise de sistemas de reescrita ou análise sintagmática.
Uma frase como Meu irmão partirá amanhã pode enquadrar-se na
regra de reescrita
Por substituições regulares, chegaremos a
Σ {SN(Pr. + N) + SV (V + Adv.)}. Ao termo que simboliza a frase dá-se o nome de símbolo inicial;
símbolos terminais são os que denotam as classes lexicais e sequências
terminais aos conjuntos parentéticos. Claro que daí se poderia formar
uma regra alternante, acrescentando-se à fórmula um sintagma verbal
José Pereira da Silva
2865
(além do já composto de verbo intransitivo e advérbio) como um sin-
tagma formado de verbo transitivo somado a um sintagma nominal. Por
exemplo:
Convenhamos que o sintagma nominal (SN), a rigor, pode ser re-
presentado apenas pelo nome (N) (como em Meu irmão gosta de ma-
çãs), o que constitui a regra obrigatória, ficando a outra, cujo sintagma
nominal (SN) é igual a artigo (A) mais nome (N), ou seja, SN = A + N,
como regra facultativa (tal como ocorre em Meu irmão gosta de maçãs
pequenas). Poder-se-ia, outrossim, admitir SN = N, onde N (nome)
admitiria regras alternantes, como: Art. + N, Pron. + N e Adj. + N (Vi-
mos o rapaz, Vimos aquele rapaz, Vimus educado rapaz etc.).
Cumpre-nos advertir que a regra da reescrita poderá ser condiciona-da ou não. Se digo N → N + E + N, isto quer dizer que numa constru-
ção qualquer, seja ou não precedida ou seguida de outra construção, um
nome pode ser substituído pela sequência de dois nomes ligados pelo E
(gato → gato e cão); mas também podemos impor certas condições,
como reescrever N e N apenas quando entre X e Y, ou apenas se depois
de X, ou antes de Y, o que nos levaria a formular:
Noam Chomsky, julgando ser a gramática sintagmática insuficiente
(veja: Gramática gerativa) para explicar todos os fenômenos passíveis
de análise, estabelece, para tanto, uma componente sintagmática (ou
componente de base), constante das regras de forma X + A + Y → X +
B + Y, e uma componente transformacional, que abarca as regras su-
plementares, as chamadas regras T (T de transformacional), comple-
mentares das outras, chamadas regras ES (de estrutura sintagmática),
como as que se seguem:
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2866
A regra (7), como se vê, admite sete variações, que vão do simples
C (concordância), único elemento obrigatório, até C + M + have + en +
be + ing, passando por C + M, C + have etc. O M corresponde a verbos
auxiliares como can, will, may, must etc.
A regra T, para a voz passiva, se compõe de duas partes: análise es-
trutural (AE): SN–Aux.–V–SN e câmbio estrutural (CE): SN1–Aux. –
V–SN2→SN2–Aux.+ be + en–V–by + SN1. (Os elementos precedidos do sinal + são aqueles que se acrescem aos constantes da voz ativa).
Transformar é, pois, estabelecer a relação entre duas construções, a
de entrada (frase de base) e a de saída (frase transformada). A gramá-
tica transformacional, antes de tudo, tem por escopo descrever a estru-
tura sintagmática das construções, dividindo-as em constituintes. De-
pois, já na segunda parte de seus objetivos, ela transforma as constru-
ções obtidas anteriormente em sequências terminais na terceira parte,
morfofonológica, ela descreve as operações através das quais essas se-
quências terminais se realizam concretamente. Tudo isso, entretanto,
em linguagem muito abstrata, trabalhando com símbolos e não com pa-
lavras, donde a aparência matemática que se lhe nota. A fase concreta,
digamos assim, se processa pelas regras de reescrita, que vão tornando os símbolos mais específicos: em vez de X → Y + Z, já se trabalha com
Σ → SN + SV, isto é, frase, sintagma nominal e sintagma verbal, como
o tipo mais frequente, embora não geral. Daí a necessidade de outras
regras, a fim de atender a outros tipos de frases, surgindo então regras
de emprego facultativo, obrigatório, recursivo etc. As regras de trans-
formação objetivam transformar uma frase noutra de estrutura diferen-
te. A gramática transformacional, portanto, através de suas regras, gera
(donde gramática gerativa) todas as frases da língua.
Retomemos as regras da estrutura sintagmática (ES) para que nelas
façamos algumas substituições:
(1) SN + SV Substituindo SV por seu desenvolvimento V + SN:
(2) SN + V + SN
Os SN da regra acima são independentes. Portanto, qualquer deles
José Pereira da Silva
2867
pode estar no singular ou no plural. Para simplificar, tomaremos ambos
no singular. Daí vem:
(3) SN sing. + V + SN sing. Substituindo agora SN sing. por seu valor T + N + Ø (T é o artigo
the, N é um substantivo e Ø é o morfema zero do singular):
(4) T + N + Ø + V + T + Ø
Observe que a quarta das regras ES (regras da estrutura sintagmáti-
ca) foi sacrificada, já que apenas consideramos o SN sing. Continue-
mos e substituamos V por seu correspondente Aux. + V:
(5) T + N + Ø + Aux. + V + T + N + Ø
Finalmente, substituamos Aux. por seu valor constante na sétima
regra ES (regra da estrutura sintagmática):
(6) T + N + Ø + C + (M + have + en + be + ing) + V + T + N + Ø
Algumas observações: 1) o C é o único elemento obrigatório; é a
concordância do verbo com o substantivo que o precede. 2) Os elemen-
tos facultativos, deixei-os todos nos mesmos parênteses, querendo com
isso assinalar que os afixos podem combinar-se com os elementos pre-
cedentes, o que é mais normal, mas também com os seguintes. 3) O T
pode ser substituído por D (determinante), isto é, the, a, this etc. 4)
Com as devidas regras morfofonológicas, essa regra (6) satisfaz uma
oração do tipo The (T) man (N + Ø) will (C + M) have read (V) the (T)
book (N + Ø), tomando-se apenas dois dos elementos facultativos (M e
have). Se consideramos o sintagma nominal representado por um nome
próprio (John), podemos formular exemplos como o seguinte dado por
Jean Berko Gleason: John is writing a letter, de fórmula gera N próp. + C + be + ing + V + T + N + Ø. O elemento C, no caso, implica um
morfema Z3 (que corresponde à grafia S) do verbo inglês na terceira
pessoa singular. Façamos a correspondência:
Como se sabe, pelas regras morfofonológicas, o be tomou o morfe-
ma Z2 e write o morfema ing. Passamos duas regras transformacionais:
N próp. + Z3 + be + ing + V + T + N + Ø →
Z3 + be + N próp. + T + N + Ø.
John is writing a letter → is John writing a letter?
T + N1 + Ø + C + M + have + V + T + N2 + Ø →
T + N2 + Ø + C + M + have + be + en + V + by + T +N1 + Ø
The man will have tera the book →
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2868
The book will have been read by man (JOTA, 1981, s.v.).
Gramática sintagmática, segundo Robert Lawrence Trask (2015,
s.v.), é um tipo de gramática gerativa, que representa diretamente a es-trutura de constituintes. Normalmente, consideramos a estrutura de
qualquer sentença como um caso de estrutura de constituintes, em que
as unidades menores se combinam para formar unidades maiores, que
são, por sua vez, combinadas, formando unidades ainda maiores, e as-
sim sucessivamente. Esse tipo de estrutura pode ser facilmente tratado
por uma gramática de constituintes ou gramática de estrutura frasal. O
nome completo é gramática sintagmática livre de contexto (PSG).
A ideia de uma gramática sintagmática livre de contexto é simples.
Em primeiro lugar, verificamos que categorias sintáticas aparentemente
existem em uma língua dada, e que estruturas internas diferentes cada
uma delas pode ter. Então, para cada estrutura, escrevemos uma regra que representa essa estrutura. Assim, por exemplo, uma sentença do
português é tipicamente constituída por um sintagma nominal seguido
por um sintagma verbal (como em Minha irmã comprou um carro), de
modo que escrevemos uma regra de estrutura sintagmática como a se-
guinte: S → SN SV. Essa regra diz que uma sentença pode consistir
num sintagma nominal seguido por um sintagma verbal. Além disso,
um sintagma nominal pode consistir num determinante (como o artigo
definido o ou o possessivo meu) seguido por um N-barra (como menina
bonita ou caixa de chocolates, de modo que escrevemos outra regra:
SN → Det N’). O processo continua até que tenhamos uma regra para
cada estrutura na língua.
Ora, o conjunto das regras pode ser usado para gerar sentenças. Com base na sentença (S), aplicamos alguma regra apropriada que nos
dirá de que unidades é composta a sentença e, em seguida, a cada uma
dessas unidades aplicamos uma outra regra que nos dirá, para cada uma
delas, quais são as unidades que a compõem, e assim sucessivamente,
até atingirmos o nível das palavras individuais; chegados a esse ponto,
simplesmente inseriremos as palavras pertencentes às partes do discur-
so apropriadas. O resultado costuma ser mostrado graficamente por
meio de uma árvore.
As gramáticas de estrutura sintagmática são o tipo de gramática
mais apropriado para ensinar sintaxe elementar, e além disso, são sufi-
cientemente poderosas para descrever com sucesso praticamente qual-quer construção que ocorra em qualquer língua. Mas existem algumas
construções raras e pouco usuais de que elas não dão conta.
As gramáticas de estrutura sintagmática foram introduzidas pelo
José Pereira da Silva
2869
linguista americano Noam Chomsky na década de 1950, mas Noam
Chomsky não tinha muito interesse nelas e por isso não foram de fato
exploradas seriamente, até que o linguista britânico Gerald James Mi-chael Gazdar desenvolvesse uma versão sofisticada destas por volta de
1980. Essa versão foi batizada como gramática de estrutura sintagmá-
tica generalizada (GPSG). Mais recentemente, os americanos Carl Jes-
se Pollard e Ivan Andrew Sag (1949-2013) construíram uma versão de
feições muito diferentes, chamada Head Driven Phrase Structure
Grammar (HPSG – gramática da estrutura da frase dirigida).
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere os
capítulos 6 de Chomsky, John Lyons; A Course in Generalized Phrase
Structure Grammar, de Paul Bennett; Modern Phrase Structure
Grammar, de Robert D. Borsley; e parte um de Syntax: A Linguistic In-
troduction to Sentence Structure, de Keith Brown e Jim Miller (1991).
Veja: Estrutura de constituintes, Gramática gerativa e Árvore.
Gramática taxonômica
Termo usado por Noam Chomsky (por exemplo, em 1964d, p. 14)
no mesmo sentido de modelo taxonômico.
Gramática teórica
Uma gramática teórica ultrapassa os limites dos estudos das línguas
individualmente, e usa os dados linguísticos como um meio de desen-
volver entendimentos teóricos sobre a natureza da pesquisa linguística
em si, e sobre as categorias e progressos necessários para uma análise
linguística bem-sucedida. Esses entendimentos incluem a distinção en-
tre "estrutura profunda" e "estrutura superficial", a noção de "categori-as gramaticais" e a "significação gramatical". Quando a gramática se
concentra no estudo das formas linguísticas (sua estrutura, distribuição
etc.) é denominada gramática formal (em oposição a "gramática nocio-
nal"), apesar de também a gramática formal se referir ao uso das técni-
cas formalizadas da lógica e da matemática na análise da língua.
Gramática tradicional
A expressão gramática tradicional tenta resumir a variedade de ati-
tudes e métodos encontrados na fase pré-linguística do estudo gramati-
cal. Segundo David Crystal (1988, s.v.), o termo tradicional aparece,
neste caso, com referência a muitos períodos, como o dos gramáticos
greco-romanos, dos gramáticos renascentistas e, em especial, dos gra-máticos pertencentes às escolas europeias e americanas dos séculos
XVIII e XIX. Geralmente, o termo é usado com uma implicação crítica
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2870
("não científica"), ainda que muitos antecedentes da linguística moder-
na tenham sido tirados das primeiras gramáticas. As críticas se dirigem,
principalmente, às recomendações prescritivas e proscritivas dos auto-res, em oposição à ênfase descritiva dos estudos linguísticos.
Em sentido mais restrito (o sentido tradicional da linguística e a in-
terpretação popular do termo), gramática se refere ao nível de organi-
zação estrutural que pode ser estudado independentemente da fonologia
e da semântica, e em geral se divide em sintaxe e morfologia. Sendo
assim, gramática é o estudo da maneira como as palavras e suas partes
componentes se combinam para formar sentenças. Não deve ser con-
fundido com a concepção geral do tópico, onde a gramática é conside-
rada todo o sistema de relações estruturais de uma língua, como nos tí-
tulos gramática de estratificação, gramática sistêmica e (especialmen-
te) gramática gerativa. Nestes casos, gramática abrange a fonologia e a semântica, juntamente com a sintaxe, tradicionalmente vistos como ní-
veis linguísticos separados. Neste sentido, uma "gramática" é um dis-
positivo para gerar um número finito de sentenças de uma língua.
Quando uma gramática define o total de regras possuídas por um falan-
te, trata-se da gramática da sua competência (gramática de competên-
cia). Quando uma gramática é capaz de abranger apenas as sentenças
que um falante realmente usa (um exemplo de seu corpus), trata-se de
uma gramática de desempenho. Os estudos das gramáticas de desem-
penho na psicolinguística, porém, tentam ainda definir os vários está-
gios psicológicos, neurológicos e fisiológicos que entram na produção e
percepção da fala. As pesquisas que não se concentram apenas no estu-
do de línguas separadas, mas tentam estabelecer as características uni-versais da linguagem humana em geral, têm como meta uma gramática
universal.
Gramática tradicional, segundo Robert Lawrence Trask (2015,
s.v.), é todo corpo de doutrina gramatical elaborado na Europa e na
América, antes do aparecimento da linguística moderna no século XX.
A tradição gramatical europeia começou com os gregos e foi continua-
da pelos romanos, uns e outros principalmente interessados em descre-
verem suas próprias línguas. Os procedimentos descritivos e a termino-
logia que eles descreveram acabaram sendo aplicados a línguas moder-
nas como o francês, o inglês e o português, e as descrições de base lati-
na dessas línguas foram ensinadas nas escolas pelo menos até a década de 1960. Nessa época, nos países de língua inglesa, muitas escolas pa-
raram de ensinar qualquer tipo de gramática.
A doutrina elaborada pelos gramáticos tradicionais ainda constitui o
José Pereira da Silva
2871
fundamento da elaboração moderna de gramáticas, mas os linguistas in-
troduziram nessa doutrina várias mudanças e extensões. Os linguistas
rejeitam a insistência com que os gramáticos se prendem ao prescriti-vismo como base para a descrição; reconhecem um número bem maior
de partes do discurso; atribuem às sentenças uma estrutura de consti-
tuintes, tratando de um grande número de fenômenos gramaticais que
os gramáticos tradicionais tinham deixado passar; procuram construir
gramáticas gerativas; e negam que a gramática do latim tenha um inte-
resse especial, considerando o latim apenas como um sistema gramati-
cal possível entre outros.
Parte dos trabalhos gramaticais contemporâneos, por exemplo con-
temporâneos, por exemplo a série de gramáticas inglesas escritas por
Charles Randolph Quirk (1920-2017) e seus colaboradores, ainda é no-
toriamente tradicional em sua orientação, mas ainda assim é fortemente influenciada pelos avanços dos estudos gramaticais feitos no século
XX. O mesmo se pode dizer de algumas gramáticas portuguesas recen-
tes, como de Maria Helena de Moura Neves e a de Mário Augusto do
Quinteiro Vilela e Ingedore Grunfeld Villaça Koch. Um marco na his-
tória das gramáticas portuguesas recentes é o livro de Maria Helena
Mira Mateus que, publicado na década de 1980, representou um salto
notável no sentido da assimilação das ideias linguísticas.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere os
capítulos 2 de Grammar, de Frank Robert Palmer; History of Linguis-
tics, vol. II. Classical and Medievel Linguistics, de Giulio Ciro Lep-
schy; as páginas 447 a 482 de The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten
Malmkjaer; e A Short History of Linguistics, Robert Henry Robins. Veja os verbetes: Descritivismo, Gramática, Linguística e Prescri-
tivismo.
Gramática transformacional
Uma gramática que opera usando a noção de transformações, in-
troduzido por Noam Chomsky em 1957, através do livro Estruturas
Sintáticas (Syntactic Structures), para ilustrar um dispositivo gerativo
mais poderoso do que as gramáticas de estados finitos ou as gramáti-
cas de estrutura frasal. Nesta abordagem, muitíssimos tipos de senten-
ças podem ser derivados de forma bastante econômica se regras para
transformar uma sentença em outra forem acrescentadas ias regras de
análises de constituintes típicas das gramáticas de estrutura frasal. A regra de passivização, por exemplo, é um procedimento considerado
mais simples e intuitivo do que gerar sentenças ativas e passivas sepa-
radamente na mesma gramática. Os argumentos foram convincentes,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2872
por conseguinte, as gramáticas transformacionais se tornaram o tipo
mais influente na evolução da teoria gramatical gerativa. Na realidade,
todo este campo de teoria passou a ser chamado de "gramática gerati-va", ou "gramática gerativo-transformacional".
Diversos modelos de gramática transformacional já apareceram
desde aquela época. O modelo padrão, apresentado por Noam Cho-
msky em Aspectos da Teoria da Sintaxe (Aspects of the Theory of Syn-
tax), em 1965, consiste de três componentes: 1º) um componente sintá-
tico, compreendendo um conjunto básico de regras de estrutura frasal
(às vezes chamado de componente de base), que, juntamente com as in-
formações lexicais, fornece a estrutura profunda das sentenças, e um
conjunto de regras transformacionais para gerar as estruturas superfici-
ais; 2º) um componente fonológico, que converte as cadeias de elemen-
tos sintáticos em enunciados pronunciáveis; e 3º) um componente se-mântico, que fornece uma representação do significado dos itens lexi-
cais a serem usados na sentença. As maneiras como esses componentes
se inter-relacionam (em especial as relações entre a semântica e a sin-
taxe) mostraram-se fonte de contínua polêmica, desde o surgimento de
Aspectos da Teoria da Sintaxe, e foram desenvolvidos modelos alterna-
tivos de análises (principalmente a distinção entre a semântica gerativa
e a interpretativa). Veja o capítulo 6 de Introdução à linguística teóri-
ca, de John Lyons (1979).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramática transformacional é
termo usado, em sentido restrito, para designar um modelo de descrição
gramatical, proposto pelo linguista norte-americano Avram Noam
Chomsky, que postula a existência de dois níveis estruturais básicos (uma estrutura subjacente ou profunda, de um lado, e uma estrutura
superficial ou uma estrutura rasa, do outro) relacionados entre si por
operações chamadas transformações gramaticais. A sequência de ope-
rações necessárias para a conversão de um dos referidos níveis no outro
constitui uma derivação transformacional, havendo um sistema de re-
gras que especificam como as diferentes fases de uma derivação estão
relacionadas umas com as outras. As formas assumidas pela oração nas
diversas fases de uma derivação são representadas por meio de diagra-
mas em árvore. A descrição linguística é feita com base em um sistema
de níveis de representação, sendo irrelevante, no relacionamento entre
os diferentes níveis, a noção de direcionalidade. Outros aspectos fun-damentais de uma gramática transformacional são as noções de descri-
ção estrutural e capacidade gerativa, bem como uma nova concepção
de regras linguísticas (veja: Regra gramatical, Condição e Esquema
José Pereira da Silva
2873
normativo).
Em sentido amplo, o termo gramática transformacional é emprega-
do como denominação abreviada de gramática gerativa-transformacio-nal, sendo também usado como sinônimo de linguística transformacio-
nal.
Para melhor caracterizar as diferenças entre a gramática transfor-
macional e outros possíveis modelos de descrição das línguas naturais,
procurou Noam Chomsky formalizar os aspectos essenciais destes úl-
timos em termos das noções de gramática de estado finito e gramática
de estrutura sintagmática. A teoria da estrutura sintagmática, assim
formalizada, expressaria ideias básicas de teorias tradicionais e estrutu-
ralistas a respeito de categorias e constituintes, especialmente a noção
de constituintes imediatos. Uma gramática de estrutura sintagmática,
embora superior a uma gramática de estado finito, seria inadequada como modelo de estrutura linguística, tornando-se necessário, para su-
prir-lhe as deficiências, elaborar um modelo mais poderoso, resultante
da combinação de regras de estrutura sintagmática com regras trans-
formacionais. Em particular, sustentou Noam Chomsky (1964d, p. 65;
1966a, p. 17) que as funções e relações gramaticais semanticamente
significativas só seriam expressas, de maneira natural, em marcadores
sintagmáticos elementares subjacentes, nos moldes propostos na teoria
transformacional. O novo modelo forneceria, também, as bases para
uma explicação mais adequada do sentido das expressões linguísticas e
explicaria algumas das propriedades formais das línguas naturais.
Sustentou Noam Chomsky, desde o início, a superioridade da gra-
mática transformacional em relação à gramática tradicional e à estrutu-ral, tendo defendido esse ponto de vista em numerosas oportunidades
(1964d, p. 27; 1965, p. 8; 1966a, p. 11; 1968, p. 19; 1970a, p. 56-57;
1972a, p. 127; 1975c, p. 8-9 e 1979a, p. 108-109). A seu ver, uma gra-
mática deveria apresentar uma caracterização explícita de uma língua e
sua estrutura, propósito que não teria sido alcançado pelos modelos de
descrição das línguas naturais adotados anteriormente ao advento do
transformacionalismo. Segundo Noam Chomsky, a gramática tradicio-
nal e a gramática estrutural se limitariam a descrever os elementos e ca-
tegorias de várias espécies e a apresentar exemplos de construções
gramaticais e sugestões a respeito dos fatos de determinada língua. As
abordagens tradicionais apresentariam um tratamento mais abrangente das construções gramaticais, ao passo que as descrições estruturalistas
dariam maior atenção a problemas de classificação e organização. Em
ambos os casos, entretanto, o gramático confiaria essencialmente na in-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2874
teligência e na intuição linguística do leitor, esperando que este apli-
casse certos princípios de estrutura linguística implícitos na abordagem
adotada. O aspecto criativo do uso da linguagem, embora tivesse mere-cido a atenção de autores como Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander
von Humboldt (1769-1859), e Jens Otto Harry Jespersen (1860-1943),
não teria sido convenientemente enfocado, por falta de recursos técni-
cos (que só recentemente a matemática passou a fornecer) para expres-
sar um sistema de processos recursivos (veja: Propriedade recursiva).
Sustentou, ainda, Noam Chomsky que, na medida em que fossem cor-
retas e explícitas, as descrições tradicionais e estruturalistas poderiam
ser imediatamente incorporadas às gramáticas gerativas. Por outro lado,
contrastando a gramática filosófica com o estruturalismo pós-bloom-
fieldiano, elogiou Noam Chomsky a contribuição desta última escola
no sentido da adoção de novos padrões de precisão e objetividade nos estudos linguísticos, de par com o enfoque da linguagem como um sis-
tema formal. Ressaltou o autor, entretanto, que tal contribuição teria si-
do essencialmente de cunho metodológico, ao passo que as preocupa-
ções dos seguidores da gramática filosófica diziam respeito a questões
substantivas da linguagem. Com base nessas considerações, sustenta
Noam Chomsky que não seria o caso de se rejeitar uma orientação em
favor da outra, mas de tentar uma síntese das duas.
O esquema proposto por Noam Chomsky para o estudo das línguas
naturais vem sofrendo profundas reformulações através dos anos, po-
dendo-se distinguir, na versão chomskyana da teoria transformacional,
sucessivos modelos de contornos bem definidos. Por outro lado, nova
concepção de gramática transformacional veio a ser adotada pelos par-tidários da corrente da semântica gerativa.
Gramática transformacional, segundo Robert Lawrence Trask
(2015, s.v.), é um tipo particular de gramática gerativa. Na década de
1950, Noam Chomsky introduziu na linguística a noção de gramática
gerativa, que se tornou muito influente. Ora, é possível conceber mui-
tíssimos tipos diferentes de gramática gerativa, e o próprio Noam
Chomsky definiu e discutiu alguns bastante diferentes em seus primei-
ros trabalhos. Mas, desde o início, ele próprio preferiu um tipo particu-
lar, ao qual deu o nome de gramática transformacional (GT); a gramá-
tica transformacional foi chamada às vezes gramática gerativa trans-
formacional (CGT). A maioria dos tipos de gramática gerativa que já foram motivo de
interesse pode ser explicada como segue: começando do nada, as regras
da gramática constroem a estrutura de uma sentença peça por peça,
José Pereira da Silva
2875
acrescentando algo a cada passo, até que a estrutura esteja completa.
Uma característica crucial dessas gramáticas gerativas é que qualquer
elemento que tenha sido acrescentado à estrutura da sentença precisa permanecer: não pode ser mudado, cancelado ou movido para um lugar
diferente.
Entre essas gramáticas e uma gramática transformacional ha uma
diferença enorme. Numa gramática transformacional há, é verdade,
uma primeira etapa em que a estrutura da sentença é construída da ma-
neira que acabamos de descrever, mediante regras não sensíveis ao
contexto, que são as regras amplamente usadas em qualquer tipo de
gramática gerativa; a estrutura assim obtida é chamada estrutura pro-
funda. Mas, depois disso, outras regras são aplicadas. Essas regras são
chamadas transformações, e têm uma natureza diferente. As transfor-
mações têm a capacidade de alterar a estrutura existente de vários mo-dos: não só acrescentam novos elementos à estrutura (embora isso só
fosse possível nas versões antigas da teoria), mas também podem modi-
ficar de várias maneiras os elementos presentes, podem movê-los para
um lugar diferente e podem mesmo retirá-los da estrutura, eliminando-
os por completo. Quando todas as transformações relevantes acabaram
de se aplicar, a estrutura resultante é a estrutura de superfície da sen-
tença. Devido ao enorme poder das transformações, a estrutura de su-
perfície pode ter uma aparência extremamente diferente da estrutura
profunda.
Portanto, a gramática transformacional é uma teoria da gramática
que afirma que uma sentença tem tipicamente mais do que um nível es-
trutural. À parte a estrutura que ela evidencia na superfície, também apresenta uma estrutura abstrata subjacente (a estrutura profunda), que
pode ser substancialmente diferente. O que interessa em tudo isso, se-
gundo Noam Chomsky, é que certas generalizações importantes sobre
as estruturas das sentenças numa língua podem ser formuladas de ma-
neira mais fácil em termos de estruturas profundas abstratas do que de
qualquer outra maneira; além disso, muitas vezes, o significado de uma
sentença pode ser determinado de modo bem mais direto com base em
sua estrutura profunda.
Em seu desenvolvimento, a gramática transformacional passou por
uma série de versões, cada uma das quais sucedeu à anterior. Em seu
livro Estruturas Sintáticas (1957), Noam Chomsky propôs apenas um esboço parcial de uma gramática transformacional muito simples. Essa
gramática resultou ser inadequada, e em seu livro Aspectos da Teoria
da Sintaxe (1964), Noam Chomsky propôs uma versão bem diferente e
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2876
bem mais completa. Essa versão é conhecida sob duas denominações
diferentes: o modelo de aspectos ou a teoria padrão. Todos os manuais
de gramática gerativa publicados antes de 1980, e alguns dos que for-ram publicados mais recentemente, apresentam essencialmente a teoria
padrão, às vezes com alguns acréscimos, que são o resultado de pesqui-
sas posteriores.
Por volta de 1968, a teoria padrão sofreu o ataque de um grupo de
jovens linguistas que pretendiam identificar a estrutura profunda (até
então um nível de representação estritamente sintática) com a estrutura
semântica da sentença (seu significado). Esse programa, chamado se-
mântica gerativa, levou a postular para as sentenças estruturas profun-
das cada vez mais abstratas; revelou-se impraticável e finalmente fra-
cassou. Mais ou menos na mesma época, dois linguistas matemáticos
demonstraram que a gramática transformacional padrão tinha um poder tão imenso que seria capaz, em princípio, de descrever qualquer coisa –
um resultado potencialmente catastrófico, porque a questão toda de
uma teoria gramatical é dizer o que é possível nas línguas e o que não
é. Mas esses resultados de Peters-Ritchie (Stanley Peters e Robert Oli-
ver Ritchie) sugeriam que a gramática transformacional não estabelecia
restrição nenhuma sobre o que é uma gramática possível para uma lín-
gua humana.
Noam Chomsky respondeu a tudo isso no início da década de 1970,
introduzindo um certo número de mudanças em seu modelo; o resulta-
do ficou conhecido como teoria padrão estendida. No fim dos anos
1970, mais mudanças haviam levado a uma versão radicalmente dife-
rente, chamada teoria padrão estendida revista (REST). Entre as prin-cipais inovações da teoria padrão estendida revista estavam: 1) a in-
trodução de vestígios, ou seja, apontadores invisíveis destinados a mar-
car as posições primitivas de elementos que tinham sido movidos; 2) a
redução do número de transformações de doze para apenas duas; e 3) o
fato de que o foco de atenção tinha se deslocado das transformações
propriamente ditas para as restrições a que a elas estão sujeitas.
Mas Noam Chomsky continuou a desenvolver suas ideias e, em
1981, publicou Lectures on Government and Binding. Esse livro des-
cartava boa parte do aparato das teorias transformacionais anteriores,
trocando-o por uma abordagem radicalmente diferente e bem mais
complexa chamada Government and Bindig Theory (Teoria da Regên-cia e Ligação ou Teoria da Regência e Vinculação). A Teoria da Re-
gência e Ligação mantém uma única transformação e, a despeito de
haver uma continuidade óbvia entre esse novo modelo e seus precurso-
José Pereira da Silva
2877
res, o nome de gramática gerativa não costuma ser aplicado à Teoria
da Regência e Ligação ou mesmo a seu sucessor mais recente, o Pro-
grama Minimalista. Portanto, para fins de pesquisa linguística, a gra-mática transformacional pode atualmente ser considerada como morta,
embora sua influência tenha sido enorme, e o destaque de que gozam
seus sucessores, bastante expressivo.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere os
capítulos 7 e 8 de Chomsky, de John Lyons; Guide to Transformational
Grammar; de John T. Grinder e Suzette Haden Elgin; e páginas 482 e
497 de The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten Malmkjaer.
Veja: Derivação, Gramática gerativa e Teoria da regência e liga-
ção.
Gramática universal
Módulo inato da mente humana relacionado com a capacidade da linguagem e com o conhecimento linguísticos, segundo Thaïs Cristófa-
ro Silva (2011, s.v.). É um termo associado diretamente aos trabalhos
de Noam Chomsky e com o modelo gerativo. Em trabalhos mais recen-
tes, Noam Chomsky sugere o termo faculdade da linguagem para se re-
ferir ao módulo inato da espécie humana e gramática universal para se
referir à teoria que estuda tal módulo.
O projeto de gramática universal, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), remonta aos cartesianos: os termos gramática geral, gra-
mática filosófica e gramática universal, com esse emprego, são sinô-
nimos. A gramática universal formula "observações que convêm a to-
das as línguas" (César Chesneau du Marsais, 1769). A gramática uni-
versal tem, então, como objeto de estudo mecanismos necessários e comuns a todas as línguas, isto é, os universais linguísticos. Todavia, o
projeto dos cartesianos fica limitado por sua concepção da relação entre
língua e pensamento. O ineísmo cartesiano conduz à crença numa "or-
dem natural dos pensamentos". As regras universais do discurso, então,
já não pertenceriam à linguística, mas à lógica. O preconceito cultural
em favor do francês vem favorecer essa tendência: a ordem natural dos
pensamentos é, de um modo geral, a da frase francesa. Daí resulta que,
como a gramática universal foi concretizada na língua francesa, a gra-
mática das outras línguas poderia edificar-se a partir dos desvios verifi-
cados com relação a esse modelo.
No século XX se observou que as gramáticas descritivas não pro-põem o problema da universalidade. Foi com a gramática gerativa que
o problema se formulou novamente. As gramáticas gerativas das lín-
guas naturais devem decorrer de uma teoria linguística, que estabelece
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2878
como objeto a elaboração de um tratamento dos universais linguísticos.
Ora, tais universais linguísticos são de duas naturezas, e só a primeira
categoria foi suficientemente estudada até aqui. Qualquer língua con-tém universais de substância: a gramática universal afirma, por exem-
plo, que categorias sintáticas, como o verbo, o substantivo etc. forne-
cem a estrutura subjacente geral de todas as línguas. Mas qualquer lín-
gua contém também universais formais: os objetos manufaturados, por
exemplo, são definidos a partir da atividade humana e não de suas qua-
lidades físicas. A existência dessa segunda categoria de universais deve
ser levada em conta pela teoria linguística geral, "gramática universal"
que vem a coroar as gramáticas gerativas das línguas. O que está implí-
cito em tais constatações é que todas as línguas são construídas a partir
do mesmo modelo, embora a correspondência assim estabelecida não
postule o isomorfismo das línguas, que jamais coincidem ponto a pon-to.
Há uma acepção mais limitada de gramática universal, distinta en-
tão de gramática geral. A gramática universal é constituída pelo con-
junto de regras linguísticas verificadas nas línguas do mundo (falar-se-
á, assim, de universais ou de quase-universais da língua). Reserva-se o
nome de gramática geral ao procedimento inverso, que consiste em de-
finir um conjunto de regras, consideradas como universais da lingua-
gem, de que se deduzem as regras particulares de cada língua.
Carly Silva (1988, s.v.), tratando da gramática universal, ensina
que, de par com o estudo da gramática de cada língua natural, a linguís-
tica transformacional se interessa particularmente pelo que todas as lín-
guas têm em comum ou que toda língua tem necessariamente, consti-tuindo uma gramática universal. Sustenta Noam Chomsky (1968, p.
24) que o linguista está sempre envolvido, ao mesmo tempo, com a
gramática de determinada língua e com a gramática universal, pois, ao
construir aquela, é guiado, conscientemente ou não, por princípios de
ordem geral no tocante à forma e à organização do sistema gramatical
e, por outro lado, não pode formular princípios da gramática universal
sem justificá-los mediante aplicação à gramática de determinada lín-
gua. Noam Chomsky, entretanto, dá atenção prioritária à gramática
universal, entendendo que o interesse primordial do estudo da gramáti-
ca de determinada língua é fornecer subsídios para a investigação da
natureza da linguagem (1967a, p. 6). O interesse pelas propriedades universais das línguas naturais (pelos universais linguísticos) assume
tal importância no esquema chomskyano, que o autor chega a identifi-
car a gramática com a teoria linguística (1976, p. 303; 1979a, p. 183).
José Pereira da Silva
2879
Além disso, a gramática universal constitui uma teoria da faculdade da
linguagem, um conjunto de hipóteses empíricas no tocante à referida
faculdade (CHOMSKY, 1972b, p. 2; 1979a, p. 180). Assim, o estudo da gramática universal é, em última análise, "um estudo da natureza das
capacidades intelectuais humanas" (CHOMSKY, 1968, p. 24), pelo
menos na medida em que sugere o caminho a seguir na investigação de
um sistema de princípios relativos ao conhecimento em geral, para a
descoberta de uma espécie de "gramática universal" das teorias inteli-
gíveis (CHOMSKY, 1979a, p. 65).
Segundo Noam Chomsky (1968, p. 57, nota 30), a concepção trans-
formacionalista da teoria linguística representa, em certo sentido, uma
retomada da orientação racionalista adotada na gramática filosófica dos
séculos XVII e XVIII, com a diferença de que o foco de atenção já não
é um esquema de regras que qualquer língua natural deve conter, mas, isto sim, o estudo das condições que devem ser satisfeitas por qualquer
gramática. Manifestando-se no mesmo sentido, diz Jerrold Jacobi Katz
(1972, p. 30) que a teoria transformacional tem em vista especificar a
classe das gramáticas potenciais das línguas naturais, de modo que suas
proposições a respeito dos universais linguísticos assumem a forma de
condições em relação às gramáticas.
Enquanto a gramática universal é uma teoria das propriedades es-
senciais da linguagem humana, a gramática de determinada língua é um
compêndio de propriedades específicas e acidentais da língua em ques-
tão (CHOMSKY & HALLE, 1968, p. 43). Para determinar se certa
propriedade é parte da gramática universal, considera Noam Chomsky
(1976, p. 303-304; 1977b, p. 65) o possível papel da vivência individu-al na aquisição de uma gramática em que a referida propriedade se ma-
nifesta. Se a propriedade em questão é suficientemente abstrata e não
há indícios de que os falantes tenham sido levados a observá-la medi-
ante treinamento ou ensino ou tenham construído gramáticas condizen-
tes com ela por um processo de indução apoiado na vivência individual,
julga o autor razoável postular que a mesma constitui um universal lin-
guístico. Por outras palavras, "se um princípio geral é confirmado em-
piricamente para determinada língua e se, além disso, existe razão para
se acreditar que ele não é aprendido (e certamente não ensinado), então
é o caso de se postular que o referido princípio pertence à gramática
universal, como parte do sistema de 'conhecimento preexistente' que torna possível a aprendizagem" (CHOMSKY, 1975a, p. 118).
Com base em argumentação nesses moldes, postula Noam Cho-
msky o caráter universal do princípio da subordinação das regras à es-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2880
trutura. À luz da mesma orientação, sustentam Noam Chomsky e Mor-
ris Halle (1968, p. 43) ser plausível considerar que o princípio do ciclo
transformacional e os outros princípios de organização da gramática formulados na teoria transformacional pertençam antes à gramática
universal que `gramática de uma língua como o inglês, em relação à
qual foram mais detidamente estudados. Nesse sentido, argumentam os
autores que seria difícil imaginar como tais princípios poderiam ser
"aprendidos" ou "inventados" de alguma forma, individualmente, pelos
falantes de uma língua, com base nos dados linguísticos primários.
Além disso, acrescente Noam Chomsky (1975a, p. 118), se os falantes
de todas as línguas naturais são dotados de uma mesma faculdade da
linguagem, são perfeitamente justificáveis as generalizações baseadas
no estudo de determinada língua.
A concepção da gramática universal como um sistema de condições em relação às gramáticas, adotada na abordagem inicial, persistiu em
todos os tratamentos posteriores do assunto na teoria transformacional,
mas diferentes rumos foram seguidos, em diferentes fases da teoria, no
estudo das propriedades gerais das línguas naturais. Assim é que, du-
rante algum tempo, à luz da concepção de uma língua como associação
de forma fonética e significado, Noam Chomsky (197a, p. 120) procu-
rou caracterizar uma gramática universal em termos de uma fonética
universal e uma semântica universal, que delimitariam, respectivamen-
te, o conjunto de sinais possíveis e o conjunto de representações se-
mânticas possíveis de qualquer língua natural. Não obstante não haver
uma noção satisfatória de representação semântica, considerou o autor,
na época, ser perfeitamente viável o estudo do sistema de regras que re-lacionam interpretações semânticas e fonéticas nas línguas naturais,
constituindo uma sintaxe universal (1972, p. 124-125).
Posteriormente, Noam Chomsky abandonou a ideia da semântica
universal, ao mesmo tempo em que assumia especial importância no
esquema chomskyano a noção de que as propriedades essenciais da lin-
guagem são determinadas por fatores genéticos, passando o autor a en-
fatizar a concepção da gramática universal como teoria do equipamento
biológico subjacente à aquisição e ao uso da linguagem. Nessa ordem
de ideias, a gramática universal foi definida como "o conjunto de pro-
priedades comuns a todas as línguas naturais por necessidade biológi-
ca" (CHOMSKY, 1970c, p. 105), como "o sistema de princípios, con-dições e regras que são elementos ou propriedades de todas as línguas
humanas... por necessidade biológica e não lógica" (1975a, p. 29). No
mesmo sentido, manifestou-se o autor, em duas oportunidades, em
José Pereira da Silva
2881
Questões de Forma e Interpretação (1975b). Na primeira (p. 17), ao fa-
lar em "gramáticas possíveis", esclareceu Noam Chomsky estar consi-
derando possibilidades biológicas e não lógicas. Na segunda, ao exa-minar o problema da justificação dos tipos de regras, condições, meca-
nismos sintáticos e formas de expressão existentes nas línguas naturais,
admitiu o autor a importância da investigação de explicações de base
semântica ou funcional, mas insistiu em que os resultados de tais pes-
quisas seriam interessantes na medida em que se assentassem em pos-
sibilidades biológicas e não decorressem simplesmente de considera-
ções de possibilidades lógicas.
Em outras definições, propostas ao longo dos anos, Noam Chomsky
menciona outros aspectos da descrição das línguas naturais, revelando a
amplitude do conceito de gramática universal, entendida como teoria
linguística, em sua versão da teoria transformacional. Assim é que, nos Estudos Semânticos na Gramática Gerativa (1972b, p. 11), diz o autor
que a gramática universal "prescreve um esquema que define implici-
tamente a classe infinita das 'gramáticas alcançáveis', formula princí-
pios que determinam como cada sistema desse tipo relaciona som e
significado, e fornece um procedimento de avaliação para gramáticas
de forma apropriada".
Por outro lado, em trabalhos posteriores de Noam Chomsky, encon-
tramos as seguintes definições de gramática universal:
"sistema de princípios que determina: 1) o que é uma gramática e 2)
como as gramáticas funcionam para especificar descrições estruturais
de orações" (1976, p. 303);
"sistema de princípios que especifica a natureza das representações lin-guísticas e das regras que lhes são aplicáveis e define a forma de apli-
cação das regras em questão" (1977a, p. 71);
"sistema de princípios que caracteriza a classe de gramáticas possíveis,
especificando como a gramática de determinada língua é organizada
(quais são os componentes e as relações entre eles), como as diferentes
regras desses componentes são construídas, como interagem elas etc."
(1979a, p. 180).
Gramática universal, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.),
são as propriedades gramaticais compartilhadas por todas as línguas
humanas. Ao lançar sua hipótese de inatismo, na década de 1960, o lin-
guista americano Noam Chomsky defendeu que, ao nascermos, porções consideráveis da estrutura das línguas humanas já estão presentes em
nosso cérebro. A partir aproximadamente de 1980, Noam Chomsky
vem elaborando essa posição, sustentando que certos princípios para a
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2882
construção de sentenças podem ser encontrados em todas as línguas
devem ser parte de nosso patrimônio biológico, presente em nós desde
que nascemos. Ele reúne esses princípios sob o nome de gramática universal.
Noam Chomsky procura formular esses princípios no contexto de
sua própria teoria, mesmo que essa teoria tenha mudado de maneira
impressionante ao longo dos anos. Os princípios são, naturalmente,
bastante abstratos, pois se referem a aspectos como a distância que po-
de separar dois elementos linguísticos numa sentença, quando há entre
eles algum tipo de ligação.
Noam Chomsky e seus seguidores estão convencidos de que exis-
tem mesmo princípios desse tipo, e boa parte de seu trabalho tem sido
dedicada a descobri-los. Mas isso resultou ser uma tarefa difícil porque
os princípios propostos são reformulados interminavelmente para dar conta dos dados rebeldes e, para lidar com evidentes contraexemplos,
recorre-se a truques teóricos que permitem que os princípios sejam vio-
lados em certas circunstâncias. Os críticos olham frequentemente com
desconfiança para essas manobras aparentemente ad hoc, e alguns che-
gam a duvidar que os princípios da gramática universal realmente exis-
tam, na suposição de que sejam, talvez, mera questão de fé.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o conceito de gramática uni-
versal postula que todas as línguas humanas, apesar de suas diferenças
visíveis, compartilham características e propriedades comuns, o que as
torna muito mais semelhantes entre si num nível mais profundo do que
aparentam na superfície. As origens e os elementos constitutivos dessa
suposta gramática universal têm suscitado especulações filosóficas na cultura dita ocidental desde a mais remota antiguidade. De fato, essa
discussão já se encontra nos primórdios da filosofia grega, mais especi-
ficamente com Platão, que pode ser considerado a fonte de todo o deba-
te posterior. Em sua versão mais atualizada, o conceito de gramática
universal (GU) é associado principalmente ao gerativismo, inaugurado
por Avram Noam Chomsky no final da década de 1950 e até hoje mui-
to influente nos estudos linguísticos. A gramática universal, para
Avram Noam Chomsky, é um dado biológico, faz parte da constituição
genética da espécie humana e, portanto, é inata aos seres humanos – a
faculdade da linguagem, portanto, não é adquirida: o que se adquire é
uma língua específica, uma das muitas por meio das quais a gramática universal pode se concretizar.
A filiação de Avram Noam Chomsky à filosofia platônica (e carte-
siana) se evidencia em sua tentativa de resolver o que ele mesmo bati-
José Pereira da Silva
2883
zou de problema de Platão, isto é, a grande lacuna entre conhecimento
e experiência. A pergunta aqui é: como formamos o nosso conhecimen-
to, tão poderoso, a partir de poucas experiências e dos poucos dados fornecidos pelo nosso ambiente? É o que o gerativismo chama de “axi-
oma da pobreza de estímulo”. Como uma criança pequena consegue, a
partir de certa idade, produzir e compreender uma infinidade de cons-
truções linguísticas às quais ela jamais foi exposta?
A resposta de Avram Noam Chomsky, citado por Ester Mirian
Scarpa (2001, p. 2007) é: “Num tempo bastante curto (mais ou menos
dos 18 aos 24 meses), a criança, que é exposta normalmente a uma fala
precária, fragmentada, cheia de frases truncadas o incompletas, é capas
de dominar um conjunto complexo de regras ou princípios básicos que
constituem a gramática internalizada do falante. Esse argumento, cons-
tantemente reafirmado, é chamado de ‘pobreza de estímulo’. Um me-canismo ou dispositivo inato de aquisição da linguagem, que elabora
hipóteses linguísticas sobre dados linguísticos primários (isto é, a lín-
gua a que a criança está exposta), gera uma gramática específica, que é
a gramática da língua nativa da criança, de maneira relativamente fácil
e com um certo grau de instantaneidade. Isto é, esse mecanismo inato
faz ‘desabrochar’ o que ‘já está lá’, através da projeção, nos dados do
ambiente, de um conhecimento linguístico prévio, sintático por nature-
za”.
No diálogo Mênon, de Platão, a resposta para o problema da “po-
breza do estímulo” está na natureza inata do conhecimento, que deriva
do fato de cada alma humana já trazer, de suas vidas passadas, lem-
branças do que aprendeu: é o que se chama de anamnese. De fato, para o platonismo não existe propriamente conhecimento, mas reconheci-
mento, uma vez que as almas, antes de ocuparem corpos terrenos habi-
taram o chamado Mundo das Ideias, onde todo o conhecimento é lím-
pido, total e perfeito. Ao ocupar corpos humanos, materiais, as almas
foram perdendo esse conhecimento total, que, no entanto, se manifesta
quando elas são submetidas ao processo de anamnese, ou seja, de res-
gate da memória, como faz o mestre de Platão, Sócrates, no Mênon, ao
demonstrar que um menino iletrado conhecia os princípios básicos da
geometria.
Para Avram Noam Chomsky, a resposta é semelhante, mas está,
conforme dito acima, no campo da biologia: a linguagem é uma facul-dade inata, quer dizer, presente na nossa própria composição genética,
de modo que nosso cérebro já vem programado para processar os pou-
cos dados fornecidos pelo ambiente e, a partir deles, organizar em nos-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2884
sa mente toda a gramática de nossa língua. Assim, a metáfora do com-
putador parece mais adequada: já nascemos dotados de um hardware (o
que Abram Noam Chomsky chama de gramática universal) que, para funcionar, só precisa de um software, de um programa operacional,
fornecido pela língua falada no ambiente em que a criança nasce e é
criada (o chamado input). Essa visão mecanicista da cognição humana
tem sido duramente criticada nas últimas décadas.
A filiação de Avram Noam Chomsky à epistemologia dos filósofos
gregos antigos é explicitada pelo próprio autor: “Uma das razões para
estudar a linguagem (e para mim, pessoalmente, a mais premente delas)
é o fato de ser tentador considerar a linguagem como um ‘espelho da
mente’, segundo a locução tradicional. Com isso não quero dizer sim-
plesmente que os conceitos expressos e as distinções desenvolvidas na
linguagem normal nos revelam os modelos de pensamento e de univer-so do ‘senso comum’, construídos pela mente humana. Mais integrante
ainda, pelo menos para mim, é a possibilidade de podermos descobrir,
ao estudar a linguagem, princípios abstratos que são universais por ne-
cessidade biológica e não por simples acidente histórico, e que derivam
de características mentais da espécie” (CHOMSKY, 1975, p. 3-4).
Para Avram Noam Chomsky, todo falante de uma língua é perfeito
conhecedor de sua gramática, de modo que o linguista não precisa sair
a campo coletando dados de uso: ele pode se servir de sua própria in-
tuição linguística para deduzir as regras que põem sua língua em funci-
onamento e, por extensão, todas as línguas do mundo. A recusa do fun-
dador do gerativismo em considerar a experiência do falante como ser
social e historicamente situado é explicitada numa de suas citações mais famosas: “A teoria linguística se interessa primordialmente por
um falante-ouvinte ideal, numa comunidade de fala completamente
homogênea, que conhece sua língua perfeitamente e não é afetado por
condições gramaticalmente irrelevantes tais como limitações de memó-
ria, distrações, desvios de atenção e interesse, e erros (aleatórios ou ca-
racterísticos) ao aplicar seu conhecimento da língua no desempenho re-
al” (CHOMSKY, 1965, p. 3-5).
Com isso, segundo a maioria de seus críticos, a teoria chomskiana
adquire um ar “místico”, na medida em que (assim como na filosofia
platônica) a linguagem, tal como o gerativismo a entende, não pertence
ao mundo do tangível, do audível, do visível, mas a uma espera trans-cendente, a um Mundo das Ideias (e é da ideia que vem ideal em “fa-
lante ideal”) habitado pelas formas perfeitas do platonismo. Há autores
que vêm denunciando alguns dos postulados centrais do gerativismo
José Pereira da Silva
2885
(sobretudo a gramática universal e o inatismo da linguagem) como na-
da menos do que mitos. Morten Hyllekvist Christiansen e Nick Chater
(2008, p. 1), por exemplo escrevem: “Supõe-se amplamente que o aprendizado humano e a estrutura das línguas humanas sejam intima-
mente relacionados. Sugere-se com frequência que essa relação derive
de uma específica dotação biológica para a linguagem, a qual codifica
princípios da estrutura linguística universais, mas comunicativamente
arbitrários (uma gramática universal). Como essa gramática universal
poderia ter evoluído? Afirmamos que a gramática universal não poderia
ter emergido nem por adaptação biológica nem por processos genéticos
não adaptativos, resultando num problema lógico da evolução da lin-
guagem. Especificamente, na medida em que os processos de mudança
linguística são muito mais rápidos do que os processos de mudança ge-
nética, a linguagem constitui um ‘alvo móvel’ tanto ao longo do tempo quanto entre as diferentes populações humanas e, por conseguinte, ela
não tem como oferecer um ambiente estável ao qual os genes da lin-
guagem poderiam ter se adaptado. Concluímos que uma gramática uni-
versal biologicamente determinada não é viável do ponto de vista evo-
lutivo. Em vez disso, a motivação original para a gramática universal (a
mescla entre aprendizes e línguas) emerge porque a linguagem tem sido
moldada para se adequar ao cérebro humano, e não vice-versa. Acom-
panhando Charles Darwin (1809-1882), consideramos a linguagem
mesma como um ‘organismo’ complexo e interdependente, que evolui
sob pressões seletivas a partir do aprendizado humano e dos mecanis-
mos de processamento. Ou seja, as línguas mesmas são moldadas por
severa pressão seletiva da parte de cada geração de usuários e aprendi-zes da língua. Isso sugere que aspectos aparentemente arbitrários da es-
trutura linguística podem resultar de vieses gerais no aprendizado e no
processamento, derivando da estrutura dos processos de pensamento,
de fatores perceptomotores, de limitações cognitivas e de pragmática”.
Por sua vez, Nicholas Evans e Stephen C. Levinson (2009, p. 429)
afirmam: “As línguas são muito mais diversas em estrutura do que os
cientistas cognitivos em geral reconhecem. Uma suposição amplamente
difundida entre os cientistas cognitivos, derivada da tradição gerativista
na linguística, é a de que todas as línguas são parecidas com o inglês,
mas com sistemas sonoros e vocabulários diferentes. O quadro verda-
deiro é muito diferente: as línguas diferem tão fundamentalmente uma da outra em cada nível de descrição (som, gramática, léxico, significa-
do) que é dificílimo encontrar sequer uma única propriedade estrutural
que elas compartilhem. As defesas da gramática universal, argumenta-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2886
mos aqui, são ou empiricamente falsas, não falsificáveis ou enganado-
ras ao se referirem a tendências mais do que a universais estritos. As di-
ferenças estruturais deveriam, ao contrário, ser aceitas pelo que são e integradas numa nova abordagem da linguagem e da cognição que co-
loque a diversidade no centro do palco. É muito grave essa concepção
errônea de que as diferenças entre as línguas são meramente superfici-
ais e de que podem ser resolvidas postulando-se um nível formal mais
abstrato no qual desaparecem as diferenças entre as línguas individuais:
hoje, ela permeia muito do trabalho que se faz em psicolinguística, em
teorias da evolução linguística, aquisição de linguagem, neurocognição,
análise sintática e reconhecimento de fala e praticamente em todos os
ramos das ciências cognitivas”.
Quanto à ideia de universais linguísticos, Michael Tomasello (2003,
p. 1819) afirma: “É claro que existem universais linguísticos. Só que não são universais de forma (isto é, não são tipos particulares de símbo-
los linguísticos, categorias gramaticais ou construções sintáticas), po-
rém, bem mais, são universais de comunicação, cognição e fisiologia
humana. Uma vez que todas as línguas são usadas por seres humanos
com vidas sociais semelhantes, todas as pessoas têm a necessidade de
resolver em suas línguas certos tipos de tarefas comunicativas, tais co-
mo referir-se a entidades específicas ou predicar coisas sobre essas en-
tidades. Todos os seres humanos têm também as mesmas ferramentas
básicas para realizar tais tarefas (símbolos linguísticos, marcadores so-
bre esses símbolos, ordenação de símbolos, padrões prosódicos e certos
processos recorrentes de gramaticalização). É isso que leva a alguns
universais linguísticos: dispor, por exemplo, de nomes e verbos para a expressão da referência e da predicação. Tais universais são fenômenos
emergentes, fundados, em última instância, nos universais da cognição
humana, das necessidades comunicativas humanas, do processamento
vocoauditório humano (...)”.
Outro problema central do gerativismo é o fato de ter sido concebi-
do por um falante nativo do inglês americano urbano de prestígio, de
modo que seus postulados e suas técnicas de análise decorrem em
grande medida desse fato social e histórico. Com toda probabilidade, se
Avram Noam Chomsky fosse falante de basco, malaio ou japonês, sua
teoria apresentaria uma aparência totalmente diversa. Nesse sentido,
Augusto Ponzio (2012, p. 47) alerta para o risco “de confundir as carac-terísticas de uma língua, o inglês no caso de Chomsky, com ‘as estrutu-
ras universais da linguagem humana’: é sintomática a intraduzibilidade
das sentenças das quais Chomsky se serve para exemplificar as suas re-
José Pereira da Silva
2887
flexões”.
Por isso, muitas das classificações de agramaticalidade (inaceitabi-
lidade) aplicadas a determinadas construções do inglês decorrerem do fato, banal, dessas construções não pertencerem à variedade falada pelo
linguista, segundo James Milroy (2011). Por isso, Nicholas Evans e
Stephen C. Levinson (2009, p. 430) não hesitam em denunciar o etno-
centrismo dessas concepções: “Como surgiu essa difundida concepção
errônea de uniformidade linguística? Em parte, ela pode ser atribuída
simplesmente ao etnocentrismo – a maioria dos cientistas cognitivos,
linguistas incluídos, falam somente as línguas europeias mais conheci-
das, todas elas aparentadas na estrutura”.
Por seu turno, Salikoko S. Mufwene (2013, p. 34) afirma que a de-
claração de Avram Noam Chomsky (2010, p. 51): “O estudo da evolu-
ção da linguagem concerne especificamente a gramática universal e su-as origens”, é muito questionável. Um dos graves obstáculos para o
perfeito entendimento do que é a gramática universal deriva da episte-
mologia chomskiana, tipicamente dualista, que opõe, por exemplo
“mente” a “cérebro”, uma dicotomia que, nas palavras de Salikoko S.
Mufwene “não tem sido informativa acerca da natureza da gramática
universal”. A neurolinguística revelou que não existe nenhuma parte
específica do cérebro que se possa identificar como o “órgão da lingua-
gem”. O fato de as partes do cérebro implicadas na linguagem não ape-
nas se situarem em regiões diferentes, mas também se associarem a ou-
tros domínios que não a comunicação humana, exclui a possibilidade
de um órgão da linguagem contínuo modular, conforme postula o gera-
tivismo. “O fato de a gramática universal aparentar ser mental, uma proprie-
dade da mente mais do que do cérebro como matéria física, deixa cla-
ramente aberta a possibilidade de que ela seja um (sub)produto de algo
mais nas atividades cerebrais principais, incluindo sua capacidade de
produzir linguagem” (MUFWENE, 2013, p. 35).
Segundo Salikoko S. Mufwene, muitos pesquisadores contemporâ-
neos têm preferido conceber as línguas como complexos sistemas adap-
tativos, que não pressupõem nenhum conjunto de regras que guiem o
comportamento linguístico. Em lugar disso, as regras são interpretadas
como padrões emergentes produzidos por auto-organização, de um
modo semelhante a outros fenômenos naturais que envolvem comple-xidade. “Essa posição não retira do gênero humano sua agência na
emergência da linguagem; significa simplesmente que, ao longo da fi-
logenia do gênero Homo, os atos individuais de resolver problemas
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2888
comunicacionais não incluíram antecipação ou um plano para desen-
volver aquilo que Antoine Meillet identificou como um ‘système où
tout se tient’. Os interactantes nunca tiveram/têm qualquer previsão de como será seu ‘sistema’ comunicativo no futuro ou uma vez suposta-
mente completado. O foco é sempre no hic et nunc das pressões ecoló-
gicas para a comunicação adequada ou exitosa” (MUFWENE, 2013, p.
40-41).
As teorias linguísticas que postulam a linguagem como um dado
genético, inscrito em nossa herança biológica, se vinculam evidente-
mente à ideia de filogenia. Não por acaso, são as teorias que hipoteti-
zam a existência de uma gramática universal – própria de toda a espé-
cie humana. No entanto, de posse dos resultados de seus muitos expe-
rimentos com primatas e com crianças em fase de aquisição de língua,
Michael Tomasello (1999, p. 94) afirma: “Em discussões sobre cogni-ção humana de um ponto de vista filogenético, a linguagem frequente-
mente é invocada como uma razão para o caráter único da cognição
humana. Mas invocar a linguagem como uma causa evolutiva da cog-
nição humana é como invocar o dinheiro como uma causa evolutiva da
atividade econômica humana. Não há dúvida de que adquirir e usar
uma língua natural contribui para (e até transforma) a natureza da cog-
nição humana – assim como o dinheiro transforma a natureza da ativi-
dade econômica humana. Mas a linguagem não surgiu do nada. Ela não
caiu do espaço sideral na Terra como algum asteroide extraviado nem
emergiu como uma bizarra mutação genética desvinculada de outros
aspectos da cognição humana e da vida social, apesar das opiniões de
alguns teóricos contemporâneos como Chomsky (1980). Assim como o dinheiro é uma instituição social simbolicamente corporificada que
emergiu ao longo da história de atividades econômicas existentes ante-
riormente, a língua natural é uma instituição social simbolicamente
corporificada que emergiu ao longo da história de atividades socioco-
municativas existentes anteriormente”.
Na linha de Lev Semenovich Vigotski e de outros psicólogos cultu-
rais, Michael Tomasello afirma que as mais interessantes e importantes
façanhas cognitivas da humanidade, como a linguagem e capacidade de
cálculo, exigem tempo histórico e processos para se realizar. Por isso,
sustenta a tese de que essas façanhas cognitivas, essas competências e
habilidades requerem um tempo ontogênico significativo, tanto quanto processos, para se realizar. O autor critica duramente os cientistas cog-
nitivistas por subestimarem a ontogenia em seu papel formativo na cri-
ação das formas maduras da cognição humana. Atribui essa postura à
José Pereira da Silva
2889
supervalorização, por parte dos mesmos cientistas, de um debate que,
na sua opinião, é vetusto, caduco, por já ter perdido sua utilidade (se
alguma vez foi útil). Esse debate se faz em torno de polos dicotômicos, de posturas teóricas essencialmente dualistas (natureza versus cultura,
por exemplo). A esses dualismos, Michael Tomasello opõe as conquis-
tas teóricas de Charles Darwin: “As discussões modernas de natureza
versus cultura e de inato versus adquirido se estruturam conforme os
debates da Europa do século XVIII entre filósofos racionalistas versus
empiristas, polemizando acerca da mente humana e das qualidades mo-
rais humanas. Esses debates tipificados ocorreram antes de Charles
Darwin oferecer à comunidade científica novos modos de pensar acerca
dos processos biológicos. A introdução de modos darwinianos de pen-
sar a filogenia e o papel da ontogenia na filogenia deveria ter tornado
obsoleto aquele debate. Mas não tornou e, de fato, o surgimento da ge-nética moderna deu a ele vida nova e concretizada na forma de genes
versus ambiente. A razão para o debate não ter morrido é o fato de ele
ser o modo natural de responder a pergunta: o que determina o traço X
em seres humanos adultos? Fazer a pergunta dessa maneira, aliás, auto-
riza as tentativas de quantificar as contribuições relativas dos genes e
do ambiente para um dado traço adulto, como ‘inteligência’ (...). Mas o
pensamento darwiniano é um pensamento de processos, no qual não
pensamos em categorias de fatores em algum ‘agora’ estático e atempo-
ral. Embora existam processos invariantes como a variação genética e a
seleção natural, se perguntarmos como dada espécie veio a se tornar o
que é agora (...), a resposta é uma narrativa que se desenrola no tempo
com diferentes processos agindo em diferentes modos em diferentes pontos ao longo do caminho” (TOMASELLO, 1999, p. 48-49).
O darwinismo postula (e comprova empiricamente) que a evolução
se processa imperceptivelmente pelo acúmulo de transformações ocor-
ridas em indivíduos (portanto, numa escala ontogênica), transforma-
ções que, respondendo mais adaptativamente às necessidades de intera-
ção entre o indivíduo e seu ambiente, são transmitidas às próximas ge-
rações. Na escala temporal de cada uma dessas gerações, as adaptações
prosseguem e se desenvolvem. Desse modo, de ontogênese em ontogê-
nese, as novas adaptações evolutivas acabam por se constituir em tra-
ços característicos daquela espécie – é o que Michael Tomasello chama
de “o papel da ontogenia na filogenia”. Michael Tomasello argumenta que a espécie humana tem uma única
capacidade cognitiva herdada biologicamente e que a faz diferir das ou-
tras espécies de primatas: o fato de os serem humanos se “identifica-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2890
rem” mais profundamente com os demais membros de sua espécie do
que os outros primatas. Essa identificação não tem nada de misteriosa,
mas é simplesmente o processo pelo qual a criança humana entende que as outras pessoas são seres como ela própria. Assim, ela tenta en-
tender as coisas do ponto de vista dos outros. A criança, ao se desen-
volver, passa a se perceber como um agente intencional e, mais tarde,
como um agente mental. Para o autor, essa diferença cognitiva única
“tem diversos efeitos cascata porque torna possíveis algumas formas de
herança cultural novas e singularmente poderosas. Entender as outras
pessoas como agentes intencionais como ela mesma permite tanto pro-
cessos de sociogênese por meio dos quais múltiplos indivíduos criam
colaborativamente artefatos e práticas culturais que acumularam histó-
rias, quanto processos de aprendizagem e internalização cultural por
meio dos quais indivíduos em desenvolvimento aprendem a usar e em seguida internalizam aspectos dos produtos colaborativos criados pelos
coespecíficos. Isso significa que a maioria (senão todas) das habilida-
des cognitivas exclusivas da espécie humana não são devidas direta-
mente a uma herança biológico exclusiva, porém, bem mais, resultam
de uma variedade de processos históricos e ontogenéticos postos em
movimento pela capacidade cognitiva exclusivamente humana, biolo-
gicamente herdada” (TOMASELLO, 1999, p. 15).
Sugere-se a leitura do primeiro capítulo de Chomsky’s Universal
Grammar, de Vivian Cook.
Veja: Empirismo; Gerativismo; Racionalismo e Teoria da regência
e ligação.
Gramatical
Na linguística, o termo indica a característica de uma sentença,
quando esta se adequa às regras definidas por uma determinada gramá-
tica ou língua. Geralmente, usa-se um asterisco para indicar que uma
sentença é agramatical, isto é, incapaz de ser explicada pelas regras da
gramática. Na prática, algumas vezes, é difícil decidir se uma sentença
é gramatical ou não. Em casos como O doente não deveu ter tido febre,
os falantes nativos têm julgamentos variados. Na linguística gerativa, a
gramática existe em primeiro lugar para estabelecer uma linha divisória
entre as sentenças que são claramente gramaticais e as claramente
agramaticais. Uma vez isso feito, podem ser pesquisados os casos de
dúvida, decidindo-se se podem ser incorporados à gramática sem modi-ficações. Se puderem, estas sentenças são então definidas como grama-
ticais, isto é, a gramática as reconhece como tal. Se não, serão agrama-
ticais.
José Pereira da Silva
2891
Um termo alternativo para "gramatical" neste contexto é bem-
formado (cf. malformado). As gramáticas julgam se as sentenças são
bem-formadas. Tais decisões não têm nada a ver com significação ou aceitabilidade, pois uma sentença pode ser bem-formada e não fazer
sentido, como o famoso exemplo de Noam Chomsky Colourless green
ideas sleep furiously "Ideias verdes sem cor dormem furiosamente",
pode também ser bem-formadas, mas inaceitável, por motivos de ina-
dequação estilística, por exemplo. Deve-se salientar que o uso de
"gramatical" não implica nenhum julgamento de valor social, contrari-
ando o uso popular do termo, para as sentenças que não estão de acordo
com a língua padrão. É o caso do negativo duplo em inglês (I havent't
done nothing) e do uso de pronomes do caso reto no lugar do objeto em
português (Eu vi ele). Não existe nenhuma implicação prescritiva no
uso do termo "gramatical" em linguística. Veja os capítulos 4 e 5 de As ideias de Chomsky, de John Lyons (1974).
Função gramatical, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é o pa-
pel representado por sintagmas numa frase. As funções gramaticais são,
assim, as de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nomi-
nal, agente da passiva, instrumental etc., distinguindo-se das funções
locais ou concretas (lugar e tempo) em algumas teorias.
Dá-se o nome de sentido gramatical ao sentido dos itens gramati-
cais (artigos, conjunções, preposições, afixos de tempo, afixos de casos
etc.), às funções gramaticais (sujeito, objetos, circunstantes etc.) e ao
estatuto da frase (interrogação, negação, imperativo etc.).
Gramaticalidade
Cada falante que, por definição, possui a gramática de sua língua, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), pode fazer julgamentos de
gramaticalidade sobre os enunciados emitidos. Ele pode dizer se uma
frase feita de palavras de sua língua está bem formada, com relação a
regras da gramática que ele tem em comum com todos os outros indiví-
duos que falam essa língua. Essa aptidão pertence à competência dos
falantes, não depende nem da cultura, nem do grupo social do falante.
Assim, em português, O menino gosta de chocolate é uma frase grama-
tical, mas, ao contrário, *Gostar chocolate menino é uma frase agra-
matical (marcada por um asterisco). Em outras palavras, o falante cons-
tata a agramaticalidade ou a gramaticalidade, ele não formula uma
apreciação. Se há diferenças entre os falantes sobre a gramaticalidade de uma frase, é que suas competências (suas gramáticas) são variantes
do mesmo sistema. Os julgamentos de gramaticalidade não se fazem
somente por rejeições ou aceitações, pois existem graus de gramatica-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2892
lidade que podem ser avaliados pela natureza da regra violada. Assim,
a frase ?A criança não deveu ter tido chocolate é uma frase divergente,
gramaticalmente duvidosa (marcada por um ponto de interrogação), pois sua estrutura não está inteiramente conforme às regras da gramáti-
ca. A gramaticalidade se distingue: a) da significação: O vestíbulo ilu-
mina o nada é uma frase gramatical, mas dificilmente interpretável, a
não ser metaforicamente; b) da verdade ou da conformidade à experi-
ência geral da comunidade cultural: A lua é quadrada e O homem mor-
to está vivo são frases gramaticais, mas falsas ou contraditórias; c) da
probabilidade de um enunciado: O rinoceronte olha com atenção o fil-
me tem pouca chance de ser frequentemente realizada; d) da aceitabili-
dade ou possibilidade de compreender uma frase gramatical, mas de
grande complexidade: A noite que o rapaz que o amigo que você en-
controu, conhece, dava, era um sucesso, é inaceitável. A gramaticalidade não se baseia no emprego de uma palavra ou de
uma construção, mas num julgamento. E esse julgamento não depende
da experiência, mas de um sistema de regras gerais interiorizadas du-
rante a aprendizagem da língua. Por isso, são os julgamentos de grama-
ticalidade que vão servir para estabelecer as regras de uma gramática e
as agramaticalidades recenseadas permitem definir as coerções gerais
(regras dependentes do contexto).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que gramaticalidade é o conceito
adotado desde os primeiros trabalhos de linguística transformacional na
caracterização das sequências de elementos admissíveis em uma língua.
O conceito em apreço é uma noção puramente técnica, nada tendo que
ver com "padrões de correção" de qualquer natureza. Em Estruturas Sintáticas (1957, p. 13), Noam Chomsky definiu "o
propósito fundamental na análise linguística de uma língua L" como
sendo o de "separar as sequências gramaticais, que são orações de L,
das sequências agramaticais, que não o são, e estudar a estrutura das
primeiras". Ao mesmo tempo, sustentou o autor que a identificação das
sequências admissíveis numa língua deveria basear-se em juízos intui-
tivos de gramaticalidade. Admitindo a possibilidade de dúvidas a res-
peito do assunto, formulou Noam Chomsky (1957, p. 13-14; 1962, p.
531, nota 6) o "princípio dos casos inequívocos", segundo o qual os ju-
ízos do falante nativo só servem de base para decisão nos casos que não
comportam dúvidas. Assim, o gramático considera, em primeiro lugar, sequências como Comprei o livro ontem, que são claramente gramati-
cais, e sequências como Livro e onde me, que são manifestamente
agramaticais, e constrói a gramática mais simples que especifica todas
José Pereira da Silva
2893
as orações inequivocamente gramaticais e exclui todas as inequivoca-
mente agramaticais. Depois, a própria gramática permite resolver os
casos duvidosos. Entendeu-se, também, desde o início, que não bastava separar as
orações gramaticais das agramaticais: era preciso, ainda, distinguir di-
ferentes graus de gramaticalidade intermediários entre os casos de gra-
maticalidade plena e os de total agramaticalidade. Em Estruturas Sintá-
ticas (1957, p. 42-43 e 78), Noam Chomsky faz diversas considerações
a respeito do assunto, afirmando que uma sequência como A sincerida-
de admira João, embora claramente menos gramatical que João admira
a sinceridade, é, certamente, mais gramatical que de admira João. Pos-
teriormente, propôs o autor (1964c, p. 384-389) um mecanismo para
associar a uma sequência arbitrária de elementos uma descrição estru-
tural que lhe indicasse o grau de gramaticalidade, a medida de seu pos-sível desvio em relação às regularidades gramaticais e a natureza desse
desvio. Teríamos, assim, um mecanismo capaz de associar a cada se-
quência que lhe fosse apresentada um índice de gramaticalidade relati-
va.
Na teoria clássica, insiste Noam Chomsky (1957, p. 15) num con-
ceito puramente sintático de gramaticalidade, entendendo que sequên-
cias como Incolores ideais verdes dormem furiosamente deveriam ser
consideradas orações gramaticais, independentemente da possibilidade
ou não de lhes ser atribuído algum sentido. As sequências gramaticais
incluiriam, assim, orações verdadeiras, falsas, ininteligíveis e sem sen-
tido (1975c, p. 7). Na mesma ordem de ideias, sustentou o autor que na
interpretação das orações semigramaticais não estariam em jogo quais-quer considerações ontológicas, "exceto na medida em que tais consi-
derações se refletem em categorias e subcategorias gramaticais"
(1964c, p. 384). A orientação em apreço mereceu o apoio de outros au-
tores, como Charles Ernest Bazell (1968, p. 25-31), que sugeriu uma
distinção entre orações agramaticais e orações não gramaticais, defi-
nindo as primeiras como aquelas que podem ser substituídas por ora-
ções gramaticais de sentido equivalente, ao contrário destas últimas,
que não seriam possíveis de tal substituição. A sequência Ele parece
dormindo, por exemplo, seria um caso de oração agramatical, dada a
possibilidade de "corrigi-la" para a forma gramatical equivalente Ele
parece estar dormindo. Na teoria clássica, Noam Chomsky usa os termos "gramatical" e
"aceitável" como sinônimos; na teoria padrão, passa o autor a fazer
uma distinção entre gramaticalidade e aceitabilidade, situando o pri-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2894
meiro desses conceitos no campo da competência e o segundo no do
desempenho (1965, p. 11). Por outro lado, em virtude do acréscimo de
um componente semântico ao modelo transformacional, procurou Jer-rold Jacobi Katz (1964, p. 300-416) formular uma teoria mais ampla
das orações semigramaticais, entendendo que um tratamento adequado
de tais orações não poderia limitar-se a considerar-lhes o desvio sintáti-
co, não só porque a compreensão das referidas orações implica depre-
ender-lhes a estrutura semântica, como também porque há sequências
semanticamente mal-formadas, mas compreensíveis. Noam Chomsky
aceitou essa orientação, passando a encarar uma oração gramatical co-
mo aquela especificada por uma gramática e que recebe uma interpre-
tação. No modelo da teoria padrão ampliada, Ray S. Jackendoff (1972,
p. 17-20) propôs a retomada do conceito inicial de gramaticalidade, su-
gerindo a adoção de um mecanismo especial (as condições de adequa-ção das representações semânticas) para a exclusão de sequências sem
sentido especificadas pelas regras gramaticais.
Os pontos de vista de Noam Chomsky com relação às noções de
gramaticalidade e aceitabilidade foram reiterados no diálogo do autor
com Herman Parret (1974, p. 39-41). Nessa oportunidade, afirmou No-
am Chomsky que uma gramática gerativa, como teoria da competência
linguística, se ocupa de orações, cabendo à teoria do desempenho ca-
racterizar a noção de frase, ou seja, o enunciado usado para estabelecer
comunicação. À luz desse entendimento, a gramaticalidade assume o
caráter de noção teórica essencial da gramática gerativa, ao passo que a
aceitabilidade é encarada como noção determinada, em princípio, me-
diante observação e testes experimentais. Admite Noam Chomsky a possibilidade de formulação de noções mais complexas de gramaticali-
dade e aceitabilidade, para o estudo da situação encontrada nas comu-
nidades linguísticas não homogêneas da vida real, mas insiste na vali-
dade da idealização do objeto do estudo da gramática transformacional.
Por outro lado, no trabalho intitulado "Condições de Aplicação das
Transformações" (1973, p. 284), examinou Noam Chomsky os meca-
nismos da teoria padrão ampliada para determinar a gramaticalidade
das orações, sustentando que a cadeia de uma derivação só constituiria
uma oração na hipótese de satisfazer todo um conjunto de condições, a
saber, regras de subcomponente categorial da base, transformações de
inserção lexical que envolvem traços contextuais, transformações não lexicais de várias espécies, condições de adequação das estruturas su-
perficiais e regras de interpretação que envolvem estruturas superficiais
e regras de interpretação que envolvem estruturas profundas e superfi-
José Pereira da Silva
2895
ciais. Na oportunidade, definiu o autor (p. 282) uma oração gramatical
como "aquela que é especificada pelas regras, não é marcada por um
(*) no curso da derivação e recebe uma interpretação". Nestes últimos anos, entretanto, vem-se observando um ceticismo
cada vez maior dos estudiosos no tocante à concepção chomskyana de
gramaticalidade e aceitabilidade. Expressivo testemunho desse estado
de espírito é encontrado em trabalho de Fillmore (1972a, p. 1-19), no
qual o autor, após passar em revista diversas tentativas de fixar um
conceito de gramaticalidade, põe em dúvida a possibilidade empírica de
se determinar o conjunto das orações gramaticais de uma língua e sus-
tenta não haver perspectiva de que uma gramática gerativa possa atri-
buir índices de gramaticalidade às orações anômalas.
Ao mesmo tempo, como parte de um movimento geral contra a tese
chomskyana da autonomia da sintaxe, diversos partidários da semântica gerativa rejeitaram expressamente os conceitos de gramaticalidade e
aceitabilidade propostos por Noam Chomsky. Nesse sentido, defendeu
James David McCawley (1971a) o ponto de vista de que as línguas na-
turais deveriam ser encaradas não como conjuntos de orações, mas co-
mo códigos que relacionam mensagens (estruturas superficiais). A pos-
sibilidade ou não de determinada (forma superficial de uma) oração de-
penderia, segundo o autor, de dois fatores inteiramente distintos, a sa-
ber, os pormenores da mensagem e as restrições em relação às mensa-
gens possíveis. Assim, uma estrutura superficial só seria possível na hi-
pótese de haver uma mensagem que o código associasse a ela. À luz
dessas considerações, propõe o autor a substituição da noção de grama-
ticalidade pela de mensagem possível. Na mesma ordem de ideias, su-geriu George Lakoff (1971a) a substituição do conceito chomskyano de
gramaticalidade pela noção de adequação relativa. As propostas de
James David McCawley e George Lakoff se enquadram numa tendên-
cia geral no sentido da adoção de um conceito de adequação à situa-
ção, em lugar das noções chomskyanas de gramaticalidade e aceitabili-
dade.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), gramaticalidade é a conformi-
dade de uma frase às regras que regem a gramática de uma língua. Des-
ta forma, é um dos fatores que permitem determinar a aceitabilidade de
um enunciado. A noção de gramaticalidade foi explorada, sobretudo
pela gramática gerativa. Neste perspectiva, todo sujeito falante dispõe, sem disso ter necessariamente consciência, de uma gramática interiori-
zada de sua própria língua, que lhe permite produzir e interpretar os
enunciados. É a partir desta gramática interiorizada, que resulta de sua
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2896
competência linguística, que ele formula, intuitivamente, um julgamen-
to sobre a gramaticalidade ou agramaticalidade de uma sequência lin-
guística. Veja os verbetes: Aceitabilidade, Asterisco, Interpretabilidade, In-
trospecção, Possibilidades de uma língua.
Gramaticalismo
Gramaticalismo é a subordinação exagerada às regras gramaticais.
Gramaticalização
Processo, mediante o qual uma palavra se esvazia de seu conteúdo
significativo autônomo para se transformar num morfema. Assim, o
verbo ter significa possuir, mas se converte em mero morfema forma-
dor de tempos compostos em casos como tenho amado, tinha estudado
(= estudara).
Outro exemplo é o sufixo adverbial -mente, que, na origem era o ablativo singular do substantivo mens,mentis, a mente, o espírito. De
frases como "exortou alta mente os amigos" (isto é, com mente alta,
com espírito elevado), se passou a uma ideia adverbial de modo, em
que o substantivo feminino assumiu valor de morfema sufixal. Agluti-
nou-se assim ao adjetivo que o modificava (que, por isso, estava no gê-
nero feminino).
Os chamados verbos relacionais (ou de ligação) foram, na origem,
verbos nocionais. Sedere (português ser) queria dizer "estar sentado";
stare (português estar) significava "estar de pé". O processo está visí-
vel atualmente num verbo como andar, já gramaticalizado em frases do
tipo: você anda triste.
Muitas preposições foram particípios presentes ou passados. Duran-te, mediante e tirante são antigos particípios presentes; salvo e exceto,
são antigos particípios passados fortes ou irregulares.
De modo geral, as palavras que funcionam como instrumentos gra-
maticais (preposições, conjunções, certos advérbios) resultaram do es-
vaziamento semântico denominado "gramaticalização".
A palavra mente, quando passa a sufixo adverbial, também sofre
gramaticalização.
Certos verbos que não são verbos de ligação, quando passam a sê-
lo, são exemplos de gramaticalização. Por exemplo: Ando triste.
Em linguística diacrônica, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
fala-se de gramaticalização quando um morfema lexical, durante a evolução de uma língua em outra, tornou-se um morfema gramatical.
Assim, a palavra latina mens / mentis (no ablativo mente) se tornou em
José Pereira da Silva
2897
português um sufixo de advérbio de modo em docemente, violentamen-
te, bobamente etc.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), gramaticalização é o processo que consiste na transformação de uma palavra de significação
externa em morfema gramatical, isto é, transformação de elemento no-
cional em elemento gramatical. Haver (= existir; ter, possuir) é mero
morfema em Hei de fazer, hei feito etc.; estar, que que era estar em pé,
gramaticalizou-se totalmente: estou trazendo, estás doente etc. Sedere
era estar sentado, como ser já foi existir (Deus é) e passaram a verbos
de ligação, sem conteúdo; gramaticalizam-se, portanto. Embora já foi
em boa hora e o sufixo mente também teve algum temo conteúdo (Ela,
de boa mente, fez o inventário); exceto, salvo, caso etc., palavras de
significação, serão simples morfemas se usados como preposição ou
conjunção: Dadas as circunstâncias... (em vista das...), Elas foram sal-vas, mas Todos partiram, salvo os rapazes. No português arcaico, ho-
mem gramaticalizou-se, passou a expressar o sujeito indefinido; no in-
glês, past em expressões como half past two (duas horas e meia); o
verbo ser na passiva analítica (foi morto) e no francês em expressões
como je suis allé (fui), no inglês shall e will são apenas morfemas ca-
racterísticos de futuro. Fácil se percebe que, no francês pas (= passo) e
point (= ponto), palavras de significação em Je n'avance d'un pas ou Je
ne vois un point, se petrificaram, permanecendo como simples reforço
da negação (veja: Contágio). Casos de hipergramaticalização teríamos,
por exemplo, nos plurais cumulativos ananá / ananás / ananases; goi-
tacá / goitacás / goitacases; ilhó / ilhós / ilhoses; e no inglês, can, may
e shall, antigos perfeitos, perdidos seus presentes, fizeram-lhes as ve-zes, criando, ao mesmo tempo, novos perfeitos; could, might e should.
Como se vê, na hipergramaticalização há mudança de um morfema
gramatical em outro. E o exemplo do inglês tem paralelo no latim: usus
sum (de ator) acabou por gerar usare.
Sabe-se que, no inglês cock (galo) e hen (galinha), assim como buck
(gamo) e doe (corça), gramaticalizaram-se como masculino e feminino,
são prefixados a nomes de animais, como cock-sparrow (pardal macho)
/ hen-sparrow (pardaloca) etc. Sabe-se, que as palavras do alemão lich
(corpo), heit (pessoa) e tum (função) tornaram-se sufixos. Também o
fonema da juntura -z- em francês gramaticalizou-se como morfema de
plural em muitos casos: des entants. Como vimos, oeul só é marcado no singular (pronuncia-se o f) e não no plural (o f não se pronuncia).
Pos o z de tal se fixou como marca de plural, que em deux oeufs, trois
oeufs, six oeufs, só o z da juntura caracteriza o plural, já que oeufs não é
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2898
marcado. No entanto, em quatre oeufs, onde não há juntura, o plural
passa a ser evidenciado através da pronúncia [katroef], apesar de tam-
bém aparecerem [katrØ] e até [katrezØ]. E se vai mais longe, ao estabe-lecer distinção entre a juntura como fator de coesão e a juntura como
morfema gramatical. E Jean Dubois cita grand effort (grãtefɔr) e léger
inconvénient [legεrãcoõveniã], onde os fonemas de juntura /t/ e /r/ são
apenas fatores de coesão; e tais construções diferem do plural exata-
mente e apenas pelo fonema de juntura /z/, que por isso, é igualmente,
morfema de plural: grands efforts [grãzefɔr] e légers inconvénients [le-
gεzãcõveniã]. Observe-se que somente o fato de no singular ser variado
o fonema de juntura, mas único no plural, é que leva o autor a tal con-
vicção, o que não exclui a possibilidade de imaginarmos as oposições t
/ z e r / z nos exemplos citados, e então estariam /t/ e /r/ também como
morfemas de singular. À medida que o semantema vai se esvaziando de valor concreto, vai
passando a morfema. Mente, substantivo, incorporou-se ao rol dos sufi-
xos. A terminação ilo de alguns compostos era tão só o grego hylé, ma-
deira; passou a sufixo, com a variante lia: arilo, arila, carbonita etc.
Particípios como durante, feito etc. transformaram-se em preposição
(durante o passeio, correu feito louco); o sufixo entar (ent, a, r), deri-
vado que é do particípio presente, acabou por dar caráter de aspecto
causativo ao verbo que forma. E o que hoje tomamos por desinência do
futuro e condicional nada mais é que antiga forma verbal contraída (ei
< hei; ia < hia < havia; cantarei (< cantar hei < hei de cantar). Mirim
e guaçu, semantemas tupis, passaram ao português como morfemas;
mas ocorre que mirim já volta, em português, ao valor originas de se-mantema: ônibus mirim. E o semantema em o macho do tigre ou tigre
macho, a fêmea do tigre ou o tigre fêmea passa a morfema em tigre-
macho e tigre-fêmea (equivalentes a tigre, morfema zero, e tigreza,
morfema eza) (JOTA, 1981, s.v.).
Segundo Ataliba Teixeira de Castilho (1997, p. 31), citado por Mar-
cos Bagno (2017, s.v.), a gramaticalização é “o trajeto empreendido por
um item lexical, ao longo do qual ele muda de categoria sintática (= re-
categorização), recebe propriedades funcionais na sentença, sofre alte-
rações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de ser uma forma
livre, estágio em que pode até mesmo desaparecer, como consequência
de uma cristalização extrema”, podendo ser vista também como “a co-dificação de categorias cognitivas em formas linguísticas”.
Embora o conceito de gramaticalização seja antigo e remonte aos
inícios da linguística indo-europeísta, com Franz Bopp (1791-1867) e
José Pereira da Silva
2899
Wilhelm Humboldt (1767-1835), o termo propriamente dito foi cunha-
do por Antoine Meillet (1866-1936), que o definiu como “a atribuição
de caráter gramatical a uma palavra outrora autônoma” (1912). Exem-plos clássicos de gramaticalização no âmbito das línguas românicas
são:
1) a formação do tempo futuro: no lugar da forma sintética, para-
digmática do latim clássico (cantabo, cantabis, cantabat etc.). o latim
vulgar desenvolveu uma forma analítica, composta de infinitivo + ver-
bo “haver” no presente do indicativo. Assim, de cantare habeo (“tenho
de cantar”), uma locução (analítica e sintagmática, portanto), surgem
formas como a do português cantar hei > cantarei, sintéticas e para-
digmáticas, portanto. Desse modo, conforme a célebre formulação de
Talmy Givón (1970, citado por Maria Helena de Moura Neves, 1997,
p. 115), “a morfologia de hoje é a sintaxe de ontem”; 2) a formação dos advérbios de modo: o substantivo latino mens,
mentis (“mente, espírito”) era empregado em locuções como bona mne-
te (“[fazer algo] com boa mente, de boa vontade”). Nas línguas româ-
nicas, o substantivo se transformou em morfema preso, em sufixo, usa-
do para formar advérbios ditos “de modo” como tranquilamente, so-
mente, frequentemente etc.;
3) fixação de ordem sintática SVO para compensar a perda de casos
sintáticos;
4) surgimento de artigos definidos provenientes dos pronomes de-
monstrativos latinos: illu- > lo > o (português);
5) surgimento de pronomes de não pessoa (a “terceira pessoa” da
tradição gramatical), inexistentes em latim, também provenientes dos pronomes demonstrativos latinos: illa : ela (português).
O estudo da gramaticalização é especialmente caro aos pesquisado-
res filiados ao paradigma do funcionalismo linguístico. Apesar da ex-
plícita rejeição da parte de William Labov (1994) dos princípios funci-
onais como explicação para os processos de mudança linguística, mui-
tos praticantes da sociolinguística variacionista apelam à gramaticali-
zação como instrumental explanatório desses processos. Trabalhos nes-
sa direção incluem os de Anthony Julius Naro e Maria Luíza Braga
(2000), Terttu Nevalainen e Minna Palander-Collin (2011), Shana Po-
plack (2011) e Maria Alice Tavares e Edair Maria Görski (2015). Para
Marcos Bagno (2012a), a gramaticalização (ao lado da analogia e a economia linguística) participa do que ele chama de fatores cognitivos
indutores da mudança linguística. Na opinião de Marcos Bagno, a soci-
olinguística variacionista demonstrou de que modo a variação, ou seja,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2900
a concorrência entre variantes, leva à mudança, mas não se preocupou
em explicar a origem dessas formas variantes. Quando se trata de mor-
fossintaxe, alega Marcos Bagno, as formas inovadoras podem ter sua origem justamente em processos de gramaticalização. Por exemplo, a
variação existente, no português brasileiro, entre as formas nós e a
gente para exprimir a primeira pessoa do plural (com ampla dianteira
atual de a gente) é, de fato, a concorrência entre um pronome herdado
diretamente do latim e outro pronome surgido do processo de gramati-
calização do sintagma nominal a gente, convertido em pronome pesso-
al. O mesmo vale para a variação tu~você, em que o pronome mais an-
tigo, tu, sofre a concorrência de um novo pronome surgido do processo
de gramaticalização da forma de tratamento Vossa Mercê.
O ciclo gramaticalização → variação → gramaticalização... fica
bem demonstrado no caso da expressão do futuro desde o latim até as línguas românicas atuais:
1) o latim clássico cantabo já era o resultado de um processo de
gramaticalização, a fusão do radical do verbo canta com um verbo ar-
caico indo-europeu *bhu (“ser, existir, crescer”);
2) no latim imperial, a forma cantabo entrou em variação com can-
tare habeo, pela qual é completamente superada;
3) cantare habeo se gramaticaliza em formas como canterò, cante-
rai, cantarei, cantaré etc.
4) as formas sintéticas do futuro passam a sofrer a concorrência da
locução vou cantar etc.;
5) em diversas línguas do grupo românico, a forma analítica do fu-
turo já suplantou por completo, na língua falada espontânea, a forma mais antiga do tipo cantarei (segundo Shana Poplack [2011]: o futuro
analítico ocorre em 67% dos casos em espanhol, 78% em francês e
99% em português)
José Pereira da Silva
2901
Ciclo de gramaticalização do futuro românico.
Fonte: Marcos Bagno (2012a, p. 187).
Segundo Joan Lea Bybee (2015), os mecanismos de mudança asso-
ciados à gramaticalização são os seguintes:
1) Amalgamação e redução fonética: “Um amálgama é uma se-
quência de elementos processados em conjunto. Palavras e morfemas
usados repetidamente juntos formam amálgamas, e as palavras e mor-
femas em construções gramaticalizadas/em vias de gramaticalização são exemplos especialmente bons. Quanto mais o amálgama for usado,
mais ele tenderá a sofrer redução fonética interna e fusão” (BYBEE,
2015, p. 124). Exemplo clássico em português é o da forma de trata-
mento vossa Mercê, que sofreu diversos processos de amalgamação
(vossmecê, vosmecê, vassuncê etc.) até se gramaticalizar como prono-
me pessoal, sob a forma você, o qual já sofreu processo ainda mais ra-
dical de redução, transformando-se no clítico-sujeito cê (e ocê, no inte-
rior de Minas Gerais).
2) Especialização ou perda de contraste paradigmático: “Constru-
ções gramaticalizadas/em vias de gramaticalização sofrem mudanças
que afetam os itens que podem ocorrer em diferentes posições da cons-trução. Algumas posições restringem a gama de itens que podem ocor-
rer ali, às vezes a somente um (especialização), enquanto outras posi-
ções expandem a gama de itens (expansão categorial)” (BYBEE, 2015,
p. 125). A autora exemplifica o processo com o caso dos substantivos
que, no francês antigo, eram acrescentados após o verbo para reforçar a
negação: pas (“passo”), pont (“ponto”), goutte (“gota”), mie (“miga-
lha”), amande (“amêndoa”), eschalope (“casca de noz”) etc. Com o
tempo, somente pas e point continuaram a ser usados, o que representa
um caso de especialização. Maris radicalmente ainda, pas se tornou a
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2902
partícula negativa por excelência, desalojando o antigo ne na fala es-
pontânea. “A especialização ocorre porque a frequência de uma varian-
te aumenta mais do que a das outras, iniciando um processo de autoa-limentação. A variante mais frequente é mais acessível e, portanto,
usada mais intensamente, o que aumenta sua acessibilidade. Seu signi-
ficado se generaliza ou esmaece e a forma fica entrincheirada na cons-
trução. As variantes menos frequentes se tornam ainda menos frequen-
tes e podem cedo ou tarde desaparecer. O item que permanece na cons-
trução gramaticalizada é aquele que anteriormente tinha uma frequên-
cia maior, o que fez dele a variante mais produtiva” (BYBEE, 2015, p.
127).
3) Expansão categorial: “Construções gramaticalizadas/em vias de
gramaticalização também têm posições ou categorias que começam
como semanticamente restritas, mas se expandem ou se tornam mais esquemáticas (abrigando mais significados) durante o processo”
(BYBEE, 2015, p. 137). Um exemplo oferecido por Ataliba Teixeira de
Castilho (2010, p. 357) é o do pronome relativo que, que se tornou a
conjunção integrante que:
3-a) Digo isto: que amanhã é sábado (= isto, antecedente do prono-
me relativo que);
3-b) Digo que amanhã é sábado (= isto se elide e que é reanalisado
como conjunção integrante).
Marcos Bagno (2012a, p. 893-894) analisa o caso semelhante do
demonstrativo inglês that que se tornou conjunção integrante e prono-
me relativo.
4) Descategorização: “Quando um nome ou verbo se torna fixo em construções gramaticalizadas, ele perde aspectos de seu significado e
pode ficar desconectado de instâncias do mesmo nome ou verbo usado
em outros contextos. Ao se tornar mais fixo na construção gramaticali-
zada, ele perde as propriedades morfossintáticas que o qualificam como
nome ou verbo” (BYBEE, 2015, p. 129). O verbo ter, em português, se
conserva como verbo pleno, com o sentido de “possuir”, mas em outras
instâncias é um mero auxiliar (tenho viajado muito) e, em outras ainda,
um simples apresentacional (tem muita gente aqui). Como apresentaci-
onal, ele perdeu todo o seu paradigma flexional com exceção da não
pessoa do singular (tem, tinha, tivesse etc.). Em seus usos auxiliar e
apresentacional, ter perdeu qualquer noção de “posse”. Por seu turno, o verbo haver, que já foi pleno em fases antigas da língua (com o mesmo
sentido de “possuir”), hoje só é empregado como auxiliar (havia feito)
e como apresentacional (há lugares vagos). Como apresentacional, ele
José Pereira da Silva
2903
perdeu todo o seu paradigma flexional com exceção da não pessoa do
singular (há, havia, houvesse etc.). Desse modo, segundo Joan Lea
Bybee (2015, p. 131), “as duas situações podem existir: o item lexical que entrou em construções gramaticalizadas pode deixar de ser usado
em outros contextos ou pode permanecer na língua com sua função e
significado lexicais. Em qualquer dos casos, porém, o antigo item lexi-
cal perde, na construção gramaticalizada, suas propriedades morfossin-
táticas anteriores por causa dos significados e funções que a construção
assume como um todo”.
5) Fixação de posição: “Frequentemente, a fonte lexical para o de-
senvolvimento de um morfema gramatical foi uma palavra que podia
ocorrer em diferentes posições na sentença” (BYBEE, 2015, p. 132).
Os demonstrativos latinos ille, illa, illud podiam ocupar diferentes lu-
gares na sentença, mas ao se transformarem em pronomes pessoais da não pessoa (ele/ela; il/elle, egli/ella etc.) ou em artigos definidos (o/a,
le/la, lo/la etc.), sua posição se tornou muito mais rígida, com escassa
possibilidade de movimento.
6) Desbotamento ou generalização: “Algo que cedo se observou, na
mudança, acerca do significado lexical em construções gramaticaliza-
das, é que certas especificidades semânticas ficam desbotadas ou se
generalizam à medida que componentes específicos de significado se
perdem” (BYBEE, 2015, p. 132). O caso já mencionado do verbo ha-
ver é um bom exemplo: do significado original de “possuir” já não res-
ta nada em seus usos atuais como auxiliar ou apresentacional; o desbo-
tamento foi total. O mesmo se deu com o substantivo pas do francês,
que de “passo” se transformou em mera partícula negativa. Além disso, “o aumentativo da frequência de uso que acompanha tipicamente a
gramaticalização também contribui para o desbotamento ou generaliza-
ção. Quando uma palavra ou frase é usada repetidamente, nós nos habi-
tuamos a ela, que perde algo de seu impacto” (BYBEE, 2015, p. 133).
Um exemplo muito citado é o do advérbio francês hui (‘hoje’): a alta
frequência de seu uso no sintagma au jour d’hui (‘no dia de hoje’),
acabou por transformar todo esse grupo (por amalgamação) em um no-
vo advérbio aujourd’hui, que significa agora simplesmente “hoje”.
Com o desbotamento da primeira construção gramaticalizada, os falan-
tes passaram a dizer au jour d’aujourd’hui (‘hoje em dia’). O emprego
do verbo ir como auxiliar para a formação do futuro levou ao desbota-mento progressivo de seu significado original de “movimento do espa-
ço”, a tal ponto que é possível empregá-lo com verbos que não trazem
nenhuma noção de deslocamento espacial (vou cantar), que implicam
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2904
imobilidade (vou ficar) ou que significam o contrário de ir em seu uso
como verbo pleno (vou voltar). É um caso de desbotamento semântico
acompanhado de generalização. 7) Mudança semântica por acréscimo de significado advindo do
contexto: “Nem toda mudança semântica numa construção gramaticali-
zada consiste na perda de significado lexical; em alguns casos, acres-
centa-se significado por causa da interpretação que a construção assu-
me no contexto. O meio mais habitual de acréscimo de significado é
por inferências feitas pelo ouvinte no contexto particular em que a
construção é usada. Mudanças devidas a inferências podem ocorrer
múltiplas vezes ao longo do caminho da gramaticalização” (BYBEE,
2015, p. 133). Joan Lea Bybee prossegue enfatizando que “os falantes e
os ouvintes estão continuamente fazendo inferências enquanto se co-
municam. Os falantes não podem colocar em linguagem tudo o que querem transmitir ou descrever; preferem confiar no conhecimento que
o ouvinte tem do mundo e do contexto para se fazerem entender. Os
ouvintes operam para extrair a mensagem principal daquilo que ouvem.
Eles não só decodificam palavras e construções como também se per-
guntam continuamente: ‘Por que ele/ela está me dizendo isso?’. Ou se-
ja, o ouvinte tenta discernir os motivos e os objetivos do falante na co-
municação: isso é inferência” (BYBEE, 2015, p. 134). A autora ilustra
esse fenômeno com o caso da formação do futuro em inglês com be
going to + infinitivo = futuro. Essas construções surgiram diacronica-
mente com o sentido de movimento, a partir do qual os ouvintes pude-
ram inferir um sentido adicional de intenção, do qual inferiram, um
passo adiante, o sentido de predição e, daí, de futuro. Quando A per-gunta a B: “Aonde você está indo?”, e B responde: “Vou pôr essas car-
tas no correio”, a resposta revela, simultaneamente, os sentidos de mo-
vimento, intenção e futuro, cristalizados por inferências sucessivas na
construção gramaticalizada.
8) Metáfora ou extensão metafórica: “Uma metáfora promove uma
relação estrutural entre um domínio (normalmente mais concreto) e ou-
tro (normalmente mais abstrato)” (BYBEE, 2015, p. 135). Casos muito
conhecidos são os de partes do corpo humano que se transformam em
itens gramaticais, como o exemplo claríssimo do inglês back que de
substantivo, significando “costas”, passou também a ser uma preposi-
ção, significando “de volta, para trás”. A passagem de sentido espacial (mais concreto) para sentido espacial (mais abstrato) também é fre-
quentemente citada: o latim locu-, “lugar”, está na origem do advérbio
português logo, “daqui a pouco”, com sentido temporal, e da conjunção
José Pereira da Silva
2905
logo, “portanto, por conseguinte”, num grau de abstração ainda maior.
Os estudos de gramaticalização representam habitualmente o processo
de metaforização pelo continuum PESSOA → OBJETO → ESPAÇO →
TEMPO → PROCESSO → QUALIDADE. Um exemplo em português seria o
da palavra boca: parte do corpo (PESSOA) → boca do túnel (OBJETO) →
boca da noite (TEMPO) → de boca (oralmente, informalmente) (PRO-
CESSO) → bocão (“falador, tagarela, fofoqueiro”) (QUALIDADE). Todas
as preposições surgiram com sentido espacial e, em seguida, por meta-
forização, foram adquirindo sentidos temporais e outros, mais abstra-
tos, como os de meros conectivos gramaticais: em Brasília (espaço), em
1998 (tempo); penso em você (relação gramatical).
9) Outras propriedades gerais da gramaticalização, segundo Joan
Lea Bybee, são a gradualidade do processo, também marcado pela va-
riação (em que usos diferenciados do mesmo item ou construção coo-corre e concorrem num mesmo período de tempo). A gramaticalização
é um processo contínuo: “Uma vez formada uma construção e criado
um morfema gramatical, pode-se dizer que a gramaticalização ocorreu,
mas em geral a mudança não se interrompe aí, e a construção continua
a se tornar mais e mais gramatical até que por fim desapareça ou seja
substituída por outra construção com função semelhante” (BYBEE,
2015, p. 136). A gramaticalização também apresenta unidirecionalida-
de, no sentido de que é um “processo difuso que afeta diversas constru-
ções de uma língua, movendo-as na mesma direção – rumo a se torna-
rem mais gramaticais” (BYBEE, 2015, p. 137).
O termo gramaticalização, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), de-
signa um processo linguístico pelo qual um lexema se converte em gramema, ou seja, passa de um estado de unidade lexical para um esta-
do de unidade gramatical.
Na linguística de expressão francesa, o termo foi primeiramente de-
finido por Paul Jules Antoine Meillet (1912), que via na gramaticaliza-
ção a “atribuição do caráter gramatical a uma palavra antes autônoma”.
Nesta perspectiva, a noção é principalmente empregada para servir ao
estudo da evolução das línguas indo-europeias:
“O enfraquecimento do sentido e enfraquecimento da forma das pa-
lavras acessórias caminham juntos; quando ambos estão bastante evi-
denciados, a palavra acessória pode terminar por ser apenas um ele-
mento privado de seu sentido próprio, ligado a uma palavra principal para nela marcar o papel gramatical. A transformação de uma palavra
em elemento gramatical está completa.
[...] as línguas seguem, assim, um tipo de desenvolvimento em espi-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2906
ral: ligam palavras acessórias para obter força expressiva; essas pala-
vras enfraquecem, se degradam e descem ao nível de simples utensílios
gramaticais; ligam-se novas palavra ou palavras diferentes tendo em vista a expressão; o enfraquecimento recomeça, e assim por diante”
(MEILLET, 1912).
A gramaticalização é um aspecto fundamental da mudança linguís-
tica. Ela constitui um processo ao mesmo tempo histórico, dinâmico e
unidirecional. Histórico, porque uma unidade gramaticalizada pode
continuar a desenvolver novas funções gramaticais. Unidirecional, por-
que a unidade em questão passa sem reversibilidade do estado de pala-
vra “plena” ao estado de “palavra vazia”. Alguns linguistas formulam a
hipótese de que, diacronicamente, as categorias “menores” (auxiliares,
conjunções, preposições, pronomes etc., que formam as classes consi-
deradas fechadas) seriam provenientes de categorias “maiores” (nomes, verbos etc., que forma classes abertas).
A unidirecionalidade que caracteriza a gramaticalização é, assim, o
que permite distingui-la da reanálise, noção definida por Ronald Wayne
Langacker (1977) como uma mudança na estrutura subjacente de uma
expressão ou de uma classe de expressões que não se manifesta for-
malmente. Nesta perspectiva, a gramaticalização pode ser considerada
como uma realização específica da reanálise:
“[...] a estrutura [(cantare)habeo] em latim clássico é reanalisada
como [cantare habeo] em latim tardio, o que dá finalmente [chant-e-
rai] (cantarei) [...]. O gênero de reanálise é o resultado de um raciocí-
nio abdutivo: aquele que domina a língua considera os enunciados que
ele compreende como o resultado de gramáticas que ele busca recons-truir. Mas ele respeita também o princípio da iconicidade [...] segundo
a qual os elementos que são ligados no nível conceitual devem também
se unir no nível formal: à medida que o verbo habere se torna um mar-
cador temporal, ele se une mais intimamente ao verbo” (DE MULDER,
2001).
Sugere-se a leitura de La linguistique diachronique: gramaticalisa-
tion et sémantique du prototype, número 130 da revista Language
Française, organizada por Walter De Mulder e Anne Vanderheyden
(2001); o artigo “Does grammaticalization need reanalysis?”, de Martin
Haspelmath (1999); Grammaticalization, de Paul J. Hopper e Elizabeth
Closs Traugott (1993); o capítulo “Syntactic Reanalysis”, de Ronald Wayne Langacker (1977); Le Français en diachronie, de Christiane
Marchello-Nizia (1999); Linguistique historique et linguistique généra-
le, de Paul Jules Antoine Meillet (1912); o artigo “Syntactic Change in
José Pereira da Silva
2907
Chinese: on Grammaticalization”, de Alain Peyraube (1988).
Veja os verbetes: Analogia, Diacronia, Mudança.
Gramaticista
Gramaticista é a pessoa versada em gramática.
Veja o verbete: Gramático.
Gramático
Os "gramáticos" são as pessoas que estudam o assunto, desenvol-
vendo "análises gramaticais" (que têm a ver com estruturas bem-
formadas e a noção de gramaticalidade). O adjetivo "gramatical" é
usado frequentemente quando se faz necessário diferenciar entidades
que pertencem a níveis gramaticais de descrição que se opõem a outros
(semântico, fonológico etc.). Fala-se, assim, de "categoria gramatical"
(gênero, caso, voz etc.), "gênero gramatical" (contrastando com o "gê-
nero natural"), "unidade / item / formativo gramatical" (terminações flexionais), "sujeito / objeto... gramatical" (em oposição a sujeitos / ob-
jetos... "lógicos" ou "semânticos"), "palavra gramatical" (em oposição a
palavra lexical).
Gramaticografia
Gramaticografia é o estudo científico da gramática.
Veja os verbetes: Gramaticologia e Gramatologia.
Gramaticologia
Estudo gramatical sob o ponto de vista científico, ou seja: estudo
metódico e rigoroso da gramática.
Gramatista
Na Antiguidade, gramatista era o mestre-escola, aquele que ensina-
va a ler e a escrever. Hoje, gramatista é o gramático pedante.
Gramatização
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo gramatização foi pro-
posto por Sylvain Auroux em francês (grammatisation) para definir “o
processo que conduz a descrever e instrumentar uma língua na base de
duas tecnologias que são, ainda hoje, os pilares de nosso saber metalin-
guístico: a gramática e o dicionário” (AUROUX, 1994, p. 65). O Re-
nascimento é o período histórico em que esse amplo empreendimento
cultural-ideológico se inicia, mais de 1.300 anos depois do aparecimen-
to das primeiras descrições pormenorizadas de línguas particulares no
Ocidente: o grego e o latim. Para Sylvain Auroux, a gramatização é de
fato uma “revolução tecnológica” (subtítulo de seu livro), que ele con-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2908
sidera tão importante para a história humana quanto a revolução agríco-
la do Neolítico ou a Revolução Industrial do século XIX.
Veja o verbete: Gramaticalização. Os termos gramaticalização e gramatização concorreram, segundo
Franck Neveu (2008, s.v.), durante breve período na metalíngua. Breve,
em razão da criação bem recente do neologismo gramatização. Se o
termo gramaticalização tem servido para identificar o processo de re-
cursos nocionais de uma gramática (ver Danielle Trudeau, 1992), pare-
ce, hoje em dia, a salvo da ambivalência, já que se estabilizou na desig-
nação antiga do processo diacrônico de conversão das unidades lexicais
em morfemas gramaticais.
O termo gramatização é empregado nas ciências da linguagem para
designar dois diferentes tipos de fato. De um lado, o processo de ensi-
no/aprendizagem da gramática escolar, ou seja, a formação gramatical partilhada (ou considerada como) por todos os membros de uma mesma
comunidade linguística (gramatiza-se um indivíduo ou um grupo de in-
divíduos), neologismo forjado por Renée Balibar (1985), pelo modelo
de alfabetização. De outro lado, o processo pelo qual se descreve uma
língua por meio de um recurso metalinguístico, que fornecem as gra-
máticas e os dicionários, e que é subordinado a um dispositivo concei-
tual prévio (gramatiza-se uma língua), acepção desenvolvida pelos his-
toriadores da ciência da linguagem, principalmente por Sylvain Auroux
(1992 e 1994). A partir deste valor, desenvolveu-se uma terceira acep-
ção, segundo a qual uma noção, ao final de um período histórico que
lhe estabilizou o sentido pela identificação regular de um fato ou de um
conjunto de fatos que ela tornou possível, encontra-se integrada a um dispositivo metalinguístico que busca reproduzir-se, qualquer que possa
ser a abordagem histórica que lhe reservam as obras que atestam sua
existência (gramatiza-se uma noção). Este processo de gramatização,
que é reversível (“degramatização”), é um processo histórico cuja ex-
pressão cronológica pode variar consideravelmente segundo o grau de
desenvolvimento tecnológico no qual se inscreve. Esta acepção permi-
te, portanto, descrever e explicar a etapa da história de uma noção gra-
matical, as concorrências que ela sofreu, as suas extensões e restrições
de emprego, até mesmo suas evicções.
As noções de gramaticalização e gramatização marcam assim duas
relações com a história bastante diversas, contudo muitas vezes con-fundidas, já que mantêm estreitos e delicados laços, ainda a serem de-
satados, que unem a língua e o pensamento da língua, ou seja, sua des-
crição, sua gramática.
José Pereira da Silva
2909
Pode-se observar que do grupo humano à língua, e da língua à no-
ção, os objetos da gramatização, por sua diversidade testemunham ma-
nifestamente a complexidade dos processos visados. Sem dúvida, é es-se o sinal de uma provável opacificação progressiva da noção e de sua
previsível divisão em múltiplos itens explicativos. Por hora, parece,
contudo, legítimo postular sua operatividade.
Notamos, enfim, que se a relatividade dos conceitos e dos domínios
que podem servir para defini-los é um parâmetro indispensável à elabo-
ração do conhecimento linguístico, esta relatividade se aplica também à
história das noções. Negligenciando-se o fato que o arquiva, como todo
corpus não é um dado, mas um constructo, este corre o risco de limitar
sua contribuição a uma abordagem estritamente cumulativa das ideias e
dos fatos.
Sugere-se, complementarmente, a leitura do tomo 2 da Histoire des idées linguistiques: Le développement de la grammaire occidentale
(1992) e La révolution technologique de la grammatisation: introduc-
tion à l’histoire des sciences du langage (1994), de Sylvain Auroux;
L’instituion du français. Essai sur le colinguisme des carolingiens à la
République, de Renée Balibar (1985); Les inventeurs du bon usage
(1529-1647), de Danielle Trudeau (1992).
Veja os verbetes: Epistemologia, Gramaticalização, Metalíngua.
Gramatologia
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo gramatologia foi inici-
almente empregado em ciências da linguagem, a partir dos trabalhos de
Ignace Jay Gelb (1952), para designar a ciência da escrita (sua defini-
ção, sua evolução, seus princípios e suas técnicas), e, mais comumente, para identificar um domínio científico que tem por objeto de estudo as
diferentes abordagens do escrito (percepção visual e decifração, gra-
fismo, caligrafia, tipografia, língua escrita etc.). Nesta perspectiva, o
termo está hoje fora de uso. Grafemática o substitui naturalmente.
Em filosofia da linguagem, o conceito de gramatologia foi elabora-
do par Jacques Derrida (1967), para desenvolver a tese, antissaussuria-
na, da antecedência da escrita com relação à fala. O termo escrita se
reveste, para Jacques Derrida, de um duplo valor: um sentido corres-
pondendo a um emprego padrão da palavra, e um sentido, que podemos
qualificar de metafísico, que lhe é atribuído pela denominação de ar-
quiescrita, cujo objeto determinaria as condições de possibilidade da escrita.
“Esta arquiescrita, se bem que o conceito lhe seja atribuído pelos
temas do ‘arbitrário do signo’ e da diferença, não pode, nem poderá
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2910
jamais ser reconhecida como objeto de uma ciência. É ela própria que
não pode se deixar reduzir à forma da presença. Pois esta comanda to-
da objetivação do objeto e toda relação de saber” (DERRIDA, 1967). A tese central de Jacques Derrida se resume na proposição de que a
escrita existe na natureza da linguagem antes da sua realização vocal, já
que a metafísica ocidental sustenta o pré-julgado da antecedência da
primazia da fala (logocentrismo) sobre a escrita.
A objeção dos linguistas à visão das teses derridaianas se exprime
de múltiplas maneiras. Sobretudo pelo fato de que a possibilidade de
colocar em correspondência as formas gráficas com as formas vocais
não deveria ter por implicação qualquer estrutura gráfica de linguagem
falada. Ainda que nossa representação da linguagem fosse essencial-
mente gráfica, já que quando da produção da fala não imaginamos o
fluxo vocal, mas outra coisa, não poderíamos concluir, portanto, que a essência da linguagem seja da mesma natureza. Tal conclusão levaria a
atribuir a estrutura de nossa representação da linguagem à própria es-
trutura da linguagem.
Veja os verbetes: Arbitrário linguístico, Escrita, Grafemática, Li-
nearidade, Logocentrismo.
Gramema
Termos correspondentes basicamente à distinção entre morfema
gramatical e morfema lexical, segundo José Lemos Monteiro (2001, p.
18).
Os gramemas podem ser formas presas (no caso de afixos que se ar-
ticulam com os núcleos significativos dos lexemas) ou formas soltas
(como se verifica com os artigos, as preposições e alguns advérbios). Os lexemas, por seu turno, constituem as unidades de base do léxico
e pertencem a inventários ilimitados e abertos, uma vez que novos radi-
cais podem ser criados.
Bernard Pottier emprega ainda outros termos, como lexia, elemento
do léxico que se opõe ao morfema e à palavra. A lexia é a unidade fun-
cional significativa do discurso e se classifica em simples (cavalo),
composta (cavalo-marinho) e complexa (a cavalo).
Na terminologia de Bernard Pottier, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), gramema é um morfema gramatical, em oposição aos mor-
femas lexicais ou lexemas. O gramema pode ser dependente (são os di-
versos afixos: in- em insatisfeito; -oso em gostoso) ou independente (artigos, preposições, certos advérbios. Exemplos: o, para, muito).
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), os gramemas são morfemas
“gramaticais”, que se definem por oposição aos lexemas (ou morfemas
José Pereira da Silva
2911
lexicais), os quais asseguram a especificidade semântica de uma pala-
vra. Por distinção com esses últimos, os gramemas compõem classes
fechadas, de modo sincrônico (ou seja, num dado estágio de língua), porque, enquanto marcadores de referências morfossintáticas e semân-
ticas entre os constituintes do enunciado, eles não têm a função de for-
necer ovas unidades à morfologia e ao léxico de uma língua. Distin-
guem-se correntemente os gramemas livres e os gramemas presos. Os
gramemas livres formam o que chamamos palavras gramaticais (deter-
minantes, pronomes, preposições, conjunções etc.). Os gramemas pre-
sos são os afixos derivacionais ou flexionais (desinências de número,
de gênero, de pessoa, de caso, prefixos, sufixos etc.). Mas, como obser-
va adequadamente Bernard Fradin (2003), o campo de aplicação da no-
ção de gramema não abarca sempre, de uma análise à outra, as mesmas
realidades. “O termo gramema provém da linguística estrutural europeia. Para
Bernard Pottier [...], constitui um dos dois categoremas (ou classes
formais de morfemas), sendo o outro o lexema. Expressa as unidades
mínimas da forma. Por extensão, a classe dos gramemas engloba tam-
bém os afixos (que são considerados como morfemas por Bernard Pot-
tier). François Rastier adota um ponto de vista idêntico, já que chama
gramemas as marcas que surgem da gramática (e não do léxico), quer
sejam elementos livres ou marcas flexionais (o -s do plural em francês)
[...]. Do meu ponto de vista, as marcas flexionais afixadas (e a fortiori
não segmentais) não são gramemas no sentido que compreendemos,
pois constituem elementos fortemente dependentes, e sobretudo não
são signos, mas modificações de signos. Nem por isso nossa caracteri-zação concorda com a de Bernard Pottier e a de François Rastier em re-
lação ao fato de que os gramemas comportam sempre um aspecto de
substrato e não são puras entidades semânticas. Esta visão se opõe
àquela, mais marginal, segundo a qual o gramema representa o signifi-
cado de uma entidade gramatical e nisto se distingue do lexema. Igor
Aleksandrovič Mel’čuk [...] se apercebe deste detalhe, pois chama
gramema a ‘significação flexional’ [...], que ele opõe ao derivatema ou
‘significação derivacional’ [...]” (FRADIN, 2003).
Veja os verbetes: Afixo, Base, Derivação, Flexão, Flexivo, Lexema,
Monema, Morfema.
Gramema heterossintagmático
Veja: Gramema e Relação heterossintagmática.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2912
Gramêmica
Gramêmica é o estudo dos gramemas.
Grand Guignol
Conhecido desde tempos imemoriais na China, segundo Massaud
Moisés (2004, s.v.), o teatro de fantoches ou bonifrates ressurgiu na Itá-
lia e dali se transladou para Lyon, na França, em 1795, levado por Lau-
rent Mourquet (1744-1844), que lhe teria atribuído o apelativo guignol,
oriundo da personagem principal em cena.
O teatro de fantoches se distingue do teatro de marionetes pelo fato
de que, neste, os bonecos são suspensos por meio de cordelinhos mane-
jados pelos “atores”, que se colocam na parte superior do tablado; na-
quele, os bonecos são enfiados nos dedos índex, para a cabeça, e pole-
gar e médio, para as mangas, e os “atores” se localizam na parte inferi-
or do palco. Conduzido a Paris, o guignol originou o aparecimento, em 1897,
por iniciativa de Oscar Métenier (1859-1913), do “Théâtre du Grand
Guignol”, mas adquiriu um sentido novo, talvez emprestado pelo adje-
tivo grand: em vez de bonecos, os espetáculos são protagonizados por
atores vivos, e as peças gravitam en torno de temas de medo, violência,
assassínios, raptos etc., enfim melodramas de horror e macabro, como,
por exemplo, Le Jardin des Supplices (1899), de Octave Henri Marie
Mirbeau (1848-1917). A expressão grand guignol passou a nomear as
peças com tais características, que continuaram a ser representados no
século XX, especialmente nos teatros de bolso de Montmartre.
O vocábulo guignol ainda designa, em francês, um pequeno cama-
rim para a troca ligeira dos atores entre uma cena e outra.
Grande signo
Grande signo é o mesmo que macrossegmento.
Grandes capitais
Veja o verbete: Letra maiúscula.
Grandes linhas
Grandes linhas é a expressão usada para designar as ideias gerais,
as metas ou objetivos principais a atingir num projeto, seja ele de que
natureza for.
Granel
Granel é a composição tipográfica ainda não paginada; pedaço de
composição em qualquer dimensão tal qual sai das máquinas de com-posição ou fundição, atendendo somente à justificação das linhas sem
José Pereira da Silva
2913
levar em conta a medida longitudinal da página. As provas de granel
são tiradas antes da paginação, opondo-se, assim, às provas de página;
é o bloco de texto composto, o paquê.
Granularidade
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se granularidade a pre-
cisão de etiquetagem das palavras em um corpus eletrônico. Assim
como a resolução de uma imagem numérica se mede pelo número de
pontos que a definem (grãos = pixels), a precisão da descrição lexical
se mede pela sutileza das distinções semânticas que são associadas às
palavras que compõem o corpus. Quanto mais estas distinções são nu-
merosas, maior é a precisão da descrição lexical, e mais fina é a granu-
laridade. Mas, em informática documental, esta precisão só é acessível
se a busca for formulada pelo operador é possuidora de uma matriz su-
ficiente de critérios de etiquetagem. Veja os verbetes: Anotação, Categorização, Codificação, Corpus,
Etiquetagem, Lexicometria.
Grasseyé
O francês grasseyé designa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
a vibrante uvular produzida pela vibração da úvula contra a parte poste-
rior do dorso da língua, anotada [R]. Em francês, essa articulação não
tem valor propriamente linguístico. Ela caracteriza certa pronúncia, a
dos arrabaldes e a de uma certa geração de cantores, em oposição ao [r]
apical característico de certas províncias (Borgonha, Corrèze, Cévennes
etc.) e ao [ᴚ] parisiense do francês standard. Mas há sistemas linguísti-
cos, tais como os dialetos franco-provençais, o português de Lisboa,
certas variedades de espanhol da América Latina, em que a vibrante gu-tural se opõe fonologicamente à vibrante apical. Nesses casos, a vibran-
te uvular corresponde em geral a uma antiga vibrante apical dupla: as-
sim, o português opõe caro [karu] e carro [kaRu].
Grau
Variação que sofre o sentido de uma palavra, quer represente um
conceito, quer um objeto, no que diz respeito à intensidade do conceito
ou à grandeza do objeto. Essa variação pode obter-se por meio de subs-
tituição de um radical por outro (troca de palavras), ou de modificações
nos elementos acidentais da significação da palavra (morfemas). Há,
por exemplo gradação de sentido nas seguintes palavras: coragem –
prudência –temeridade. Ou então: colina – morro – montanha. Temos aqui a gradação semântica, de valor mais estilístico que gramatical. A
gradação de que trata a gramática é a do segundo tipo, isto é, a que diz
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2914
respeito às flexões das palavras ou processos equivalentes.
A gradação que se faz por meio de flexões tem o nome de sintética.
Exemplos: casa > casarão; belo > belíssimo; saca > sacola; súpero > superior; beber > bebericar. A que se faz com palavras auxiliares é a
gradação analítica. Exemplos: cidade > cidade pequena; alto > mais
alto; forte > muito forte.
Há outros processos pelos quais a pessoa que fala pode intensificar
o sentido de certas palavras. O de prolongar a vogal tônica, por exem-
plo (processo fonético). Exemplo: É uma rua compriiiiiida!; o de repe-
tir a mesma palavra (processo léxico), próprio dos qualificativos.
Exemplo: Ele é tolo, tolo.
A gradação é normal para as seguintes classes de palavras: substan-
tivos (aumentativos e diminutivos), adjetivos (comparativos e superla-
tivos), advérbios de modo (comparativos e superlativos). Assim, de ca-sa (substantivo), temos o aumentativo casarão e o diminutivo casinha;
de bom (adjetivo), temos o comparativo melhor e o superlativo ótimo;
de tristemente (advérbio de modo), temos o comparativo mais triste-
mente e o superlativo tristissimamente.
Mas também ocorre em outra espécie de palavras. Exemplos: bebe-
ricar (verbo), pertinho (advérbio de lugar), dormindinho (gerúndio,
usado no Nordeste). A esse propósito, é útil transcrever o que diz João
Ribeiro, no Dicionário Gramatical.
"Compreendido de modo mais geral, veremos que a noção de grau
se aplica a toda a categoria de palavras e a todos os vocábulos que po-
dem ter nuanças de sentido. Os sinônimos não são, em grande parte,
mais do que fenômenos de grau, na ordem mental, por isso que expri-mem variações de intensidade e de extensão de certos conceitos: casa e
palácio; estima e amizade etc.
"Por outra parte, além das formas nominais, o grau propriamente de
flexão tem exemplos característicos que ficaram das línguas antigas. A
preposição in faz no comparativo inter, no superlativo intimus; a pre-
posição prae tem os graus praeter, prior e primus; cum, contra; super,
superior, sumus ou supremus (superius); ex, extra, extremus de exteri-
mus etc.
"Nos pronomes, as formas de grau com comparativo ariano em –ter
são inegáveis: nos > comparativo noster; vos > voster ou vester etc.
"Os próprios verbos nas suas flexões de reiteração exprimem o grau: agir > agitar (agir a miúde); saltar > saltitar; morrer > esmore-
cer; florir > florescer; murchar > emurchecer etc. Tais matizes de sig-
nificado exprimem condições de grau, evidentemente". (RIBEIRO,
José Pereira da Silva
2915
1906, p. 142, apud ELIA, 1962, s.v.)
Veja também, a este respeito, Adjetivo, Advérbio, Analítico, Aumen-
tativo, Comparativo, Desinência, Diminutivo, Flexão, Relativo, Signifi-
cado, Substantivo, Sufixo e Superlativo.
Grau aumentativo
Grau aumentativo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o
grau do substantivo que indica tamanho maior do ser em relação a uma
dimensão considerada normal. Apresenta-se sob duas formas: a) au-
mentativo analítico, com acréscimo de adjetivo (cavalo grande, barriga
enorme) e b) aumentativo sintético, com acréscimo de sufixo (cavalão,
barrigão, barrigona).
Como nem todos os substantivos possuem aumentativo sintético, a
língua portuguesa se caracteriza pelo emprego de aumentativos analíti-
cos. Há substantivos que perderam no todo ou em parte a ideia de di-mensão maior. Assim: portão, blusão, cartão, caldeirão e paredão não
são mais aumentativos sintéticos, no sentido rigoroso da palavra, já es-
tando, inclusive, dicionarizados e admitindo diminutivo (cartãozinho,
portãozinho). No aumentativo sintético, o sufixo mais produtivo é –
(z)ão, havendo também ocorrência menos frequente de outros sufixos,
como se observa em -aça (barcaça, pernaça, mulheraça); -aço (anima-
laço, volumaço); -alha (gentalha, muralha); -alhão (dramalhão, vera-
lhão, vagalhão), -arra (bocarra, naviarra); -astro (medicastro, poe-
trastro); -ona (mulherona, gatona); -orra (beiçorra, cabeçorra), -
(z)arrão (canzarrão, homenzarrão).
Emprega-se a grafia com -z em substantivos terminados por conso-
ante, som nasal e vogal tônica. Assim: animalzão, canzarrão, homen-zarrão, urubuzão. O sufixo de aumentativo pode se associar a signifi-
cados de desprezo, demérito e zombaria (cavalão nem sempre é cavalo
grande); indicar gênero diferente do gênero da palavra no grau normal
(a barriga / o barrigão, a mulher / o mulherão) e expressar, no adjeti-
vo, a intensidade e não o tamanho (homem pobretão – não significa
homem pobre grande, mas, homem muito pobre).
Veja: Adjetivo, Aumentativo, Consoante, Diminutivo, Gênero do
substantivo, Grau do substantivo, Língua portuguesa, Palavra, Signifi-
cado, Substantivo, Sufixo e Vogal tônica.
Grau comparativo
Grau comparativo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o grau do adjetivo que estabelece relação de igualdade, inferioridade ou
superioridade entre a característica de dois ou mais seres ou entre uma
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2916
qualidade e outra qualidade do mesmo ser. Pode ser:
1. de igualdade, que apresenta a qualidade como igual, sendo cons-
tituído do advérbio de intensidade tão em correlação com a conjunção subordinativa comparativa como (ou quanto). Exemplos: Ele é tão
aplicado quanto (como) a irmã. Ele é tão estudioso quanto educado.
No uso cotidiano, pode vir expresso por que nem (Esta menina é bonita
que em uma flor).
2. de inferioridade, que apresenta a qualidade como inferior, sendo
constituído do advérbio de intensidade menos cm correlação com a
conjunção subordinativa comparativa que ou do que. Exemplos: Ele é
menos aplicado que (do que) a irmã. Ele é menos estudioso que (do
que) educado.
3. de superioridade, que apresenta a qualidade coo superior, sendo
constituído do advérbio de intensidade mais em correlação com a con-junção subordinativa que ou do que. Exemplos: Ele é mais aplicado
que (do que) a irmã. Ele é mais estudioso que (do que) educado.
Existem alguns adjetivos que não admitem o comparativo, como
gêmeo, primogênito e último. Outros possuem formas sintéticas irregu-
lares, como bom (melhor que, pior do que): Ele é melhor (do) que você;
mau ou ruim (pior que, pior do que): Ela é pior (do) que a vizinha;
grande (maior que, maior do que): Este prédio é maior (do) que o ou-
tro; pequeno (menor que, menor do que): O lucro de hoje foi menor
(do) que o de ontem.
Estes adjetivos são usados nas formas normais, caso a comparação
de superioridade se efetue entre qualidades do mesmo ser. Exemplos: O
rapaz é mais bom que (do que) mau. Ela é mais pequena que (do que) grande.
Este grau também se aplica a alguns advérbios, possuindo a mesma
formação. Por exemplo: 1. de igualdade (Ele mora tão longe quanto
(como) a irmã. 2. de inferioridade (Ele mora menos longe que (do que)
você). 3. de superioridade (Ele mora mais longe que (do que) nós).
Veja: Adjetivo, Advérbio, Comparativo, Conjunção subordinativa
comparativa, Correlação e Grau do adjetivo.
Grau diminutivo
Grau diminutivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o
grau do substantivo que indica tamanho menor do ser em relação a uma
dimensão considerada normal e se apresenta sob duas formas: o grau diminutivo analítico (com acréscimo de um adjetivo. Exemplos: cavalo
pequeno, barriga diminuta) e o grau diminutivo sintético (com acrés-
cimo de sufixo. Exemplos: cavalinho, barriguinha).
José Pereira da Silva
2917
Há substantivos que perderam no todo ou em parte a ideia de di-
mensão menor. Assim, flautim, camarim e galinha não são mais dimi-
nutivos sintéticos, no sentido rigoroso da palavra, já estando inclusive dicionarizados, como se pode ler no Minidicionário da Língua Portu-
guesa, de Silveira Bueno (2000, s.v.): “camarim, s.m. Aposento onde
os artistas se vestem. ca.ma.rim” e “flautim, s.m. Instrumento musical
de sopro semelhante à flauta, porém menor e mais fino, dando a oitava
superior. flau.tim”.
No diminutivo sintético, o sufixo mais produtivo é –(z)inho, haven-
do também ocorrência menos frequente de outros sufixos, como se ob-
serva em -acho (fogacho, lobacho, riacho, vulgacho); -eco (jornaleco,
livreco, padreco); -ejo (animalejo, lugarejo, vilarejo); -ela (radicela,
rodela, ruela, viela); -elho (artiguelho, grupelho, rapazelho); -eta
(banqueta, caixeta, historieta, saleta); -ete (artiguete, filete, vagonete); -im (festim, fradim); -isco (chuvisco, lambisco, pedrisco); -ota (aldeota,
ilhota, velhota); -ote (frangote, meninote, rapazote, saiote) etc.
Emprega-se a grafia com -z- em proparoxítonos e em substantivos
terminados por consoante, som nasal e vogal tônica. Assim, tem-se: ar-
vorezinha, animalzinho, cãozinho e cafezinho. Alguns diminutivos sin-
téticos que se prendem a radicais latinos, sempre proparoxítonos, toma-
ram um significado especializado, como em animal > animálculo, cana
> canícula e caneta, cela > célula, clave > clavícula, cútis > cutícula,
flama > flâmula, forma > fórmula, furo > furúnculo, glande > glându-
la, globo > glóbulo, lente > lentilha, lobo [ɔ] > lóbulo, modo > módu-
lo, monte > montículo, nó > nódulo, obra > opúsculo, parte > partícu-
la, pele > película, raiz > radícula, rede > retícula, uva > úvula e ver-so > versículo.
O sufixo diminutivo pode se associar a significados de afeto, cari-
nho, desprezo, ironia. Assim, gatinha nem sempre é gata pequena,
mãezinha nem sempre é mãe pequena, jornaleco nem sempre é um jor-
nal pequeno. Pode expressar, no adjetivo, a intensidade e não o tama-
nho. Assim, mulher bonitinha não significa mulher bonita pequena,
mas mulher meio bonita, pouco bonita. Também pode indicar, no ad-
vérbio, a intensidade, muitas vezes, com valor afetivo, mais usado na
comunicação diária, como nas frases: Chegou cedinho, cedinho. Saiu
agorinha mesmo. Partiu de manhãzinha, antes de o sol nascer.
Para formar o plural dos diminutivos com os sufixos iniciados por -z-, acrescenta-se o sufixo ao plural da forma normal, transferindo a de-
sinência -s de plural para o final do sufixo. Assim, tem-se: coração >
coraçõe(s) + zinho + s = coraçõezinhos; jornal > jornai(s) + zinho + s
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2918
= jornaizinhos; amor > amore(s) + zinho + s = amorezinhos.
Outros exemplos: colher > colheres > colherezinhas; animal >
animais > animaizinhos; anel > anéis > aneizinhos; túnel > túneis > tuneizinhos; anzol > anzóis > anzoizinhos; limão > limões > limoezi-
nhos; pão > pães > pãezinhos.
Veja: Adjetivo, Advérbio, Comunicação, Consoante, Diminutivo,
Grau do substantivo, Palavra, Plural, Proparoxítono, Radical, Signifi-
cado, Substantivo, Sufixo e Vogal tônica.
Grau do adjetivo
Grau do adjetivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o
grau que, pelo sufixo nominal ou acréscimo de advérbio de intensidade,
estabelece relação de igualdade, inferioridade e superioridade entre a
característica de dois ou mais seres ou indica elevação do atributo ao
grau maior ou mais abrangente. Pode ser comparativo e superlativo. O grau comparativo do adjetivo pode ser de igualdade (Exemplos:
Ele é tão aplicado quanto (ou como) a irmã. Ele é tão estudioso quanto
educado), de inferioridade (Exemplos: Ele é menos aplicado que (ou
do que) educado. Ele é menos estudioso que (ou do que) educado) e de
superioridade (Exemplos: Ele é mais aplicado que (ou do que) a irmã.
Ele é mais estudioso que (ou do que) educado).
O grau superlativo do adjetivo pode ser absoluto analítico (muito fe-
liz, demasiado difícil, bastante pobre), absoluto sintético (felicíssimo,
dificílimo, paupérrimo), relativo de inferioridade (a menos feliz dentre
todas, o menos difícil de tudo, o menos pobre da turma) e relativo de
superioridade (a mais feliz dentre todas, o mais difícil de tudo, o mais
pobre da turma).
Veja: Advérbio, Comparativo, Grau, Sufixo e Superlativo.
Grau do advérbio
Grau do advérbio, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o
grau que, pelo sufixo nominal ou acréscimo de advérbio de intensidade,
estabelece relação de igualdade, inferioridade e superioridade de uma
circunstância, associada ao processo verbal estabelecido entre dois ou
mais seres, ou indica elevação desta circunstância ao grau maior ou
mais abrangente.
O grau do advérbio pode ser comparativo e superlativo, sendo que o
grau comparativo pode ser de igualdade, de inferioridade ou de superi-
oridade e o grau superlativo pode ser absoluto analítico ou sintético e relativo de superioridade e de inferioridade.
Grau comparativo de igualdade (Ele mora tão longe quanto (ou
José Pereira da Silva
2919
como) a irmão), de inferioridade (Ele mora menos longe que (ou do
que) você) e de superioridade (Ele mora mais longe que (ou do que)
nós). Grau superlativo absoluto analítico (muito longe, demasiado perto,
muito pouco), grau superlativo absoluto sintético (longíssimo, pertíssi-
mo, pouquíssimo), superlativo relativo de inferioridade (o menos longe
de todos, o menos cedo possível, o menos depressa de tudo) e superla-
tivo relativo de superioridade (o mais longe de todos, o mais cedo pos-
sível, o mais depressa de tudo).
Veja: Advérbio, comparativo, grau, sufixo e superlativo.
Grau do substantivo
Grau do substantivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é
o grau que, pelo sufixo nominal ou acréscimo de adjetivo, indica a di-
mensão ou o tamanho maior ou menor do ser, em relação a uma dimen-são considerada normal.
O grau do substantivo pode ser aumentativo analítico (cavalo gran-
de, barriga enorme, barriga grande), aumentativo sintético (cavalão,
barrigão, barrigona), diminutivo analítico (cavalo pequeno, barriga
diminuta) e diminutivo sintético (cavalinho, barriguinha).
Veja: Adjetivo, Aumentativo, Diminutivo, Grau e Sufixo.
Grau superlativo
Grau superlativo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é o
grau do adjetivo que indica elevação do atributo ao grau maior ou mais
abrangente, estabelecendo ou não relação com os demais seres da espé-
cie, de modo que pode ser grau superlativo absoluto ou grau superlativo
relativo. O grau superlativo absoluto eleva o adjetivo ao mais alto grau, com
ausência de relação com outros seres, apresentando-se sob duas formas:
grau superlativo absoluto analítico, com acréscimo de advérbio de in-
tensidade (muito feliz, demasiado difícil, bastante pobre) e grau super-
lativo absoluto sintético, com acréscimo de sufixo -íssimo, -imo e -
érrimo (felicíssimo, dificílimo, paupérrimo).
O sufixo mais comum da língua portuguesa para expressar o super-
lativo absoluto sintético é -íssimo, podendo ocorrer também com alguns
adjetivos a forma erudita de radical latino, sempre proparoxítona.
Exemplos: acre > acérrimo, ágil > agílimo, amável > amabilíssimo,
antigo > antiquíssimo etc. A forma erudita pode coexistir com a mais comum, terminada pelo
sufixo -íssimo. Assim, tem-se agílimo e agilíssimo, antiquíssimo e an-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2920
tiguíssimo, paupérrimo e pobríssimo, nigérrimo e negríssimo.
O grau superlativo absoluto sintético pode ver expresso também por
prefixos, como arqui-, extra-, hiper-, mega-, super- e ultra-. Exemplos: arquimilionário, extrafino, hipersensível, superdifícil, ultraleve.
O grau superlativo relativo eleva o adjetivo ao grau maior ou me-
nor, estabelecendo relação com os demais seres da espécie, podendo ser
superlativo relativo de inferioridade, apresentando a qualidade como
inferior (sendo constituído do advérbio de intensidade menos precedido
de o ou a) e superlativo relativo de superioridade, apresentando a qua-
lidade como superior (sendo constituído do advérbio de intensidade
mais precedido de o ou a). Exemplifiquemos:
Grau superlativo absoluto analítico do adjetivo (muito feliz, demasi-
ado difícil, bastante pobre); grau absoluto sintético do adjetivo (felicís-
simo, dificílimo, paupérrimo); grau superlativo relativo de inferioridade do adjetivo (a menos feliz de todas, o menos difícil de tudo, o menos
pobre da turma) e grau superlativo relativo de superioridade (o mais fe-
liz dentre todas, o mais difícil de tudo, a mais pobre da turma).
Alguns adjetivos possuem formas sintéticas irregulares: bom > óti-
mo > o melhor de todos ou a melhor de todas; mau > péssimo > o pior
de todos ou a pior de todas, grande > máximo > o maior de todos ou a
maior de todas, pequeno > mínimo > o menor de todos ou a menor de
todas.
Em “...a mais alta corte do universo...”, tem-se o adjetivo alta no
grau superlativo relativo de superioridade.
O grau superlativo também se aplica a alguns advérbios, possuindo
a mesma formação. Por exemplo: grau superlativo absoluto relativo do advérbio (muito longe, demasiado perto, muito pouco); grau superlati-
vo absoluto sintético do advérbio (longíssimo, pertíssimo, pouquíssi-
mo); grau superlativo relativo de inferioridade do advérbio (o menos
longe de todos, o menos cedo possível, o menos depressa de tudo) e
grau superlativo relativo de superioridade (o mais longe de todos, o
mais cedo possível, o mais depressa de tudo).
Veja: Adjetivo, Advérbio, Grau do adjetivo, Língua portuguesa,
Prefixo, Proparoxítono, Radical, Sufixo e Superlativo.
Grau zero
Veja o verbete: Alternância.
Grau zero da escrita
Grau zero da escrita é o caso de uma escrita que o uso tivesse pos-
José Pereira da Silva
2921
sibilitado completamente e que seria, por esse fato, totalmente redun-
dante, predeterminando cada palavra as palavras que a seguem.
Grau zero de recepção
Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.) dizem que,
segundo Victor Aguiar e Silva, grau zero de recepção “é a ausência de
concretização de um texto literária, um texto que é progressivamente
negligenciado e esquecido pelos leitores”. Segundo o mesmo autor,
aquele em que o texto é degradado pela leitura estereótipo, posta em
prática pelos manuais de estudos literários especializados em paráfrases
e resumos de texto, esquemas, fichas etc.
Graus de alternância
Graus de alternância são os morfemas de alternância vocálica que
se distinguem pela quantidade da vogal; breve, normal, longa e grau ze-
ro (desaparecimento) (JOTA, 1981, s.v.).
Grav.
Grav. é abreviatura de gravura, gravado, gravador e gravação.
Gravação em vídeo
Gravação em vídeo é o armazenamento de imagens num suporte mag-
nético, geralmente em movimento e acompanhados de som, que se des-
tina a ser vistas numa tela.
Gravação sonora
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gravação sonora é o uso de um gravador de fitas sonoras e do equipa-
mento anexo, como as misturadoras, ampli ficadores e fontes sonoras,
para registrar sons em fita ou película magnética, cinematográfica ou
outros tipos de suporte. Gravação de vibrações sonoras feita através de meios mecânicos ou elétricos, com vista à sua futura reprodução. Gra-
vação sonora já feita é o registro sonoro.
Grave
Espécie de acento gráfico, em forma de traço inclinado para a es-
querda de quem escreve, que tem, na ortografia vigente, os seguintes
ofícios:
a) indicar a contração da preposição a com o artigo a ou com o pro-
nome demonstrativo a. Exemplos: Vou à (= a + a) cidade. Prefiro a
aula de português à de matemática.
b) indicar a contração da preposição a com o a da sílaba inicial dos
pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Exemplo: Respon-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2922
da àquele telefonema.
c) Em textos anteriores a 1971, o acento grave era usado também
para indicar a vogal subtônica de palavras que continham o sufixo –mente, ou qualquer outro sufixo iniciado com a consoante z. Exemplos:
sòmente (só + mente), jacarèzinho (jacaré + zinho).
Em fonética e fonologia, grave é o traço distintivo do sistema de
traços de Roman Jakobson (1896-1982) e Morris Halle, definido articu-
latória e acusticamente como tendo articulação periférica no trato vocal
e concentração de energia nas frequências mais baixas do espectro. Re-
presenta, tipicamente, articulações labiais, velares, uvulares e as vogais
posteriores. No sistema de traços do SPE (Sound Pattern of English),
de Noam Chomsky e Morris Halle, tem correlato aproximado com o
traço [-coronal] para consoantes e [+posterior] para vogais.
Em versificação, veja os verbetes: Verso, Verso grave e Verso intei-ro. Em fonética, veja o verbete: Agudo.
Grave é também o mesmo que paroxítono.
Gravidade (modelo de)
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), modelo de gravidade é o mo-
delo de mudança linguística e de difusão proposto por Peter Trudgill
(1974) com base nos trabalhos do geógrafo sueco Torsten Hägerstrand
(1916-2004) para as ciências sociais. Descreve a probabilidade de que
padrões de uso linguístico que emergiram em determinado centro urba-
no venham a influenciar a fala de outro centro urbano. Segundo Peter
Trudgill, a influência linguística através de regiões é função da distân-
cia entre os lugares, bem como do tamanho relativo de sua população.
O modelo parte da ideia de que lugares com população maior exibem mais interação entre si do que com lugares menores, mas tal interação
diminui com a distância. Uma mudança se propagará de uma cidade
grande para a cidade grande seguinte com a influência diminuindo à
medida que aumenta a distância entre elas. Ao contrário do modelo de
ondas, que focaliza a difusão de uma mudança ao longo de uma área
geográfica, o modelo de gravidade descreve padrão ou direção em que
as mudanças se movem de uma cidade para outra.
Gravura
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
gravura e a arte de traçar figuras ou desenhos sobre materiais duros:
pedra, madeira, aço, cobre etc. com a finalidade de os imprimir. A ima-gem obtida se denomina estampa ou gravura.
A impressão de gravuras é anterior à tipografia. Já no século XIV, a
José Pereira da Silva
2923
gravura era usada para fazer documentos com caráter lúdico (cartas de
jogar) ou com caráter religioso (registro de santos). Com o aparecimen-
to da tipografia, a gravura se associou a ela e foram impressos os pri-meiros livros ilustrados com gravuras. Nos primórdios, estas gravuras
eram usadas apenas para ilustrar, frequentemente utilizado desenhos
que nada tinham a ver com o texto. Quando se passou ao livro ilustra-
do, a gravura passou a estar diretamente relacionada com a obra em que
aparecia inserida.
Grego
Grego é a língua indo-europeia falada na Grécia. Há linguistas que
discordam da existência do grego comum primitivo, donde promanari-
am os grupos jônico-ático, árcado-cipriota, eólico e ocidental. Pensam
que, ao contrário da divergência, teria havido convergência: esses gru-
pos coexistiram paralelamente e convergiram para a coiné. Atualmente, com a decifração da escrita micênica linear b, sabe-se que a suposta
idade do grego recua três séculos ou mais antes do saque de Troia
(1183 a.C.) a que se refere Homero na Ilíada (JOTA, 1981, s.v.).
Elementos gregos são as palavras gregas introduzidas pelos colonos
durante a colonização desse povo na península ibérica, ou se perderam
totalmente ou foram incorporadas ao latim de onde depois vieram até a
nova língua que se formava. Segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971,
s.v.), chegaram ao nosso léxico algumas palavras do grego medieval
por meio das línguas românicas, como: acídia, botica, esmeril, farol,
galé, guitarra etc. Modernamente, os eruditos e sábios recorrem ao gre-
go para formarem os neologismos técnicos e científicos que se contam
por milhares e que crescem cada dia mais. Essas formações científicas e artísticas começaram, propriamente, logo depois do Renascimento.
Alguns exemplos dessas formações podem ser exemplificados com as
palavras seguintes: antropologia, arqueologia, arquitetura, astrologia,
astronomia, átomo, bacteriologia, biologia, biotipologia, botânica, ci-
bernética, cosmografia, eletrônica, embriologia, etnografia, física, galá-
xia, genética, geografia, geologia, geomorfologia, hidrografia, nêutron,
paleontologia, petrografia, petrologia, psicanálise, psicologia, próton,
radiotecnia, zoologia, zootecnia etc.
Sobre os diversos tipos de gravura, sugere-se a consulta ao Dicioná-
rio do Livro, de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, p.
367-370).
Grelha
O mesmo que grade.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2924
Grifo
Grifo é o tipo de letra itálica, inclinado, assim chamado por ter sido
empregado por Sebastiano Grivo (1491-1556). Chama-se grifo também
a parte de uma publicação periódica impressa em itálico.
Grimm
Dá-se o nome de lei de Grimm, segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.), a uma das mais importantes leis fonéticas. Descoberta em 1822
por Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), essa lei explica as princi-
pais correspondências entre as línguas germânicas, por uma mutação
surgida no período pré-histórico do germânico: as consoantes aspiradas
do indo-europeu [bh, dh, gh] e tornaram as não aspiradas [b, d, g], as
sonoras [b, d, g] se tornaram as surdas [p, t, k], enquanto as consoantes
surdas se tornaram aspiradas [f, θ, h]. Essa lei, que não dava conta de
um certo número de exceções, foi completada mais tarde pela lei de Verner, que explica essas exceções pelo papel do acento.
Essa lei é importante em si, pelo valor dos resultados que depreen-
deu, e do ponto de vista epistemológico. Apareceu, com efeito, como a
justificação do princípio da regularidade das leis fonéticas a partir do
qual a fonética histórica e comparada pôde se desenvolver.
Grisão
Grisão é a língua reto-românica (neolatina).
Grotesco
Primitivamente, segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o vocábulo
“grotesco” designava a estranha decoração que os antigos realizavam
nas paredes das grutas, descoberta no final do século XV, nas Termas
de Tido, em Roma. A seguir, passou a denominar o estilo de pintura e de arquitetura que a imitava: “já no ano de 1502, o Cardeal Todeschini
Piccolomini (1439-1503) encarregou o pintor Pinturicchio (1454-1513)
de adornar as abóbadas da biblioteca ao lado da catedral de Siena ‘com
essas fantasias, cores e distribuições que atualmente chamam de grotes-
cas’” (KAYSER, 1964, p. 18).
Adotada por Rafael Sanzio (1483-1520) e os seus discípulos, cedo a
moda dos grotteschi se difundiu pela Itália e França, atravessou o sécu-
lo XVII e na centúria seguinte se mesclou ao rococó. E é nesse tempo
que adquiriu conotação estética, graças sobretudo a Justus Möser
(1720-1794) e o seu estudo acerca de Arlequim ou Defesa do Cômico-
Grotesco, publicado em 1761. No século XIX, com o aparecimento de Les Grotesques (1844), de Pierre Jules Théophile Gautier (1811-1872),
o termo, aplicado aos poetas barrocos, alcançou definitiva consagra-
José Pereira da Silva
2925
ção.
Confundido frequentemente com o fantástico, o absurdo, o bizarro,
o burlesco, o gótico, a sátira, a paródia, o cômico de baixa extração, o grotesco se ergue, no entanto, como categoria estética autônoma, na
medida em que, nele, “o mundo se alheia, as formas se distorcem, as
ordens do nosso mundo se dissolvem (já na ornamentação grotesca se
misturam os reinos do inanimado, das plantas, dos animais e dos ho-
mens; mais tarde os motivos diletos da configuração grotesca são as
marionetes, os bonecos de cera, ou então os loucos, os sonâmbulos, e
sempre também animais mais que animalescos), um mecanismo medo-
nho parece ter caído sobre as coisas e os homens. O decisivo é que este
alheamento do mundo nos rouba o terreno de debaixo dos pés e não
consente qualquer interpretação de sentido; qualquer pathos ou qual-
quer apelo à compaixão pelas vítimas poria em perigo o grotesco” (KAYSER, 1958, vol. II, p. 304-305).
Visualização do quimérico, do monstruoso, o grotesco escolhe da
natureza os répteis e animais noturnos (víboras, aranhas, sapos e, nota-
damente, o morcego, grotesco por antonomásia); tem predileção pelo
crânio humano, pelo macabro em geral, como provindo de um id em li-
berdade, a ponto de “o mundo grotesco causar a impressão de ser a
imagem do mundo visto pela loucura” (KAYSER, 1964, p. 224).
Funda-se na surpresa, no imprevisto, no insólito, traduz a angústia
não perante a morte, mas perante a vida, que gera a destruição de toda
ordem ou orientação no tempo e no espaço; subitamente, o universo se
afigura estranho, desconexo, absurdo, um planeta de onde houvesse de-
saparecido a razão e o próprio pensamento ordenador, como se uma força maligna tivesse assumido o comando da natureza e dos seus habi-
tantes. Em suma, “o grotesco é a representação do id, ou seja, de um id
‘fantasmal’”, “a configuração do grotesco constitui a tentativa de pros-
crever e conjurar o demoníaco do mundo” (KAYSER, 1964, p. 225 e
228).
De uma perspectiva mais crítica do que descritiva, tendo em vista
uma sondagem arqueológica, o grotesco exibe com mais nitidez a sua
complexidade: essencialmente, “é uma estruturação antimimética di-
nâmica, que rompe o código familiar da natureza, o qual interpreta e
transforma a fim de produzir um novo código esteticamente estranho e
ideologicamente revelador. [...] O resultado é uma multiplicidade de combinações: animal-planta, homem-besta, homem maior do que ho-
mem (gigantes), homem menor do que o polegar (liliputianos), pedras
sangrantes” etc. [...] Daí que a tarefa do crítico deva ser investigação
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2926
das interconexões entre a evolução desta arte e outros gêneros, formas e
topoi de antimímese, tais como os arabescos, as anamorfoses, as meta-
morfoses, as bizarrias, a utopia da Terra de Cocanha, a fatrassie e o fa-tras, as galimatias, as aberrações, o mundus inversus [o mundo às aves-
sas], os sermons joyeux, os bestiários, o fantástico, os vários tipos de
paródia, a caricatura e a ficção científica teratológica” (KHOURI,
1980, p. 13 e 23-24).
Do prisma literário, o grotesco não tem sido estudado como merece,
embora esteja presente nos escritos de autores românticos como Karl
Wilhelm Friedrich von Schlegel (1772-1829), Ernst Theodor Amadeus
Wilhelm Hoffmann (1776-1822), Jean Paul (1763-1825), Edgar Allan
Poe (1809-1849), Victor Cousin (1792-1867), Victor-Marie Hugo
(1802-1885, que lhe conferiu, no prefácio a Cromwell, de 1827, lugar
de relevo e o considerou oposto ao sublime), realistas e modernos. En-tre 1916 e 1925, um grupo de dramaturgos italianos se organizou sob a
rubrica de teatro do grotesco, iniciado por Luigi Chiarelli (1880-1947)
e a peça A Máscara e o Rosto (1916), e ao qual pertenceu Luigi Piran-
dello (1867-1936). Quase ao mesmo tempo, na Alemanha, entre 1910 e
1925, aparecem os contistas do grotesco, inaugurados com O Livro
Macabro (1913), de Karl Hans Strobl (1877-1946). E na própria obra
de Franz Kafka (1883-1924) se adverte a presença de um “grotesco la-
tente” (KAYSER, 1964, p. 178). Por outro lado, certos aspectos do Ex-
pressionismo e algumas associações pictóricas e verbais do Surrealis-
mo se avizinham dos procedimentos grotescos.
No geral, o termo “grotesco” assume, atualmente, o sentido de bi-
zarro, extravagante, caprichoso, mau gosto, irregular e, mesmo, ridícu-lo.
Sugere-se, como complemento, a leitura de L’oeuvre de François
Rabelais et le culture populaire ao Moyen Âge et sous Renaissance, de
Mikhail Bakhtin (1985); Do grotesco e do sublime, de Victor-Marie
Hugo (s.d.); e The grotesque, de Philip Thomson (1972).
Grupo
Termo usado na gramática de Michael Alexander Kirkwood Halli-
day para indicar uma unidade na escala de posição hierárquica inter-
mediária entre oração e palavra. Por exemplo, na sentença O carro es-
tava estacionado na rua, o carro é um "grupo nominal", estava estaci-
onado é um "grupo verbal" e na rua é um "grupo adverbial". O termo sintagma é usado com o mesmo sentido, na maioria das abordagens.
Veja o capítulo 8 de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).
Em gramática tradicional, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
José Pereira da Silva
2927
um grupo de palavras é um constituinte da frase formado de uma se-
quência de palavras. A cidade de Paris, capaz de fazer bem etc., consti-
tuem grupos de palavras. Estes correspondem, em linguística estrutural, aos constituintes imediatos da frase, aos sintagmas nominal, verbal, ad-
jetival ou preposicional.
Em sintaxe, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), um grupo é um
constituinte da frase, organizado em volta de um núcleo. É uma unida-
de funcional. O núcleo determina os elementos constitutivos do grupo.
O grupo exerce na frase a mesma função sintática que o núcleo. Neste
emprego, o termo grupo concorre com sintagma.
Veja os verbetes: Sintagma, Núcleo.
Grupo clítico
Um dos níveis da hierarquia prosódica.
Veja: Fonologia prosódica e Hierarquia prosódica.
Grupo consonantal
Duas consoantes pronunciadas em seguimento dentro da mesma sí-
laba.
O grupo consonantal é sempre pré-vocálico, isto é, isto é, deve pre-
ceder sempre uma vogal. Dividem-se os grupos consonantais em pró-
prios e impróprios.
Grupos consonantais próprios são os que terminam em consoante
líquida (l ou r). Exemplos: claro, prêmio, glória etc.
Grupos consonantais impróprios são os de outro tipo: ct em cacto,
pn em pneu, tn em étnico etc.
Não se deve confundir grupo consonantal nem com junção, nem
com dígrafo. Junção vem a ser duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes, mas que se juntam, por contiguidade, na mesma palavra.
Exemplo: falta (fal-ta), pasta (pas-ta), advogado (ad-vo-ga-do). Dígra-
fo são duas letras que representam um só fonema. São dígrafos conso-
nantais em português: ch, lh, nh, rr e ss.
No português do Brasil, há tendência para intercalar, na pronúncia,
uma vogal entre as duas consoantes de um grupo impróprio ou de uma
junção. Daí as pronúncias errôneas: adevogado, abissoluto, pissicolo-
gia etc. Em consequência, tais vogais podem chegar a se corporificar
como tônicas, se se trata de verbos. Uma pronúncia como indiguinar-se
e opitar, por exemplo, leva a formas verbais como eu me indiguino, tu
te indiguinas etc.; eu opito, tu opitas etc. Em Portugal, nos grupos próprios em que a segunda consoante é
uma lateral l, nota-se a tendência para desfazer o grupo, sem contudo,
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2928
ouvir-se a vogal anaptítica: claro, pronunciado k-la-ro; aflito, pronun-
ciado af-li-to. Isto ocorre porque a vogal átona já é, naturalmente, pro-
nunciada muito fracamente na fala dos portugueses. Grupo consonantal é o mesmo que encontro consonantal.
Veja Encontro consonantal.
Grupo consonântico
A Nomenclatura Gramatical Brasileira preferiu o termo encontro
consonantal em lugar de grupo consonântico e encontro vocálico no
lugar de grupo vocálico.
Grupo de altura
Grupo de altura ou grupo tônico é o grupo tônico com predominân-
cia de acento de altura (acento tonal).
Veja: Grupo fônico.
Grupo de discussão
Veja os verbetes: Audioconferência, ciberconferência, Colóquio,
Conversa/Conversação, Debate, Diálogo, Discussão, E-fórum, Fórum
de discussão, Fórum eletrônico ou virtual, Lista de discussão, Lista de
distribuição, Newsgroup, Teleconferência, Videoconferência.
Grupo de força
Segundo Joaquim Matoso Câmara Júnior (1968, s.v.), grupo de for-
ça consiste num sintagma de dois ou mais vocábulos que constituem
numa frase um conjunto fonético significativo, enunciado sem pausa
intercorrente e subordinado a um acento tônico predominante, que é o
do vocábulo mais importante do grupo. Há, normalmente, grupo de
força – a) de um substantivo com seus adjuntos, b) de um verbo com
seu pronome-sujeito, c) de um verbo com seu complemento essencial, d) das formas verbais que se combinam para funcionar numa dada ora-
ção. De um grupo de força a outro ocorre uma pausa mínima respirató-
ria, que é também aproveitada para a formulação mental do novo grupo
de força por parte do falante, e para a apreensão do grupo de força
enunciado, por parte do ouvinte. Quando se escreve, em vez de se falar,
também se dá, em regra, a formulação mental do escritor e a apreensão
do leitor na passagem de um grupo de força a outro. Eis, indicados por
uma barra, os grupos de força que naturalmente se estabelecem num
longo período: "Um célebre poeta polaco, / descrevendo em magníficos
versos / uma floresta encantada do seu país, / imaginou que as aves / e
os animais ali nascidos, / se por acaso longe se achavam / quando sen-tiam aproximar-se a hora de sua morte, / voavam ou corriam / e vi-
José Pereira da Silva
2929
nham todos expirar / à sombra das árvores do bosque imenso / onde ti-
nham nascido" (Nascentes, 1937, p. 78). Nem sempre, na pontuação,
se usa assinalar a pausa entre grupos de força. A alternância de grupos de força mais longos e mais curtos cria, em
qualquer enunciação linguística, um ritmo silábico e acentual, determi-
nado pela proporcionalidade entre os números de sílabas e a distribui-
ção dos acentos em cada grupo. É esse ritmo que está na base do tipo
de enunciação chamado verso.
Grupo de intensidade
Grupo de intensidade é o mesmo que vocábulo fonético.
Veja Grupo fônico.
Grupo de língua materna
Nas situações plurilíngues, chama-se grupo de língua materna o
conjunto dos indivíduos para os quais uma das línguas dadas é o idioma empregado pela mãe em suas relações com a criança. Quando uma co-
munidade linguística é composta de dos grupos de língua materna de
igual importância, tem-se, geralmente, a mesma porcentagem de bilín-
gues de um lado e do outro. Se um dos dois grupos de língua materna
tem uma porcentagem de bilíngues nitidamente inferior ao outro, é que
a língua que ele utiliza tem uma situação dominante. Os limites e a im-
portância dos grupos de língua materna podem ter uma base geográfica
ou refletir a repartição em subgrupo indígena e subgrupo imigrante ou,
de uma maneira mais geral, das diferenças socioculturais.
Grupo de línguas
O termo grupo de línguas é empregado, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), para designar conjuntos de línguas, sem que se confirme ou infirme por seu emprego a comunidade de origem. Pode ser utiliza-
do para línguas que se classificam juntas com base em critérios extra-
linguísticos (geográficos, por exemplo). Por esse fato, pode correspon-
der a um conjunto de famílias ou a uma família; a um conjunto de ra-
mos ou a um ramo; a um conjunto de famílias que pertencem a um
mesmo ramo.
Veja: Família de línguas e Genealogia.
Grupo de pares
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), se, por um lado, o ambiente
familiar oferece os primeiros modelos de fala para as crianças, o cha-
mado grupo de pares tem se revelado linguisticamente mais influente que a família a partir dos cinco anos de idade (ou mais, ou menos, a
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2930
depender da cultura local). Por conseguinte, as crianças normalmente
falam de modo mais parecido com o dos membros de seu grupo, e não
como seus pais, seus professores ou outros modelos adultos. Isso se mostra mais visivelmente em comunidades de migrantes: a troca de
língua se inicia tipicamente nos grupos etários mais jovens, que encon-
tram a língua nova na interação com seus pares na creche, no
playground ou na escola. Falar a língua de herança com os pais e a no-
va língua majoritária com os de sua faixa etária (irmãos e colegas) é um
aspecto característico das famílias migrantes em fase de troca de lín-
gua. O processo é semelhante em comunidades de fala monolíngues,
onde os sociolinguistas frequentemente observam uma lacuna geracio-
nal no que diz respeito, por exemplo, à participação em mudanças lin-
guísticas em progresso. Além disso, os sociolinguistas têm estudado a
língua usada nos grupos de pares com objeto de pesquisa em si mesmo e, com isso, têm relacionado os padrões de uso linguístico à estrutura
interna do grupo.
Grupo derivativo
Grupo derivativo é o conjunto de palavras que se correspondem e
influem mutuamente por terem a mesma raiz ou os mesmos afixos.
Exemplos: lembrar / relembrar; repor / dispor / antepor / propor; bon-
dade / maldade / inimizade etc.
Grupo elocucional
Grupo elocucional é o mesmo que grupo fônico.
Grupo entonacional
Veja: Frase entonacional.
Grupo fonético (grupo respiratório)
Um trecho de enunciado produzido sem que haja uma única expira-
ção. Onde e com que frequência uma pessoa respira enquanto fala pode
ser de grande importância para o linguista, pois os padrões respiratórios
imporão uma série de pausas no enunciado, pausas estas que terão de
ser associadas à estrutura fonológica, gramatical e semântica. É possí-
vel que, em cada grupo respiratório, existam certas regularidades, como
um padrão previsível de proeminência, ou ritmo. Alguns pesquisadores
usaram esta noção para estudar a prosódia de uma língua (embora se
use mais grupo tonal). A expressão foi usada recentemente como um
meio para identificar as primeiras unidades de vocalização em crianças.
Segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), chama-se grupo fonético um grupo de palavras que extraem sua homogeneidade do fato de que
José Pereira da Silva
2931
estão entre duas pausas (grupo respiratório) ou reunidas em torno de
um mesmo acento (grupo acentual).
Grupo fônico
Conjunto de sílabas átonas e subtônicas (se as houver) que gravitam
em torno de uma sílaba acentuada, limitado por duas pausas sucessivas.
A sílaba acentuada é a da palavra semanticamente mais importante
do grupo. Do ponto de vista morfológico, ou é um substantivo (ou
equivalente) ou um verbo, dos quais dependem os termos modificativos
(adjetivos e advérbios ou equivalentes) e os complementares. Quanto à
natureza, o acento pode ser de intensidade ou de altura, de onde a sub-
divisão do grupo fônico em grupo de intensidade e grupo de altura.
Em português, o grupo fônico é sempre um grupo de intensidade.
Num grupo fônico, a palavra de sentido básico leva o acento tônico
primário. As palavras a ela subordinadas, que sejam tônicas quando tomadas de per si, atenuam o seu acento tônico, que passa a secundário.
Finalmente, as palavras átonas se incorporam foneticamente à palavra
tônica mais próxima, apoiando-se ou na sílaba tônica do vocábulo pre-
cedente (enclítica), ou na sílaba tônica do vocábulo seguinte (proclíti-
cas).
No seguinte exemplo será esclarecido melhor o que ficou dito:
Quàtro mil ános / se contáram / no relógio dos tèmpos. Os traços incli-
nados separam os grupos fônicos: são as pausas. Os acentos agudos in-
dicam as sílabas tônicas principais ou primárias; os acentos graves, as
sílabas tônicas secundárias. A falta de acento é sinal de sílaba átona.
No primeiro grupo, a palavra-base é anos (substantivo); no segun-
do, é contaram (verbo); no terceiro, relógio (substantivo). No primeiro grupo, quatro mil funciona como adjunto e, no último, dos tempos é
complemento. No primeiro grupo, a palavra quatro, que isoladamente,
é tônica, está subordinada fonética e semanticamente ao substantivo
anos; por isso, o seu acento passa de tônico a subtônico. Quanto a mil,
monossílabo tônico, está de tal modo enfraquecido no grupo fônico,
que se tornou inteiramente átono. Apoiando-se no acento subtônico de
quatro, converte-se numa átona enclítica. Quanto aos outros vocábulos,
se é proclítico de contaram, no de relógio e dos de tempos.
Ao grupo fônico se pode aplicar isto que Tomás Navarro Tomás
(1884-1979) diz do grupo de intensidade: "É relativamente fácil perce-
ber a sílaba culminante de cada grupo de intensidade: o difícil é deter-minar, em certos casos, o ponto de divisão entre dois grupos sucessi-
vos".
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), grupo fônico ou grupo
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2932
melódico é a unidade melódica que corresponde à curva de entoação.
Os grupos se separam por pausas, sejam expressivas, lógicas ou respi-
ratórias. O grupo pode ser uma só palavra, da mesma forma que a ora-ção pode ser um só grupo ou se compor de vários. Não raro, coincidem
grupo fônico e grupo de intensidade, mas diferem entre si. Reuniam-se
aos grupos, com um só grupo fônico, tem dois grupos de intensidade
(reuniam-se / aos grupos). A extensão dos grupos tônicos é variável,
mas cada língua mostra predominância por certos grupos, o que levou
Samuel Gili Gaya (1892-1976) a relacionar o predomínio do octossíla-
bo na poesia espanhola (os grupos de 7 a oito sílabas são mais frequen-
tes), o endecassílabo italiano etc. O grupo tônico rege o tom, a intensi-
dade e a duração de suas sílabas e tem tantos acentos principais e se-
cundários quantos os dos grupos de intensidade de que se compõe. O
grupo de intensidade corresponde a um vocábulo fonético e difere, por-tanto, do grupo fônico, embora possam ambos coincidir. O de intensi-
dade está subordinado a um acento dominante (chamado impropria-
mente de acento frasal), ao qual se subordinam as sílabas átonas e as
subtônicas. De um grupo a outro ocorre uma pausa mínima, talvez, apa-
rência de pausa, causada pela impressão que nos dá a relevância de um
acento dominante diante de outros, subordinados, como que decrescen-
tes. A rigor, a sequência desses grupos estabelece certo ritmo (chamado
ritmo silábico), razão pela qual o grupo de intensidade também se cha-
ma grupo rítmico-semântico. E essa pausa ou suposta pausa nem sem-
pre coincide com o final de um vocábulo. Na oração A tua casa é um
encanto, é óbvio que nada impede que digamos a tua casa / é um en-
canto, porém a linguagem mais comum, espontânea, pugna por a tua cá /zé um encanto. Mas nessa oração, com dois grupos de força, há tão
somente um grupo fônico, uma só curva de entoação. Apesar de tudo,
nota-se alguma confusão entre esses dois grupos, deixando-nos entre-
ver, em certos autores, sinonímia de ambos. Também se ouve grupo fô-
nico de intensidade, em oposição aquele que nos mostra a relevância da
sílaba pela altura musical, chamado grupo fônico de altura ou grupo
tônico.
Grupo líbico-berbere
Grupo líbico-berbere é o grupo de línguas camíticas faladas pelos
berberes. Atualmente, com muita influência arábica, se estende pelo
Saara e pela Mauritânia meridionais e pelas montanhas de Marrocos
(JOTA, 1981, s.v.).
José Pereira da Silva
2933
Grupo monofonemático
Grupo monofonemático é o grupo de sons para realização de um fo-
nema único.
Grupo polifonemático
Grupo polifonemático é o grupo de signos que podem funcionar
como fonemas independentes, tal como ocorre nos ditongos.
Grupo primário
Grupo primário É o grupo consonantal que já nos veio do latim, em
oposição ao grupo secundário, que é formado na evolução do latim pa-
ra as línguas românicas, em decorrência de uma síncope. Exemplo: au-
ricula > auricla > orelha (JOTA, 1981, s.v.).
Grupo rítmico
Grupo rítmico é o mesmo que medida rítmica.
Grupo rítmico-semântico
Grupo rítmico-semântico é o mesmo que grupo fônico.
Grupo secundário
Veja: Grupo primário.
Grupo social
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), para poder falar de grupo so-
cial, é necessário que seus membros tenham alguma espécie de senti-
mento de pertença ou pautas de interação relativamente estáveis. Toda
sociedade é composta de uma estrutura formada por um conjunto com-
plexo de grupos sociais e instituições. O termo grupo social se refere a
um conceito bastante indefinido e é usado para designar, por exemplo,
uma família, um povo, uma associação civil, um sindicato ou um parti-
do político. No entanto, também é usado para designar uma classe so-cial, um grupo de pessoas de status semelhante, ou os grupos definidos
pela idade, pelo gênero ou pela língua. Quando se fala de grupos soci-
ais dominantes, tem-se em vista grupos de pessoas que detêm algum
poder econômico e/ou político (autoridade legal) dentro da sociedade,
ou seja, capacidade de realizar a própria vontade: empresários, políti-
cos, banqueiros etc. Em contrapartida, são chamados de grupos domi-
nados ou não dominantes aqueles que não dispõem dos instrumentos
econômicos ou políticos para realizar seus interesses: população assala-
riada, jovens, minorias étnicas e linguísticas etc.
Os grupos sociais se situam ao longo da hierarquia do poder e de
status dentro de uma comunidade. Essa hierarquia também é responsá-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2934
vel pela hierarquização das variedades linguísticas em termos de pres-
tígio e de estigma como reflexos do prestígio e do estigma social atri-
buído aos diferentes grupos. As mudanças linguísticas mais frequentes, no entanto, desafiam essa hierarquização social, uma vez que tendem a
se iniciar nas camadas sociais baixas e médias baixas e, a partir daí, a
se difundir pelo resto do espectro social. Quando uma forma inovadora,
antes estigmatizada, é adotada pelos membros dos grupos sociais do-
minantes, ela adquire o prestígio associado a estes grupos e deixa de ser
alvo de preconceito linguístico, além de escapar, ao menos em parte, da
categoria sociocultural de erro.
Grupo tonal (unidade tonal, grupo de tom)
Expressão usada por alguns especialistas da entonação, principal-
mente na tradição britânica, com referência a uma sequência distintiva
de pitches ou tons de enunciado. O traço essencial em uma unidade to-nal é o tom nuclear, o mais proeminente da sequência, que pode ser
acompanhado de outros elementos, dependendo da extensão do enunci-
ado. O núcleo é a sequência de sílabas entre a primeira sílaba acentua-
da e o tom nuclear, o pré-núcleo é composto das sílabas não acentuadas
(átonas) no início de um grupo tonal e a cauda é constituída das sílabas
que se seguem ao tom nuclear. Esta terminologia pode ser ilustrada pe-
la sentença do inglês The / man 'bought alnew / clóck / . Uma unidade
tonal geralmente corresponde a uma oração ou sentença, mas pode ser
usada para qualquer unidade gramatical. Por exemplo, em uma versão
extremamente irritada da sentença acima, podem existir diversos gru-
pos tonais, como em The mán / móught / a néw / clóck. Veja An Intro-
duction to the Pronunciation of English, de Arnold C. Gimson (1980).
Grupo vocálico
Dois ou três fonemas de valor vocálico pronunciados na mesma sí-
laba.
Conforme se agrupem dois ou três fonemas, o grupo vocálico se
denomina ditongo ou tritongo. Tanto no ditongo como no tritongo, só
existe uma vogal plena, chamada base do grupo ou vogal de base. Os
outros fonemas são semivogais. Só temos duas semivogais: o iode (ou
iod), representado foneticamente por / y / e graficamente por e ou i, e o
vau (ou uau), representado foneticamente por / w / e graficamente por o
ou u.
No ditongo, a base pode preceder ou seguir a semivogal, chamando-se, no primeiro caso, ditongo decrescente e, no segundo, ditongo cres-
cente. Também, segundo a base seja uma vogal oral ou nasal, o ditongo
José Pereira da Silva
2935
dir-se-á oral ou nasal. Assim, em pão, o ditongo ão é nasal decrescente;
em lei, o ditongo ei é oral decrescente; em quanto, o ditongo é nasal
crescente; em exíguo, o ditongo uo é oral crescente. O tritongo é formado de semivogal + vogal + semivogal. Também
pode ser oral (quais) ou nasal (quão).
Na cadeia fonética, isto é, na fala corrente, as vogais finais de pala-
vras entram em contato com as iniciais de palavras seguintes, gerando-
se os chamados encontros vocálicos. Num encontro vocálico, podem se
dar três fenômenos: crase, elisão ou sinérese.
Na crase, fundem-se as vogais. Exemplos: Se a cólera que espuma,
a dor que mora / Nalma... Em Nalma por na alma, houve crase dos
dois aa.
Elisão ou sinalefa é a supressão da primeira das vogais. Exemplo:
Guarda um atroz, recôndito inimigo. Guarda um atroz, na cadeia foné-tica, se lê guar-dum-a-troz, com elisão do a.
Sinérese é a passagem de vogais que pertencem a sílabas gramati-
cais diferentes à mesma sílaba fonética, com alteração de uma das vo-
gais em semivogal. Em Se a cólera que espuma, se a se lê numa só sí-
laba (sià), passando o e de se a iode.
Não incluímos os hiatos nos grupos vocálicos, exatamente porque
se trata de vogais que, pronunciadas cada uma em uma sílaba, não se
agrupam.
Veja: Encontro vocálico.
GU
Abreviatura de gramática universal.
Guadramilês
Falar leonês encravado em território de Portugal (Guadramil). A
denominação codialeto só deve ser aplicada ao galego.
Guardas duplas
Guardas duplas são as guardas anteriores e posteriores que têm du-
as folhas empastadas e duas soltas.
Guardas finais
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
guardas finais são uma ou mais folhas inseridas pelo encadernador no
início e no final do texto de um livro. Não apresentam qualquer texto e
são normalmente utilizadas em grande quantidade quando o texto é
muito pequeno e se quer constituir uma lombada para poder encadernar
o volume.
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2936
Guardas
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
guardas, folhas de guarda ou folhas de cortesia são as páginas brancas ou coloridas, lisas ou de fantasia, colocadas no início e final dos livros
entre as capas e o corpo e que não contam na paginação. São destinadas
a proteger as folhas impressas do atrito que as pastas podem provocar e
cobrem simultaneamente os acabamentos da encadernação. Pode haver
várias guardas. Designa igualmente as páginas acrescentadas pelo en-
cadernador e que protegem a obra, sendo normalmente as primeiras de
papel de cor. Muitas vezes, colocadas em grande número em folhetos,
no início e no final, permitem que estes possam ser encadernados, o
que de outro modo era impossível, dado o pequeno volume da lomba-
da. Nas encadernações de luxo, as guardas são, por vezes, de seda ou
de tecido; folhas de papel branco colocadas no início e no final do livro antes da encadernação, enquadradas por seixas douradas. O tipo de pa-
pel das guardas pode ser um elemento muito importante da datação da
encadernação, assim como permite a identificação do estilo. Nas enca-
dernações mais antigas, as guardas eram de pergaminho ou de papel,
costuradas com os cadernos do livro. As guardas de cor, em papel liso
ou decorado (papel encolado, marmoreado ou estampado), aparecem
nos finais do século XVI. Nos dois séculos seguintes, os processos se
desenvolvem, mas no século XIX a técnica é praticamente a mesma,
notando-se, contudo, um cero declínio nos processos de decoração. O
processo também varia: já não são costuradas, mas coladas.
Guardinha
Guardinha é a aba de papel que se sobrepõe às guardas para receber
a cardagem e as pastas.
Guematria
Guematria é a interpretação homilética de um teto baseada no valor
numérico das letras.
Gueze
Veja: Língua eclesiástica.
Guia
Basicamente, guia é um documento ou um manual ou roteiro. Co-
mo documento, podem ser citados alguns tipos: a) documento com que
se recebem mercadorias ou encomendas ou que as acompanha para po-
derem transitar livremente por quaisquer vias (rodoviária, férrea, aérea etc.); b) documento que acompanha a correspondência oficial; c) do-
José Pereira da Silva
2937
cumento expedido por escrivão, dirigido a uma repartição arrecadadora,
mencionando os impostos ou taxas relativas a certos atos judiciais, que
ali devem ser pagos; d) formulário com que se fazem recolhimentos às repartições arrecadadores do Estado; e) documento de autorização ou
permissão para internamento de uma pessoa num hospital ou transfe-
rência de um local para outro etc.
Como manual ou roteiro, trata-se de diversas obras de orientações
e/ou instruções, como: a) guia turístico: caderno, folha, encarte, folder
ou livrinho, que contém indicações ou instruções úteis a respeito de
uma região ou localidade, monumentos históricos etc. (localização, si-
tuação de ruas, lugares e monumentos para visitas, restaurantes, bares,
horários de ônibus, três etc.); b) livro, manual, publicação que contém
orientações, instruções, ensinamentos, conselhos de diversas naturezas,
como guias de saúde e higiene, de comportamentos, de orientações ao consumidor etc. (COSTA, 2018, s.v.).
Há vários tipos de guia, como se pode ver no Dicionário do Livro,
de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, p. 371-372).
Veja os verbetes: Manual e Roteiro.
Guna
Guna é uma palavra sânscrita,
Veja o verbete: Vradhi.
Gutural
Diz-se do fonema que é articulado com o dorso da língua posto em
contato com o véu do paladar (véu palatino). A denominação é impró-
pria e a nomenclatura Gramatical Brasileira preferiu, com razão, o
termo velar. Também, em vez de guturalização, é melhor dizer velari-zação.
O termo gutural é, às vezes, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
empregado como sinônimo de velar para designar as consoantes reali-
zadas, seja ao nível do véu do paladar (velares, propriamente ditas, co-
mo [k] e [g] ou como [x] do espanhol rojo [roxo] "vermelho" e o [γ] de
paga) [paγa]), seja ao nível da úvula (uvulares, como o [ᴚ] do francês
parisiense de [mεr) versus [mεᴚ]), seja na faringe, como as consoantes
árabes [ħ] ou [c ], seja na laringe, como a consoante árabe chamada
"hamza" [ˀ].
Guturalização
Segundo a terminologia de Nikolay Serguleievitch Trubetzkoy (1890-1938) e do Círculo Linguístico de Praga, a correlação de gutura-
lização consiste na oposição entre as consoantes não velarizadas e ou-
BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL
2938
tras consoantes nas quais, além da articulação principal, faz-se um tra-
balho gutural acessório, isto é, uma elevação do dorso da língua em di-
reção ao palato mole. Essa correlação, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), aparece em certas línguas bantos, principalmente no grupo
shona, e num idioma vizinho, o venda. A elevação da língua pode ser
tão forte que resulte simplesmente numa oclusão velar, como é o caso
do dialeto zezuru do shona oriental e central; pode ser mais fraca, de
forma que resulte daí um estreitamento velar, o que é característico dos
outros dialetos do shona oriental e central, em particular do subgrupo
karanga. No dialeto zezuru, essa correlação existe nas bilabiais e nas
palatais.
Guturalização, segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), é o
mesmo que velarização.