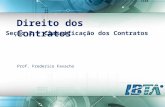Assinaturas e contratos digitais
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Assinaturas e contratos digitais
JOÃO PAULO VINHA BITTAR
ASSINATURAS E CONTRATOS DIGITAIS:
UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE AS NOVASQUESTÕES TRAZIDAS PELOS AVANÇOS DA
INFORMÁTICA NO CAMPO DO DIREITO CONTRATUAL
UNICFACULDADE DE DIREITO
2009
JOÃO PAULO VINHA BITTAR
ASSINATURAS E CONTRATOS DIGITAIS:
UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE AS NOVASQUESTÕES TRAZIDAS PELOS AVANÇOS DA
INFORMÁTICA NO CAMPO DO DIREITO CONTRATUAL
Monografia apresentada à Faculdade deDireito / UNIC como exigência parcialpara a obtenção do título de bacharel emDireito, sob a orientação do ProfessorLázaro Roberto Moreira Lima.
UNICFACULDADE DE DIREITO
2009
Agradeço:
Aos meus pais:pois sem o esforço deles
eu não estaria no caminho.
Aos bons amigos: pois sem o esforço deles
seria mais difícil o caminho.
Aos não iluminados: pois seu esforço me mostrou
como está correto este caminho.
A todos os estudantes que ainda possuem a vontade
e a dignidade de produzirem por si mesmos a monografia para conclusão do curso superior de
Bacharelado em Direito.
“Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso; mas, exatamente como se procede entre nós, deverá esco-lher seus professores e trabalhar
com assiduidade.”
Hippolyte Léon Denizard Rivail, vulgo Allan Kardec
RESUMO
VINHA BITTAR, João Paulo. Assinaturas e contratos digitais: Umabreve abordagem sobre as novas questões trazidas pelos avanços dainformática no campo do direito contratual.
Palavras-chave: assinatura digital; assinatura eletrônica; autoridadecertificadora; certificação digital; certificação eletrônica; comércio ele-trônico; computador como meio de formação dos contratos; computa-dor como local de formação dos contratos; contrato eletrônico; direitocontratual na internet; identidade na internet; notário na internet;validade dos contratos eletrônicos.
© 2009, 2010 de João Paulo Vinha Bittar.
+ Para outros usos consulte [email protected].
Este documento é fornecido sob a licença “Atribuição-Uso Não Comer-cial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil”, disponível em <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br/>; a conversão de formatos para fins de acessibilidade, arquivamento ou portabilidade não se enquadra como obra derivada e é permitida.
Os seguintes anexos foram usados com a permissão de seus autores ou detentores de direitos autorais, como autorizado pela Lei № 9.610/1998 ou sob a Doutrina de Uso Justo:
“Assinatura digital não é assinatura formal.” © 2000 de Angela Bitten-court Brasil;
“Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001.” © 2001 de República Federativa do Brasil;
“O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral.” © 2001 de Aldemario Araujo Castro.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO______________________________________________10
CAPÍTULO I: CONCEITOS DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS___131.1 Conceito de documento_________________________________131.2 Conceito de documento tradicional_______________________141.3 Conceito de documento eletrônico________________________151.6 Conceito e finalidade da assinatura formal__________________171.7 Conceito de certificação e assinaturas digitais_______________191.8 Conceito de assinatura digitalizada_______________________24
CAPÍTULO II: CONCEITO E PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS___________________________________________________________26
2.1 Conceito de contrato___________________________________262.2 Princípio da autonomia da vontade_______________________292.3 Princípio do consensualismo____________________________292.4 Princípio da função social_______________________________302.5 Princípio da força vinculante obrigatória___________________312.6 Princípio da revisibilidade ou teoria da imprevisão__________322.7 Princípio da boa-fé_____________________________________332.8 Princípio da relatividade________________________________34
CAPÍTULO III: ELEMENTOS CONTRATUAIS____________________353.1 Elementos intrínsecos ou requisitos contratuais_____________35
3.1.1 Consentimento de vontades______________________353.1.2 Objeto do contrato_____________________________363.1.3 Forma contratual_______________________________37
3.2 Elementos extrínsecos ou pressupostos contratuais__________383.2.1 Capacidade___________________________________393.2.2 Idoneidade do objeto contratual__________________39
3.2.3 Legitimação___________________________________40
CAPÍTULO IV: PARTICULARIDADES DOS CONTRATOS DIGITAIS_414.1 Desafios jurídicos advindos do uso de meios eletrônicos______41
4.1.1 Justificativa para o uso da certificação digital________434.2 Conceito de contrato eletrônico__________________________44
4.2.1 O computador como parte de um sistema de comunicações à distância________________________46
4.2.2 O computador como lugar para acordo de vontades anteriormente existentes________________________50
4.2.3 O computador como ferramenta auxiliar no processo de formação da vontade_________________________52
CAPÍTULO V: EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS_555.1 Princípios aplicáveis aos contratos eletrônicos______________55
5.1.1 Distinção entre contrato civil e consumerista_______555.2 Exigibilidade do contrato não cumprido sem assinatura digital
_____________________________________________________565.3 Exigibilidade do contrato não cumprido com assinatura digital
_____________________________________________________57
CONSIDERAÇÕES FINAIS____________________________________60
BIBLIOGRAFIA______________________________________________62
ANEXOS___________________________________________________67Assinatura digital não é assinatura formal._________________67O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral.______________________________________________________71Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001._______87
INTRODUÇÃO
Escrever um trabalho de conclusão de concurso não é
tarefa fácil: nos deparamos com o problema de expor cientificamente
as ideias as quais fervilham na mente. E mesmo após expô-las, fica a
apreensão sobre a sua originalidade: A ideia já foi elaborada anterior-
mente por alguém? Estará suficientemente original para não ser consi-
derado um mero plágio, mas sim uma obra a qual traga uma visão dife-
rente do que já foi escrito a respeito?1 A solução é envidar esforços para
apresentar uma obra útil para futuros acadêmicos e pesquisadores
sobre o assunto.
Durante a evolução das sociedades, o direito se mostra
como um conjunto de normas com a finalidade de estabelecer métodos
para a resolução dos conflitos de interesses, bem como disciplinar a
execução dos interesses comuns.2 E conforme novas tecnologias são
desenvolvidas e adotadas, também se modificam os modos de contra-
tar, e por consequência é necessário um método o qual permita atestar
a validade do contrato e uma legislação a regular esse método. Como
exemplo parcial dessa evolução temos: contratos verbais, contratos
1 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Manual da monografia jurídica. São Paulo, 2001, p. 21. Apud RODRÍGUEZ, Victor Gabriel de Oliveira. Manual de redação forense: curso de linguagem e cons-trução de texto no direito. 2 ed. amp., Campinas : LZN, 2004, p. 411.2 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. 3 ed., Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 6.
11
escritos, contratos por telégrafos, pelos correios, por telefone e, final-
mente, contratos digitais.
Mudam as formas de contratar, mudam os meios para
proteger os interesses e dar segurança a esses negócios jurídicos. Por
consequência, aumenta a importância de se proteger as obrigações
contraídas, pois quanto mais desenvolvida uma sociedade, em termos
de tecnologia e organização, mais interdependentes se tornam os indi-
víduos os quais a compõem.3
Como introdução explanatória, o termo “assinatura digi-
tal” está equivocado, pois uma assinatura é a marca escrita individual
de seu autor; porém, a chamada assinatura digital é uma sequência de
dígitos produzida por um sistema automatizado de forma a possibilitar
a verificação da origem e a não alteração, por terceiros ou mesmo pelos
subscritores, do documento eletrônico produzido anteriormente.4 A
chamada “assinatura digital” seria, então, um elemento do processo de
“certificação digital”.
Porém, ambos os tipos de assinaturas existem como
meio de prova para a concordância do que foi escrito, física ou eletroni-
camente, por força do ordenamento jurídico vigente, de forma
3 TELLES, Antonio A. Queiroz. Lições de obrigações e contratos. Campinas : Copola Livros, 1996, p. 18.4 “[…] quem vai fornecer a forma de alguém assinar um documento digital é outra pessoa e não poderá ser criada pelo próprio usuário. Portanto este tipo de rubrica difere da assinatura que conhecemos em quase todos os aspectos porque, a assinatura tal qual hoje se reconhece pode ser conceituada como sendo o ato físico por meio do qual alguém coloca em um suporte físico a sua marca ou sinal. A marca é personalíssima e tem eficácia e validade jurídica, poden -do ser levada ao tabelião para que este faça o seu reconhecimento por semelhança, já que pode ser conservada em arquivos e periciada por meios grafológicos.” (BRASIL, Angela Bitten-court. Assinatura digital não é assinatura formal. Jus Navigandi, Teresina, Ano 5, № 48, dez. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1783>. Acesso em: 31 mai. 2007.)
CAPÍTULO I: CONCEITOS DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS
1.1 Conceito De Documento
A origem da palavra “documento” em língua portuguesa
é “documentum”, palavra do latim derivada de “docere”, cujo significado
é “ensinar, demonstrar”.5 Assim, o significado de documento pode ser
entendido como “registro estruturado de informações para consumo
humano”.6
Em linguagem técnico-jurídica, um documento é a prova
de um fato e a qual pode ser demonstrada ao juiz,7 já que o fato em si
não pode ser usado. Um documento pode então conter o registro de
um acordo de vontades e ser denominado então como “documento
contratual”, ou seja, o registro de um acordo de vontades entre duas ou
5 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 24 ed., Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 493; WIKI-PEDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponí-vel em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Documento&oldid=14433725>. Acesso em: 27 mar. 2009.6 LINO, Elbison Luiz Pereira. GED — Aspectos técnicos e legais de documento eletrônico. Mono-grafia (Bacharelado em Ciências da Computação). Faculdade de Ciências da Computação / Uni-versidade de Cuiabá, 2006, p. 5.7 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Op. cit., p. 493.
14
mais pessoas com o objetivo de regulamentar os interesses particulares
os quais se encontrem amparados pela legislação.8
1.2 Conceito De Documento Tradicional
Os documentos físicos tradicionais podem ser definidos
como “uma representação exterior do fato que se quer provar”.9 São
informações registradas em um substrato físico10 e de forma analógica,
isto é, são sinais contínuos,11 sem mudanças bruscas, possuem reprodu-
ção imperfeita (devido a ruídos presentes no sinal) e há um certo grau
de dificuldade para alterá-los sem que seja perceptível, após uma
análise mais detalhada (perícia técnica) do material nos quais foram
produzidos.
Apesar de ser mais relacionado com o documento escrito
e assinado de próprio punho, a moderna doutrina jurídica aceita que
“(…) a holografia, a transmissão de dados (via internet) também são
8 VARELA, Antunes. Direito das obrigações. Rio de Janeiro : Forense, 1977, p. 118; MONTEIRO, Washington Barros. Curso de direito civil. 17 ed., São Paulo : Saraiva, 1982; v. 5, p. 5; PEREIRA, Cario M.S. Instituições de direito civil. 4 ed., Rio de Janeiro : Forense, 1978, , v. 3, p. 11; Colin e Capitant, Cours élémentaire de droit civil français. 4 ed., Paris, 1924, p. 257; FRANÇA, R. Limon-gi, Contrato, in Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 19, p. 139. Apud DINIZ, Maria Helena. Trata-do teórico e prático dos contratos. 2 ed., São Paulo : Saraiva, 1996, v. 1, p. 9.9 FRASSON, Jailine et al. E-Commerce: Aspectos pertinentes ao contrato eletrônico e sua forma-ção. FGV – Fundação Getúlio Vargas — MBA – Direito Empresarial. Cuiabá, 2005.10 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 9 ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007, v. 1, p. 439.11 WIKIPEDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Analog_signal&oldid=280533026>. Acesso em: 1 abr. 2009.
15
documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de fatos relevantes para
o processo”,12 bem de acordo com a Lei Federal № 11.419/2006,13 a qual
inclusive considera como autênticos os documentos processuais assi-
nados eletronicamente.
1.3 Conceito De Documento Eletrônico
Os documentos eletrônicos são informações puras, con-
vertidas de uma origem analógica ou mesmo criadas diretamente em
mídia eletrônica, isto é, são codificadas e decodificadas matematica-
mente por um equipamento informático, e tanto podem ser gravadas
em um meio de armazenamento de dados como existir temporaria-
mente em uma mídia de processamento e transmissão. Em suma, são
“representações da realidade, desprovidas de suporte físico, produzidas
e/ou armazenadas em equipamento eletrônico”14 e os quais precisam ser
convertidas em formato físico compatível com os sentidos humanos.
Por serem em essência uma sequência numérica, repre-
sentada eletronicamente por estados discretos de informação, suas
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. Op. cit., v. 1, p. 439.13 BRASIL. Lei № 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do proces-so judicial; altera a Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá ou-tras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm>. Acesso em: 05 jun. 2009.14 JAEGER, Estêvão Ervino. O valor probante dos documentos eletrônicos e as assinaturas digi-tais. Monografia (Bacharelado em Direito). Faculdade de Direito / Universidade de Cuiabá, 2006, p. 112.
16
características mais notórias são a reprodução e a transmissão sem per-
das, a volatilidade (pois sua existência não depende de um substrato
físico específico, mas sim de qualquer coisa com a capacidade de conter
números), bem como a necessidade de uso de um computador devida-
mente configurado para a tradução desses sinais eletrônicos em sinais
os quais possam ser perceptíveis pelos seres humanos.15 Qualidades
essas todas em oposição à existência física de um documento tradicio-
nal, fatos os quais trazem problemas para verificar se o documento ele-
trônico foi alterado em relação ao original.
Além disso, por serem gerados em computadores e dis-
positivos similares, eles ampliam sobremaneira o conceito de docu-
mento, pois o registro deixa de ser estático para se tornar dinâmico:
além da inclusão de imagens em movimento e sons, os quais já eram
possíveis de serem registrados em mídias analógicas, os documentos
agora podem ser vinculados a um documento mestre, e a mudança de
um documento subordinado se reflete no principal.16
São evidentes a versatilidade e os problemas enfrentados
pela ordem jurídica para a aceitação dos documentos eletrônicos como
prova perante um juiz, de forma que há duas vertentes doutrinárias
quanto à existência e validade deles como meios de prova:
Uma a qual nega a possibilidade de aceitação jurídica
dos documentos digitais, justamente pela falta de materialidade,
forma estática e vinculação aos seus criadores; outra que os aceitam,
15 JAEGER, Estêvão Ervino. O valor probante dos documentos eletrônicos e as assinaturas digi-tais. Op. cit., p. 22.16 LINO, Elbison Luiz Pereira. GED — Aspectos técnicos e legais de documento eletrônico. Op. cit., p. 5.
17
dividida em duas: a primeira a qual os admitem juridicamente somente
por eles mesmos, a segunda que somente após atendidos certos requi-
sitos os quais combatam sua volatilidade e ausência da assinatura física
tradicional e personalíssima.17
1.6 Conceito E Finalidade Da Assinatura Formal
O Dicionário Aurélio conceitua a “assinatura” como o
“conjunto de indicações gravadas em talho-doce, xilogravura ou lito-
grafia, esclarecedoras dos nomes dos respectivos artistas e artesãos
(…)”.18 Pode-se dizer então que a assinatura, genericamente falando,
não se restringe ao nome escrito por extenso: é uma marca pessoal de
quem a firmou, que ajuda a identificar a autoria da obra.
Para Ângela Bittencourt Brasil, membro do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, a assinatura é uma marca:
“(…) personalíssima e tem eficácia e vali-dade jurídica, podendo ser levada ao tabelião para que este faça o seu reconhe-cimento por semelhança, já que pode ser conservada em arquivos e periciada por meios grafológicos”.19
17 CASTRO, Aldemario Araujo. O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 54, fev. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2632>. Acesso em: 05 set. 2007.18 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1 ed., Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1975, p. 149.19 BRASIL, Angela Bittencourt. Assinatura digital não é assinatura formal. Op. cit.
18
Da análise da doutrina de Francesco Carnelutti,20 temos
três funções da assinatura: a função de autoria (identificar o autor), a
função declaratória (atestar a declaração do autor) e a função probató-
ria (possibilitar a averiguação de autenticidade do documento).
Essa análise das funções está de acordo com a exegese do
nosso Código de Processo Civil:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se ver-dadeiras em relação ao signatário.
(…)
Art. 369. Reputa-se autêntico o docu-mento, quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença.
(…)
Art. 371. Reputa-se autor do documento particular:
I – aquele que o fez e o assinou;
II – aquele, por conta de quem foi feito, estando assinado;
III – aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a expe-riência comum, não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos”.21
O Artigo 368, cabeça, reporta-se às funções de autentici-
dade e declaração do autor; o Artigo 369 autoriza que a autenticidade
possa ser comprovada por um terceiro legalmente autorizado (no caso, 20 CARNELUTTI, Francesco. A prova civil. Título original: La prova civile. Traduzido por Lisa Pary Scarpa. 2 ed., Campinas : Bookseller, 2002. Apud JAEGER, Estêvão Ervino. O valor probante dos documentos eletrônicos e as assinaturas digitais. Op. cit., p. 24.21 BRASIL. Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o código de processo civil. Diário Ofici-al da União, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm>. Acesso em: 05 jun. 2009.
19
o tabelião); finalmente, o Artigo 371 e seus incisos reforçam a questão
da autoria, inclusive o Inciso III dá legitimidade para documentos que
não tenham sido assinados por força de práticas comerciais.22
Como se pode interpretar, nosso Código de Processo
Civil23 já abria margem para a aceitação de documentos eletrônicos cer-
tificados digitalmente, pois o rol no final de seu Artigo 371, Inciso III, é
exemplificativo, não restritivo, e a combinação dele com o Artigo 369
permite a figura da entidade certificadora digital, com condições técni-
cas análogas à do tabelião, mas para documentos eletrônicos. Uma
legislação nova só seria então necessária para regular o funcionamento
dessas entidades, mas não para a explícita admissão das assinaturas
digitais, as quais serão estudadas à frente.
1.7 Conceito De Certificação E Assinaturas Digitais
Estudamos que a assinatura formal é uma marca perso-
nalíssima, gravada de forma idêntica em todos os documentos produ-
zidos por seu autor. Porém, a assinatura digital tem origem em um
processo automatizado, sob o controle de terceiros (por isso chama-se
mais comumente de certificação digital), no qual serão produzidos
para cada documento eletrônico, o qual é em essência uma sequência
numérica, uma outra sequência de algarismos (também chamada de 22 BRASIL. Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Op. cit.23 Idem.
20
hash criptográfico), derivada da primeira e criada com o uso de uma
função matemática de criptografia,24 a qual pode ser simétrica ou assi-
métrica. Mas, para a certificação digital, importa apenas a criptografia
com chaves assimétricas, também chamada de criptografia com chave
pública.25
A criptografia com chave pública usa duas chaves:
1) A chave privada, de conhecimento exclusivo do subscri-
tor, possui a função de codificar os documentos eletrôni-
cos e identificar o seu autor, além de decodificar os que
forem criptografados com a chave pública;26
2) A chave pública, derivada da anterior e de forma que a
descoberta da primeira a partir da segunda seja difícil
em termos práticos, serve para decodificar os documen-
tos codificados pela primeira, bem como criptografar de
forma que somente o proprietário da chave privada que a
originou possa descriptografá-los.27
Do exposto se percebem algumas propriedades a res-
peito da assinatura digital:
1) ela é derivada do documento de origem;
24 CASTRO, Aldemario Araujo. O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral. Op. cit.25 COLCHER, Sérgio; SOARES, Luiz Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. Redes de computadores. 2 ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro : Campus, 1995, p. 453 a 457.26 Idem, p. 454 a 457.27 Ibidem, p. 454 a 457.
21
2) ela é diferente para cada documento assinado: modi-
fique-se a menor informação possível em um docu-
mento e a assinatura a qual a ele será aplicada também
mudará.
Com essas propriedades combinadas, é possível permitir
que um terceiro confiável, a entidade certificadora digital, seja respon-
sável tanto para manter um serviço de verificação de chaves públicas,
para identificar o autor do documento assinado digitalmente, quanto
para atestar o momento no qual ele foi enviado ou recebido.28
Mas para esse serviço de certificação digital ter validade
jurídica, é necessária a implantação de uma Infraestrutura de Chaves
Públicas, a qual vem a ser um conjunto de normas e padrões tecnológi-
cos para garantir a integridade e segurança das comunicações por meio
de documentos eletrônicos. No Brasil, essa infraestrutura é formada
pelas seguintes entidades:29
28 COLCHER, Sérgio; SOARES, Luiz Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. Redes de computadores. Op. cit., p. 459.29 ICP-Brasil. Estrutura. Disponível em: <https://www.icpbrasil.gov.br/apresentacao/estrutura>. Acesso em: 18 mai. 2009.
22
Ilustração 1: Esquema simplificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
1) Presidência da República — Casa Civil: Escolhe os inte-
grantes do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira e os coordena (Artigo 3º da MP
№ 2.200–2/200130);
30 BRASIL. Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-mação em autarquia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 ago. 2001. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200-2.htm>. Acesso em: 05 jun. 2009.
Presidência da RepúblicaCasa Civil
Comitê GestorInfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
Autoridade Certificadora RaizInstituto Nacional de Tecnologia da Informação
Comissão Técnica Executiva
Secretaria Executiva
AC – Nível 1Autoridade Certificadora
AC – Nível 2Autoridade Certificadora
ARsAutoridades Registradoras
AC – Nível 1Autoridade Certificadora
ARsAutoridades Registradoras
23
2) Comitê Gestor da ICP–Brasil: Entidade responsável pela
política e normas de certificação, bem como por fiscali-
zar a atuação da Autoridade Certificadora Raiz
(Artigo 4º da MP № 2.200–2/200131);
3) Autoridade Certificadora Raiz: É responsável por gerar e
manter o primeiro certificado digital na estrutura hierár-
quica da infraestrutura de chaves públicas, sua atividade
é exercida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação (Artigo 5º da MP № 2.200–2/200132);
4) Autoridades Certificadoras de Nível 1: Submetidas a
requisitos de segurança, integridade, disponibilidade e
confiabilidade maiores que as Autoridades Certificado-
ras de Nível 2, são responsáveis por emitir, gerenciar,
revogar e assinar digitalmente os certificados destas
(Artigos 6º, 8º e 9º da MP № 2.200–2/200133);
5) Autoridade Certificadora de Nível 2: É a entidade respon-
sável por emitir, gerenciar, renovar, revogar e assinar
digitalmente os certificados digitais das pessoas solici-
tantes (Artigos 6º, 8º e 9º da MP № 2.200–2/200134);
6) Autoridades Registradoras: fazem a verificação presen-
cial dos usuários de certificados digitais e podem
ou não estar fisicamente ligadas à Autoridade Certi-
31 BRASIL. Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001. Op. cit.32 Idem.33 Ibidem.34 Ibidem.
24
ficadora à qual se subordinam (Artigos 7º e 8º da MP
№ 2.200–2/200135).
Observação: Todas as autoridades certificadoras são
obrigadas a manter um cadastro público de certificados digitais cujas
revogações tenham ocorrido antes do prazo de validade, o qual ocorre
em um ano a partir da data da emissão.36
1.8 Conceito De Assinatura Digitalizada
Convém esclarecer aqui que a assinatura digitalizada
não é assinatura formal, nem assinatura eletrônica, pois: a assinatura
formal “pode ser conceituada como sendo o ato físico por meio do qual
alguém coloca em um suporte físico a sua marca ou sinal”,37 de modo a
dar-lhe a autoria da declaração; a certificação eletrônica é um conjunto
de técnicas criptográficas aplicadas a um documento eletrônico para
dar-lhe os valores de autenticidade e autoria, por meio de uma marca
conhecida como assinatura digital.
Já a assinatura digitalizada, por ser a mera transposição
do sinal físico para um sinal eletrônico, é equivalente por analogia a
35 BRASIL. Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001. Op. cit.36 INTI. Por que não emitir certificados sem data final de validade? Disponível em: <http://www.icpbrasil.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/PerguntaVinteTres>. Acesso em: 20 jun. 2009.37 BRASIL, Angela Bittencourt. Assinatura digital não é assinatura formal. Op. cit.
25
uma fotografia ou fotocópia da assinatura formal, pois não pode ser
levada a um exame grafológico nem processadas as técnicas de certifi-
cação criptográficas, fato que impede a averiguação dos atributos de
autenticidade e autoria, necessários para o valor probante do docu-
mento a qual a contém, e portanto não serve, por si mesma, como
prova judicial para a realização de um negócio jurídico, seja em meio
eletrônico ou físico.
CAPÍTULO II: CONCEITO E PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS
2.1 Conceito De Contrato
Já foi dito neste trabalho que um “documento contra-
tual” é o “registro de um acordo de vontades entre duas ou mais pes-
soas com o objetivo de regulamentar os interesses particulares que se
encontrem amparados pela legislação”,38 definição retirada dos ensina-
mentos de Maria Helena Diniz.8 Se “documento” é “registro”, então um
documento contratual é um registro de um contrato.
Conforme nos leciona Francisco Amaral:
“O contrato é o acordo de vontades con-trapostas para o fim de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, em que uma das partes pode exigir da outra uma prestação específica”.39
Essa lição nos indica que o objetivo do contrato é a “coo-
peração das pessoas por meio da prestação de serviços, e a circulação
38 Veja o Tópico 1.1, à página 13.39 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. 3 ed., Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 145.
27
de bens econômicos”.40 Portanto, está de acordo com a origem etimoló-
gica da palavra “contrato”, a qual é proveniente da palavra em latim
“contractus”, forma no particípio do verbo “contrahere” e cujo signifi-
cado é contrair direitos e obrigações, recíprocas ou não, entre os parti-
cipantes dessa relação.41
Porém, o conceito mais completo é o lecionado por Car-
los Alberto Bittar, para quem o contrato é um:
“(…) vínculo jurídico temporário que ads-tringe alguém (o devedor) a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, apreciável eco-nomicamente (a prestação) em prol de outrem (o credor). Constitui relação, amparada pelo Direito, pela qual alguém deve cumprir determinada prestação em favor de outrem (exigível judicialmente a satisfação, se não realizada)”.42
Do exposto, temos que o contrato se constitui em uma
fonte de obrigações,43 pois é uma relação jurídica criada entre as partes
e delimitada por um lapso temporal, ou seja, não é eterna, embora
possa ser renovada indefinidamente. Também trazem limites a esse
vínculo uma ou mais obrigações os quais o extinguam, após terem sido
cumpridas.
Com a análise da doutrina de Orlando Gomes, temos
que o contrato é uma categoria de negócio jurídico, na qual são neces-
40 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 144 e 145.41 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário acadêmico de direito. 2 ed. rev., amp. e atual., São Paulo : Jurídica Brasileira, 2001, p. 219 e 220.42 BITTAR, Carlos Alberto. Direito das Obrigações. Apud TELLES, Antonio A. Queiroz. Lições de obrigações e contratos. Campinas : Copola Livros, 1996, p. 17.43 TELLES, Antonio A. Queiroz. Lições de obrigações e contratos. Op. cit., p. 17.
28
sárias duas ou mais partes44 a assumirem comportamentos entre si, os
quais, se não cumpridos, os sujeitam a uma sanção jurídica. Essa san-
ção é geralmente de ordem patrimonial, já que não é possível obrigar
alguém a fazer algo contra a sua vontade para cumprir uma obrigação
contratual (ainda que fosse admitido em nosso sistema legal, nunca se
realizaria da forma a qual poderia ser caso tivesse sido realizado espon-
taneamente), bem como é impossível que uma pessoa desfaça algo,
mas sim que faça algo cujos efeitos anulem os causados pelos do qual
anteriormente foi feito (e mesmo assim quando isso for possível).
Os sete princípios basilares da teoria dos contratos são, a
partir dos diversos conceitos expostos e com o auxílio de mais doutri-
nadores: 1) a autonomia da vontade, 2) o consensualismo, 3) a função
social ou utilidade social do contrato, 4) a força vinculante obrigatória,
5) a revisibilidade contratual ou teoria da imprevisão, 6) a boa-fé nos
acordos e 7) a relatividade das convenções.45
44 GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. atual. por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro : Forense, 1996, p. 4.45 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Jus Navigandi, Teresina, Ano 9, № 513, 2 dez. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5996>. Acesso em: 23 jun. 2009.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 22.DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 60 a 64.
29
2.2 Princípio Da Autonomia Da Vontade
A autonomia da vontade é a liberdade a qual todo indiví-
duo possui de contratar ou não, com a pessoa, forma e objetos escolhi-
dos, desde que os efeitos desse objeto sejam lícitos,46 isto é, não sejam
proibidos por lei. Nosso ordenamento jurídico reconhece o “poder que
os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as
relações de que participam”.47 Portanto, quando prevê alguns impedi-
mentos na liberdade de contratar, tem por objetivo impedir abusos,48
os quais possam ser cometidos em nome de uma liberdade irrefreada,49
de forma que o contrato atenda à sua função social.
2.3 Princípio Do Consensualismo
Basta o mero acordo de duas ou mais vontades para sur-
gir um contrato válido, pois em princípio não há necessidade de uma
forma específica para contratar,50 apesar de alguns tipos de contrato
46 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Op. cit.AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 350.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 22.47 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 337 e 338.48 Idem, p. 353.49 A verdadeira liberdade não é irrestrita, mas sim aquela disciplinada e benéfica a quem a usa.50 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 35.DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 63.
30
terem a “sua validade condicionada à realização de solenidades estabe-
lecidas na lei e outros só se (…) determinada exigência for cumprida”.51
Ainda, a validade da vontade está condicionada à capacidade jurídica e
à legitimidade do agente que declara a vontade,52 como será visto no
Capítulo III, sobre Elementos contratuais, à Página 35.
2.4 Princípio Da Função Social
A função ou utilidade social é princípio limitador da
autonomia das vontades.53 Seriam temerosos os contratos se a liber-
dade de contração não tivesse limites, impedindo objetos ilícitos ou
mesmo lícitos, porém abusivos, que lhe causassem danos ao funciona-
mento e à dignidade da pessoa humana,54 de forma que “(…) a supre-
macia da ordem pública (…) veda convenções que lhe sejam contrárias e
aos bons costumes”,55 por meio de normas de ordem pública as quais
visem a proteger, por exemplo, a ordem econômica e moral da socie-
dade, a organização dos núcleos familiares, os trabalhadores56 e os con-
sumidores de cláusulas as quais lhes sejam danosas. Assim, nosso
AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 398.51 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 35.52 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 393 e 394.53 PAGE, Henri de. Traité élémentaire de droit civil belge, v. 2, p. 425. Apud GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 24.54 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Op. cit.55 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 61.56 Idem, p. 61.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 24.
31
Código Civil institui em seu Artigo 421 que: “A liberdade de contratar
será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.57
2.5 Princípio Da Força Vinculante Obrigatória
A força vinculante obrigatória é a regra de que as cláusu-
las estabelecidas entre as partes deverão ser cumpridas à risca e só
poderão ser modificadas em coordenação por ambas as partes, ou se
houver algum caso fortuito ou de força maior, imprevisível, caso con-
trário, sujeita-se o inadimplente à execução patrimonial.58 Porém, este
não é um princípio absoluto, mas “(…) relativo, porque cede diante de
razões maiores que o interesse das partes”,59 principalmente nos con-
tratos de adesão, pelo fato de o aderente estar em posição de inferiori-
dade não só econômica, mas também no estabelecimento das cláusu-
las contratuais.
57 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da Uni-ão, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.58 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 63.59 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Op. cit.
32
2.6 Princípio Da Revisibilidade Ou Teoria Da Imprevisão
A teoria da imprevisão, ou princípio da revisibilidade,
admite a modificação do conteúdo contratual pelo Poder Judiciário, a
pedido de somente uma das partes, desde que as condições fáticas exis-
tentes para a execução tenham se modificado substancialmente em
relação às existentes à época da contratação.60 Uma definição está dis-
ponível no Artigo 478 do Código Civil:
“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroa-girão à data da citação”.61
Mas a melhor formulação está escrita no Código do Con-
sumidor, o qual, apesar de possuir data de publicação anterior à do
Código Civil, começou a ser escrito mais recentemente:62
“Art. 6º São direitos básicos do consumi-dor:
(…)
V – a modificação das cláusulas contra-tuais que estabeleçam prestações despro-porcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
60 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 38 e 39.61 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Op. cit.62 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Op. cit.
33
(…)”.63
Nota-se que o legislador procurou um ponto de equilí-
brio, para não enfraquecer o contrato, mas também não permitir situa-
ções de expressa falta de equidade e boa-fé,64 não condizentes com a
dignidade humana e a visão do contrato como coordenador das vonta-
des particulares.
2.7 Princípio Da Boa-fé
O princípio da boa-fé pode ser relacionado ao comporta-
mento do agente, caso em que temos a boa-fé subjetiva quando há a
ausência de dolo, e ao comportamento ideal entre as pessoas, o qual é a
boa-fé objetiva. Esta última preceita que as partes colaborem para a for-
mação e a execução do contrato, sem que as ações de cada uma sejam
no sentido de prejudicar a outra,65 e está previsto no Artigo 422 de
nosso Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé”.66
63 BRASIL. Lei № 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.64 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 39 e 40.65 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Op. cit.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 42.DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 64.66 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Op. cit.
34
2.8 Princípio Da Relatividade
Pelo princípio da relatividade, temos que as obrigações e
os efeitos internos dos contratos são limitadas somente aos contratan-
tes, sem envolver terceiros. Porém, conforme ensina Maria Helena
Diniz, este princípio não não é absoluto: os herdeiros universais,
“embora não tenham participado na formação do contrato, (…) sofrem
seus efeitos; contudo, a obrigação do de cujus não se lhes transmitirá
além das forças da herança”;67 e “a estipulação em favor de terceiro, o
contrato coletivo de trabalho, a locação em certos casos e o fideico-
misso ‘inter vivos’ ”68 estendem seus objetos e efeitos a pessoas as quais
não participaram ativamente da formação da relação contratual.
67 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 63 e 64.68 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 44.
CAPÍTULO III: ELEMENTOS CONTRATUAIS
3.1 Elementos Intrínsecos Ou Requisitos Contratuais
Os elementos intrínsecos aos contratos, também chama-
dos como requisitos ou elementos essenciais pela doutrina, são aqueles
sem os quais o contrato como negócio jurídico sequer existe: o consen-
timento de vontades, o objeto e a forma.69
3.1.1 Consentimento De Vontades
Os contratos envolvem duas ou mais pessoas: para que
se realizem são necessários que as vontades dessas pessoas sejam com-
plementares, sem vícios em sua declaração. Para a teoria dos contratos,
a forma contratual é a exteriorização da vontade, e, como esta, em
69 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 397.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 45.
36
geral é livre. A vontade precisa ser manifestada de algum modo para o
exterior do sujeito. Como todo comportamento humano carrega uma
intenção e permite uma interpretação conforme o contexto, é por essa
forma que a vontade é declarada: verbalmente, por escrito, por um
simples gesto ou mesmo pelo silêncio (em casos especiais).70
3.1.2 Objeto Do Contrato
O objeto contratual é o próprio conteúdo do contrato, é a
definição das contraprestações a que as partes se obrigaram. Como
consolidação das vontades, deverá ser interpretado para a concretiza-
ção do contrato. Está, portanto, na fase inicial do processo negocial e
não se confunde com os efeitos do contrato, os quais são o resultado de
sua execução.71
70 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 14.AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 389 a 393.71 Idem, p. 396.
37
3.1.3 Forma Contratual
Existem duas doutrinas, a do formalismo, a qual preza
pelas formalidades obrigatórias para que o contrato gere o vínculo
obrigacional entre as partes, e a do consensualismo, adotada em nosso
ordenamento jurídico. Para a doutrina do consensualismo, basta a
declaração da vontade para vincular o seu emissor.72 O Código Civil
autoriza em seu Artigo 107 que:
“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exi-gir”.73
Constituem exceção a essa regra os contratos formais ou
solenes, e mesmo assim porque o legislador dessa maneira os conside-
rou para acrescentar maior segurança jurídica a seus objetos, seja para
facilitar o meio de prova, dar maior autenticidade e publicidade, seja
para que as partes atribuam importância maior.74
72 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 398 e 399.GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 53 e 547.73 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Op. cit.74 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 53 e 54.AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 399.
38
3.2 Elementos Extrínsecos Ou Pressupostos Contratuais
Os elementos extrínsecos aos contratos, também chama-
dos como pressupostos contratuais75 pela doutrina, são aqueles sem os
quais o contrato como negócio jurídico pode até ser existente, mas não
será válido, não poderá receber tutela jurídica e ser legalmente exigível
em caso de inadimplência. Os Incisos I e II do Artigo 104 do Código
Civil trazem dois elementos:
“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I – agente capaz;
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
(…)”.76
O terceiro elemento é a legitimação, porém não está
incluso no Inciso III do Artigo 104, o qual fala a respeito da forma do
negócio jurídico, no sentido das formalidades. Sem esses três elemen-
tos, capacidade, idoneidade do objeto e legitimação, desde o momento
de sua formação, o negócio jurídico contrato não tem validade.
75 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 45.76 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Op. cit.
39
3.2.1 Capacidade
A capacidade diz respeito à aptidão de uma pessoa para
entender as razões pelas quais está contratando, seus efeito, direitos e
responsabilidades. O Código Civil,77 em seu Artigo 1º, pressupõe a
capacidade em todas as pessoas, atendidos certos requisitos objetivos,
como a maioridade ou emancipação.78 A incapacidade é a exceção, e
está reservada aos casos previstos em seu Artigo 3º (causas de incapaci-
dade absoluta) e Artigo 4º (causas de incapacidade relativa).
3.2.2 Idoneidade Do Objeto Contratual
O objeto jurídico do negócio, isto é, o seu conteúdo, deve
ser compatível com o ordenamento vigente, isso significa que os inte-
resses regulados por ele devem ser lícitos, possíveis e determináveis. A
licitude do objeto refere-se à conformidade com a lei, a ordem pública e
os bons costumes: não são válidos os negócios jurídicos que envolvam
bens furtados, por exemplo. A possibilidade pode ser física (realizabili-
dade) ou jurídica (permissão), o negócio deve ser viável: bens ainda
não existentes poderão existir e serem vendidos no futuro, mas é 77 BRASIL. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Op. cit.78 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 393 e 394.DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 11.
40
impossível vender algo do qual não se tenha a propriedade. Por fim, a
determinabilidade do objeto refere-se às suas características de identi-
dade: o bem ou serviço deve ser explícito, a vagueza de sua identifica-
ção impede a realização apropriada do contrato.79
3.2.3 Legitimação
A legitimação refere-se à autorização que a pessoa capaz
tem para exercer determinados atos. Essa autorização surge da lei,
quando expressamente autoriza ou proíbe que alguém, em decorrência
de certas qualificações, possa praticar atos específicos,80 tais como: o
casamento, que só é permitido a quem não é casado e não tem laços
próximos de parentesco com seu futuro cônjuge; a representação da
vontade dos filhos menores pela dos pais; a autorização para uma enti-
dade certificar os documentos gerados eletronicamente; entre outros
exemplos existentes.
79 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 395 a 398.80 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 47.AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 394 e 395.DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Op. cit., p. 11 e 12.
41
CAPÍTULO IV: PARTICULARIDADES DOS CONTRATOS DIGITAIS
4.1 Desafios Jurídicos Advindos Do Uso De Meios Eletrônicos
Com o advento e a adoção massiva de novas tecnologias
de armazenamento e transmissão de dados, e por consequência docu-
mentos (inclusive contratuais), surgiram duas necessidades para as
sociedades: um método o qual permita a autenticação do documento
eletrônico criado pelas partes e uma legislação a qual regule e dê força
jurídica a essa técnica, chamada de certificação digital.
A autenticação é necessária para identificar com segu-
rança as partes contratantes, a data da realização do contrato, dar pro-
teção contra a adulteração do conteúdo dos documentos e proporcio-
nar, com isso, força de prova aceitável juridicamente. Para tanto, esse
método deve proporcionar segurança, por meio da combinação dos
seguintes fatores:
1) Autenticidade: certeza jurídica sobre o criador do docu-
mento,81 conseguida em parte por meio da entidade cer-
tificadora, em parte pela segurança dos algoritmos de
criptografia;81 PAIVA, Mário Antônio Lobato de; LÓPEZ, Valentino Cornejo. O documento, a firma e o notá-rio eletrônico. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 53, jan. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2504>. Acesso em: 21 jun. 2009.
42
2) Integridade: impedir a adulteração da mensagem digital-
mente assinada,82 conseguida pela proteção que a assina-
tura digital dá à mensagem;
3) Não repudio: uma vez assinado o documento e enviado
para a outra parte, não pode haver dúvidas quanto sua à
criação pelo remetente,83 conseguida pela força do algo-
ritmo de criptografia mais a proteção da chave privada;
4) Tempestividade: a entidade certificadora pode se tornar
responsável por atestar a data e a hora nas quais o docu-
mento eletrônico foi assinado, de forma a possibilitar a
averiguação da tempestividade da mensagem ou docu-
mento eletrônicos, ao mesmo tempo em que resolve o
problema da testemunha eletrônica;
5) Confidencialidade: somente os destinatários da mensa-
gem (partes e entidade certificadora) e autorizados por
estes podem lê-la;84
82 PAIVA, Mário Antônio Lobato de; LÓPEZ, Valentino Cornejo. O documento, a firma e o notá-rio eletrônico. Op. cit.83 Idem.84 Ibidem.
43
4.1.1 Justificativa Para O Uso Da Certificação Digital
A assinatura digital com chave pública, quando usada
corretamente, isto é, sem o compartilhamento dos dados privados com
terceiros e o uso de uma senha longa e complicada para a decodificação
da própria assinatura digital,85 garante ao leitor do documento por ela
assinado que somente poderia ter sido criado “com informações priva-
das do signatário”,86 dado que a descoberta da chave privada por meio
de ataques à chave pública pode levar tempo considerável em anos,87
conforme o tamanho das chaves, suas renovações88 e a qualidade dos
algoritmos criptográficos aumente para acompanhar a capacidade dos
computadores os quais possam ser usados para realizar a criptoanálise.
Portanto, é possível “provar para um terceiro (juiz em um tribunal) que
só o proprietário da chave privada poderia ter gerado a mensagem”,89
alcançando assim as finalidades da assinatura formal.
85 INTI. Quais cuidados se deve ter ao se utilizar a certificação digital? Op. cit.86 COLCHER, Sérgio; SOARES, Luiz Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. Redes de computadores. Op. cit., p. 457.87 Idem, p. 454.88 INTI. Por que não emitir certificados sem data final de validade? Disponível em: <http://www.icpbrasil.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/PerguntaVinteTres>. Acesso em: 20 jun. 2009.89 COLCHER, Sérgio; SOARES, Luiz Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. Redes de computadores. Op. cit., p. 459.
44
4.2 Conceito De Contrato Eletrônico
É tentador querer definir o contrato eletrônico apenas
como a representação informatizada de um acordo de vontades, do que
seria diferente em relação aos contratos físicos apenas de maneira for-
mal, tal qual o documento eletrônico é para o documento físico. Mas
isso seria uma simplificação excessiva, a qual deixa de levar em conta as
novas capacidades tecnológicas trazidas pela informática, com as quais
um contrato eletrônico acaba por não se encaixar nas categorias de
contrato escrito ou verbal propriamente ditos:90 a informação transmi-
tida por computadores podem ser ser convertidas, por meio de proces-
samento específico, em informação escrita, para os deficientes auditi-
vos, ou informação sonora (e até mesmo tátil, para os deficientes visu-
ais).91 Não só a representação, mas até mesmo a vontade em si pode ser
convertida em informação eletrônica. Vejamos:
Um computador é toda máquina programável, no
momento de sua fabricação ou após o início de seu uso como bem de
consumo ou de produção, com capacidade de processamento, armaze-
namento, geração e comunicação de informações.92 A Internet, reunião 90 BRITO, Alessandro Vicente. Os contratos no comércio eletrônico (uma análise sobre a sua va-lidade). Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Pós Graduação / Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008, p. 112 e 113.91 Existem especificações de padrões abertos de apresentação de documentos eletrônicos para dispositivos tais como “(…) aural – sintetizadores de voz; braille – dispositivos táteis em braille; embossed – impressoras de braille (…)”. (BRASIL. Padrões Brasil e–gov: Recomendações para codificação de páginas, sítios e portais, versão 2.0. Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/padroes-brasil-e-gov.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2009.)92 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e Eficácia Probatória dos Contratos por Compu-tador. São Paulo : Saraiva, 1995, p. 21.
45
de redes públicas e privadas de computadores cuja versatilidade, inte-
roperabilidade e ubiquidade tornou-a meio de comunicação por exce-
lência quando se precisa de agilidade, trouxe à tona a importância do
direito à privacidade, dos direitos autorais e patentes de invenções, dos
contratos de licenciamento de uso de programas de computador, bem
como da responsabilidade civil contratual na oferta de bens e prestação
e serviços. Sua importância em sociedades tecnológicas é crescente, de
tal forma que o Direito passou a se ocupar com os vários aspectos sur-
gidos com sua difusão e popularização.93
Assim, a partir do momento em que a informática abriu
novas possibilidades de editoração de documentos e de comunicação, a
atividade econômica logo tratou de aproveitar a nova ferramenta para
expandir o mercado de bens e serviços, portanto temos três formas de
contratar usando computadores:
1) Usá-lo como mero meio de um sistema de comunicações
à distância,94 da mesma forma como os modos tradicio-
nais já tratados pelo Direito, sem um sistema coordena-
dor dos contratos;
2) Como lugar para o encontro de vontades anteriormente
existentes entre as partes,95 como se fosse um estabeleci-
mento próprio para leilões ou comércio de varejo, mas
no qual o sistema coordenador não pertence às partes
contratantes;
93 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por computa-dor. Op. cit., p. 21 e 22.94 Idem, p. 24 e 25.95 Ibidem, p. 25.
46
3) Finalmente, como auxiliar no processo de formação da
vontade, por meio de programação prévia de regras para
a efetivação de negócios,96 com base na qual os sistemas
se comunicam de acordo com a vontade de seus proprie-
tários quando interagem com as pessoas naturais ou
outros sistemas informatizados.
Passaremos a um breve exame sobre cada um desses
tópicos.
4.2.1 O Computador Como Parte De Um Sistema De Comunicações À Distância
Os computadores não funcionam apenas isoladamente:
podem funcionar em redes de variados tamanhos, as quais inclusive
podem ser interligadas. Esta, aliás, é a origem da Internet, a rede das
redes.97 Conectado a uma rede, o computador pode atuar como um
meio de comunicação entre as partes, de tal maneira que possam ser
transmitidos por esse sistema vontades já definidas.98
96 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por computa-dor. Op. cit., p. 25 e 26.97 GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de su-primentos integrada à tecnologia da informação. São Paulo : Cengage Learning Editores, 2004, p. 159.STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados. Título original: Business data communications, 5th ed. Traduzido por: Daniel Vieira. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005, p. 59 e 65.98 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por computa-dor. Op. cit., p. 24 e 25.
47
Assim, os equipamentos interconectados equiparam-se
aos outros meios de comunicação já previstos em nosso ordenamento
jurídico, como os correios (com o uso de mensagens de correio ele-
trônico ou mensagens instantâneas), as máquinas de fac-simile ou fax
(pela transmissão de imagens e documentos digitalizados), bem como
os os telefones (por meio do uso de telefonia ou mesmo vídeo-confe-
rência via Internet).
Todavia, há que se atentar para o fato de que as regras
gerais para os contratos não são aplicáveis em todos os quais foram efe-
tuados eletronicamente, já que apesar de os sistemas informatizados
poderem ser programados para emitir ou aceitar ordens de compra ou
venda, de acordo com uma vontade preexistente, apenas “a aceitação
prévia, por uma das partes, de que os registros feitos pela outra são ple-
namente válidos estabelece assimetria nas posições contratuais”.99
Esse é o melhor entendimento, mesmo porque, apesar
de os computadores serem máquinas com funcionamento preciso,
sempre há a possibilidade de ter havido alguma falha no equipamento,
na programação100 ou de comunicação e a mensagem não corresponder
à real vontade dos contratantes, ou até ser uma fraude completa, cau-
sada por terceiros ou mesmo pelas partes.
99 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por computa-dor. Op. cit., p. 25.100 Uma falha de programação na geração de chaves assimétricas, usadas para a certificação di-gital, e que foi bastante divulgada em informativos especializados em segurança da informação, restringiu o espaço de criação dos números aleatórios usados para a criação dessas chaves. Isso permitiu que qualquer chave criada com o programa defeituoso fosse relativamente fácil de ser quebrada por um atacante. (The CentOS Team. CentOS announce: Impact of the Debian OpenSSL vulnerability. Disponível em: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2008-May/014902.html>. Acesso em: 18 mai. 2009.)
48
Nesses casos, é possível verificar, mesmo judicialmente
se necessário, a razoabilidade das condições de contratação e as res-
ponsabilidades de cada parte. É válido ainda aplicar as regras consume-
ristas para os contratos de adesão constituídos por vias eletrônicas,
“pois o meio eletrônico (…) é apenas um veículo a mais para a contrata-
ção à distância entre o consumidor e o fornecedor”,101 assim como as
contratações realizadas por correios ou ligações telefônicas.
Dito isso, os equipamentos intermediários entre os usa-
dos pelos contratantes, tais como roteadores, transceptores e amplifi-
cadores de sinais, funcionam apenas como as linhas de transmissões
telefônicas ou telegráficas e não participam do processo de formação
do contrato, pois as vontades por eles transmitidas não receberam
deles nenhuma interferência de algum processo automático capaz de
influenciar significativamente as decisões.
Nesse sentido é a opinião de Ricardo Luís Lorenzetti, ao
lecionar a respeito da participação dos provedores de acesso das partes:
“(…) o importante é que estes sujeitos prestam um serviço de comunicação e são alheios ao conteúdo das mensagens, aspecto decisivo no momento do exame da sua responsabilidade. Naturalmente, se influenciarem o conteúdo, deixam esta função e passam a ocupar o papel de for-necedores de conteúdo”.102
101 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 98.102 LORENZETTI, Ricardo Luís. Comércio eletrônico. Traduzido por Fabiano Menke. 1 ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 450. Apud BRITO, Alessandro Vicente. Os contratos no comércio eletrônico (uma análise sobre a sua validade). Op. cit., p. 43.
49
Assim, a analogia entre os provedores de acesso e as
empresas de comunicações só se mantém enquanto não houver inter-
ferência no conteúdo das mensagens trocadas entre as partes, pois,
segundo Marcel Leonardi:
“(…) deve-se primeiro observar se o prove-dor deixou de obedecer a algum de seus deveres e se, em razão de sua omissão, impossibilitou a localização e identifica-ção do efetivo autor do dano, hipótese em que ambos — provedor e autor — res-ponderão solidariamente por sua prática”.103
Portanto, mesmo que sejam meros provedores de acesso,
poderá haver a constatação de responsabilidade civil.
4.2.2 O Computador Como Lugar Para Acordo De Vontades Anteriormente Existentes
Nesta situação, ainda que cada parte utilize computado-
res próprios para a transmissão de suas vontades, estas serão registra-
das e aperfeiçoadas em um sistema alheio a ambas, programado por
um “terceiro, sujeito estranho a contratação, segundo critérios objeti-
vos que garantam uma igual tutela dos interesses contrapostos dos
103 MARCEL, Leonardi. Responsabilidade dos provedores de serviços de Internet por atos de ter-ceiros. In Responsabilidade civil na Internet e nos demais meios de comunicação. SILVA, Regina Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. (Coordenadores). São Paulo : Saraiva, 2007. Apud BRITO, Alessandro Vicente. Os contratos no comércio eletrônico (uma análise sobre a sua validade). Op. cit., p. 43.
50
contraentes”,104 ou seja, alguém não especialmente interessado nos
objetos contratuais os quais serão feitos por intermédio de seus equi-
pamentos.
Como exemplo, temos os portais na Internet para com-
pra e venda de bens e serviços com preço fixo ou em leilão, nos quais os
usuários se registram e cadastram os bens ou serviços a serem forneci-
dos para outros os quais porventura estejam interessados, e nesses
casos é possível a aplicação das mesmas regras existentes para os
leilões tradicionais, aliadas às regras para contratação à distância.
Um problema que surge dessa falta de vínculo direto
entre os participantes da relação contratual é a identificação das pes-
soas envolvidas,105 pois o método mais usado atualmente, o qual é o do
cadastramento de dados pessoais importantes, é relativamente fácil de
ser burlado:
Basta que uma pessoa com acesso a um cadastro de cli-
entes o use para se passar por outra pessoa e, superados alguns crité-
rios objetivos para atribuição de confiança (como pontuação recebida
de outros usuários registrados,106 os quais também podem ter sido cria-
dos com o objetivo de atacar o sistema), causar transtornos para quem,
nesse exemplo, foi vítima de um furto de identidade107 e/ou até mesmo
104 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por compu-tador. Op. cit., p. 24 e 25.105 Idem, p. 25.106 Esse sistema de pontuações é amplamente usado pelo “MercadoLivre”, um portal de encon-tros na Internet entre compradores e vendedores ou leiloeiros. (MercadoLivre. Como se calcu-lam os pontos da reputação? Disponível em: <http://www.mercadolivre.com.br/jm/ml.faqs.portalFaqs.FaqsController?axn=verFaq&faqId=2712>. Acesso em: 4 mai. 2009.)107 O furto de identidade ocorre quando uma pessoa usa as informações pessoais de outra, tais como nome completo, data de nascimento, número do Registro Geral e do Cadastro de Pessoa Física, para obter bens e serviços sem o conhecimento de quem teve seus » continua na pág. 51
51
de engenharia social.108 As vítimas aqui são tanto a pessoa cujos dados
foram indevidamente usados quanto aqueles os quais tiveram prejuí-
zos pela falsidade ideológica criada.
Já um sistema o qual use a certificação digital não teria
essa fragilidade, pois além de métodos mais seguros para a identifica-
ção da pessoa a qual estará usando o serviço de autenticação digital,
como a verificação prévia e real de seus documentos e a legitimidade
para o uso pelo portador, seriam usados algoritmos de segurança para a
marcação de documentos eletrônicos, adequados para evitar a quebra
de segurança, por terceiros ou mesmo pelo próprio subscritor, após a
aplicação da certificação digital.
4.2.3 O Computador Como Ferramenta Auxiliar No Processo De Formação Da Vontade
Aqui temos os contratos eletrônicos em sentido estrito,
realizados pelo uso de técnicas exclusivas da informática, pois o com-
dados usados sem autorização. Apesar de a maioria das vítimas serem pessoas físicas, também pode haver vítimas pessoas jurídicas, quando os dados do preposto empresarial são usados em conjunto com os dados empresariais. Segundo a Federal Trade Commission, entidade estaduni-dense, o furto de identidade é uma modalidade de crime cujo aumento de incidência entre 2008 e 2009 aumentou em 25% em relação ao ano anterior. (Furto de identidade cresce 25%. In PC World Digital. Disponível em: <http://pcworld.uol.com.br/especiais/secworld/archive/2009/02/27/furto-de-identidade-cresce-25/> Acesso em: 06 jun. 2009.)108 Em um contexto de segurança de informação, a engenharia social é um tipo de ataque no qual o agente ilícito procura obter informações das pessoas ou mesmo convencê-las a agir da maneira desejada. (WIKIPEDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_engineering_(security)&oldid=293838389>. Acesso em: 27 mar. 2009.)
52
putador, mais que mera parte de um sistema de comunicações entre as
partes ou lugar no qual há o encontro de vontades preexistentes, pode
ser programado, a partir de informações e regras compiladas pelo pro-
gramador do sistema, a realizar ofertas a terceiros ou até mesmo a acei-
tar as propostas de contrato recebidas eletronicamente.109 Temos, em
tese, os seguintes tipos de uso das técnicas informáticas para a contra-
tação eletrônica:
1) As ofertas realizadas automaticamente e aceitas ou não
por seres humanos (sistemas de empresa para consumi-
dor110). Exemplo: as lojas virtuais são sistemas de banco
de dados programados para exibir as ofertas disponíveis
em um formato atraente para consumidores em poten-
cial, registrar as intenções de compra e os dados necessá-
rios para concluir a transação junto às instituições finan-
ceiras e à operação de logística, e até mesmo enviar
informativos com ofertas de tempos em tempos endere-
çados para os endereços físicos ou caixas postais ele-
trônicas dos clientes;111
2) As ofertas simultaneamente ofertadas e aceitas ou não
por sistemas informatizados (sistemas de empresa para
empresa112). Exemplo: os sistemas bancários que se 109 SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por compu-tador. Op. cit., p. 24 e 25.110 Também chamados de business to consumer ou B2C. (GOMES, Carlos Francisco Simões; RI-BEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da in-formação. Op. cit., p. 160.)111 GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de su-primentos integrada à tecnologia da informação. Op. cit., p. 160.112 Também chamados de business to business ou B2B. (GOMES, Carlos Francisco Simões; RI-BEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da in-formação. Op. cit., p. 160 e 161.)
53
comunicam diariamente entre si para a realização de
transferências eletrônicas de pagamentos, com as devi-
das compensações financeiras a cada ciclo completado
conforme o tipo de transação.113
O segundo caso é bem mais simples para a identificação
das pessoas envolvidas, pois como “em geral as partes da transação são
bem conhecidas” 114 no aspecto do comércio eletrônico entre empresas,
já foi vencida a questão de como identificar o outro contratante por
meio de um acordo anterior entre as entidades envolvidas,115 durante o
qual serão definidos os protocolos de comunicação entre os sistemas.
Essas duas subcategorias se enquadram, respectiva-
mente, na classificação elaborada por Manoel Santos e Mariza Rossi
como contratos eletrônicos interativos e contratos eletrônicos intersis-
têmicos;116 porém, a classificação proposta por eles de contratos ele-
trônicos interpessoais não foi colocada aqui, pois nela os computado-
113 O que ocorre nesses casos não é o pagamento direto pelo comprador ao vendedor, mas sim: 1º) uma requisição pelo sistema do vendedor ao sistema administrador do cartão bancário (crédito ou débito) do cliente para uma transação financeira; 2º) a instituição financeira poderá fazer uma análise de crédito ou do uso do cartão, antes de passar ao próximo passo ou rejeitar automaticamente a requisição; 3º) um pedido da instituição financeira para que o clienteauto-rize ou rejeite o débito; 4º) caso autorizada, a financeira indicará ao sistema do lojista para con-cluir a transação, pois transferirá os fundos acertados entre vendedor e comprador. Assim, ape-nas o contrato de compra e venda é imediato entre a parte que vende e a que compra, seja presencial ou via Internet. O contrato do pagamento é efetuado por meio das instituições fi-nanceiras, as quais realizam contratos entre seus usuários e entre si, de maneira automatizada.114 GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de su-primentos integrada à tecnologia da informação. Op. cit., p. 160.115 PAIVA, Mário Antônio Lobato de; CUERVO, José. A firma digital e entidades de certificação. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 57, jul. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2945>. Acesso em: 10 mar. 2009.116 ROSSI, Mariza Delapieve; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Aspectos legais do comércio ele-trônico: contratos de adesão. In Revista de Direito do Consumidor № 38, São Paulo, abr./jun. 2001, v. 10, p. 9 a 24. Apud RAITZ, Evelyn Cavali da Costa. O princípio da confiança nos contra-tos eletrônicos de consumo. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de pós graduação stricto sensu / Centro Universitário Curitiba, 2008, p. 86.
54
res se comportam como parte de um sistema de telecomunicações ou
como local de encontro de vontades, ou seja, possuem uma postura
passiva com relação à formação dos contratos, enquanto nesta os dis-
positivos eletrônicos, após programação, possuem uma postura dinâ-
mica ou interativa.
Não se incluem nesta categoria os contratos ofertados
por pessoas físicas e que seriam analisados por algoritmos automáti-
cos, os quais dariam, em hipótese, aos computadores uma atuação na
formação contratual, por ser essa subespécie ainda insignificante para
o Direito: o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial
ainda não possuem recursos para o reconhecimento semântico dos
documentos produzidos pelas pessoas naturais, e consequentemente
dos contratos por elas originados.
CAPÍTULO V: EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS
5.1 Princípios Aplicáveis Aos Contratos Eletrônicos
Os contratos eletrônicos podem se enquadrar tanto nas
regras contratuais civis quanto nas consumeristas, como já foi anali-
sado no Capítulo IV, à Página 41. Portanto, as condições de exigibili-
dade podem variar conforme se verifique o contrato celebrado tratar-se
de um tipo ou de outro.
5.1.1 Distinção Entre Contrato Civil E Consumerista
Se o contrato civil foi definido como um vínculo jurídico
temporário realizado por meio de um acordo de vontades, um contrato
consumerista adiciona a esse conceito a característica de habitualidade
56
na realização dos contratos à parte a qual atue como fornecedor de
bens e serviços.117
5.2 Exigibilidade Do Contrato Não Cumprido Sem Assinatura Digital
Nos casos em que não forem usadas as técnicas da certi-
ficação digital, a parte interessada em provar os fatos, inclusive os con-
tratos, só tem como meios a confissão, as testemunhas e o exame118 dos
equipamentos usados ou de algum documento gerado fisicamente:
A confissão, relativamente confiável, não é exigível pela
força: depende que a parte atue admitindo a verdade de um fato con-
trário ao seu próprio interesse ou que esse fato não seja sigiloso.119
As testemunhas nem sempre estão disponíveis em con-
tratos eletrônicos: é necessário que um sistema seja interativo para que
outros possam visualizar a realização do contrato, e mesmo assim a
prova testemunhal não tem tanta força probante quanto desejável.
O exame pericial dos equipamentos usados para a con-
tratação tampouco é desejável: as transações podem não ter sido regis-
tradas em dispositivos de memórias não voláteis, e mesmo que tenham
117 RAITZ, Evelyn Cavali da Costa. O princípio da confiança nos contratos eletrônicos de consu-mo. Op. cit., p. 90.118 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 402.119 Idem, p. 402 e 403.
57
sido, causa transtornos à parte hipossuficiente da relação, o consumi-
dor, o qual ficará sem o uso de seu equipamento durante a perícia.
Aos consumidores por meio exclusivamente eletrônico
restavam, na prática, somente os documentos físicos que houvessem
sido gerados, durante a transação, tais como o extrato da transação
bancária ou a fatura do cartão de crédito, por terem sido emitidos por
terceiros não interessados no negócio principal. Porém, esses docu-
mentos não provam o conteúdo do contrato, provam somente a realiza-
ção de uma transação.
Resta, de modo prático, somente a presunção de veraci-
dade, a qual não é exatamente um meio de prova, mas sim “processos
lógicos que se baseiam nas regras da experiência da vida”,120 por força do
Artigo 335 do Código de Processo Civil.121
120 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. Op. cit., p. 403.121 BRASIL. Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Op. cit.
58
5.3 Exigibilidade Do Contrato Não Cumprido Com Assinatura Digital
Com a certificação digital das transações eletrônicas,
torna-se menos complexo para as partes poderem exigir uma das
outras o cumprimento das obrigações, pois há a figura do terceiro con-
fiável, a entidade certificadora autorizada por lei a atuar como espécie
de notário das transações eletrônicas. Porém, isso não torna absoluta-
mente certo que com o uso das chaves digitais, dentro das normas da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil, todo con-
trato eletronicamente assinado será sempre exigível.
A assinatura digital é apenas um meio de prova com o
suporte de novos dispositivos legais e técnicos, com o qual se identifi-
cam as partes que usam meios eletrônicos para comunicação com
segurança maior, mas não absoluta. Nada impede que um dos contra-
tantes alegue que houve uma quebra na chave e consiga provar perante
o juiz: não se pode esquecer que ela possui validade temporal justa-
mente para minimizar,122 mas não eliminar de vez, os riscos de segu-
rança no ambiente cibernético. Esse é um argumento facilmente utili-
zável pelo consumidor pessoa física, mas não pelo fornecedor ou con-
sumidor enquanto pessoa jurídica:
O consumidor pessoa física de serviços na Internet nem
sempre tem tempo, dinheiro ou mesmo os conhecimentos necessários
para se proteger de todas as ameaças virtuais que surgem a cada dia,
122 INTI. Por que não emitir certificados sem data final de validade? Op. cit.
59
com considerável parte que consegue invadir seus equipamentos casei-
ros apenas ao conectá-los à Internet. E as leis que regulam o funciona-
mento das entidades certificadoras não tornaram inválido o arcabouço
legal existente para essa nova geração de contratos, ao contrário, vie-
ram para proteger o consumidor e fomentar o comércio eletrônico: as
regras para a interpretação contratual e os princípios existentes conti-
nuam válidos, como os princípios da vulnerabilidade e da informação
do consumidor,123 além da boa-fé e uma boa dose de bom senso, princi-
palmente dos fornecedores de meios de pagamentos, para protegê-lo
de transações suspeitas.
A própria legislação a qual deu validade aos certificados
eletrônicos permite essa interpretação:
“Art. 10. Consideram-se documentos pú-blicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º As declarações constantes dos docu-mentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certifica-ção disponibilizado pela ICP–Brasil pre-sumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei № 3.071, de 1o de janeiro de 1916 — Código Civil.
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclu-sive os que utilizem certificados não emi-tidos pela ICP–Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela
123 POGGIO, Smanio Gianpaolo. Interesses difusos e coletivos: Estatuto da criança e do adoles-cente, consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, ação civil pública e inquérito civil. 6 ed., São Paulo : Atlas, 2004, p. 59 e 60.
60
pessoa a quem for oposto o documen-to”.124
Já um fornecedor de serviços terá dificuldades para pro-
var essa tese, mesmo que algumas vezes se enquadre na categoria de
consumidor, até mesmo porque, pela qualidade e volume da maior
parte de suas transações, será obrigado a se informar e se proteger de
invasões aos seus equipamentos eletrônicos em um grau muitíssimo
maior que um pequeno consumidor. Portanto, a exigibilidade de con-
tratos eletronicamente assinados por fornecedores de serviço é pratica-
mente certa, se questionados em juízo.
124 BRASIL. Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001. Op. cit.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a execução das pesquisas para este trabalho,
verificou-se a crescente importância dos meios eletrônicos de contrata-
ção, fato ocorrido devido à presença cada vez maior das tecnologias
trazidas pela informática, com a popularização dos computadores e da
Internet para as empresas e o público em geral. Esta tem sido mais e
mais usada como meio de publicidade e realização de contratos entre
fornecedores e consumidores, bem como entre empresas.
Verificamos os conceitos e finalidades dos documentos e
assinaturas, analisando suas finalidades tais como a atribuição de
declaração, autenticidade e autoria, bem como as diferenças entre os
modos tradicionais e os eletrônicos para as comunicações e os meios de
prova, principalmente em relação à segurança que estes últimos meios
podem ou não proporcionar.
Também analisamos o que são os contratos, seus princí-
pios e elementos, a fim de poder ressaltar as particularidades dos con-
tratos eletrônicos, bem como os desafios jurídicos advindos de sua
aceitação em massa: a adoção de tecnologias capazes de criar um novo
conceito em comunicação, tais como a transmissão dinâmica da von-
tade por meio de prepostos automatizados, trouxe também a necessi-
62
dade de conceituar como deverão ser tratados pelo direito essa nova
geração de contratos.
Por fim, percebemos que, embora a certificação ele-
trônica tenha trazido maior segurança jurídica aos contratantes os
quais se utilizam de meios informáticos, ela não trouxe uma certeza
absoluta no caso de contratos assinados pelos consumidores, os quais
são tratados como partes hipossuficientes em uma relação contratual.
Ainda, atualmente as empresas não exigem diretamente dos consumi-
dores que certifiquem os contratos celebrados pela Internet: são as
empresas fornecedoras de meios de pagamentos que verificam a auto-
rização para o pagamento. A certificação digital, nesses casos, serve
para aumentar o nível de confiança dos consumidores nas transações
que realizarem. Porém, para os contratos digitalmente celebrados
entre partes em igual posição na relação contratual, como as empresas
entre si, a assinatura eletrônica serve como meio de prova com alto
grau de autenticidade.
BIBLIOGRAFIA
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário acadêmico de direito. 2 ed. rev., amp. e atual., São Paulo : Jurídica Brasileira, 2001.
AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. 3 ed., Rio de Janeiro : Renovar, 2000.
BRASIL. Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o código de pro-cesso civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Dis-ponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm>. Acesso em: 05 jun. 2009.
_____. Lei № 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Bra-sília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.
_____. Lei № 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponívelem: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.
_____. Lei № 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informa-tização do processo judicial; altera a Lei № 5.869, de 11 de janeiro de 1973 — Código de Processo Civil; e dá outras providências. Diário Ofi-cial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm>. Aces-so em: 05 jun. 2009.
_____. Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 ago. 2001.
64
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200-2.htm>. Acesso em: 05 jun. 2009.
_____. Padrões Brasil e-gov: recomendações para codificação de pági-nas, sítios e portais, versão 2.0. Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/padroes-brasil-e-gov.pdf>. Aces-so em: 23 mai. 2009.
BRASIL, Angela Bittencourt. Assinatura digital não é assinatura for-mal. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 48, dez. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1783>. Acesso em: 31 mai. 2007.
BRITO, Alessandro Vicente. Os contratos no comércio eletrônico (uma análise sobre a sua validade). Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Pós Graduação / Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008.
CASTRO, Aldemario Araujo. O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 54, fev. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2632>. Acesso em: 05 set. 2007.
COLCHER, Sérgio; SOARES, Luiz Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. Redes de computadores. 2 ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro : Campus, 1995.
DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos, Volume 1. 2 ed., São Paulo : Saraiva, 1996.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1 ed., Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1975.
Furto de identidade cresce 25%. In PC World Digital. Disponívelem: <http://pcworld.uol.com.br/especiais/secworld/archive/2009/02/27/furto-de-identidade-cresce-25/>. Acesso em: 06 jun. 2009.
FRASSON, Jailine et al. E-Commerce: Aspectos pertinentes ao Contrato Eletrônico e sua formação. FGV – Fundação Getúlio Vargas — MBA – Direito Empresarial. Cuiabá, 2005.
65
GOMES, Carlos Francisco Simões Gomes; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação. São Paulo : Cengage Learning Editores, 2004.
GOMES, Orlando. Contratos. 17ª edição, atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro : Forense, 1996.
ICP–Brasil. Estrutura. Disponível em: <https://www.icpbrasil.gov.br/apresentacao/estrutura>. Acesso em: 18 mai. 2009.
INTI. Por que não emitir certificados sem data final de validade? Dispo-nível em: <http://www.icpbrasil.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/PerguntaVinteTres>. Acesso em: 20 jun. 2009.
INTI. Quais cuidados se deve ter ao se utilizar a certificaçãodigital? Disponível em: <http://www.icpbrasil.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/PerguntaVinte>. Acesso em: 20 jun. 2009.
JAEGER, Estêvão Ervino. O valor probante dos documentos eletrônicos e as assinaturas digitais. Monografia (Bacharelado em Direito). Facul-dade de Direito / Universidade de Cuiabá, 2006.
LINO, Elbison Luiz Pereira. GED — Aspectos técnicos e legais de docu-mento eletrônico. Monografia (Bacharelado em Ciências da Computa-ção). Faculdade de Ciências da Computação / Universidade de Cuiabá, 2001.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumi-dor: O novo regime das relações contratuais. 4 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002.
MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. Jus Navigandi, Teresina, Ano 9, № 513, 2 dez. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5996>. Acesso em: 23 jun. 2009.
MercadoLivre. Como se calculam os pontos da reputação? Disponível em: <http://www.mercadolivre.com.br/jm/ml.faqs.portalFaqs.FaqsController?axn=verFaq&faqId=2712&categId=CASYS&reDir=Y>. Acesso em: 4 mai. 2009.
66
MOLINA, Glauco. Contratos telemáticos: regulamentação e reflexos econômicos com base no direito do consumidor. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Mestrado em Direito / Universidade de Marília, 2008.
PAIVA, Mário Antônio Lobato de; CUERVO, José. A firma digital e entidades de certificação. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 57, jul. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2945>. Acesso em: 10 mar. 2009.
PAIVA, Mário Antônio Lobato de; LÓPEZ, Valentino Cornejo. O docu-mento, a firma e o notário eletrônico. Jus Navigandi, Teresina, Ano 6, № 53, jan. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2504>. Acesso em: 21 jun. 2009.
POGGIO, Smanio Gianpaolo. Interesses difusos e coletivos: Estatuto da criança e do adolescente, consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, ação civil pública e inquérito civil. 6 ed., São Paulo : Atlas, 2004.
RAITZ, Evelyn Cavali da Costa. O princípio da confiança nos contratos eletrônicos de consumo. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de pós graduação stricto sensu / Centro Universitário Curitiba, 2008.
RODRÍGUEZ, Victor Gabriel de Oliveira. Manual de redação forense: curso de linguagem e construção de texto no direito. 2 ed. amp., Cam-pinas : LZN, 2004.
SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Formação e eficácia probatória dos contratos por computador. 1 ed., São Paulo : Saraiva, 1995.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 24 ed., Rio de Janeiro : Forense, 2004.
STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados. Título original: Business data communications, 5th ed. Traduzido por: Daniel Vieira. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005.
TELLES, Antonio A. Queiroz. Lições de obrigações e contratos. 1 ed., Campinas : Copola Livros, 1996.
67
THE CENTOS TEAM. CentOS announce: Impact of the Debian OpenSSL vulnerability. Disponível em: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2008-May/014902.html>. Acesso em: 18 mai. 2009.
TOMASZEWSKI, Wesley. Em busca de uma teoria contratual ele-trônica e consumerista. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de Londrina, 2007.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 9 ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007.
ANEXOS
Assinatura Digital Não É Assinatura Formal.
“a assinatura tal qual hoje se reconhece pode ser conceituada como sendo o ato físico por meio do qual alguém coloca em um suporte físico a sua marca ou sinal, sendo per-sonalíssima”
Introdução
Desde que a Internet se tornou um meio interativo capaz de realizar transações comerciais, ser meio eficaz de acordos, via de comunicação entre pessoas civis e jurídicas, que a questão da segurança sempre esteve como elemento garantidor do sucesso dessas atividades e, em função deste elemento, ressurgiram os modos de cifrar as mensagens, de forma que apenas o remetente e o receptor possam ter acesso ao teor dos documentos envolvidos através de um meio técnico absolutamente pessoal para o sucesso dessas relações.
Juntamente com essas relações vieram as consequências naturais e a necessidade de dar eficácia e validade jurídica aos contatos virtuais de modo que pos-sam ser equiparados aos documentos que hoje conhecemos e que estão ligados a um meio material tangível.
Historicamente nossos doutrinadores tem definido o documento como algo material, uma res, uma representação exterior do fato que se quer provar e, sem-pre conhecemos a prova documental como a maior das provas, pois consistente da representação fática do acontecido. Na esteira desses pensamentos, ao ligarmos inde-levelmente o fato jurídico à matéria como uma coisa tangível, teríamos dificuldades em conceituar o documento eletrônico, pois este é intangível e etéreo, e muito longe se encontra do conceito de “coisa” como matéria.
Assim, foi preciso que se pensasse em algo para que o registro do fato ocorrido na web pudesse ser equiparado ao documento formal e a lei vem em nosso socorro fazer a devida equiparação e assim permitir que o fato social, já definitiva-mente consagrado, possa ser aceito como uma norma pacificadora dos conflitos por acaso existentes neste ambiente novo, que é a Internet.
69
Assinatura Digital
Como dissemos acima, a segurança, que hoje é a maior preocupação de todos aqueles que negociam pelos meios eletrônicos. A credibilidade desses documen-tos está ligada essencialmente à sua originalidade e à certeza de que ele não foi alte-rado de alguma maneira pelos caminhos que percorreram até chegar ao destinatário.
Os fatores de risco podem advir por fatores internos ou externos, sendo que os internos podem acontecer por erro humano ou mesmo falha técnica. O fator externo, e aí está o risco maior, consiste na atuação fraudulenta de estranhos que pode alcançar meios para adentrar no programa enviado e desviar o objetivo do mesmo, em prejuízo das parte envolvidas no negócio.
É por isso que a assinatura eletrônica, diferentemente da assinatura real, se modifica a cada arquivo transformado em documento e o seu autor não poderá repeti-la como faz com as assinaturas apostas nos documentos reais.
A pessoa encarregada de fornecer os pares de chaves é a Autoridade Certificante e é uma entidade independente e legalmente habilitada para exercer as funções de distribuidor das chaves e pode ser consultado à qualquer tempo certifi-cando que determinada pessoa é a titular da assinatura digital , da chave pública e da correspectiva chave privada. Isto quer dizer que quem vai fornecer a forma de alguém assinar um documento digital é outra pessoa e não poderá ser criada pelo próprio usuário.
Portanto este tipo de rubrica difere da assinatura que conhecemos em quase todos os aspectos porque, a assinatura tal qual hoje se reconhece pode ser con-ceituada como sendo o ato físico por meio do qual alguém coloca em um suporte físico a sua marca ou sinal. A marca é personalíssima e tem eficácia e validade jurídica, podendo ser levada ao tabelião para que este faça o seu reconhecimento por seme-lhança, já que pode ser conservada em arquivos e periciada por meios grafológicos.
O Projeto de Lei
Está no Congresso Nacional o projeto de lei que equipara a assinatura digital àquela formalmente aposta em um suporte físico para que as relações on line possam ter a mesma eficácia dos documentos. Estamos de acordo de que a lei vai ala-vancar o comércio eletrônico e outras transações virtuais com o aumento da segurança e a certeza que em caso de querela judicial, a prova do negócio será feita, sem maiores problemas.
Ocorre que conforme discorremos acima, esta assinatura digital que se apresenta de forma cifrada não é a mesma assinatura que temos conhecimento, já que não guarda com esta as necessárias semelhanças capazes de equipará-las. Primeiro porque se formos analisar o conceito de assinatura, veremos que a que se faz por meios digitais não é um ato pessoal do assinante, eis que ela é fornecida por outrem; a duas porque ela não se repete a cada mensagem e portanto não poderá se arquivada tal qual foi efetivada no ato do seu envio; prosseguindo, ela não está ligada a um meio físico capaz de poder ser submetida a um processo de reconhecimento por semelhança ou periciada por meios grafológicos e por fim não apresenta a marca pessoal de quem está firmando o documento, eis que está representada por uma série de letras, núme-ros e símbolos embaralhados de forma ininteligíveis. Para complementar diríamos que
70
a Assinatura Digital é transferível, bastando que o seu proprietário a ceda a alguém e a Assinatura formal é intransferível por estar ela indelevelmente ligada ao seu autor.
Por estes motivos é que afirmamos que a Assinatura Digital não tem a mesma natureza da Assinatura formal, essa que conhecemos e usamos no dia a dia. Podemos dar o nome que quisermos e este termo, Assinatura Digital, que foi traduzido do inglês Digital Signature porque o sistema que a cifrou por meio da criptografia foi criado em terra americanas. Porém a verdade é que não se trata de um sinal persona-líssimo capaz de identificar o seu autor.
Suponhamos que alguém possua um par de chaves criptografadas para usar em seus negócios e sendo estas de sua propriedade as empreste para que alguém use. O negócio está feito e a prova do empréstimo será uma questão de outra prova a ser feita em juízo. Mas cabe a pergunta: como alguém pode ceder a outra pessoa a sua assinatura, a sua marca, o seu sinal pessoal? O direito civil apenas admite a representa-ção por meio da procuração pública ou privada e a assinatura, que é representativa da vontade, pode ser substituída pela firma do procurador, mas este não pode assinar como o seu representado o faria. Aí está a diferença e por isso dissemos que elas não são a mesma coisa.
A questão da Autoridade Certificadora
Diz o artigo 236 da Constituição Federal que: “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público” e a Lei de Registros Públicos dá aos Notários a atribuição exclusiva para o reconhecimento de fir-mas.
Entendemos que a firma que a lei se refere é a assinatura que pode ser arquivada nos Cartórios e comprovada por meios grafológicos e não uma simbologia que não possui as características de uma marca pessoal aposta em um documento físico.
Mesmo que a doutrina estrangeira tenha dado o nome de Digital Signa-ture, em direito vale o fundo sobre a forma, isto é, é a natureza jurídica e a essência do instituto que vão determinar a que ramo ela pertence e não a roupagem que veste.
Sem levarmos em consideração o fato de que os mestres em direito e os juristas não tem formação acadêmica em matemática ou análise de sistemas, o que ocorre é que não haverá inconstitucionalidade alguma em uma lei que não conceda aos tabeliães os ciber cartórios, por tudo o que foi exposto e porque qualquer argu-mento neste sentido cairia por terra pela divergência dos objetos do pedido. Se os notá-rios argumentam que as suas funções detém a exclusividade legal para o reconheci-mento de firmas, evidentemente que o seu pedido seria deferido por qualquer magis-trado, se por acaso aquele emaranhado de símbolos fosse na verdade uma assinatura, um sinal personalíssimo de alguém. Mas como não é, pois se trata de uma simbologia criada apenas para assegurar uma negociação e dar validade jurídica ao ato, não há como equiparar os dados encriptados a assinatura formal.
Assinatura é ato pessoal, físico e intransferível. Dado codificado digital é uma sequencia de bits, representativos de um fato, registrados em um programa de computador.
71
Sobre a autora
Angela Bittencourt Brasil, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Sobre o texto:
Texto apresentado no Congresso de Direito de Tecnologia, em RecifeTexto inserido no Jus Navigandi № 48 (12.2000)Elaborado em 11.2000.
72
O Documento Eletrônico E A Assinatura Digital. Uma Visão Geral.
I. DOCUMENTO ELETRÔNICO
Por documento entende-se a “coisa representativa de um fato” (Moacyr Amaral Santos). Nesta ideia, o termo “coisa” pode ser reputado como fundamental ou essencial e indicativo, ou não, da presença de algo material. O afastamento da materia-lidade por ser obtido pela mitigação da forma, assumindo importância decisiva o aspecto funcional do registro do fato. Por outro lado, a palavra em questão pode ser tomada no sentido de “tudo o que existe” ou “realidade absoluta (por oposição a apa-rência, ou representação)”.
Assim, o documento eletrônico pode ser entendido como a representa-ção de um fato concretizada por meio de um computador e armazenado em formato específico (organização singular de bits e bytes), capaz de ser traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante o emprego de programa (software) apropriado. (1)
A partir do conjunto normativo aplicável (2) (3) e mesmo das considera-ções acerca da materialidade do documento são encontradas duas correntes jurídicas quanto à existência e validade dos chamados documentos eletrônicos (4). Uma delas, sustenta a impossibilidade jurídica do documento eletrônico. A outra, admite a existên-cia e a validade dos documentos eletrônicos. Esta última desdobra-se em duas verten-tes: a que admite o documento eletrônico como realidade jurídica válida por si e a que somente aceita o documento eletrônico com o atendimento de certos requisitos, dada a sua volatilidade e a ausência de traço personalíssimo de seu autor.
Entendemos, afastando o critério de interpretação literal (e restritivo), fundado sobretudo nos arts. 368 (“escrito e assinado”), 369 (“reconhecer a firma do signatário”), 371 (“assinar”), 374 (“assinado”), 376 (“escreveu”), 386 (“entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento”), entre outros, do Código de Processo Civil, que a existência e validade do documento eletrônico em si não pode ser recusada. Afinal, adotado um raciocínio hermenêutico sistemático (5) e consentâneo com a evolução histórica das tecnologias manuseadas pelo homem, verificamos o império da liberdade de forma no direito pátrio. Não custa lembrar a aceitação inquestionável do contrato verbal. Assim, quem pode o mais pode o menos (argumento “a maiori ad minus”).
A conhecida lei modelo da UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para leis de comércio internacional) sobre comércio eletrônico, que a busca a uniformização internacional da legislação sobre o tema, consagra em seu art. 5o.: “Não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de mensagem eletrônica”.
73
A utilização e aceitação jurídica do documento eletrônico é crescente, independentemente da aplicação, na sua confecção, de certas técnicas de segurança. Neste sentido, encontramos importantes decisões judiciais (6) e diplomas legais (7).
Com certeza, a volatilidade e a ausência de traço personalíssimo do autor fragilizam o documento eletrônico. Surge, assim, o grande e crucial problema da eficácia ou validade probatória do mesmo, resolvido, como veremos adiante, por modernas técnicas de criptografia.
As dificuldades, no campo probatório, do “documento eletrônico puro” (desprovido de técnicas, acréscimos ou requisitos de “segurança”) deverão ser supera-das, na linha do livre convencimento, pelo recurso a todos os elementos e circunstân-cias envolvidos na sua produção e transmissão.
Merece destaque a noção de cópia de documento eletrônico. Deve ser assim considerada “… o documento eletrônico resultante da digitalização de docu-mento físico, bem como a materialização física de documento eletrônico original” (con-forme o Anteprojeto de Lei apresentado pela OAB/SP).
A edição da Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 2001, respon-sável pela fixação do quadro regulamentório da assinatura digital no Brasil, suscitou um problema novo em relação à validade jurídica do documento eletrônico. Com efeito, o art. 1º. do diploma legal referido afirma: “Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a vali-dade jurídica de documentos em forma eletrônica, (…)”. Como posto, é possível a inter-pretação de que a Medida Provisória não trata apenas da validade probatória do docu-mento eletrônico, e sim, da validade jurídica do próprio documento em forma ele-trônica.
Nossa opinião, na linha dos argumentos anteriormente apresentados, relacionados, sobretudo, com a liberdade de forma e admissão de contratos verbais no direito brasileiro, é de que a Medida Provisória n. 2.200, de 2001, trata, embora com redação deficiente, da validade ou eficácia probatória dos documentos eletrônicos.
Lembramos, neste particular, que o projeto de lei submetido à consulta pública pela Casa Civil da Presidência da República no final do ano 2000, estabelecia que os documentos eletrônicos teriam o mesmo valor jurídico daqueles produzidos em papel desde que fosse assegurada a sua autenticidade e integridade (8). A supressão da expressão “desde que” e a fixação de que a Infra-Estrutura de Chaves Públicas visa garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos eletrôni-cos, apontam para o aspecto funcional, para a agregação de um valor ou característica antes inexistente, para a validade probatória.
II. ASSINATURA DIGITAL
Como já vimos, se por um lado o documento eletrônico existe e é válido juridicamente, por outro lado, subsiste, diante de sua fugacidade, o crucial problema da eficácia ou validade probatória do mesmo. A indagação se impõe: como garantir autenticidade e integridade ao documento eletrônico? (9)
A resposta, para os padrões tecnológicos atuais, consiste na utilização da chamada assinatura digital baseada na criptografia assimétrica de chave pública (e chave privada). A rigor, num par de chaves matematicamente vinculadas entre si.
74
Neste ponto cumpre observar a realização da “máxima” de que os novos problemas trazidos pela tecnologia deverão ter solução buscada no âmbito tecnoló-gico.
A criptografia consiste numa técnica de codificação de textos de tal forma que a mensagem se torne ininteligível para quem não conheça o padrão utili -zado. Sua origem remonta às necessidades militares dos romanos (Escrita cifrada de César).
O padrão criptográfico manuseado para cifrar ou decifrar mensagens é conhecido como chave. Quando a mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar as mensagens temos a denominada criptografia simétrica ou de chave privada, normal-mente utilizada em redes fechadas ou computadores isolados. Quando são utilizadas duas chaves distintas, mas matematicamente vinculadas entre si, uma para cifrar a mensagem e outra para decifrá-la (10), temos a criptografia assimétrica ou de chave pública, vocacionada para utilização em redes abertas como a Internet.
A criptografia moderna lança mão de conceitos técnicos avançados para a cifragem das mensagens: os algoritmos. Estes, numa visão singela, consistem em fór-mulas matemáticas extremamente complexas, utilizadas para geração dos padrões ou chaves criptográficas.
Como funciona a assinatura digital (baseada na criptografia assimétrica) de um texto ou mensagem eletrônica? Na sistemática atualmente adotada, aplica-se sobre o documento editado ou confeccionado um algoritmo de autenticação conhe-cido como hash (11) (12). A aplicação do algoritmo hash gera um resumo do conteúdo do documento conhecido como message digest, com tamanho em torno de 128 bits. Aplica-se, então, ao message digest, a chave privada do usuário, obtendo-se um mes-sage digest criptografado ou codificado. O passo seguinte consiste um anexar ao docu-mento em questão a chave pública do autor, presente no arquivo chamado certificado digital. Podemos dizer que assinatura digital de um documento eletrônico consiste nes-tes três passos: a) geração do message digest pelo algoritmo hash; b) aplicação da chave privada ao message digest, obtendo-se um message digest criptografado e c) anexação do certificado digital do autor (contendo sua chave pública). Destacamos, neste passo, um aspecto crucial. As assinaturas digitais, de um mesmo usuário, utili -zando a mesma chave privada, serão diferentes de documento para documento. Isto ocorre porque o código hash gerado varia em função do conteúdo de cada documento.
E como o destinatário do texto ou mensagem assinada digitalmente terá ciência da integridade (não alteração/violação) e autenticidade (autoria) do mesmo? Ao chegar ao seu destino, o documento ou mensagem será acompanhado, como vimos, do message digest criptografado e do certificado digital do autor (com a chave pública nele inserida). Se o aplicativo utilizado pelo destinatário suportar documentos assinados digitalmente ele adotará as seguintes providências: a) aplicará o mesmo algoritmo hash no conteúdo recebido, obtendo um message digest do documento; b) aplicará a chave pública (presente no certificado digital) no message digest recebido, obtendo o message digest decodificado e c) fará a comparação entre o message digest gerado e aquele recebido e decodificado. A coincidência indica que a mensagem não foi alterada, portanto mantém-se íntegra. A discrepância indica a alteração/violação do documento depois de assinado digitalmente.
É justamente este o mecanismo utilizado para viabilizar as chamadas conexões seguras na Internet (identificadas pela presença do famoso ícone do cadeado
75
amarelo). Para o estabelecimento de uma conexão deste tipo, o servidor acessado transfere, para o computador do usuário, um certificado digital (com uma chave pública). A partir deste momento todas as informações enviadas pelo usuário serão criptografadas com a chave pública recebida e viajarão codificadas pela Internet. Assim, somente o servidor acessado, com a chave privada correspondente, poderá decodificar as informações enviadas pelo usuário.
Subsiste, entretanto, o problema da autenticidade (autoria). Portanto, a sistemática da assinatura digital (baseada na criptografia assimétrica) necessita de um instrumento para vincular o autor do documento ou mensagem, que utilizou sua chave privada, a chave pública correspondente. Em consequência, também o problema da segurança ou confiabilidade da chave pública a ser utilizada precisa ser resolvido. Esta função (de vinculação do autor a sua respectiva chave pública) fica reservada para as chamadas entidades ou autoridades certificadoras.
Assim, a função básica da entidade ou autoridade certificadora está cen-trada na chamada autenticação digital, onde fica assegurada a identidade do proprietá-rio das chaves. A autenticação é provada por meio daquele arquivo chamado de certifi -cado digital. Nele são consignadas várias informações, tais como: nome do usuário, chave pública do usuário, validade, número de série, entre outros. Este arquivo, tam-bém um documento eletrônico, é assinado digitalmente pela entidade ou autoridade certificadora.
O sistema de criptografia assimétrica permite o envio de mensagens com total privacidade. Para tanto, o remetente deve cifrar o texto utilizando a chave pública do destinatário. Depois, ele (o remetente) deverá criptografar o texto com a sua chave privada. O destinatário, ao receber a mensagem, irá decifrá-la utilizando a chave pública do remetente. O passo seguinte será aplicar a própria chave privada para ter acesso ao conteúdo original da mensagem.
O processo de regulamentação da assinatura digital no Brasil pode ser dividido, até o presente momento, em 6 (seis) fases ou etapas. São elas:
1. Projetos
Num primeiro momento, notamos a presença de uma série de projetos de lei tratando do assunto. Vejamos os principais:
1.1. Lei Modelo das Nações Unidas sobre Comércio Eletrônico. Em 1996, a Organização das Nações Unidas, por intermédio da Comissão das Nações Unidas para leis de comércio internacional (UNCITRAL), desenvolveu uma lei modelo buscando a maior uniformização possível da legislação sobre a matéria no plano internacional. Na parte concernente a assinatura digital, a lei modelo consagra o princípio da neutrali-dade tecnológica, não se fixando em técnicas atuais e possibilitando a inovação tecno-lógica sem alteração na legislação. Deixa as especificações técnicas para o campo da regulamentação, mais afeita a modificações decorrentes de novas tecnologias.
1.2. Projeto de Lei n. 672, de 1999, do Senado Federal. Incorpora, na essência, a lei modelo da UNCITRAL.
1.3. Projeto de Lei n. 1.483, de 1999, da Câmara dos Deputados. Em ape-nas dois artigos, pretende instituir a fatura eletrônica e a assinatura digital (certificada por órgão público).
1.4. Projeto de Lei n. 1.589, de 1999, da Câmara dos Deputados. Elabo-rado a partir de anteprojeto da Comissão de Informática Jurídica da OAB/SP, dispõe
76
sobre o comércio eletrônico, a validade jurídica do documento eletrônico e a assina-tura digital. Adota o sistema de criptografia assimétrico como base para a assinatura digital e reserva papel preponderante para os notários. Com fundamento no art. 236 da Constituição e na Lei n. 8.935, de 1994, estabelece que a certificação da chave pública por tabelião faz presumir a sua autenticidade, enquanto aquela feita por parti-cular não gera o mesmo efeito. (13)
Deve ser registrado que o Projeto 1.589 está apenso ao 1.483 e, ambos, encontram-se sob a apreciação de uma comissão parlamentar especial na Câmara dos Deputados.
2. Edição de Decreto pelo Governo Federal
Com a edição do Decreto n. 3.587, de 5 de setembro de 2000, foi institu-ída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas do Poder Executivo Federal. Estava, então, cri-ado um sistema de assinaturas digitais, baseado na criptografia assimétrica, a ser utili-zado no seio da Administração Pública Federal.
3. Projeto de Lei submetido à consulta pública pelo Governo Federal
No mês de dezembro de 2000, a Casa Civil da Presidência da República submeteu à consulta pública um projeto de lei dispondo sobre a autenticidade e valor jurídico e probatório de documentos eletrônicos produzidos, emitidos ou recebidos por órgãos públicos. A proposta definia que a autenticidade e a integridade dos documen-tos eletrônicos decorreriam da utilização da Infra-Estrutura de Chaves Públicas criada por decreto meses antes. A proposição consagrava profundos equívocos, notadamente a não inclusão de documentos eletrônicos trocados entre particulares e a caracteriza-ção de que os documentos eletrônicos não tinham validade jurídica sem os procedi-mentos ali previstos.
4. Apresentação de substitutivo para apreciação de Comissão Especial da Câmara dos Deputados
No final do mês de junho de 2001, o Deputado Júlio Semeghini, Relator do Projeto de Lei n. 1.483 (e do Projeto de Lei n. 1.589 — apensado), apresentou Subs-titutivo aos projetos referidos, consolidando as propostas e agregando aperfeiçoamen-tos. O trabalho apresentado pelo relator decorreu de uma rotina de atividades, com início registrado em maio de 2000, envolvendo discussões internas e audiências públi-cas da Comissão Especial.
Em relação à assinatura digital, o Substitutivo adotou o sistema baseado na criptografia assimétrica, ressalvando a possibilidade de utilização de outras modali-dades de assinatura eletrônica que satisfaçam os requisitos pertinentes. Estabeleceu, ainda, o Substitutivo, um modelo de certificação no qual podem atuar entidades certi-ficadoras públicas e privadas, independentemente de autorização estatal. Fixou, entre-tanto, que somente a assinatura digital certificada por entidade credenciada pelo Poder Público presume-se autêntica perante terceiros.
77
5. Edição da Medida Provisória 2.200
No dia 29 de junho de 2001, o Diário Oficial da União veiculou a Medida Provisória n. 2.200. Este diploma legal instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil para garantir a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos através da sistemática da criptografia assimétrica.
A organização da ICP–Brasil, a ser detalhada em regulamento, comporta uma autoridade gestora de políticas (Comitê Gestor da ICP–Brasil) e uma cadeia de autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz (Insti-tuto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI), pelas Autoridades Certificadoras – AC e pelas Autoridades de Registro – AR.
À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das AC (de nível imediatamente subsequente ao seu), sendo vedado emitir certificados para o usuário final. Às AC, órgãos ou entidades públicas e pessoas jurídicas de direito privado, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados de usuários finais. Às AR, entida-des operacionalmente vinculadas a determina AC, compete identificar e cadastrar usuários, na presença destes, e encaminhar solicitações de certificados às AC.
O modelo centralizado adotado, vedando a certificação não derivada da AC Raiz, gerou profundas críticas (14). Nas edições subsequentes da MP n. 2.200, ape-sar de mantido o modelo centralizado (15), único gerador da presunção de veracidade em relação ao signatário do documento eletrônico, admitiu-se a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP–Brasil. Outro aspecto digno de nota é a definição de que o par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento.
6. Aprovação de substitutivo (com alterações) pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados
No final de setembro de 2001, a Comissão Especial da Câmara dos Depu-tados aprovou, com várias alterações, o Substitutivo do Relator (Deputado Júlio Semeg-hini). A rigor, o novo texto ajustou-se a Medida Provisória da ICP–Brasil, aceitando a autoridade certificadora raiz. Foi criado um credenciamento provisório até a completa operacionalização do modelo da ICP–Brasil.
Como afirmamos, o problema da identificação e da integridade dos documentos eletrônicos encontrou solução por meio da assinatura digital, baseada na criptografia assimétrica (16). A assinatura digital, vale registrar, é apenas uma das espécies de assinatura eletrônica, abrangente de vários métodos ou técnicas, tais como: senhas, assinaturas tradicionais digitalizadas, chancela, biometria (íris, digital, timbre de voz), entre outras.
III. NOTAS
(1) “documento eletrônico: a informação gerada, enviada, recebida, armazenada ou comunicada por meios eletrônicos, ópticos, opto-eletrônicos ou simila-
78
res.” (art. 2º., inciso I do Projeto de Lei sobre documento eletrônico, assinatura digital e comércio eletrônico aprovado por Comissão Especial da Câmara dos Deputados).
(2) As principais normas com força de lei, no ordenamento jurídico brasi-leiro, aplicáveis aos documentos são as seguintes:
Código Civil:“Art. 82. A validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto lícito e
forma prescrita ou não defesa em lei.”“Art. 129. A validade das declarações de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”“Art. 136. Os atos jurídicos, a que se não impõe forma especial, poderão
provar-se mediante:I – Confissão;II – Atos processados em juízo;III – Documentos públicos ou privados;IV – Testemunhas;V – Presunção;VI – Exames e vistorias;VII – Arbitramento.”“Art. 1.079. A manifestação de vontade, nos contratos, pode ser tácita,
quando a lei não exigir que seja expressa.”“Art. 1.081. (…) Considera-se também presente a pessoa que contrata
por meio de telefone.”Código de Processo Civil:“Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e cir-
cunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
“Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma deter-minada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, reali-zados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”
“Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”
“Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.”
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, rela-tiva a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
“Art. 369. Reputa-se autêntico o documento, quando o tabelião reco-nhecer a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença.”
“Art. 371. Reputa-se autor do documento particular:I – aquele que o fez e o assinou;II – aquele, por conta de quem foi feito, estando assinado;
79
III – aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos.”
“Art. 374. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de trans-missão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora foi assinado pelo remetente.
Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedi-dora.”
“Art. 376. As cartas, bem como os registros domésticos, provam contra quem os escreveu quando:
I – enunciam o recebimento de um crédito;II – contêm anotação, que visa a suprir a falta de título em favor de
quem é apontado como credor;III – expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija deter-
minada prova.”“Art. 383. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinemato-
gráfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representa-das, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade.
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o juiz ordenará a realização de exame pericial.”
“Art. 386. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o docu-mento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, bor-rão ou cancelamento.”
“Art. 388. Cessa a fé do documento particular quando:I – lhe for contestada a assinatura e enquanto não se Ihe comprovar a
veracidade;II – assinado em branco, for abusivamente preenchido.Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele, que recebeu docu-
mento assinado, com texto não escrito no todo ou em parte, o formar ou o completar, por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.”
(3) O novo Código Civil, já aprovado no âmbito do Congresso Nacional, não altera as considerações aqui formuladas. Com efeito, o seu art. 104 repete a fór-mula do atual art. 82; o futuro art. 107 mantém os termos do art. 129 e o vindouro art. 212 conserva o espírito do atual art. 136. O futuro art. 428 contempla a contrata-ção por telefone ou meio de comunicação semelhante, na linha do atual art. 1.081. Ademais, o novo art. 225 estabelece literalmente: “As reproduções fotográficas, cine-matográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” (Texto obtido no seguinte endereço eletrônico: http://www.intelligentiajuridica.com.br).
(4) “Vários são os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos visando a negar ou afirmar a validade jurídica de documento quando gerado em meio digital, Cfr., entre tantos outros, os trabalhos de Ricardo Luis Lorenzetti, “Informática, Cyber-law, E-Commerce”, nesta obra coletiva; Frédérique Dupuis-Toubol, “Contracting on the Net: proof of transaction”, ob. cit.; Silvânio Covas, “O Contrato no ambiente virtual. Contratação por Meio de Informática”, ob. cit.; Davi Monteiro Diniz, Documentos Ele-
80
trônicos, Assinaturas Digitais, ob. cit.; José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, “Aspectos Jurídicos do Documento Eletrônico”, ob. cit,; Giovanni Buonomo, Atti e Documenti in Forma Digitale, ob. cit.; Andrea Graziozi, “Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico”, ob. cit.; Paolo Piccoli e Giovanna Zanolini, “II Documento Elettronico e la Firma Digitale”, ob. cit.” Queiróz, Regis Magalhães Soares de. Assinatura Digital e o Tabelião Virtual. Nota 44. Pág. 385. Publicado em Direito e Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes. EDIPRO.
(…) entendemos que quando assegurados os quatro requisitos acima exposto, seria teoricamente possível, em casos em que não são exigidas formalidades específicas, atribuir-se validade jurídica ao documento eletrônico.” Queiróz, Regis Magalhães Soares de. Assinatura Digital e o Tabelião Virtual. Págs. 385/386. Publicado em Direito e Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes. EDIPRO.
“Quanto ao valor probatório, não há obstáculos para que o juiz no domí-nio de suas faculdades reconheça esses documentos (eletrônicos), porém subsiste a incerteza com respeito à possibilidade de no caso se avaliar não tratar-se de um instru-mento seguro. No direito vigente existe então uma importante tendência encaminhada para a admissão dos documentos eletrônicos, tanto no que toca à sua validade quanto no que toca à sua eficácia probatória. Todavia, é necessário consagrar uma regra clara e especificar as condições técnicas nas quais esses documentos reúnam as qualidades de seguros e indeléveis.” Lorenzetti, Ricardo Luis. Informática, Cyberlaw, E-commerce. Pág. 427. Publicado em Direito e Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes. EDIPRO.
(5) “Contra, José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, entendendo que há várias leis que equiparam documento ao ‘escrito’, o que inviabilizaria a interpreta-ção sistemática”. Queiróz, Regis Magalhães Soares de. Assinatura Digital e o Tabelião Virtual. Nota 48. Pág. 386. Publicado em Direito e Internet. Aspectos Jurídicos Relevan-tes. EDIPRO.
(6) “ARROLAMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS – Obtenção por consulta ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Naci-onal. Validade. Existência de Portaria do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Porta-ria № 414/98), conferindo a essa certidão os mesmo efeitos da certidão negativa expe-dida pelas unidades da Procuradoria. Recurso provido (TJSP – 8ª Câm. de Direito Pri-vado; Ag. de Instr. № 105.464.4/7–São Paulo–SP; Rel. Des. Cesar Lacerda; j. 17.03.1999; v.u.).
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO
№ 105.464–4/7, da Comarca de SÃO PAULO, em que é agravante R.R., inventariante do… , sendo agravado O JUÍZO:
ACORDAM, em oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, de confor-midade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO BRAN-CATO (Presidente, sem voto), HAROLDO LUZ e EGAS GALBIATTI.
São Paulo, 17 de março de 1999.CESAR LACERDARelatorVOTO
81
Cuida-se de agravo de instrumento inter-posto pelo …, através de seu inventariante, R.R., nos autos do arrolamento dos bens deixados pela falecida, contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 51, que determinou a juntada de certidão nega-tiva da Receita Federal, não aceitando documento acostado.
Sustenta a agravante que, com a determinação do Juízo para que fossem apresentadas certidões negativas de débitos fiscais, a certidão negativa da dívida ativa da União foi obtida junto à Receita Federal pela Internet. Assevera que a certidão expe-dida por consulta eletrônica foi validada, para todos os fins, pela Portaria № 414/98, não havendo razão para seu indeferimento.
Recurso regularmente processado, com informações prestadas pelo MM. Juiz (fls. 63/64).
É o relatório.O agravo comporta provimento.Os elementos dos autos demonstram que o inventariante atendeu à exi-
gência de comprovação de inexistência de tributos federais, mediante apresentação de certidão negativa obtida por consulta ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, via Internet.
A expedição da referida certidão é fruto da evolução tecnológica e se amolda ao espírito desburocratizante que tem informado os tempos modernos, encon-trando fundamento na Portaria № 414, de 15.07.98, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que estabelece:
“Artigo 1º – Fica instituída a Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida por meio da INTERNET.
§ 1º – Da certidão a que se refere este artigo, constará, obrigatoria-mente, a hora e data da emissão.
§ 2º – A certidão a que se refere este artigo produzirá os mesmos efeitos da certidão negativa emitida por qualquer das unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e será válida por 30 dias.”
O Código de Processo Civil prevê que os atos e termos do processo não dependem de forma determinada, exceto quando a lei expressamente exigir (artigo 154).
O Diploma Processual também estatui que “qualquer reprodução mecâ-nica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade” (artigo 383).
A própria Receita Federal admite, mediante portaria, a validade da certi-dão negativa obtida por meio eletrônico, não havendo razão jurídica relevante para negar validade ao documento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para o fim de que seja aceita a certidão negativa obtida por meios eletrônicos.
São Paulo, 04 de março de 1999.CESAR LACERDARelator”(7) “Instrução Normativa SRF № 86, de 22 de Outubro de 2001DOU de 23.10.2001Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arqui-
vos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
82
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe con-fere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF № 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o dis-posto no art. 11 da Lei № 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela Lei № 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória № 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1º As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Paga-mento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei № 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2º As pessoas jurídicas especificadas no art. 1º, quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e ativida-des econômicas ou financeiras.
Art. 3º Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata o art. 2º.
§ 1º Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1º de janeiro de 2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabele-cida no caput.
§ 2º A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscaliza-ção, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3º Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazena-mento das informações.
Art. 4º Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força norma-tiva, a partir de 1º de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF № 68, de 27 de dezembro de 1995.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publica-ção, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002.
EVERARDO MACIEL”(8) “Art. 1º. Os documentos produzidos, emitidos ou recebidos por
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, bem como pelas empresas públicas, por meio eletrônico ou similar, têm o mesmo valor jurídico e probatório, para todos os fins de direito, que os produzidos em papel ou em outro meio físico reconhecido legal-mente, desde que assegurada a sua autenticidade e integridade.
Parágrafo único. A autenticidade e integridade serão garantidas pela execução de procedimentos lógicos, regras e práticas operacionais estabelecidas na Infra-Estrutura de Chaves Públicas Governamental — ICP–Gov.”
(9) Encontramos, em diversos autores, a menção ou referência a outros requisitos, tais como: perenidade ou não repúdio. Entendemos que outros requisitos,
83
além da integridade e autenticidade, não são essenciais para à segurança probatória do documento eletrônico ou são decorrências/conseqüências dos dois mencionados.
(10) Podemos figurar a seguinte analogia, acerca do par de chaves crip-tográficas (privada e pública), com finalidade exclusivamente didática. Imagine uma lín-gua complicadíssima somente conhecida por dois seres especiais. Um deles, chamado CHAVE PRIVADA, vive no seu computador e só você conhece a sua identidade. O outro ser, chamado CHAVE PÚBLICA, perambula pela Internet, vivendo em qualquer compu-tador. Existe um código de conduta entre estes dois seres no sentido de que uma men-sagem traduzida por um deles, para aquela língua estranha, não mais será analisada pelo autor da tradução e só, somente só, pelo outro. Assim, os textos e mensagens que você confeccionar e forem traduzidos por CHAVE PRIVADA, seu hóspede virtual, somente serão entendidos por CHAVE PÚBLICA e vice-versa.
(11) “Uma função hash é uma equação matemática que utiliza texto (tal como uma mensagem de e-mail) para criar um código chamado message digest (resumo de mensagem). Alguns exemplos conhecidos de funções hash: MD4 (MD signi-fica message digest), MD5 e SHS. Uma função hash utilizada para autenticação digital deve ter certas propriedades que a tornem segura para uso criptográfico. Especifica-mente, deve ser impraticável encontrar: — Texto que dá um hash a um dado valor. Ou seja, mesmo que você conheça o message digest, não conseguirá decifrar a mensagem. — Duas mensagens distintas que dão um hash ao mesmo valor”. (Disponível em http://www.certisign.com.br/help_email/concepts/hash.htm. Acesso em 23 out. 2001)
(12) A rigor, a assinatura digital pode prescindir dos algoritmos de auten-ticação, a exemplo do hash. É possível a criação de uma assinatura digital com base no conteúdo da própria mensagem. Ao chegar no destinatário, a assinatura é decodificada e comparada com o conteúdo da mensagem. A coincidência entre a mensagem e a assinatura decodificada é indicativa da ausência de alteração. Os principais problemas desta sistemática estão relacionados com o tempo de envio e processamento (cifragem e decifragem de todo o conteúdo da mensagem; o todo transmitido tem o dobro do tamanho original) e as mensagens de conteúdo originalmente "estranho" (série de números aleatórios, coordenadas, etc). A introdução de funções hash ao processo de assinatura digital supera estas dificuldades.
(13) Cumpre destacar a existência de uma tendência internacional no sentido da iniciativa privada conduzir o comércio eletrônico em geral e as atividades de certificação em particular. No Brasil, principalmente em função do disposto no art. 236 da Constituição, subsiste a discussão acerca de eventual reserva desta atividade para determinada categoria de agentes (tabeliães ou notários). Pensamos que as atividades do tabelião são aquelas fixadas em lei, conforme prevê expressamente o § 1º do citado art. 236 da Constituição. Neste sentido, a lei pode deferir a outro ator social (e não ao tabelião) a condição de entidade ou autoridade certificadora.
(14) Veja algumas das críticas: a) de Marcos da Costa e Augusto Tavares da Comissão de Informática Jurídica da OAB de São Paulo (em http://www.cbeji.com.br/artigos/artmarcosaugusto05072001.htm); b) da CertSign (em http://www.certisign.com.br/imprensa_mix.html#); c) da Sociedade Brasileira de Com-putação (em http://www.sbc.org.br) e d) da OAB (logo adiante). A primeira nota da OAB: “A Ordem dos Advogados do Brasil vem a público manifestar o seu repúdio à nova Medida Provisória № 2.200, de 29/06/2001, que trata da segurança no comércio ele-trônico no País. A MP, editada às vésperas do recesso dos Poderes Legislativo e Judiciá-
84
rio, desprezou os debates que vêm sendo realizados há mais de um ano no Congresso Nacional sobre três projetos a esse respeito, um dos quais oferecido pela OAB–SP. Ao estabelecer exigência de certificações para validade dos documentos eletrônicos públi-cos e privados, a MP não apenas burocratiza e onera o comércio eletrônico, como dis-tancia o Brasil das legislações promulgadas em todo o mundo. Pior: ao outorgar pode-res a um Comitê Gestor, nomeado internamente pelo Executivo e assessorado por órgão ligado ao serviço de segurança nacional, o governo subtrai a participação direta da sociedade civil na definição de normas jurídicas inerentes ao conteúdo, procedi-mentos e responsabilidades daquelas certificações.
Tudo isso é motivo de extrema preocupação no que tange à preservação do sigilo de comunicação eletrônica e da privacidade dos cidadãos, num momento em que grampos telefônicos têm se proliferado país afora, afrontando, inclusive, o livre exercício da advocacia. Brasília, 03 de julho de 2001. Rubens Approbato Machado. Pre-sidente nacional da OAB”. A segunda nota da OAB: “A Ordem dos Advogados do Brasil reconhece a sensibilidade do Governo Federal em acolher as críticas e sugestões mani-festadas na primeira edição da Medida Provisória № 2.200, alterando-a substancial-mente em pontos fundamentais, a saber: 1) determina que o par de chaves criptográfi-cas seja gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura seja de seu exclusivo controle uso e conhecimento (§ único do art. 8º); 2) eleva o número de representantes da sociedade civil no Comitê Gestor (art. 3º); 3) limita os poderes daquele Comitê à adoção de normas de caráter técnico (incisos II e IV do Art. 5º e caput do art. 6º), bem como lhe determina a observância de tratados e acordos inter-nacionais no que se refere ao acolhimento de certificações externas (inciso VII do art. 5º); 4) estabelece que a identificação do titular da chave pública seja presencial (art. 9º); 5) limita os efeitos legais da certificação ao próprio signatário (§ 1º do art. 12º); e 6) utiliza outros meios de prova da autenticidade dos documentos eletrôni-cos, afastando, assim, a obrigação do uso nos documentos particulares de certificações da ICP–Brasil (§ 2º do art. 12º). Entende a OAB que tais disposições são fundamentais para o restabelecimento de um ambiente que assegure a privacidade, segurança e liberdade nas manifestações de vontade dos cidadãos realizadas por meio eletrônico. Independente desses verdadeiros avanços, a OAB continua certa de a disciplina do documento eletrônico, da assinatura digital e das certificações eletrônicas deva nascer de um amplo debate social, estabelecido em sede própria, qual seja, o Congresso Naci-onal, razão pela qual manifesta sua confiança em que a nova redação da MP não repre-sentará prejuízo ao andamento regular dos projetos de lei que tramitam atualmente em nosso Parlamento.”
(15) “Discute-se, em nível mundial, segundo Henrique Conti, qual o melhor sistema de certificação a ser adotado. Pode-se criar uma hierarquia de certifica-doras públicas ou privadas, baseado numa certificadora-raiz que possui as informações de todas as outras certificadoras. Nos Estados Unidos, segundo o convidado, esse modelo vem sendo duramente criticado, devido a preocupações com privacidade. Observa-se, portanto, uma tendência no sentido de implantar sistemas de certificação não hierárquicos, baseados no mútuo reconhecimento e troca de certificados entre várias certificadoras.” Semeghini, Júlio. Voto no Substitutivo aos Projetos de Lei № 1.483 e 1.589, ambos de 1999. Disponível em http://www.modulo.com.br/pdf/semeghini.pdf. Acesso em 22 out. 2001.
85
(16) “Ao tratar-se do tema assinatura digital em seu aspecto mais téc-nico, acaba-se fazendo relação direta aos algoritmos de autenticação. Entretanto, como a tecnologia caminha a passos largos, torna-se impossível garantir que a correlação entre uma assinatura digital e um algoritmo de autenticação venha a ser necessária dentro de algum tempo. Existe até mesmo a possibilidade de que a nomenclatura ‘assi-natura digital’ acabe sendo substituída quando do abandono do uso dos algoritmos de autenticação.” Volpi, Marlon Marcelo. Assinatura Digital. Aspectos Técnicos, Práticos e Legais. Axcel Books. 2001. Pág. 17.
IV. LISTA DE LINKS
Artigo ASPECTOS JURÍDICOS DO DOCUMENTO ELETRÔNICO.Autor: José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto.www.jus.com.br/doutrina/docuelet.html
Artigo O DOCUMENTO ELETRÔNICO COMO MEIO DE PROVA.Autor: Augusto Tavares Rosa Marcacini.buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/artigos/O_documento_eletronico_como_meio_de_prova.htm
Artigo VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO GOVERNO FEDERAL.Autor: Aldemario Araujo Castro.www.aldemario.adv.br/projetocc.htmwww.informaticajur.hpg.com.br/projetocc.htm
Representação gráfica da assinatura digitalFigura recuperada da pág. 25 da obra Assinatura Digital de Marlon Marcelo Volpiwww.infojurucb.hpg.ig.com.br/assdig.jpg
Representação gráfica da assinatura digital IIwww.infojurucb.hpg.ig.com.br/quadroassdig.htm
Exemplo de MENSAGEM ASSINADA DIGITALMENTEwww.infojurucb.hpg.ig.com.br/assinada.gif
Exemplo de INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO da mensagem depois de assinada digitalmentewww.infojurucb.hpg.ig.com.br/violada.gif
Imagens de um certificado digitalwww.infojurucb.hpg.ig.com.br/certificado1.gifwww.infojurucb.hpg.ig.com.br/certificado2.gif
Lei Modelo da UNCITRAL.www.direitonaweb.adv.br/legislacao/legislacao_internacional/Lei_Modelo_Uncitral.htmwww.direitonaweb.adv.br
86
Projeto de Lei № 1.589, de 1999.www.informaticajur.hpg.ig.com.br/ploab.htmwww.informaticajur.hpg.ig.com.br
Infra-estrutura de chaves públicas do Poder Executivo Federal.Decreto 3.587, de 5 de setembro de 2000www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3587.htmwww.planalto.gov.br
Substitutivo apresentado pelo Relator à Comissão Especialwww.modulo.com.br/pdf/semeghini.pdfwww.modulo.com.br
Medida Provisória № 2.200, de 28 de junho de 2001www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200.htmwww.planalto.gov.br
Medida Provisória № 2.200–1, de 27 de julho de 2001www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2200-1.htmwww.planalto.gov.br
Medida Provisória № 2.200–2, de 24 de agosto de 2001www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2200-2.htmwww.planalto.gov.br
Substitutivo (com alterações) aprovado pela Comissão Especialwww.cbeji.com.br/legislacao/PL4906-aprovado.htmwww.cbeji.com.br
Artigo ASSINATURAS ELETRÔNICAS — O PRIMEIRO PASSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO?Autor: Henrique de Faria Martinswww.cbeji.com.br/artigos/artasselet.htmwww.cbeji.com.br
Artigo ASSINATURA DIGITAL NÃO É ASSINATURA FORMAL.Autora: Angela Bittencourt Brasilwww.cbeji.com.br/artigos/artang02.htmwww.cbeji.com.br
Criptografiawww.catar.com.br/hg/leohomepage/criptografia.htmwww.gold.com.br/~colt45/danger/criptografia.html
Regime jurídico dos documentos eletrônicos e assinatura digital em Portugal.Decreto-Lei 290-D/1999www.giea.net/legislacao.net/internet/assinatura_digital.htm
87
PGP (Pretty Good Privacy) — Programa gratuito (para fins não comerciais) para encrip-tação de arquivos utilizando o método das chaves públicas e privadaswww.pgpi.org
Sobre o autor
Aldemario Araujo Castro, procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito, professor da Universidade Católica de Brasília (UCB), coordenador da Especiali-zação (à distância) em Direito do Estado da UCB.
Home-page: www.aldemario.adv.br
Sobre o texto:
Texto inserido no Jus Navigandi № 54 (02.2002)Elaborado em 10.2001.
88
Medida Provisória № 2.200–2, De 24 De Agosto De 2001.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP–Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de docu-mentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
Art. 2º A ICP–Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certifi -cadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz, pelas Autoridades Cer-tificadoras – AC e pelas Autoridades de Registro – AR.
Art. 3º A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor da ICP–Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e com-posto por cinco representantes da sociedade civil, integrantes de setores interessados, designados pelo Presidente da República, e um representante de cada um dos seguin-tes órgãos, indicados por seus titulares:
I – Ministério da Justiça;II – Ministério da Fazenda;III – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;IV – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;V – Ministério da Ciência e Tecnologia;VI – Casa Civil da Presidência da República; eVII – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.§ 1º A coordenação do Comitê Gestor da ICP–Brasil será exercida pelo
representante da Casa Civil da Presidência da República.§ 2º Os representantes da sociedade civil serão designados para perío-
dos de dois anos, permitida a recondução.§ 3º A participação no Comitê Gestor da ICP–Brasil é de relevante inte-
resse público e não será remunerada.§ 4º O Comitê Gestor da ICP–Brasil terá uma Secretaria-Executiva, na
forma do regulamento.Art. 4º Compete ao Comitê Gestor da ICP–Brasil:I – adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcio-
namento da ICP–Brasil;
89
II – estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o cre-denciamento das AC, das AR e dos demais prestadores de serviço de suporte à ICP–Brasil, em todos os níveis da cadeia de certificação;
III – estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;
IV – homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;
V – estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políti-cas de certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de certificação;
VI – aprovar políticas de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, credenciar e autorizar o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente certificado;
VII – identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar, quando for o caso, sua compati-bilidade com a ICP–Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos internaci-onais; e
VIII – atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabele-cidas para a ICP–Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnoló-gica do sistema e a sua conformidade com as políticas de segurança.
Parágrafo único. O Comitê Gestor poderá delegar atribuições à AC Raiz.Art. 5º À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, execu-
tora das Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP–Brasil, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente subseqüente ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e vencidos, e executar atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de serviço habilitados na ICP, em conformi-dade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP–Bra-sil, e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela autoridade gestora de políticas.
Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário final.
Art. 6º Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vincu-lando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, dis-tribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações.
Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento.
Art. 7º Às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC, compete identificar e cadastrar usuários na presença destes, encaminhar solicita-ções de certificados às AC e manter registros de suas operações.
Art. 8º Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Ges-tor da ICP–Brasil, poderão ser credenciados como AC e AR os órgãos e as entidades públicos e as pessoas jurídicas de direito privado.
90
Art. 9º É vedado a qualquer AC certificar nível diverso do imediatamente subseqüente ao seu, exceto nos casos de acordos de certificação lateral ou cruzada, previamente aprovados pelo Comitê Gestor da ICP–Brasil.
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP–Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei № 3.071, de 1º de janeiro de 1916 — Código Civil.
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP–Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Art. 11. A utilização de documento eletrônico para fins tributários aten-derá, ainda, ao disposto no art. 100 da Lei № 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional.
Art. 12. Fica transformado em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, com sede e foro no Distrito Federal.
Art. 13. O ITI é a Autoridade Certificadora Raiz da Infra-Estrutura de Cha-ves Públicas Brasileira.
Art. 14. No exercício de suas atribuições, o ITI desempenhará atividade de fiscalização, podendo ainda aplicar sanções e penalidades, na forma da lei.
Art. 15. Integrarão a estrutura básica do ITI uma Presidência, uma Dire-toria de Tecnologia da Informação, uma Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves Públicas e uma Procuradoria-Geral.
Parágrafo único. A Diretoria de Tecnologia da Informação poderá ser estabelecida na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo.
Art. 16. Para a consecução dos seus objetivos, o ITI poderá, na forma da lei, contratar serviços de terceiros.
§ 1º O Diretor-Presidente do ITI poderá requisitar, para ter exercício exclusivo na Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves Públicas, por período não superior a um ano, servidores, civis ou militares, e empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta ou indireta, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.
§ 2º Aos requisitados nos termos deste artigo serão assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou na entidade de origem, conside-rando-se o período de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo, posto, graduação ou emprego que ocupe no órgão ou na entidade de origem.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o ITI:I – os acervos técnico e patrimonial, as obrigações e os direitos do Insti-
tuto Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência e Tecnologia;II – remanejar, transpor, transferir, ou utilizar, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2001, consignadas ao Ministério da Ciência e Tecno-logia, referentes às atribuições do órgão ora transformado, mantida a mesma classifica-ção orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível, obser-
91
vado o disposto no § 2º do art. 3º da Lei № 9.995, de 25 de julho de 2000, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso.
Art. 18. Enquanto não for implantada a sua Procuradoria Geral, o ITI será representado em juízo pela Advocacia Geral da União.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Pro-visória no 2.200-1, de 27 de julho de 2001.
Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publica-ção.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da Repú-blica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSOJosé GregoriMartus TavaresRonaldo Mota SardenbergPedro Parente