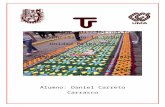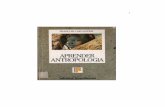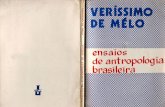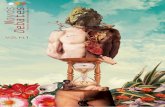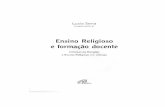Antropologia da religião
Transcript of Antropologia da religião
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
Antropologia da Religião
Silas Guerriero
A religião sempre esteve presente como tema nos estudos antropológicos. Não
existe até os dias atuais uma definição clara do que se compreende por antropologia da
religião, a começar pela própria singularidade ou pluralidade da temática em foco. Para uns,
não é possível falar em antropologia da religião no singular, pois essa unicidade indicaria a
ideia de busca de uma essência da religião. Para outros, essa é uma questão menor. É por
antropologia da religião que a disciplina ficou conhecida e não se faz exigência que o tema
permaneça no singular ou no plural. No entanto, essa questão já aponta para um debate
bastante sério que diz respeito ao objeto próprio. Afinal, qual o conceito de religião que se
está utilizando?
A antropologia se caracteriza pelo estudo do outro, do contato com a alteridade.
Parceira da sociologia, insere-se no campo das disciplinas auxiliares da ciência da religião
no que tange à dimensão sociocultural do fenômeno religioso. Os estudos de religião e
especificamente a ciência da religião utilizam-se dessas disciplinas como instrumentos de
compreensão de um dos componentes fundamentais da religião, sua conotação social e
cultural. Afinal, não há religião que não esteja inserida numa sociedade e num ambiente
simbólico e cultural. Além do mais, não há sociedade ou cultura que não apresente algum
tipo de sistema de crenças religiosas. Para a ciência da religião, o fenômeno religioso não se
limita aos aspectos sociais e culturais, mas existe uma compreensão que sem lhes dedicar
um olhar apurado não será possível obter um entendimento global do fenômeno. No interior
da antropologia o estudo da religião constitui uma temática em si, comparável a outras em
importância como a do parentesco ou a das estruturas sociais, abrangendo uma
complexidade no interior das suas próprias fronteiras. Essa complexidade, para a
antropologia, se refere ao conjunto da dimensão social dos agrupamentos humanos ou ainda
à complexidade da espécie humana, sendo a religião um dos componentes constituidores de
ambas. Nesse sentido, a antropologia dá as costas à ciência da religião, prescindindo desta.
Não se trata de definir qual delas é dependente e qual é matriz. O que nos importa reter é
que a antropologia auxilia a ciência da religião no que se refere à discussão dos aspectos
simbólicos que envolvem o fazer religião no interior das sociedades humanas. Tem por
excelência o estudo de elementos básicos das religiões como o ritual, a mitologia e o
sistema de crenças em geral.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
As origens da antropologia da religião
Em suas origens, a preocupação da antropologia com a religião, ou algo que naquele
momento não se denominava religião, mas se aproximava do campo dos sistemas de
crenças, não era tão nobre assim. A antropologia nasceu como fruto da exigência de
compreensão sobre o outro, aquele que não era ocidental. À medida que a sociedade
europeia avançava por sobre os outros povos e por outros continentes, houve a necessidade
de compreender quem era aquele outro, que naquele momento já era visto como um ser
humano, mas que em nada se assemelhava a um civilizado. Fruto do processo colonialista,
a antropologia representou o esforço de empreendimento de um olhar científico sobre os
outros povos. A grande indagação que moveu, e ainda move, a nascente ciência era a de
compreender a imensa diversidade humana apesar da unidade biológica da espécie humana.
Esse outro, seja ele um aborígene da Oceania, um negro do interior da África ou um índio
da Amazônia, tinha de ser compreendido como um ser humano, dotado das mesmas
condições que caracterizavam toda a espécie. Para alguns pais fundadores dessa ciência, o
que mais chamava a atenção na comparação desses outros com o europeu branco, cristão e
civilizado, era o fato de haver um enorme fosso no universo de compreensão e visão do
mundo e nos hábitos um tanto exóticos daqueles nativos. Não se reconhecia nessas crenças
uma verdadeira religião. Religião, afinal, seriam somente as monoteístas, reveladas e
denominadas religiões do livro. No máximo poderiam ser incluídas as grandes tradições do
Oriente, como as religiões da Índia, da China e do Japão. Os povos tidos como primitivos
eram detentores, dizia-se, de uma mentalidade primitiva, que enxergava feitiçarias e
animismos em todos os cantos.
O estudo dessas crenças ditas primitivas entrou na antropologia como forma de
diferenciação em relação ao modo de pensar considerado evoluído e civilizado e não como
uma temática eleita com distinção. A antropologia da religião não nasceu como área
específica, mas por vias paralelas como um esforço de compreensão das diferenças entre os
povos. Pensar o diferente passava por pensar as diferentes mentalidades, fossem essas tidas
por animista, mágica, mítica ou até pré-lógica.
Dois dos mais eminentes fundadores da antropologia reservaram lugar especial à
religião em suas análises. A preocupação de fundo de ambos era, justamente, perceber
como esses povos primitivos podiam pensar de modo tão distante da maneira dos
ocidentais. Tratava-se de perceber a espécie humana por meio de uma unidade psíquica que
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
ligaria o primitivo ao civilizado. O que os distinguiria seria justamente o estágio de
desenvolvimento das ideias. Enquanto uns pensavam ainda de maneira animista ou mágica,
outros já teriam alcançado um estágio superior de desenvolvimento e de compreensão da
realidade, sabendo separar a ciência, voltada às coisas materiais, da religião, voltada à
dimensão da relação com o criador e a verdade última. Para Edward Tylor (1832-1917) o
animismo seria universal e o primeiro estágio do processo evolutivo daquilo que viria a se
tornar a religião.1 Embora sem a crença em deuses, o primitivo atribuía os fenômenos
naturais à intervenção de espíritos benevolentes ou malévolos. Para o animismo, o mundo
estaria povoado por seres que habitam os objetos, as plantas, os animais e os homens. As
experiências da doença, da morte e, sobretudo, dos sonhos, estariam nas origens da noção
de alma. Isso levaria o primitivo a imaginar que existe um ser, dotado de uma substância
espiritual, que estaria além do corpo físico. Com a evolução das culturas, o animismo daria
lugar ao politeísmo e depois ao monoteísmo. É famosa a definição de religião elaborada por
Tylor. Para esse britânico pioneiro, religião é a crença em seres sobrenaturais ou
espiritualizados. Para ele, num gradiente evolutivo haveria desde a crença animista até a
formulação mais sofisticada do divino. Essa definição básica de religião foi muito criticada,
desde as formulações de Durkheim2 até as de muitos antropólogos atuais. No entanto, não
são poucos os que retomam constantemente essa proposição básica, embora certamente
reformulada e sem as conotações de cunho evolucionista que a original de Tylor carrega,
como é o caso da posição das ciências cognitivas, que prefere substituir a noção de seres
espirituais por agentes sobre-humanos.
James George Frazer, outro dos grandes heróis civilizadores da antropologia, afirma
ser a magia uma forma primitiva de ciência, mas que fracassou pela sua precocidade. Esse
fracasso da magia em atingir os resultados materiais esperados leva o primitivo a
desenvolver a religião. Frazer estabelece uma sequência evolutiva que vai da magia, passa
pela religião e atinge o ápice na ciência moderna.3 Ele percebe a superstição como um
desvio intelectual que desvirtuava o pensamento lógico. Frazer vê no feiticeiro alguém que
acreditava compreender as leis que regem o mundo e assim controlar os fenômenos da
natureza. Da mesma forma que a ciência, a magia também trabalha a partir da associação de
ideias, numa relação causa e efeito. Se para Frazer a magia utiliza de maneira errônea o
princípio de associação de ideias, pode então ser considerada como uma falsa ciência. Para
ele, a magia é a primeira forma de pensamento humano. O primitivo procura controlar, por
1 Cf. E. Tylor, Primitive culture. 2 Cf. E. Durkheim, As formas elementares da vida religiosa. 3 Cf. J.G. Frazer, O ramo de ouro.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
seus próprios meios, as forças da natureza. Após perceber que não consegue utilizar essas
forças, abandona a magia para se dedicar à adoração de seres divinizados e superiores.
Passa, assim, a uma etapa mais evoluída que, por meio da prece e do sacrifício em nome
desses deuses, procura o caminho da salvação. Este seria o momento da religião para
Frazer. Quando, enfim, percebe os limites da religião, o ser humano volta para o princípio
da causalidade, mas dessa vez não mais de maneira mágica, mas sim experimental e
científica. Desta forma, atinge o grau mais evoluído, ou seja, a moderna ciência da
civilização ocidental. Frazer exerceu papel fundamental na legitimidade dos estudos de
religião. Sua influência não se limitou ao meio acadêmico, mas teve forte impacto também
entre os religiosos e na população em geral. Enfatizou a erudição e o estudo comparativo de
civilizações antigas e trouxe para um público mais amplo o gosto pela busca das origens da
religião.
Nesses dois casos vemos que a religião, ou mesmo a magia, ganha espaço não como
uma temática central, mas como instrumento de compreensão das formas mais primitivas e
arcaicas da humanidade. A preocupação com as origens gerou muita especulação sobre qual
teria sido a primeira religião da humanidade. Várias foram as escolhidas. Falou-se em
fetichismo, baseado em feitiçarias, ou ainda em animismo ou o totemismo, visto que o culto
ao totem, ou ancestral, assemelhava-se a um culto aos deuses. Embora essas teses tenham
sido há muito tempo refutadas pela antropologia, permaneceram impregnadas no senso
comum e no imaginário da nossa sociedade. De certa maneira influenciaram nossos
modelos de pensamento sobre a religião dos outros.
Esse alvorecer da ciência do antropos não foi o de uma antropologia da religião de
forma exclusiva. Tanto Frazer como Tylor, assim como outros daquela época e das
seguintes, preocuparam-se com vários outros elementos das sociedades estudadas. Para
muitos antropólogos não se pode falar numa antropologia da religião propriamente dita,
pois a antropologia se ocupa de várias temáticas. O que caracterizaria essa ciência seria o
estudo da espécie humana em geral ou daquilo que ela carrega de especificidade, ou seja, a
própria diversidade de comportamentos. Em última instância, não se poderia separar a
antropologia da religião (ou das religiões) de outras antropologias, uma vez que essa
ciência tem por pressuposto o estudo da cultura na sua totalidade, envolvendo aí aspectos
materiais, práticas, regras, costumes, economia, política e também crenças, mitos, ritos e,
por assim dizer, religião. O estudo do universo religioso de um povo é justificado pelo que
pode contribuir para a compreensão dessa cultura como um todo.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
A originalidade do olhar antropológico sobre as religiões
Vários especialistas de diferentes áreas estudam, escrevem e falam sobre religião.
Qual seria, portanto, a originalidade da abordagem antropológica sobre todas as demais?
Costuma-se afirmar que o que caracteriza a antropologia não é seu objeto de estudo, a
cultura ou as práticas e valores, mas uma maneira particular de olhar sobre as coisas
humanas. Independentemente da abrangência do olhar antropológico, e aqui podemos
incluir as mais diferentes aproximações, temos de levar em conta que se trata de uma
disciplina teoricamente orientada. Ao longo de sua história a antropologia construiu
diferentes teorias que com rigor acadêmico permitiram olhar para o fenômeno religioso de
maneira bastante acurada. Essas diferentes teorias contribuíram, de maneira significativa,
para uma melhor compreensão da religião, cada uma delas tomando significativo cuidado
com os termos e conceitos utilizados.4 Mas a distinção mais significativa fica por conta dos
métodos de estudo e dos tipos de religiões que foram sendo estudadas e que acabaram
contribuindo para a construção das teorias apontadas. O trabalho de campo, a busca do
“ponto de vista do nativo”, o olhar relativizador e o distanciamento são elementos
essenciais desses métodos. Para uma antropologia que não segue mais os pressupostos
evolucionistas preconizados pelos iniciadores, não existe uma religião mais verdadeira que
outra. Nesse sentido, é o olhar do antropólogo que permite penetrar nas redes de
significados das diferentes culturas e perceber os sentidos intrínsecos que cada sistema
religioso possui.
Não é fácil apagar a herança evolucionista. Permanece até hoje, sem seu cunho
etnocêntrico, quando busca explicações mais amplas, genéricas, a partir de grandes
comparações, sem se ater a particularidades muito específicas. Da busca de uma origem da
religião permanece a dívida da procura, num amplo sentido, por uma essência ou natureza
da religião. A negação dessas origens, por sua vez, trouxe a ênfase nos particularismos, nas
negações das grandes comparações e também na busca das funções dos elementos culturais
olhados numa totalidade circunscrita do grupo estudado. Esse olhar só poderia ser o das
particularidades empíricas. Na antropologia da religião, como preferem os que tendem a
pensar numa natureza religiosa do ser humano, ou na antropologia das religiões, para
aqueles em que só é possível enxergar os aspectos empíricos ou as particularidades,
qualquer teorização mais geral só ocorre a partir de infindáveis casos concretos. De acordo
4 R. Winzeler, Anthropology and religion, p. 13.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
com Obadia, existem alguns postulados de base que servem a todos.5 Trata-se de um
empirismo que rompe com qualquer perspectiva fenomenológica, não no que ela pode
trazer de reflexões para a análise (com foco nas formas observáveis de religião), mas com o
objetivo empreendido de busca de uma essência, suprassocial. Olhar para as outras culturas,
diferentes da ocidental, força um olhar que nega uma universalidade do religioso
identificada nos monoteísmos largamente conhecidos. Cada forma nova e diferente de
sistema religioso que a antropologia foi desvendando foi estabelecendo a certeza que não se
poderia mais pensar num sagrado para além das constituições históricas e nem mesmo para
um continuum entre formas primitivas e civilizadas de religião. A religião do outro ganhou
reconhecimento e valor. A magia, as feitiçarias em geral, os mitos e tudo que envolve
qualquer sistema de crenças passaram a ser vistos no valor que trazem em si mesmos.
Essa nova perspectiva está muito longe de uma antropologia religiosa. Não existe
uma preocupação com a veracidade daquilo que é preconizado pelas religiões ou qualquer
sistema de crenças. Em última instância isso significa dizer que não parte, como método de
análise, do pressuposto da existência de uma essência do sagrado ou de uma divindade.
Essa é uma questão que não cabe aos antropólogos. É famosa a colocação de Evans-
Pritchard de que não se trata do antropólogo ter ou não uma religião, pois esse não está
preocupado com a verdade ou falsidade do pensamento religioso uma vez que as crenças
são fatos sociais.6 O que importa para a antropologia da religião são os significados
subjacentes aos sistemas de crenças religiosas de um ou mais grupos sociais. Acrescenta-se,
ainda, a preocupação com os hábitos, práticas e costumes desses mesmos grupos advindos
desses sistemas. Para Radcliffe-Brown7, a função social da religião é independente da sua
verdade ou falsidade. Todas as religiões, por mais excêntricas que possam parecer,
desempenham papéis importantes no mecanismo social. Esse autor, assim como outros da
primeira metade do século XX que buscaram inspiração a partir das ideias de Durkheim,
como Marcel Mauss, Malinowski e Evans-Pritchard, romperam com o modelo explicativo
dos evolucionistas, que viam a religião reduzida aos mecanismos mentais (falsos), e
buscaram fundamentar suas análises a partir de um consistente conjunto de dados
empíricos. O contato com o outro, com suas maneiras particulares de se comportar e de
crer, possibilitado pelo imprescindível trabalho de campo, deslocou a preocupação sobre as
origens da religião para o campo das funções sociais. Nesse processo abandonou-se a busca
de uma teorização geral sobre a unidade psíquica humana e focou-se nos pormenores da
5 L. Obadia, Antropologia das religiões, p. 30. 6 E. Evans-Pritchard, A religião e os antropólogos. 7 Cf. A.R. Radcliffe-Brown, Estrutura e função na sociedade primitiva.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
vida religiosa de um determinado povo. A grande contribuição para os estudos de religião
foi, sem dúvida, o reconhecimento de valor desses universos religiosos que deixaram de ser
vistos como vestígios de um passado para se tornarem atuais e alternativos aos modelos
então considerados únicos, como o monoteísmo cristão. Houve uma ampliação conceitual
sobre a religião. Malinowski e Evans-Prtichard contribuíram, sobremaneira, para uma
compreensão das racionalidades do pensamento mágico e religioso. Ambos, cada um a seu
modo, reconheceram que o pensamento mágico é também dotado de uma lógica e que o
indígena tem consciência da distinção entre o racional e o não-racional. Religião e magia
deixaram de ser categorizadas como heranças de uma situação pré-lógica, ilógica ou
irracional. Importante ressaltar aqui que embora tenham características distintas quanto à
finalidade e modo de operação, religião e magia passaram a ser vistas pelos antropólogos
como elementos de um mesmo sistema mais amplo de crenças. A própria separação entre
religião e magia, tão claramente definida por Durkheim8, deixa de ser tranquila, pois há
vários sistemas mágicos em torno de comunidades semelhantes a que chamou de igreja,
assim como há muito de magia nas religiões fortemente institucionalizadas. As duas
dimensões se interpenetram e são tratadas como um todo.
Também herdeiro dessa perspectiva funcionalista, porém com características
bastante peculiares e com forte tom intelectualista, surge o pensamento estrutural de Claude
Lévi-Strauss. Embora não haja em sua obra uma explicitação da religião em si, este autor
desenvolveu um extenso estudo sobre as mitologias e sobre o pensamento dito selvagem ou
pensamento mágico.9 A religião tem interesse na medida em que espelha as estruturas
inconscientes da mente humana. Estas sim que serão sua preocupação central. De certa
maneira retoma uma preocupação das origens da antropologia, pois estava em busca das
invariáveis universais de pensamento presentes em toda a espécie. Para ele, o pensamento
humano trabalha e sempre trabalhou conforme o mesmo princípio. Embora o contexto
histórico marque os contornos de cada cultura, há um substrato comum que permanece
sempre o mesmo. Em seu artigo “A ciência do concreto”, Lévi-Strauss defende que o
selvagem elabora seu conhecimento a partir das mesmas regras que o civilizado. No
entanto, enquanto a ciência moderna ocidental se faz a partir de abstrações, a ciência das
sociedades tradicionais ou do selvagem, como ele prefere chamar, se faz a partir de
classificações do mundo concreto. Mas nesse sentido não haveria uma distinção valorativa
entre a magia e a ciência.
8 E. Durkheim, As formas elementares da vida religiosa, p. 32. 9 Cf. C. Lévi-Strauss, O pensamento selvagem.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
Pelo que foi tratado até este momento, a maneira pela qual a antropologia retratou a
religião trouxe implicações para a própria concepção sobre o outro, aquele que é diferente,
mas ao mesmo tempo semelhante por ser também um ser humano. Ampliou a noção de
humanidade e do reconhecimento de que as diferenças religiosas, tão caras uma vez em que
podem separar povos e provocar conflitos bélicos, são frutos das vivências sociais e de
como os diferentes povos constituíram, ao longo da história, suas trajetórias e visões de
mundo. A constatação antropológica da não existência de povos ou culturas que prescindam
da religião teve várias consequências. Essa universalidade da religião, que para um crente
religioso pode ser atribuída à comprovação da existência do sagrado, para a antropologia
trouxe mais indagações que certezas. Trata-se de uma natureza religiosa humana ou de uma
origem religiosa da cultura e das sociedades humanas? Émile Durkheim, em sua famosa
obra As formas elementares da vida religiosa10
, afirma que a natureza religiosa do ser
humano é um aspecto essencial e permanente da humanidade. Entretanto, Durkheim diz ser
a religião um constructo das sociedades, numa evidente redução do religioso a um fato
social. Mas mesmo em suas épocas iniciais nunca houve um consenso sobre a definição de
religião e sobre os métodos de análise que poderiam ser empregados em seus estudos.
Portanto, há aqui uma questão conceitual. Longe de demonstrar fraqueza teórica, essa
diversidade evidencia uma riqueza e um eterno questionamento que fez com que essa
ciência avançasse e renovasse a si mesma na busca de uma melhor compreensão da religião
e do ser humano em geral.
A definição de religião
As teorias antropológicas de religião podem ser percebidas divididas entre aquelas
que enfatizam os aspectos simbólicos, as que se preocupam principalmente com as práticas
e aquelas que priorizam as estruturas sociais. No entanto, mesmo para aqueles de cunho
mais intelectualista, como Lévi-Strauss, há o reconhecimento de um empirismo como
negação da busca de uma essência para o religioso.
A universalidade do religioso insere-se, assim, na escolha do conceito utilizado.
Uma acepção clássica de religião, como aquela utilizada nos primórdios da antropologia
incorreria no risco da impossibilidade de transpor o conceito para além do Ocidente e dos
monoteísmos. O reconhecimento de que a palavra religião guarda fortes aspectos políticos e
ideológicos, por se tratar de uma concepção ocidental colocada a força por sobre outros
10 E. Durkheim, As formas elementares da vida religiosa.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
povos, levou alguns a uma rejeição pura e simples do conceito, embora isso não resolvesse
a questão. Portanto, longe de rejeitar o conceito, ou negar sua existência, deve-se
reconhecer que é preciso sempre levar em consideração o que se entende por religião.
Lionel Obadia chama a atenção para o fato de que os antropólogos acabaram
seguindo basicamente duas grandes definições de religião.11
Por um lado o conceito
original de Tylor, já apontado anteriormente, e por outro o de Durkheim. Para o primeiro, a
ênfase do religioso, ou o que torna um ato ou uma ideia religiosa, é o fato de se reconhecer
a presença de seres espirituais ou sobrenaturais. Para Durkheim, é a ideia de sagrado, em
oposição à de profano, que evidencia o religioso. Essas duas grandes acepções do religioso
evidenciam a complexidade do fato e as dificuldades em se tentar reduzir num único
parâmetro algo tão abrangente. Embora Tylor tenha influenciado alguns antropólogos de
língua anglo-saxônica, é a posição de Durkheim que vai estar mais presente nos estudos
antropológicos no que tange à ideia de religião como construção social. Essa vertente
acabou sofrendo inúmeros acréscimos e modificações, inclusive na ampliação do conceito
de maneira a abarcar a noção de representação coletiva, também pelas mãos de Durkheim,
mas que com Marcel Mauss ganhou bastante consistência. É desse último a definição de
religião como conjunto de crenças e ritos, discursos e atos, definição essa bastante
abrangente e inclusiva, mas que permite delinear os contornos de um sistema religioso ou
outro sem reduzi-los a um lugar comum.
Afastando-se de uma perspectiva funcional, seja ela das funções sociais ou das
psicológicas, o norte americano Clifford Geertz abre uma nova via para compreensão
antropológica da religião. Em seu estudo ainda dos anos 1960 estabelece uma definição de
religião tida como clássica nos dias atuais. Religião para ele é um sistema de símbolos e a
possibilidade de estudo se dá por uma via hermenêutica e semiótica. Procura focar no que a
religião representa para seus atores e como ela estabelece a nossa própria noção de
realidade. Para este autor, religião é
um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras
disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de
existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que as disposições
e motivações pareçam singularmente realistas.12
Essa noção parece bastante útil. Não fala de sobrenaturalidade ou divindade, muito
menos em sagrado, podendo ser, dependendo do que se busca compreender, bastante
11 L. Obadia, Antropologia das religiões, p. 31. 12 C. Geertz, Religião como sistema cultural, pp. 104-105.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
conveniente. Pode-se perceber que ela serve tanto para religião como para as
espiritualidades difusas. Geertz atribui o poder da religião ao fato desse sistema simbólico
realizar a junção entre o ethos, a maneira de ser e de sentir de um determinado grupo, com a
visão de mundo, a formulação da ordem geral das coisas elaborada por esse mesmo grupo.
A junção dessas duas dimensões tem o poder de formular uma imagem geral da estrutura
do mundo e um programa de conduta humana em que um e outro se reforçam mutuamente.
Hanegraaff estabelece uma revisão crítica do conceito elaborado por Geertz de
maneira a poder analisar aquilo que chamou de religião secular. Amplia enormemente a
noção de religião. Sem fugir do dilema imposto pelos próprios antropólogos de se discutir
religião em termos amplos, procura abarcar tanto a dimensão singular (religião) como a
plural (religiões). Para esse antropólogo holandês, religião (aqui entendida como religião no
singular) é qualquer sistema simbólico que influencia as ações humanas pela oferta de
formas ritualizadas de contato entre o mundo cotidiano e um quadro metaempírico mais
geral de significados13.
Essa formulação responde, segundo o autor, pela noção de religião em geral, mas
ela deve ser desdobrada para podermos enxergar as formas que efetivamente se manifestam
socialmente. Para tanto, ele se utiliza de duas subcategorias: a de religiões (no plural) e a de
espiritualidades. A diferença entre essas subcategorias da classe geral e mais ampla de
religião está no fato de que nas religiões o sistema simbólico é representado por alguma
instituição social. Assim, religião necessita inevitavelmente de um grupo articulado em
torno de um conjunto de mitos, com hierarquia e papéis definidos, e de uma doutrina que
manifeste ou demonstre um conhecimento sistematizado. Ao mesmo tempo, essa definição
permite englobar sistemas de crença que não tratam explicitamente de aspectos
sobrenaturais, de seres espirituais ou de distinção entre sagrado e profano. Essa ampliação
conceitual é que permite compreender uma série de novas manifestações espiritualizadas da
nossa sociedade, como a Nova Era, e que não são englobadas pelos conceitos mais
tradicionais de religião.
Tal discussão remete à questão do que é ou não é religioso. Uma vez que a
antropologia não parte de um pressuposto da existência de uma manifestação de um
sagrado, que responderia pela substância religiosa de um objeto, de um ato ou de uma ideia,
é preciso procurar esses fundamentos em outros terrenos. A definição de Hanegraaff tem
esse atributo.
13 W. Hanegraaff, The pragmatics of defining religion, p. 371.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
É nessa direção que vem uma das críticas mais contundentes da definição de
religião nos dias atuais. Talal Asad afirma que não é possível separar os símbolos religiosos
daqueles que não são.14
É preciso, no entender desse antropólogo, ir a fundo ao contexto
histórico em que se constituíram e se autorizaram esses símbolos religiosos. Asad parte de
uma perspectiva que vem ganhando notoriedade nos estudos antropológicos, a de uma
antropologia pós-colonialista. Essa disciplina deixa de ser uma construção de um olhar do
ocidental sobre os demais povos, mesmo que relativizada e antietnocêntrica. Quem fala,
agora, são os próprios “nativos”, como é o caso do próprio Talal Asad, saudita de
nascimento e criado no Paquistão, filho de pai judeu convertido ao islamismo. A questão
básica gira em torno da impossibilidade de uma tradução. Qualquer costume ou ideia fora
de contexto, traduzido, perde em poder explicativo e corre o risco de ser utilizado como
forma de dominação por quem o traduz. Esse é o caso da noção de religião. Fiona Bowie
acrescenta que é preciso sempre ter em mente que a construção da categoria “religião” se
baseou em línguas e costumes europeus.15
Em grande parte das línguas nativas não há
palavras para definir o que os ocidentais entendem, ou pensam entender, por religião. O
enquadramento a um significado preestabelecido é imediato. A perspectiva de quem
escreve a história é fundamental nesse aspecto. Por que aqueles que não eram ocidentais
foram obrigados a ler a história ocidental e o contrário não aconteceu? Para Asad, o fato
está em que os nativos são vistos como “locais” enquanto que os cristãos são “universais”.
Essa concepção de universalidade acaba, mesmo inconscientemente, justificando a
sobreposição do mundo e dos valores ocidentais por sobre os demais povos.16
Asad procura examinar os caminhos pelos quais a busca teórica por uma essência da
religião, trans-histórica, convidou a separar a religião da política. Faz isso por meio de uma
análise da definição de Geertz. Seu argumento é que não pode haver uma definição
universal de religião, não apenas porque seus elementos constitutivos e suas relações são
historicamente específicos, mas porque essa definição é ela mesma um produto histórico do
processo discursivo17
.
Para outros críticos, por se tratar de um conceito ocidental que guarda origem na
expansão da sociedade ocidental capitalista, servindo muitas vezes como forma de
dominação, o termo deveria ser simplesmente abandonado.18
Não poderia ser uma categoria
14
Cf. T. Asad, Genealogies of religion. 15
F. Bowie, The anthropology of religion, p. 19. 16 T. Asad, Genealogies of religion, p. 8. 17 Ibidem, p. 29. 18 T. Fitzgerald, The Ideology of Religious Studies.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
analítica porque não trata de algo transcultural. O argumento central é a da inexistência da
religião como fenômeno universal.
Longe de haver qualquer possibilidade de consenso, a diversidade conceitual sobre
religião demonstra a própria diversidade metodológica da ciência do antropos. É preciso
reconhecer que nessa caminhada a antropologia muito tem contribuído para a ampliação
dos horizontes sobre o que é religião e, especificamente, sobre as diferentes maneiras de
compreensão da realidade praticada pelos diferentes povos. Como numa via de mão dupla,
a antropologia elabora um esforço para compreender o universo religioso do outro, mas as
populações em geral também se utilizam dessa produção intelectual para olharem para si
mesmas e se posicionarem frente às diferenças, no eterno jogo das alteridades. Com o
conceito de religião tem sido assim. Com a antropologia a sociedade aprendeu a olhar
sempre de maneira mais crítica para aquilo que tenderia a ser visto como algo
absolutamente natural e, em geral, menosprezando todos aqueles que ousam pensar de
maneira diferente. Nesse movimento, a religião do outro deixa de ser mera superstição e
passa a ser vista como uma maneira alternativa de compreender e se situar no mundo.
Ao longo desse século e meio de ciência antropológica, a religião ganhou não
necessariamente contornos mais definidos, mas visibilidade no seio das sociedades
humanas. Pela própria trajetória do conceito pode-se perceber que está muito longe de se
obter uma posição definitiva, ressaltando que isso não seria nada salutar. Mas, por outro
lado, houve muito avanço na compreensão dos mecanismos e simbolismos que envolvem o
universo religioso, aumentando a amplitude e a profundidade nas análises. Todo esse
avanço trouxe para a ciência da religião o elemento fundamental da constituição simbólica
e social da religião. Com ele tornou-se possível um incremento nos estudos sobre múltiplas
manifestações religiosas presentes nas mais diferentes sociedades.
Mitos, rituais, símbolos e crenças
O estudo antropológico das religiões não se limitou à busca de uma definição mais
precisa do conceito religioso. Muitas propriedades das religiões particulares que foram
sendo estudadas ganharam um estatuto de objeto de estudo particular e constituíram
campos autônomos de análises. Dentre esses podemos destacar as crenças, os rituais, os
mitos e os símbolos.
O estudo das crenças não se restringe necessariamente ao campo da antropologia da
religião. Pode-se compreender que as crenças dizem respeito a um universo muito mais
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
amplo que vai além daquilo que poderíamos chamar de crenças religiosas, ou crenças
sagradas. No entanto, em que pesem as críticas feitas à noção de crença, semelhantes às
empreendidas ao conceito de religião, as crenças religiosas compõem um dos objetos
verificáveis da antropologia da religião. Como um fenômeno mental, a crença foi
considerada um objeto próprio da psicologia, mas se pensado em termos de sua
materialidade, na encarnação em objetos específicos, as crenças ganham contornos
específicos e são tratados de maneira especial pela antropologia. Nesse aspecto, não há
necessário vínculo com a categoria “fé”, essa sim de cunho religioso. As crenças, para a
antropologia, ganharam destaque na medida em que foram sendo estudadas em suas
especificidades. Cada cultura possui, assim, um conjunto de elementos em que seus
integrantes creem fazer parte do mundo e que termina por moldar os contornos da realidade
mais ampla. No estudo clássico sobre a magia do feiticeiro, Lévi-Strauss afirma que o
aprendiz de feiticeiro que ambicionava desmascarar os truques realizados pelos xamãs
tornou-se ele próprio um grande xamã não pela sua convicção particular, mas pela crença
coletiva e confiança depositada pelo grupo.19
Da mesma forma, no estudo sobre os Azande,
Evans-Pritchard percebe que os nativos têm plena consciência de que as doenças podem ser
tratadas com remédios, visto que têm um vasto conhecimento sobre ervas e plantas
medicinais, mas é inconcebível não reconhecer que há obra de bruxaria ou feitiçaria em
todos os casos em que alguém fica acamado.20
Essas crenças compõem a materialidade do
mundo dos Azande.
Talvez uma das mais fortes contribuições da antropologia para o estudo da religião
se dê no fato dela ter dirigido especial atenção para a pesquisa de sistemas simbólicos.21
Considerar a cultura humana como fruto da capacidade de simbolização é apenas ponto de
partida. A grande contribuição se dá porque compreende o universo simbólico como
elemento fundamental das comunicações e das trocas. Percebe-se então o papel
fundamental de Lévi-Strauss que não apenas delineou o funcionamento da magia através da
eficácia simbólica, como trouxe enormes contribuições no campo das trocas simbólicas.
Mary Douglas elaborou uma teoria sobre a naturalidade dos símbolos, ao menos como eles
passam a ser manifestações previsíveis.22
Focada na dimensão do simbolismo da
experiência corporal, Douglas enfatizou o ritual como um sinônimo de símbolo. O efeito do
rito se liga à modificação da experiência. Experiências díspares ganham sentido quando
19
C. Lévi-Strauus, O feiticeiro e sua magia. 20 E. Evans-Pritchard, Bruxarias, oráculos e magia entre os Azande. 21 K. Hock, Introdução à ciência da religião, p. 157. 22 Cf. M. Douglas, Natural symbols.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
vivenciadas num quadro de estruturas simbólicas. Para ela, o ritual consiste essencialmente
em uma forma de comunicação. Clifford Geertz, como afirmado anteriormente, elegeu os
sistemas simbólicos de uma cultura como centro de suas análises, como o religioso, o
político, o científico e outros. A análise antropológica dos símbolos procura descobrir os
sistemas de significado subjacentes, num esforço interpretativo empreendido pelo
pesquisador.
Para a antropologia, a simbolização reflete a maneira como os símbolos religiosos
se constituem, se fixam e se transmitem na história e nas sociedades humanas. Ela se
diferencia de outras abordagens sobre os símbolos tanto as que possam vir da psicanálise
quanto as de uma concepção que parta do princípio que os símbolos têm um significado
fixo, inerente a eles mesmos, em todas as religiões e culturas.
Por fim, destacam-se ainda mito e ritual. Esses dois elementos da religião
constituíram campos de dimensões abissais nos estudos antropológicos. Muitas vezes vistos
como inseparáveis, pois um lida com o aspecto do imaginário e das mentalidades enquanto
o outro trata do universo das práticas, há quem veja uma supremacia do ritual sobre o mito,
como Jack Goody23
ou Victor Turner24
. Outros, como Lévi-Strauss, se preocuparam com o
estudo do mito, deixando o ritual praticamente de lado.
O rito é um elemento essencial da vida religiosa. São tipos especiais de eventos,
mais formalizados e estereotipados. Ritual é sempre comunicação. São formas que os
próprios membros de um grupo encontram de dizer a eles mesmos quem eles são25
, mas,
mais que isso, é uma maneira evidente de comunicação entre o mundo dos humanos e o
mundo dos deuses. O ritual tem o poder de instaurar uma condição social, reforçando os
vínculos entre os indivíduos e estabelecendo os papéis sociais de cada um. É importante
perceber que existe uma classe especial de rituais, estudada por Arnold Van Gennep26
e
depois aprofundada por eminentes antropólogos, dentre eles Victor Turner: os ritos de
passagem.27
Trata-se de uma ampla gama de rituais que marcam mudanças de estado, não
apenas definitivas, como as passagens entre as fases da vida, mas também temporárias,
como as festas de inversão de papéis que acabam, por fim, reforçando as posições sociais.
Para Van Gennep, os rituais possuem três fases principais: uma separação, um momento de
transformação e, por fim, um de reintegração. Todas essas fases são acompanhadas de
23
J. Goody, O mito, o ritual e o oral. 24
V. Turner, O processo ritual. 25 C. Geertz, Uma descrição densa. 26 A. Van Gennep, Os ritos de passagem. 27 V. Turner, op. cit.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
outros rituais tornando o universo extremamente complexo. Turner, por sua vez,
aprofundou suas análises no estado intermediário desses rituais, o do momento da
transformação, denominado de fase limiar. Para esse autor, o ritual tem o poder de renovar
a sociedade já que provoca uma abolição, mesmo que temporária, da estrutura social
vigente e instaura uma antiestrutura em que as posições sociais são rompidas. Trata-se de
uma abolição das hierarquias, das autoridades e das ordens sociais, numa espécie particular
de comunidade, a communitas. Após a fase de liminaridade, há um retorno, quando a
antiestrutura se refaz numa nova estrutura. Embora os ritos de passagem não se restrinjam
ao universo religioso, é nele que são vistos em sua plenitude.
Vários outros tipos de rituais foram bastante estudados pela antropologia da religião,
como os rituais de sacrifício, as peregrinações e os cultos de um modo geral. Um ritual
pode ser entendido como uma chave heurística, através da qual se podem ser acessados
aspectos de uma sociedade que dificilmente se manifestam em falas ou discursos. Por meio
de rituais podem ser observados aspectos fundamentais de como uma sociedade vive, pensa
a si mesma e se transforma.
De certa maneira os rituais encenam um ou vários mitos. Para muitos antropólogos,
a relação entre ritual e mito é direta. Os mitos são narrativas coletivas, contadas a partir de
um discurso metafórico, que tratam das questões mais íntimas de uma sociedade. Em geral
costumam-se ver apenas as narrativas que tratam das origens das coisas, de ordem material
ou social, e que ligam o mundo dos humanos ao dos deuses e heróis míticos. No entanto, o
mito é uma forma de linguagem muito mais ampla e presente em todas as sociedades. Num
primeiro momento, e seguindo as posições positivistas, a antropologia via nos mitos uma
expressão da irracionalidade dos povos tradicionais. A partir da crítica que a antropologia
empreendeu à visão evolucionista, os mitos começaram a ser compreendidos como tendo
relação com a estrutura social. Como fazem sentido para os povos que os vivenciam, os
mitos são tidos como manifestação de outra racionalidade, que tratam de verdades
profundas do grupo. Longe de perceber o mito como uma fábula infantil ou um discurso
ilusório, a antropologia percebe a presença de mitos em praticamente todas as religiões. As
histórias e narrativas sagradas são, em última instância, mitos. Estão longe do que poderia
ser chamado de falsidade. Trata-se de profundas expressões do imaginário humano.
Os mitos estão entre os objetos mais apreciados pelos antropólogos, visto que
permitem, na visão de muitos deles, penetrar nos universos cosmológicos e nas visões de
mundo de povos muito diferentes. Dada a linguagem cifrada dos mitos, o seu estudo nunca
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
foi tarefa das mais tranquilas. Muitos dos primeiros estudiosos de religião se utilizaram de
informações advindas dos levantamentos etnológicos para empreender esforços na tentativa
de construções de mitologias comparadas. Utilizados também por outras chaves de leitura,
como a psicanálise ou a filosofia, os estudos de mitos foram ganhando consistência teórica
no interior da antropologia. O mito passou a ser visto como um sistema de códigos culturais
da experiência ordinária dos povos tradicionais, indiferente às aparentes contradições
lógicas internas.
Claude Lévi-Strauss buscou as propriedades universais dos mitos, não aceitando a
tese de que eles seriam a projeção ideológica do ritual. Esse autor se abstém de qualquer
juízo sobre a realidade histórica ou veracidade dos mitos. Para Lévi-Strauss, o que interessa
é a estrutura básica que está por detrás de várias versões de um mesmo mito e que permite
acessar o quadro de estruturas primordial do pensamento humano.
A antropologia nasceu como ciência das chamadas sociedades primitivas. Há um
bom tempo deixou de lado essa peculiaridade e ampliou seus olhares por sobre as demais
formas sociais. Hoje os antropólogos empreendem olhares sobre sociedades com dinâmicas
altamente complexas, como é o caso das sociedades ocidentais pós-industrializadas.
Crenças, símbolos, rituais e mitologias continuam sendo estudadas não mais no sentido de
encontro com o totalmente outro, diferente desse ocidental, mas o que tem de religioso no
seio de nossa própria sociedade. Há muito que a nossa sociedade deixou de ser vista como
um caminho inevitável para formas cada vez mais desencantadas. Hoje, as mais diferentes
formas de religiosidade são objetos de estudo dos antropólogos. As sociedades mantêm e
reinventam antigas religiões ao mesmo tempo em que novas surgem a todo o momento.
Além das religiões mais facilmente perceptíveis, por trazerem contornos institucionais
visíveis e verificáveis, surge uma infinidade de outras formas de expressões religiosas,
denominadas por alguns estudiosos como novas espiritualidades. A eles cabe perceber as
características dessas novas vivências, bem como desvendar e compreender as lógicas
subjacentes internas. Religiões interiorizadas e cada vez mais individualizadas parecem
querer contradizer tudo o que se entendia por religião. É a sociedade com sua riqueza e
imensa variabilidade que traz novos desafios para os estudiosos atuais.
Atualmente a antropologia se abre a novos diálogos com outras ciências no estudo
das religiões. Deixando de lado os particularismos que marcaram os avanços dessa ciência
por todo o século XX, retoma algumas das preocupações de seus momentos iniciais,
principalmente no tocante à busca da singularidade religiosa. Agora, as companheiras de
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
viagem são outras. As trocas e avanços se dão pelos diálogos com as ciências cognitivas, a
biologia, a psicologia evolutiva, a primatologia, a etologia e até, quem diria, a antropologia
biológica. A religião permanece construção eminentemente humana, mas agora observada
sob novos ângulos. O que há na formação da mente humana que permite essa simbolização
e construção de universos religiosos? Terá sido a religião um elemento adaptativo no
processo evolutivo humano ou será ela apenas um subproduto de outras faculdades da
mente humana? Já são vários os estudos que apontam para uma forte relação entre o fazer
religião e a evolução da mente humana.28
O enigma da persistência da religião permanece. As novas respostas procuram sinais
que possam esclarecê-lo no próprio processo adaptativo evolutivo. Os avanços nessas áreas
científicas vêm trazer novos alentos para os estudos da religião. Se a antropologia
permanecer aberta a contribuições diversas continuará auxiliando para o avanço da
compreensão do fascinante mundo da religião. A ciência da religião só tem a ganhar.
Referências Bibliográficas
ASAD, Talal. Genealogies of religion. Discipline and reasons of power in Christianity and Islam.
London: The Johns Hopkins Press Ltd., 1993.
BOWIE, Fiona. The anthropology of religion. An introduction. Oxford: Blackwell Publishing,
2006.
DOUGLAS, Mary. Natural symbols: explorations in cosmology. London: Routledge, 1996.
DURKHEIM, Emile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
EVANS-PRITCHARD, E.E. A religião e os antropólogos. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro,
Iser, n. 13/1, março.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar
ed., 1978.
FITZGERALD, Timothy. The Ideology of Religious Studies. New York: Oxford University Press,
2000.
FRAZER, James G.. O ramo de ouro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
GEERTZ, Clifford. “A religião como sistema cultural” e “Uma descrição densa: por uma teoria
interpretativa da cultura”. In: A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar ed., 1978.
GOODY, Jack. O mito, o ritual e o oral. Petrópolis: Vozes, 2012.
HANEGRAAFF, Wouter. Defining religion in spite of history. In: PLATVOET, J.G. and
MOLENDIJK, A. The pragmatics of defining religion. Leiden, Boston, Köln: Brill, 1999.
HOCK, Klaus. Introdução à ciência da religião. São Paulo: Loyola, 2010.
28 Cf. S. Minthen, A pré-história da mente.
GUERRIERO, S. . Antropologia da religião. In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Org.). Compêndio de ciência da religião. 1ed.São Paulo: Paulinas; Paulus, 2013, v. 1, p. 243-256
LÉVI-STRAUSS, Claude. O feiticeito e sua magia. In: Antropologia estrutural. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1975.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 1970.
MITHEN, Steven. A pré-história da mente. Uma busca das origens da arte, da religião e da ciência.
São Paulo: Editora UNESP, 2002.
OBADIA, Lionel. Antropologia das religiões. Lisboa: edições 70, 2011.
RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estrutura e função na sociedade primitiva. Petropolis,
RJ : Vozes, 1973.
TURNER,V. O processo ritual. Estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974.
TYLOR, Edward B. Primitive culture. Researches into the development of mythology, philosophy,
religion, language, art and custom. New York: Gordon Press, 1976.
VAN GENNEP, A. Os ritos de passagem. Petrópolis: Vozes, 1978
WINZELER, Robert L. Anthropology and religion. What we know, think and question. Plymouth:
Altamira Press, 2008.