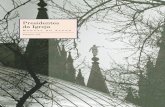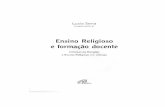Ciência e Religião em Perspectiva: inimigas mortais ou amizade a ser (re)descoberta
A religião na urbs
Transcript of A religião na urbs
Copyright © by ( iilvan Ventura da Silva, Norma Musco Mendes (orgs.) et alii, 2006
Direitos desta edição reservados à MAUAD Editora Ltda., em co-edição com
a Editora da UFES (EDUFES). Mauad Editora: Rua Joaquim Silva, 98, 5° andar
Lapa — Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20241-110 Tel.: (21) 3479.7422 — Fax: (21) 3479.7400
www.mauad.com.br
EDUFES: Av. Fernando Ferrari, 514 Vitória — ES — CEP: 29075-710
Tel.: (27) 3335.2370
Projeto Gráfico: Núcleo de Arte/Mauad Editora
Revisão: Sandra Pássaro
Ilustração da capa: Segmentos da Tabula Peutingeriuna.
CIP-BRASIL . CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS ED ITORES DE L IVROS , RJ .
R336 Repensando o Império Romano: perspectiva socioeconómica, política e
cultural / Gilvan Ventura da Silva; Norma Musco Mendes (organizadores). - Rio de Janeiro: Mauad; Vitória, ES: EDUFES, 2006
Inclui bibliografia ISBN 85-7478-181-9 1. Roma - História - Império, 30 a.C.-476 d.C. 2. Roma - Política e governo -
30 a.C. - 476 d.C. I. Ventura, Gilvan. II. Mendes, Norma Musco. CDD 937.06 CDU 94(37)
Í N D I C E
VlMOSENTAÇÃO 9
\ Martins Magalhães INTRODUÇÃO: O IMPÉRIO ROMANO E NÓS 1 3
Vorberto Luiz Guarinello ( ' \nrniLO I : O SISTEMA POLÍTICO DO PRINCIPADO 2 1 Vorma Musco Mendes < v r i i i L o I I : ECONOMIA ROMANA NO INÍCIO DO PRINCIPADO 5 3 /'< dro Paulo Funari e Renata Senna Garraffoni < \ I I i o I I I : TERRA E TRABALHO NA ITÁLIA NO ALTO IMPÉRIO 6 5 / nino Duarte Joly CAPÍTULO I V : A SOCIEDADE ROMANA DO ALTO IMPÉRIO 8 5 ( u i> I lamuriou Cardoso e Sônia Regina Rebel de Araújo < M U I i o V: PRÁTICAS CULTURAIS NO IMPÉRIO ROMANO: I M HI \ ÍNIDADE E A DIVERSIDADE 1 0 9
Rigllta Maria da Cunha Bustamante < M I M i o V I : A RELIGIÃO NA URBS 1 3 7 Í laudia Beltrão da Rosa < vr V I I : CRISTIANISMO E IMPÉRIO ROMANO 1 6 1
i min Leonardo Chevitarese t M I M i o \: O s SEVEROS E A ANARQUIA MILITAR 1 7 5 \n,i IIIIMI Marques Gonçalves
i u - i i i H I I V DIOCLECIANOECONSTANTINO: \ 0NHTR1 < \ IN ATO 1 9 3
< .1/1 .<// Ventura da Silva v Norma Musco Mendes * M I M M I \ ESTRUTURAS SOCIAIS NA \I i I H M I I TARDIA OCIDENTAL (SÉCULOS I V / V I I I ) 2 2 3 lí• iiiin I i irli< tio
MENDES, N. M. Estrabão e a enunciação de uma "estrutura de atitudes e referência da cultura imperial". Phoinix 9:305-313, 2003.
MENDES, N. M. Romanização e as questões de identidade e alteridade. Boletim do CPA 6 (ll):25-42, 2001.
MILLAR, F. Local cultures in the Roman Empire: lybian, punic and latin in Roman Africa. Journal of Roman Studies 58:126-134, 1968.
MOKHTAR, G. (coord.). História geral da África, v. 2. São Paulo/Paris: Ática/ UNESCO, 1983.
NICOLET, Cl. (dir.). Rome et la conquête du monde du monde mediterranéen; 264 a. C. - 27 av. J.-C. Paris: t. 2: Genèse d'un Empire. 3a ed. Paris: Les Belles Lettres, 1997. (NouvelleClio: L'Histoire et ses problèmes; dir. J. DelumeaueC. Lepelley).
PICARD, C , PICARD, G.-Ch. Carthage; a survey of Punic history and culture from its birth to the final tragedy. London: Sidgwick & Jackson, 1987.
PICARD, G-Ch. Les influences classiques sur le relief religieux africain. In: VlIIe. CONGRÈS INTERNATIONAL D'ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE (Paris, 1963). Le rayonnement des civilisations grecques et romaine sur les cultures périphériques. t. 2. Paris: Boccard, 1965, pp. 237-242.
PICARD, G-Ch. La civilisation de VAfrique Romaine. 2a ed. Paris: Etudes Augustiniennes, 1990.
RAVEN, S. Rome in Africa. 3a ed. London: Longman, 1993. SAHLINS, M. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. SAUMAGNE, C. La survivance du punique en Afrique aux Ve. siècle et VIe. siècle
après J.-C. Karthago 4:169-178, 1953. SCHEID, J. La religion des romains. Paris: Armand Colin, 1998. (Coll. Cursus, Série
"Histoire de 1'Antiquité"; dir. F. Hartog, P. Shmitt-Pantel e J. Scheid) SENNETT, R. Carne e pedra; o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro - São Paulo: Record, 1997. VEYNE, P. Le pain et le cirque; sociologie historique d'un pluralisme politique. Pa
ris: Seuil, 1976. WEBSTER, J.; COOPER, N. (ed.). Roman imperialism: post-colonial perspectives.
Leicester: School of Archaeological Studies, 1996.
CAPÍTULO V I
A Religião na Urbs
Claudia Beltrão da Rosa
A religião romana geralmente é apresentada nas análises modernas como uma religião altamente rituali/ada, com poucas concessões à expressão religiosa. Muitos tendem a associar este caráter com o sucesso dos romanos nos aspectos práticos da vida - a guerra, a arquitetura, o planejamento das cidades, etc. - e sugerem que organizaram sua vida religiosa com o mesmo tipo de eficiência, estabelecendo barganhas rudes com os deuses. Há razões, porém, para crermos que esta imagem não corresponde exatamente ao que foi a religião romana.
Há diferentes modos de analisar a religião romana. Um deles é aceitar a imagem das fontes disponíveis como reflexo mais ou menos verdadeiro da vida religiosa romana e aceitar que sua religião operava com um vocabulário muito limitado. Outro modo é argumentar que recebemos de nossas fontes, especialmente as textuais, uma imagem cuidadosamente editada do que se queria que fosse a vida religiosa, escolhida para refletir uma piedade escrupulosa. Percebemos que havia entre os romanos, no modo como viam a si mesmos, uma forte convicção de serem o mais religioso dos povos, o que contrasta estranhamente com a visão que a modernidade teve de sua religião. Um escritor como Tito Lívio, que se voltava ao passado romano a partir do século de Augusto, acreditava que o sucesso dos romanos na conquista do mundo deveu-se a um escrupuloso cuidado nas relações com os deuses. Muitos comentadores o consideram um céptico, mas não há dúvidas de que sua narrativa contém elementos religiosos. Deste modo, é possível que a imagem que se tornou tradicional não reflita absolutamente a icalida dr, e c provável que ;i religião romana fosse plena de elementos desconhecidos
Nao tomos cio acreditar, e talve/ não devêssemos acreditar, que as fontes de informação que possuímos nos dão uma imagem perfeita da religião romana Nossas principais fontes textuais sobre os primeiros séculos romanos são historiado res como Tito Lívio e Dionísio de Halicarnasso, que viveram no tempo de Augusto e suas narrativas dependem em muito de antigos historiadores, agora perdidos, e estes mesmos escreveram no século II a .C , ou mesmo depois. Estas são as prin cipais fontes de que provêm as linhas gerais de nossa imagem; outras contribu em, às vezes crucialmente, como moedas com imagens religiosas, fontes arqueo lógicas e topográficas de Roma e arredores, inscrições, cópias do Calendário romano do período de Augusto, etc. Contudo, estas fontes são oriundas de sacerdotes ou são documentos oficiais de um tipo ou de outro. Estes documentos geralmente não expressam a experiência das massas romanas, mas a atividade religiosa que afetava o Estado e suas atividades.
A religião romana que conhecemos é baseada num corpo limitado de material. Este material nos mostra a escassez de intervenções divinas diretas, de grandes mitos de atividades divinas e mesmo de "profetas". Não que falte material divinatório, de um tipo ou de outro, mas este não toma a forma de indivíduos inspirados a dizer a verdade ou predizer o futuro. O que encontramos são grupos de sacerdotes - tanto arúspices (supostamente importados da Etrúria) ou sacerdotes que guardavam os Livros Sibilinos (sucessivamente dois, dez e quinze homens para sacrifícios, os quindecimviri), que emanavam oráculos de seu conhecimento respectivo ou arquivados para guiar o ritual em Roma. Eles reportavam essencialmente o que os deuses pediam em forma de sacrifícios ou outros rituais.
Nossa principal preocupação aqui é com as áreas da vida religiosa sobre a qual temos uma quantidade maior de informação, de um tipo ou de outro - rituais, festivais, atividades religiosas na vida política, prédios religiosos e santuários. As fontes para o estudo da religião romana, então, são variadas e nos dão uma imagem, principalmente, das atividades da elite social do mundo romano, mais da atividade pública do que da privada. Surge, porém, uma pergunta: o quão completa é esta imagem? Podemos argumentar que o que é permitido ver nas fontes liga-se quase sempre ao setor público de atividades, e que esta era a área que interessava à comunidade como um todo e que o homem antigo, ao contrário do moderno, não percebia a si mesmo como um ser isolado. Esta versão minimiza a importância da expressão religiosa privada, mas tem a vantagem de não projetar imediatamente, no mundo antigo, uma certa consciência moderna de vida religiosa. Uma versão alternativa é a de que todas as sociedades têm certos tipos de elementos religiosos comuns e que um deles é a experiência emocional, pessoal, em relação aos poderes sobrenaturais que controlam o universo - e o correspondente
138 RELIGIÃO NA URBS
desejo de influenciá-los. Nesta versão, se não ouvimos a experiência individual, nossa imagem é incompleta. Enfim, há várias questões que devemos terem menir num estudo da religião romana: as fontes disponíveis nos permitem uma ima-!'rm satisfatória da religião romana? Elas nos permitem conhecer a vida religiosa «la sociedade como um todo ou apenas das elites? Poderia a experiência religiosa que escapa de nossa documentação ser tão importante que sua ignorância viciaria nosso conhecimento sobre a sociedade romana ou seu conhecimento não modificaria substancialmente esta imagem?
O princípio fundamental pelo qual a religião romana costuma ser interpretada é o de que os romanos formavam uma sociedade conservadora incomum. Até certo ponto, isto é verdadeiro: podemos, e.g., mostrar que alguns dos rituais arcaicos eram ainda praticados regularmente no século I a . C , e mesmo depois e, se eles reproduziam os rituais ano após ano, é possível que tenham mudado pouco através dos tempos. Uma das consequências deste supostamente estranho desenvolvimento da religião romana é que teria posto toda a sua ênfase não nos deuses e nos mitos, mas sim nos rituais e na sua correta execução. Uma combinação de excessivo ritualismo e seu domínio por colégios sacerdotais, cujo propósito principal seria a fixação e a repetição das ações rituais, conduziria todas as negociações com os habitantes do mundo divino, cujo favor podia assegurar aos romanos 0 sucesso na guerra e na paz. Assim, esta teoria tradicional apresentava a imagem geral de um tipo muito negativo de religião, uma religião que teria sua validade nos primeiros tempos, antes ou na época da fundação da cidade, mas permaneceu sempre "primitiva", sem alterar suas raízes agrícolas e pastoris; sempre teria sido dominada pela repetição de fórmulas, que se tornavam cada vez mais sem sentido e se tornavam dis tante da exper iência concreta . Par t indo deste suposto conservadorismo, os estudiosos do século XIX e início do século XX desenvolveram teorias que explicavam as características do sistema religioso romano com base na ideia de que ele reteve uma especial "romanidade" que podia ser traçada desde tempos remotos. Esta ideia era combinada com uma teoria derivada particularmente da antropologia da virada do século XX, que ligava a experiência religiosa romana a um estágio comum chamado "animismo", no qual o ritual não era destinado aos deuses conhecidos em períodos posteriores, mas a poderes naturais ou em atividade na natureza - trovões, árvores, etc. Segundo tal teoria, estes poderes abstratos aos poucos se tornaram mais próximos à forma, mesmo ao comportamento humano, podendo ser representados em estátuas e outras formas artísticas e se tornando protagonistas de lendas e aventuras. Em outras palavras, tornaram-se, progressivamente, mais parecidos com os deuses que associamos aos gregos e outros povos antigos e modernos.
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 139
Esta teoria parecia, em seu tempo, muito esclarecedora sobre a experiência dos romanos arcaicos em particular, e a ideia de uma fase "pré-deísta" tornou-se parte normal do vocabulário do debate sobre o assunto, ainda tendo seus seguidores. Como uma questão passiva, os romanos pareciam ter tido um longo período durante o qual não fizeram representações de seus deuses, e este período se estenderia até cerca de 575 a .C , que, de fato é aproximadamente a data em que a influência etrusca passou a ser mais visível em Roma. Como resultado, esta teoria tornou solidamente estabelecido que o conservadorismo romano levou a uma história religiosa muito peculiar. Os romanos teriam retido por muito tempo o caráter "animista" de sua religião primitiva e somente sob a influência de seus v iz inhos e t ruscos e gregos começaram a at ingir o próximo estágio, o antropomorfismo, isto é, a perceber os deuses numa forma humana, mas teriam atingido o "nível" dos gregos.
É sempre uma situação perigosa quando uma teoria se torna tão estabelecida que passa a ser imune às críticas; a teoria acima delineada tem uma longa história, e seus detalhes, decerto, não podem ser comentados aqui, por vários motivos. Atualmente, pouco ou quase nada dela é aceito sem reservas. Em primeiro lugar, porque o esquema evolucionista do desenvolvimento religioso já foi abandonado, e.g., pelos antropólogos e pelos historiadores. Ao mesmo tempo, porque as pesquisas arqueológicas demonstram cada vez mais que, mesmo nos primeiros tempos, Roma estava longe de ser uma comunidade isolada, desenvolvendo suas próprias tradições. Os romanos mantinham estreitos contatos com outros povos que, indubitavelmente, influenciaram seu desenvolvimento cultural. É também abusivo dizer que a cultura romana fosse completamente dominada ou controlada pelos etruscos ou por qualquer outro povo, mas sim eram todos participantes de interações culturais entre si e com outras partes do mundo mediterrânico. Há muitos indícios de que a ideia de uma tradição romana pura, não afetada por influências estrangeiras, deve ser tratada como um mito moderno e não como uma realidade romana. Os mitos da Roma primitiva nos oferecem um certo número de provas de que a religião dos romanos era menos "anormal" do que pensamos ter sido. Mas também é verdade que o reino público da atividade parece mais importante e mais desenvolvido do que a vida religiosa dos cidadãos tomados individualmente e relativamente mais importante do que nas modernas sociedades.
Deuses e Homens As interações entre deuses e homens eram constantes na urbs, quase sempre
através da ação ritual. Há poucos, se é que há algum, incidentes de que tenhamos conhecimento, de que os deuses interviessem diretamente nos assuntos humanos, mudando os acontecimentos ou aparecendo em forma visível, mas não é correto pensar que vivessem afastados dos assuntos humanos. De certo modo, os deuses estavam sempre presentes, não somente como estátuas em seus templos, mas nas ruas, nos jogos, nas ocasiões públicas, nos eventos especiais. Neste sentido, os deuses romanos eram também cidadãos, participando de seus triunfos e derrotas e de seus rituais. Certamente, todas as ações importantes do Estado envolviam rituais, tanto em forma de auspícios como de sacrifícios; uma vitória, e.g., era celebrada por uma procissão, o triunfo, no qual o exército e seu general desfilavam pela cidade para sacrificar a Júpiter no Capitólio; e o Estado definia suas relações com os cidadãos divinos por juramentos regulares em que se prometiam recompensas em troca do apoio divino (BEARD, M. NORTH, J.A.; PRICE, S.R.F. 1988:32-5).
Ninguém duvida de que rituais de vários tipos eram uma parte crucial nas interações entre deuses e homens na religião romana. Rituais marcavam todos os eventos públicos e celebrações; alguns deles podem ser classificados como ocasiões religiosas propriamente ditas - festivais anuais, a realização e o cumprimento dos juramentos, os aniversários das fundações de templos, etc. Outros, como seculares - as eleições, as assembleias, o censo dos cidadãos romanos; outros, ainda, podem variar segundo os critérios adotados: os jogos , as performances dramáticas, que tinham elementos rituais em seu programa, mesmo que tivessem também o entretenimento entre os seus propósitos. Mas temos em mente que estas distinções são problemas de interpretação nossos; os romanos não pareciam ver na existência de diferentes tipos de rituais algo problemático per se. O programa dos rituais era complexo e muito articulado, e podemos inferir alguns dos princípios pelos quais eram realizados. Dois pontos são claros: primeiro, que o sacrifício era feito estritamente segundo regras e tradições, que necessariamente tinham de ser respeitadas; segundo, que a habilidade dos sacrificantes permitia a comunicação entre homens e deuses.
Outro meio regular de trocas eram os prodígios e a sua interpretação. Um prodígio era um evento extraordinário, considerado contrário à ordem natural e sinal de um desequilíbrio entre as relações homens-deuses. Os prodígios são muito importantes para a compreensão da religião romana, por muitas razões. Uma de-IÍI«Í é nomue lais eventos e seus resultados são inuilo presentes nos textos que nos
chegaram de Roma; OUtra é a própria precisão com que conservavam as listas cie prodígios. Sabemos, por exemplo, que estas listas derivavam de Tito Lívio ou de Júlio Obsequens, cuja obra preservou as listas por muito tempo após o texto de Lívio estar perdido. Além disso, os prodígios estavam envolvidos, de um modo ou de outro, com quase todos os grupos que tinham influência na tomada das decisões estatais - os colégios sacerdotais, o Senado, os magistrados, mesmo ocasionalmente o povo nos comitia. Os prodígios nos dão ótimas informações sobre como estes grupos cooperavam e o papel que tinham nas decisões estatais. Um fato, porém, é que as fontes que temos não são explícitas sobre a natureza da conexão entre a ocorrência do prodígio, as predições que deviam ser baseadas nele e as ações {remedia) realizadas para minimizar os danos implicados pelo prodígio. O discurso De haruspicum responso, de Cícero, inclui não só uma lista de ações que deviam ser tomadas e das divindades que deviam ser aplacadas, mas também das ofensas humanas que podiam ter causado o distúrbio. Se esta resposta serve como um modelo para as outras das quais não conhecemos os detalhes, podemos reconhecer uma série de falhas humanas, de eventos que eram vistos como excedendo os limites naturais, e deuses que exigiam reparação.
Os Jogos {Ludi), provavelmente, remontam aos primeiros tempos de Roma, pelo menos em duas versões, os Ludi plebeii e os Ludi Romani, que foram estabelecidos na República arcaica, mas outros tipos e mais dias foram acrescentados progressivamente na República tardia, chegando a mais de cinquenta (BEARD, M . , NORTH, J.A., PRICE, S.R.F:263). Incluíam competições e divertimentos; havia vários tipos de corridas, dramatizações e mimos, lutas de gladiadores e animais selvagens (SCULLARD, H. H. 1981:183-6). Ninguém duvidaria de que sua popularidade e a multiplicação de seus dias foi resultado do apelo dos divertimentos que eram oferecidos, mas os jogos jamais perderam seu aspecto ritual: os deuses desciam de seus templos para assisti-los e havia rituais religiosos realizados, inclusive representados perfeitamente para que a cerimónia fosse bem-sucedida. E tinham de ser repetidos, caso houvesse algum erro. Havia, inclusive, um colégio especial de sacerdotes, criado em 196 a .C , cuja obrigação era supervisionar os jogos e as cerimónias religiosas a eles relacionadas, os epulones.
142 RELIGIÃO NA URBS
( O L K G I O S S A C E R D O T A I S R O M A N O S
Os qua t ro maiores colégios sacerdotais , consultados regularmente pelo Senado: Pontífices: Composição: 9 membros desde 300 a .C : cinco plebeus e quatro patrícios, aumentados para 15 membros por Sila; os membros eram cooptados pelo colégio até a lex Domitia e novamente por Sila, até 63 a . C ; em outros momentos, eram eleitos por 17 das 35 tribos. Líder: pontifex maximus, que falava pelo colégio no Senado, escolhia e disciplinava os membros adicionais. Membros adicionais: Flamines - três maiores - Dialis, Martialis, Quirinalis - e 12 menores; Rex sacrorum (1 - sucessor do rei original); Vestais - seis, que serviam por trinta anos, a partir da infância. Funções: aconselhar o Senado sobre todos os assuntos referentes aos sacra; aconselhar o povo em temas da lei sagrada, incluindo a lei dos mortos; supervisionar os assuntos da lei familiar (adoção, herança, e t c ) , manter os registros do Estado. Augures: tinham o mesmo número dos pontífices, mas sem membros adicionais. Eleição/cooptação, como os pontífices. Funções: supervisores e conselheiros sobre os rituais e procedimentos concernentes aos auspícios. Tres/septemviri epulones: colégio criado com três membros em 196 a . C ; aumentado para 7 membros por Sila; eleitos/cooptados como os pontífices. Função : supervisão dos Jogos regulares em Roma. Duo/decem/quindecimviri sacris faciundis: originalmente 2; 10 a partir de 367 a . C ; 15 após Sila. Eleição/cooptação, como os pontífices. Funções: manutenção e, somente quando solicitado pelo Senado, consulta aos Livros Sibilinos Colégios sacerdotais ocasionalmente consultados pelo Senado: Fetiales: 20 membros, que lidavam com temas de relações internacionais: guerra, paz, tratados, etc. Haruspices: existe uma lista de 60 membros. Este colégio não é romano; são especialistas na arte etrusca dos prodígios e adivinhações.
Colégios sacerdotais que são e ram consultados pelo Senado: Salii: dois grupos de doze membros cada, que dançavam e cantavam na cidade nos Festivais de Março e Outubro. Luperci: dois grupos, cujo número de membros é desconhecido, que corriam pelas ruas da urbs no Festival da Lupercália, batendo nas pessoas com chicotes de pele de cabra. Fratres Arvales: doze membros, que cuidavam da manutenção do culto da Dea Dia, numa gruta fora de Roma: envolveram-se muito com o culto imperial posteriormente.
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 143
Percebemos também, nas diversas fontes, a relação estreita entre o templo e o teatro. A associação entre o templo e algumas formas de representações públicas remonta aos primeiros tempos de Roma, pois vários templos tinham um teatro ligado a eles ou em frente deles. Sua forma arquitetônica parece refletir o fato de que as primeiras representações aconteciam num teatro construído de madeira para uma ocasião particular. Sem dúvida, os deuses, então, apareciam nos degraus em frente de seus templos para assistirem à representação. Para exemplificar, quando Pompeu, em 55 a .C , terminou a construção do primeiro teatro permanente, este foi incorporado ao templo dedicado a Vénus Victrix, respeitando a associação tradicional entre teatro e templo. A construção e a manutenção dos templos era um dos principais meios pelos quais o contato entre homens e deuses era mediado. Esta era, além disso, uma atividade na qual uma grande quantidade de recursos era investida. Em particular a criação de novos lugares sagrados, sejam templos propriamente ditos ou santuários com um altar, era tema de interesse público e conflito potencial. Cícero aponta duas ocasiões em que tentativas de dedicação foram canceladas pelos pontífices, com base em que não foram aprovadas pelos comitia {De domo sua, 1 3 6 ) . Muitos templos do período republicano resultaram de promessas de generais em batalhas, que muitas vezes conduziam os contratos e a cerimónia de consagração, mas eram ocasiões oficiais controladas pelos sacerdotes e pelo Senado e, com o tempo, o espaço urbano se transformou pelo número crescente desses templos, em posição proeminente e muitas vezes agrupados em colunatas. Eles serviam não apenas como uma imagem visível do domínio romano sobre o Mediterrâneo, mas da contribuição de novos e antigos deuses em cada estágio dessa conquista.
Podemos ver, então, o quanto os romanos eram cuidadosos e preocupados com sua vida religiosa. Esta preocupação se manifestava em diferentes níveis de atividade, como nas construções e nas inovações no espaço público religioso: os grandes nomes da vida política na República tardia e no início do Império se envolveram em grandes construções (BEARD, M., NORTH, J.A., PRICE, S.R.F: 121-25). Quanto a isto, radicavam na tradição das gerações anteriores, porém construindo numa escala espctacular. Nesta expansão e reconstrução de Roma, templos e monumentos religiosos tiveram um papel predominante. Em termos gerais, um magnífico dispêndio de tempo, dinheiro e esforço foi posto em monumentos religiosos tanto antes como depois da "queda da República" e do estabelecimento do novo regime. Não é exagero dizer que a competição entre os líderes políticos da República tardia travou-se, em grande medida, em termos da linguagem religiosa.
I l l RF.LICÍIÃO NA URBS
Política e Religião: Inovação e Conservadorismo Quando observamos as relações entre política e religião, há algumas questões
que devem ser discutidas. Sem dúvida, a religião encontrava-se profundamente envolvida na vida política romana em todos os períodos. Seria inevitável, pois os rituais religiosos estavam intimamente ligados com as demais atividades de guerra e paz. Assim, e.g., a aprovação de uma lei ou a eleição de um magistrado eram atos que envolviam a tomada dos auspícios; a validade destes auspícios era jurisdição dos augures, responsáveis pelo sistema especial de regras que os controlavam, o ius augurale (LINDERSKI, J., 2146-312). A questão em jogo não é a existência desta relação, mas o modo como era usada. A forma extrema da hipótese tradicional de "declínio da religião romana" na República tardia implicava o uso da religião puramente para se obter vantagens políticas. De fato, há duas variações possíveis desta ideia: primeiro, a de que toda a elite romana era completamente céptica e que conspirava para iludir os demais segmentos da população; em segundo lugar, a ideia de que a população romana como um todo era céptica e a religião era entendida por todos como um conjunto de regras mantidas somente para uso em conflitos políticos. A segunda versão é completamente improvável, principalmente porque os membros da elite política geralmente falavam em público com um cuidadoso respeito pelos deuses, e a primeira visão, a da "teoria da conspiração", não pode ser facilmente refutada e tem, no mínimo, o apoio de uma famosa passagem de Políbio, falando da Roma que conheceu nos anos 140 a . C . Nela, Políbio declara que os romanos eram superiores aos gregos precisamente porque os líderes romanos faziam aquilo que os gregos esqueceram: usar as superstições das massas para mantê-las submissas. Ao mesmo tempo, percebemos que o próprio Políbio apresenta uma outra imagem, em contraste com a anterior, ao declarar que os magistrados romanos sempre mantinham seus juramentos ( L . V I , 5 6 . 6 - 1 4 ) . Assim, não apenas as massas, mas, também, os magistrados demonstravam respeito pelas obrigações religiosas; para Políbio, um respeito superior ao demonstrado por seus contemporâneos gregos.
A imagem de religião que percebemos, então, não corresponde a uma ideia de declínio da experiência religiosa. É claro que há várias indicações que sugerem que os agentes políticos romanos contavam com a religião e com os deuses como fatores importantes na determinação dos eventos e na garantia de suas reivindicações de autoridade e comando. Do mesmo modo, há mudanças profundas neste momento; talvez elas não fossem causadas por atitudes religiosas, mas encontravam seu modo de expressão nas competitivas atividades religiosas de indivíduos poderosos. De fato, a religião era uma das expressões, e das mais visíveis, da
REPENSANDO O IMPÉRIO ROMANO 145
ideologia ila elite romana, de suas técnicas de manutenção e/ou limitação do po der de indivíduos e de grupos políticos. Ao mesmo tempo, eram os rituais que garantiam as relações entre os dois grupos, homens e deuses. Garantir os ritos representava a certeza da manutenção da sociedade como a queriam: ordenada e segura. Ao respeitar as regras de comportamento, como o respeito aos deuses, sobretudo em seus espaços, ao curvar-se sob a autoridade dos rituais, o cidadão garantia a ordem social, e a pax deorum e as práticas que acarretavam a transgressão à ordem vigente podiam levar a sociedade ao caos e à desagregação. A concórdia entre homens e deuses é a garantia da ordem romana.
Uma das características mais visíveis da atmosfera religiosa romana, porém, era uma abertura às inovações e ajustes em todos os períodos sobre os quais temos informações. Havia mesmo mecanismos regulares para facilitar e regular esta abertura, ao mesmo tempo, contudo, valorizavam as tradições e o mos maiorum, acreditando que somente a escrupulosa retenção das práticas e rituais podia agradar às divindades. Uma das soluções do paradoxo talvez seja notar que muito do que chamamos de inovação não foi percebido como tal por seus contemporâneos. O papel dos Livros Sibilinos, por exemplo, pode ter garantido que quaisquer cultos ou práticas recomendados não eram realmente "novos", mas apenas o reconhecimento de um poder que desde sempre foi poderoso. Em um ou dois casos temos uma imagem mais substancial do que esta continuidade pode ter significado. O culto da Magna Mater nos provê um bom exemplo: o culto foi uma inovação dramática, mas o título e a localização do novo tempo faziam com que ela não fosse uma deusa nova e estrangeira, mas simplesmente a Mãe do Monte Ida, uma montanha próxima de Tróia. Foi para Ida que se dirigiu Enéas após a destruição de Tróia e dali iniciou seu périplo que o levaria ao Lácio, onde seu filho fundaria Alba Longa, a predecessora de Roma. Então, se o culto era novo num determinado sentido, em outro tinha estreito contato com profundas raízes da identidade romana (WISEMAN, T. P. 1985:117-28).
O que se seguiu nas décadas subsequentes ao assassinato de César traz outro problema de interpretação, que pode ser tratado de vários modos. O que não pode ser posto em dúvida, contudo, é que Augusto, o primeiro dos príncipes, usou seu poder de modo efetivo e cauteloso, criando uma posição que jamais existira sob a República. Ele se tornou membro de todos os colégios sacerdotais. A Ara Pacis (ca. 12 d.C.) provavelmente o representa em seu novo papel de pontifex maximus, liderando os demais sacerdotes em procissão. Se esta interpretação for correta, ela representa a nova e revolucionária ordem religiosa do período imperial e todos os seus sucessores foram também pontifex maximus até o século IV d.C. Olhando por este prisma, contudo, muito pouco é percebido sobre os procedi-
146 RELIGIÃO NA URBS
mentol d o s g r a n d e s colégios, m e s m o q u e s a . b a m o s q u e e l e s c o n t i n u a r a m a Punci onar e a r e c e b e r n o v o s m e m b r o s .
Ara Pacis Augustae - Parede esquerda Fonte:http://wings.buftalo.edu/AandL/Maecenas/ rome/ara_pacis/section_contents.html
Mais importante do que a aquisição formal do ofício sacerdotal foi a mais informal, porém inequívoca, posse de todas as iniciativas religiosas peloprinceps. Augusto tomou a si a responsabilidade da restauração de templos e da construção de novos. A ele é atribuída a restauração de algumas instituições perdidas para nós. Os detalhes podem não nos ser muito claros, mas o significado geral é: uma vez que o detentor do poder religioso é o mesmo indivíduo que mantém o controle político do novo regime do Império, rapidamente ele se tornou o "cabeça" da religião do Estado e suas ações cada vez mais refletem esta posição.
Outros acontecimentos mostram mais dramaticamente a direção que a religião tomava neste período. Dois cultos maiores, um dos quais especialmente associado com Augusto e o outro - o mais central de todos os cultos romanos -foram postos em estreita associação com a própria casa do princeps no Palatino. O templo de Apolo foi construído adjacente a ela, e o novo templo de Vesta foi a ela incorporado (BEARD, M., NORTH, J.A., PRICE, S.R.F: 189-91; 199-201). A razão para tal foi que a residência tradicional do pontifex maximus localizava-sc no Fórum, perto do antigo templo de Vesta. E difícil imaginar um gesto que resuma mais claramente a situação do que transferir o coração religioso de Roma para a domus do imperador-sacerdote.
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 147
Os Jogos Seculares do período augustano provem exemplos interessantes o processo elc conservação e inovação. Hram apresentados como parle da scc|tirii cia de celebrações que deveriam ocorrer apenas uma vez em cada século. A data em que Augusto os celebrou (17 a .C) , de modo a marcar o início de uma c i a nova e melhor para a humanidade, não visava à contagem tradicional do tempo, mas uma nova contagem, a partir de uma criativa releitura da história. Percebemos, também, que os próprios rituais foram fundamentalmente alterados em relação a sua versão republicana. Pouca coisa é clara nesta "colcha de retalhos" que são os relatos que temos dos primeiros tempos; mas sabemos que os destinatários do ritual eram divindades infernais - primeiramente Dis Pater e sua rainha, Prosérpina. Na versão augustana, estes deuses foram substituídos por Júpiter, Juno, Apolo e Diana; a Ode (carmen saeculare) escrita para a ocasião, por Horácio, mostra que o ritual foi bastante transformado. Detectamos, porém, certa continuidade nos rituais e nos sacerdócios, com fórmulas e tradições que remontavam aos primeiros tempos. Encontramos algo na tradição sibilina que pode ter contribuído para o programa de 17 d . C : por exemplo, os coros dos Jogos Seculares tinham precedentes em outros rituais recomendados pelos Livros. Novamente aqui, a intervenção de um oráculo pode ter sido a chave que permitia as modificações sem que os part icipantes reconhecessem o fato como tal, mesmo se os organizadores combinassem diferentes passagens de rituais.
Se parte da história religiosa romana consiste em uma negociação entre mudança e acomodação da mudança, o outro lado da moeda não pode ser negligenciado. Se novos elementos constantemente chegavam, antigos elementos eram frequentemente omitidos ou esquecidos; este processo é muito mais difícil, para nós, de acompanhar, posto que as inovações são mais documentadas em nossas fontes, enquanto as perdas não são bem documentadas, talvez por um desejo de vê-las restauradas. Tendo ou não documentação para tratá-las, é possível que sempre tenha havido um incessante fluxo de antigos ritos caindo no esquecimento e novos ritos entrando em prática. Mesmo que nada possamos comprovar, mas apenas inferir, temos duas notícias indiretas deste fluxo.
A chamada "renovação augustana" vem sendo relacionada com a teoria do declínio da religião na sociedade romana, e por isso o princeps teria tentado restaurar o edifício da religião tradicional. Vemos, porém, a ação de Augusto radicando do mesmo movimento de outros antes dele, como uma parte regular no ciclo da vida religiosa. A ação de Augusto está, evidentemente, em estreita conexão com episódios de restauração e especialmente com as recorrentes observações de que as tradições ancestrais estavam sendo perdidas ou abandonadas. Este é um tema central nos livros de Varrão sobre a religião romana. Ele e Cícero -
148 RKLIGIÃO NA URBS
especialmente no De OJficiis reclamaram da negligência da el i te e m r e l a ç ã o aos r i tos tradicionais e outras atividades religiosas. É difícil resistir à ideia de um declínio da religião romana e pensar em termos de um lugar-comum detectado na literatura em outras datas. Após as guerras civis dos anos 40 e 30 a .C , este tema se tornou gritante.
O caso mais famoso neste ponto foi o intervalo de quase setenta anos na nomeação àoflamen Dialis, desde a morte do último sacerdote em 86 a .C . Sabemos que um sucessor fora nomeado, mas aparentemente não fora inaugurado. Um novo sacerdote só foi inaugurado nos anos 20 a .C , sob Augusto. Este evento, para além de outros, foi celebrado no grande friso da Ara Pacis, mostrando Augusto na frente e os quatro flamines o seguindo (TORELLI, M. 1982:43-4; ELSNER, P.T 1991). A mensagem é a de que o dano causado pelo lapso foi afastado pelo novo pontifex maximus. Em outras palavras, acreditamos que, para o novo regime, a ideia de um declínio da religião no passado era um apelo útil e tangível, permitindo-lhes restaurar os sacerdócios, os rituais esquecidos, os templos: os deuses ficariam satisfeitos e tudo estaria em paz.
Se para os contemporâneos tratava-se de uma oportunidade que não podia ser perdida, esta percepção da religião romana foi dramaticamente interpretada pelos modernos. Dos primeiros trabalhos publicados sobre o tema no século XIX, tor-nou-se um postulado não discutido que a religião romana no início do principado estava declinante e que o "renascimento augustano" estava fadado ao fracasso. Somente no final do século XX, este tema foi rediscutido e diferentes interpretações da religião romana surgiram; especialmente, uma das maiores inovações do nascente principado que marcou fortemente a ideia do declínio da religião romana, foi vista sob nova luz. A novidade foi o desenvolvimento do chamado "culto imperial" no final da República e do início do Império. Tanto o caráter deste culto como a história de seu desenvolvimento são altamente controversos. Alguns estudiosos acreditaram que uma nova força religiosa se impusera mesmo que uma nova religião teria sido criada. Esta ideia tem de ser tratada com um certo ceticis-mo. Primeiro, porque não temos informações que demonstrem que o culto fora organizado, e muito menos imposto, a partir do centro do Império (BICKERM AN, E.J-.1973; PRICE, S.R.F:1984); havia variações locais em grande número, com o sem o consentimento central. Em segundo lugar, é difícil avaliar o quão nova ou controversa seria a inovação; em muitas áreas do Império, o culto ao soberano era algo tradicional. É tentador dizer que o culto do imperador é mais um problema dos modernos do que dos antigos.
Houve, certamente, áreas de atrito. Por exemplo, judeus e depois os cristãos, como monoteístas, não podiam aceitar a inclusão de deuses e cultos sem graves
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 149
tensões. C o m o resultado, o s judeus sacrificavam em prol do imperador e não para o imperador, e os cristãos se recusavam a participar de qualquer sacrifício pura e simplesmente (GORDON, R. 1990). Se pensarmos que os altares ao imperador eram colocados muito próximos ao tribunal do magistrado que ouvia os seus casos, era um sacrifício simbólico ao imperador que geralmente se pedia como prova de sua lealdade a Roma.
Outra área de tensão parece ter sido a atitude de alguns membros da elite romana, que tinham claras dificuldades, ou pelo menos ironia, de aceitar que se tratasse um homem como a um deus. Este fato não é simples de interpretar, como pode parecer à primeira vista. O mais famoso ensaio sobre este tema é uma sátira de Séneca, provavelmente escrita no início do reinado de Nero, aApocolocyntosis do Divino Cláudio. A sátira tem como objeto o falecido imperador e recém-deifi-cado Cláudio, e pode ser lida como um ataque a deificação dos governantes em geral. Mas, de fato, a sátira é mais complexa do que parece numa leitura superficial. Séneca apresenta discursos de muitos deuses reunidos em seu próprio Senado; mas o principal ataque ao pretenso novo deus não provém de Júpiter ou de outros deuses tradicionais de Roma, mas do próprio Divus Augustus, que investe contra a ideia de deificar Cláudio, não no sentido de ser ridículo deificar um ser humano, mas porque Cláudio seria um homem por demais ridículo para ser honrado com a divinização.
Para a maioria da população do Império, não parece ter havido maiores problemas para aceitar que o imperador pudesse ser tratado como um deus, e vemos somente alguns esforços espasmódicos dos imperadores no sentido de rejeitar tais ofertas rituais. Parece-nos que apenas em Roma os pruridos eram maiores neste sentido. Houve mesmo o desenvolvimento da crença de que a apoteose só ocorria após a morte do imperador e somente para alguns, e não para todos indistintamente. Há mesmo indícios de testemunhas que atestavam no Senado - onde era aprovado o ritual de apoteose - a subida da alma do imperador falecido aos céus na forma de uma águia. Em outros casos, o imperador morto não era divinizado nem recebia o culto póstumo. Após César e Augusto, Cláudio foi o primeiro a ser deificado, sendo Tibério e Caio omitidos, como também o foram Nero e Domiciano. Quatorze imperadores foram divinizados entre Augusto e Caracala (PRICE, S.R.F. 1987:56-105). A distinção entre os deuses, os Divi (os mortos deificados) e o imperador vivo e sua esposa (os ainda não divinizados) é cuidadosamente marcada nos registros de sacrifício apresentados por S.R.F. Price (1987:93):
"...uma coruja para Júpiter, uma vaca para Juno, uma vaca para Minerva, uma coruja para Divus Augusto, uma cava para a Diva Augusta
150 RELIGIÃO NA URBS
(i.c. Lívia), uma coruja para Divus Cláudio, uma vaca para Diva Popéiã Augusta, um touro para o génio do imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico (i.c, Nero), uma vaca para a Juno de Messalina (i.c., a esposa de Nero)." Vemos que a lista segue uma ordem bastante coerente: primeiro, os deuses
tradicionais; depois, os Divi; em terceiro, o Genius e a Juno do imperador vivo e de sua esposa. Parece, então, ter havido um cuidadoso respeito pela regra de que os governantes vivos não recebiam sacrifícios diretamente como deuses; e que 08 sacrifícios às suas essências divinas ocupavam o último lugar na ordem ritual. Não temos, porém, motivos para pensar que esta precisão era respeitada fora do contexto da urbs. Para os especialistas, estas distinções são de grande importância; mas claramente elas pertenciam a Roma e a instituições romanas tradicionais, como o exército, e não havia motivos para a sua imposição às províncias. Assim, podemos concluir que temos motivos para afirmar que em fins da República e no primeiro período imperial, um grande nível de fluidez e criatividade era aceitável em relação aos deuses, deusas e rituais em Roma.
Os Romanos e os "Outros"
É fácil pensar que a religião romana fosse essencialmente tolerante com outras formas de atividade religiosa. Se os romanos aceitaram uma série de cultos distintos em sua cidade ao longo do tempo, parece seguro concluir pela tolerância de sua atitude religiosa. Mas há observações a fazer, antes de chegarmos a qualquer conclusão. É nítido que, se eram tolerantes, esta não era uma tolerância de princípio. Parece-nos que os romanos toleraram o que não lhes parecia perigoso e eram intolerantes quando algo lhes parecia perigoso. Eles não viam maiores perigos em muitos cultos contemporâneos, e muitos deuses, deusas e ritos se assemelhavam aos seus.
Isto se tornou muito claro nos anos 180 a .C , quando se depararam com um culto, o de Baco, que, com certa razão, decidiram tratar como uma ameaça à sua própria ordem. Nosso conhecimento desta questão é baseado num texto de um decreto do Senado regulando o culto e num longo relato de T. Lívio (39. 8-I1)). Uma imagem do que aconteceu emerge destas fontes. O culto, evidentemente, não era novo. Tinha profundas raízes e estava intimamente relacionado, na Itália, a um culto tradicional, o de Líber Pater. Mesmo a forma particular do culto de Baco encontrado nos anos 180 já estava obviamente muito bem-estabelecida. Aparece como um culto familiar no teatro de Plauto, em peças representadas
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 151
muito antes dos anos 180, e a arqueologia demonstra que as autoridades romanas tinham conhecimento do culto antes de sua perseguição (BEARD, M., NORTH, J.A., PRICE, S. R. F.:93). Mesmo o decreto destinado a controlar o culto contém uma cláusula particular para estabelecer o que aconteceria se um grupo báquico particular possuísse um santuário com objetos sagrados nele.
Em Lívio, trata-se de uma narrativa de como o cônsul do ano 196, em sua ingenuidade e persistência, descobriu a conspiração, e sobre as dramáticas ações para suprimi-la não somente na cidade de Roma, mas em toda a Itália (esp. 14-15). Tal perseguição foi, pelo que sabemos até o momento, algo sem precedentes em Roma, implicando a percepção, pelas autoridades, de uma grande ameaça no caráter do culto. Mas de que ameaça se trataria?
Há várias hipóteses. Uma delas diz que não se tratou de uma crise religiosa propriamente dita, mas de um caso de ação policial contra uma conspiração. Outra é que o culto foi visto como uma influência estrangeira no período em que os romanos suspeitaram da influência grega em sua cultura. Estas teorias não são necessariamente erradas, mas nos parecem inadequadas para explicar tanto a magnitude da ação romana quanto o ataque a um culto previamente aceito.
O indício crucial está no decreto do Senado, que chegou até nós numa placa de bronze, se endereçando não às próprias comunidades romanas, mas a uma das cidades aliadas. As regras nele contidas se referiam à estrutura dos grupos nos quais a organização do culto estava evidentemente baseada. Ele proibia aos grupos ter líderes ou sacerdotes masculinos, ou um tesouro do grupo, ou juramentos ou fiéis. Ele também restringia o tamanho dos grupos e a estrutura de seus membros (NORTH, J. A.: 1979, GRUEN, E. S.:1990). Isto só faz sentido em dois casos: a) o Senado estava banindo uma organização de que tinha conhecimento na Itália; b) não estavam lidando com uma irrupção selvagem de fanatismo descontrolado, mas com um culto bem-estabelecido e organizado. Se a segunda opção for procedente, não há necessidade de invocar nem a influência estrangeira (é possível que o culto tivesse raízes locais), bem como não se trataria do temor de uma atividade criminosa, apesar de serem, ambas, duas boas armas numa guerra de propaganda que pode ter se dado contra um perigoso inimigo político-religioso.
A existência de grupos tais como esse implica uma mudança maior na cultura religiosa da Itália neste período. Os documentos deixam claro que o culto estava muito disseminado, inclusive na própria Roma, no Lácio, na Etrúria e na Itália central e do sul. Neste momento, a Itália estava longe de ter um único povo, ou uma única cultura, e as implicações do caso podem estar nas linhas do controle polílico-social. As autoridades romanas estavam familiarizadas com o la lo dc que a religião s egu ia e expressava as l inhas principais da e s t ru tu ra soc ia l . O s
cultos públicos eram organizados pelo Estado, os cultos familiares pelos chefes de família (sempre homens), os cultos de seções particulares da cidade ou das províncias pelas autoridades locais, e as associações baseadas na profissão ou na vizinhança, por seus próprios líderes. Mas aquilo que nos é mais familiar cm termos de organização religiosa, sejam seitas ou religiões, i.e, pessoas reunidas porque comungam da mesma crença religiosa, é algo virtualmente desconhecido pelas cidades do mundo romano. Então, não havia nenhum sistema de poder alternativo, consistindo em igrejas ou sacerdotes ao largo das assembleias e conselhos políticos. A organização dos grupos báquicos deve ter ameaçado aos romanos também por trazer uma nova e perigosa forma de poder.
A analogia com a futura perseguição aos cristãos não deve ser feita de modo imediato. Não há motivos para pensar que os seguidores de Baco fossem hostis a deuses ou rituais das sociedades de que faziam parte. Eles não rejeitavam os sacrifícios, nem viam os deuses como demónios e, como se pode presumir, não tinham qualquer problema em executar os rituais tradicionais ou em respeitar outros deuses que não o seu. Mas a ameaça que representaram foi real. Tito Lívio, mesmo distante dos eventos, nos dá uma ideia do que estava em jogo, num discurso que atribuiu ao cônsul Póstumio Albino, numa contio, quando falou ao povo da ameaça de um poder rival:
"A menos que vocês se precavejam, homens de Roma, esta vossa assembleia diurna, apropriadamente reunida pelo cônsul, será rivalizada por sua assembleia noturna. Neste momento, eles, separadamente, temem a vocês, agora reunidos em assembleia; quando vocês retornarem às suas casas e fazendas, eles se reunirão para decidirem sobre sua própria salvação e a vossa ruína. Será quando vocês, separadamente, terão de temê-los, reunidos ( 3 9 . 1 6 . 4 ) . "
De certo modo, a ação contra os adeptos de Baco foi mais determinada e mais consciente do que foi a ação contra os cristãos, séculos mais tarde. Aqui, não se tratava de aguardar denúncias contra indivíduos às autoridades; os funcionários do Estado e os soldados procuravam os adeptos e levaram muitos à morte.
É difícil exagerar a importância da revolução religiosa da qual este acontecimento foi o primeiro sinal na Itália. Uma vez que havia grupos de pessoas unidas por suas crenças religiosas, toda uma nova gama de possibilidades religiosas emerge. Os líderes do grupo adquirem um grau de controle sobre os membros que os sacerdotes romanos jamais tiveram; o grupo organizado se torna uma força política cm potencial; as crenças religiosas, mesmo que fossem consideradas importantes no contexto tradicional, tomaram se focos dc grande interesse e aten-
çào, porque as crenças individuais se tornaram, pela primeira vez, o determinante desta ou daquela ação religiosa. A conversão de uma religião a outra se torna uma possibilidade e, consequentemente, o indivíduo passa a ser identificado como membro de um grupo particular. O ápice deste desenvolvimento se dá quando os membros do grupo passam a ter um nome comum e a serem conhecidos por este nome. No caso dos adeptos de Baco dos anos 180, há traços deste desenvolvimento: ao menos as mulheres do culto eram conhecidas como bacchae e os homens de status respeitável, independentemente de sua origem (cidadãos romanos, latinos ou aliados), eram proibidos de se casarem com elas, sem permissão específica de Roma. Se a implicação do nome é a de que os adeptos viam a si mesmos como exclusivamente "bacantes" e, por isso, alheios aos cultos normais dos deuses tradicionais, é algo que as nossas fontes não permitem afirmar.
Numa longa duração, a consequência deste novo tipo de vida religiosa foi muito radical. Uma série de novos elementos surgia: pela primeira vez, os indivíduos tomavam decisões que afetavam sua experiência e seus compromissos religiosos. Tais decisões não eram necessariamente dramáticas; não precisamos evocar aqui o modelo da conversão repentina, como a dos grandes santos da tradição cristã (realmente os casos mais extremos desta experiência). E também nem todas as decisões eram genuinamente individuais, pois frequentemente uma família, ou escravos, tinham pouca escolha e seguiam a decisão do chefe de família, e mesmo que agissem individualmente, talvez não fossem tão corajosos para desafiar a autoridade familiar, muito maior em Roma do que entre nós. Mas, ao longo do Império Romano, houve muitos casos de indivíduos que mudaram de lealdade religiosa porque suas crenças mudaram. Estes eventos aos poucos transformaram o significado social e o sentido de "crença". O fato de que os indivíduos passaram a levar com mais gravidade suas ações religiosas pode ser uma consequência disso.
A revolução no comportamento religioso que ocorreu nos séculos subsequentes consistiu em dois processos relacionados, que são os dois lados de uma mesma transformação. Seus efeitos foram sentidos em toda a sociedade antiga, tanto para seus atores quanto para quem não o era. Alguns efeitos podiam ser pontuais e violentos, como a supressão do culto báquico nos anos 180 e, por isso, este período permanece tão significativo. Mais frequentemente, porém, vemos um padrão de mudanças lentas, de acomodações graduais, alguns confrontos intelectuais e poucos conflitos abertos. O destino do culto báquico na Itália é desconhecido após estes eventos. É provável que os grupos báquicos tenham continuado a existir, mas não temos notícias de novos conflitos na República Tardia. Temos notícias de grupos báquicos sob o Império. Um eco dos cultos de mistérios exis-
154 RELIGIÃO NA URBS
le, c.f>, no cómodo decorado da Vila dos Mistérios, em Pompeia, mas não lia acordo se trata de um esquema decorativo ou se é uma referência à prática do culto na casa.
Podemos identificar outros grupos religiosos no período posterior à Bacanal ia. que foram objeto de uma limitada, mas hostil, ação das autoridades romanas. Os caldeus (presumidamente astrólogos) foram expulsos de Roma em 139 a .C; seguidores de Isis em várias ocasiões na República Tardia e no primeiro principa do; judeus foram expulsos, possivelmente em 13, junto com os caldeus e certa mente também depois (BEARD, M., NORTH, J.A., PRICE, S.R.F: 161, 230-1). Em todos esses casos, podemos acreditar que ao menos parte do problema foi que os praticantes desses cultos ou artes eram vistos como estrangeiros envolvidos em práticas anti-romanas. As ações contra eles parecem ter sido menos violentas e duradouras do que contra os cultos báquicos e mais por meio de uma ação policial temporária do que uma perseguição propriamente dita. Mas talvez tenham sido assim justamente por serem vistos como grupos estrangeiros e não como uma mistura social variada, unida por suas crenças. Estrangeiros com "maus hábitos" podiam ser perigosos, porém eram mais facilmente eliminados do que grupos locais "desviados".
Nos séculos seguintes, um grande número de cultos orientais de mistérios atraiu pessoas na Itália e nas províncias ocidentais. Esta expressão, "cultos orientais", é genérica porque os cultos em questão tinham - ou diziam ter - elementos de várias partes do Oriente (ísis, do Egito; Cibele e Átis, da Ásia Menor; Atargatio da Síria; Mitra, da Pérsia, e tc ) . O maior problema é que eles continham uma estrutura semelhante, envolvendo uma iniciação ritual e a revelação de um conhecimento secreto aos iniciados. Esta estrutura comum pode ser claramente vista como derivada da Grécia Arcaica e não do Oriente propriamente dito (BURKERT, W. 1987). Então, é plenamente plausível que estes cultos se desenvolveram em contextos culturais gregos em diferentes partes do mundo helenístico, usando as divindades indígenas e o mito da sabedoria do Oriente para construir novas formas religiosas, que evidentemente tinham grande apelo para os ocidentais e não para os orientais. O Império Romano permitiu as possibilidades de viagens e trocas, que permitiam às pessoas e às religiões viajarem rapidamente.
O problema que provocou por mais tempo teorias e especulações foi a relação entre a existência desses cultos e a emergência, no mesmo período, de uma forma religiosa mais radical, como a do judaísmo, do cristianismo e do maniqueísmo. A teoria simplista é a de que a crença pagã tradicional declinou e foi cada vez mais abandonada pelos próprios romanos, e os cultos de mistério proviam um alento para as necessidades espirituais que os cultos tradicionais não conseguiam fazei
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 155
Sabemos que esta teoria radica num profundo desconhecimento do caráter tio culto cívico tradicional. A ideia de fundo remonta a uma teoria do século XIX que via o monoteísmo cristão como o estágio evolutivo mais alto, destinado necessariamente a substituir outras formas de religiosidade. Neste ponto de vista -que ainda tem seguidores - era apenas uma questão de tempo para que os pagãos reconhecessem a inadequação de suas crenças religiosas tradicionais.
Há, contudo, alguns aspectos em que podemos estabelecer semelhanças entre os cultos de mistérios e o cristianismo. Eles deviam oferecer aos seus iniciados uma experiência religiosa mais pessoal do que a encontrada nos cultos tradicionais, que era característica de antigos rituais. Eles também admitiam seus membros, ligados por alguma organização permanente, com seus próprios sacerdotes e lideranças. Em algumas versões, também encontramos convergências significativas entre o cristianismo e a experiência dos mistérios. Por exemplo, em seu famoso ataque ao comportamento das mulheres, Juvenal, satirista romano do século II d .C , descreve a contenção das mulheres devotadas à deusa Isis: estas mulheres estão sempre prontas e sofrer por sua deusa e aceitam a intervenção dos sacerdotes em sua vida sexual (Juvenal, 6. 522-41). O mais importante para nós não é hostilidade de Juvenal, mas as atividades religiosas que ele denigre e que dificilmente inventou. Novamente no contexto do culto de Isis, desta vez na novela O asno de ouro, de Apuleio, temos outro relato da experiência religiosa indo além dos limites usualmente encontrados na vida pagã. Esta fonte é problemática, especialmente por ser um romance, mas seja qual for a atitude do autor em relação ao culto, não é de se acreditar que as experiências de seu herói fossem completamente divorciadas da vida real. O protagonista, em gratidão pela ajuda da deusa, pretende devotar sua vida a seu serviço: recebe conselho espiritual do sacerdote, é visitado pela deusa num sonho, recebe três iniciações sob a inspiração da deusa e tem sua vida totalmente transformada por estas experiências. Seria arriscado classificar isto como uma conversão propriamente dita, pois não temos como saber o quanto este "Lúcio" rejeitou seu "passado", mas o vemos devotado ao serviço da deusa e como um bem-sucedido advogado em Roma.
No início do século XX, era comum a sugestão de que os cultos de mistério ofereciam a seus iniciados um lugar seguro no além, e que esta transcendência da morte era, em todo caso, garantida pela morte e renascimento da divindade do culto. Era também argumentado que este padrão de experiência religiosa era originalmente um padrão pagão datado de antes da emergência do cristianismo. Começava com o culto dos deuses da vegetação, que morriam no inverno e renasciam na primavera. O cristianismo seria, então, uma mistura da ideia judaica do Messias e a ideia pagã de um deus que cria a imortalidade para seus seguidores.
156 RELIGIÃO NA URBS
Esta ideia vem sendo criticada de muitos pontos de vista e é difícil defende la desta forma hoje em dia. Primeiro, porque os diferentes cultos de mistérios nau pareciam oferecer a esperança de uma vida após a morte, e mesmo quando o faziam, não fica claro se o fizeram antes do desenvolvimento do cristianismo. Cada um deles parece ter tido sua particularidade na revelação dos mistérios e no recrutamento de iniciados. O mito de Attis, e.g., parece terminar não no renascimento do deus, mas numa redescoberta, que pode indicar uma escatologia diversa. Por outro lado, o mitraísmo tem outro padrão de experiência, no qual o progresso do iniciado nas diferentes fases da revelação parece refletir o progresso da alma nos estágios da esfera celeste.
Há, também, importantes limites no grau de convergência entre os cultos. Este culto nunca, pelo menos até onde sabe, se separara da vida pagã como um todo. Os adeptos não tinham de rejeitar outros deuses ou evitar os festivais e rituais da cidade ou a prática do culto ao imperador. Não havia nada que os pusesse em conflito com as autoridades, e os cultos de mistério, mesmo ocasionalmente, recebiam o apoio de membros da elite romana. O máximo que podemos dizer é que alguns de seus procedimentos eram secretos, e que o local das reuniões dos adeptos, e.g., de Mitra não era um espaço público, mas um ambiente privado. Podemos nos perguntar em que medida o culto de Mitra podia conflitar com as crenças tradicionais, pelo menos em algumas de suas manifestações. Isto pode ser surpreendente num culto tão proeminente no contexto do exército nas áreas fronteiriças, quando o culto parece mesmo ter tido um caráter scmi-oficial, com seus graus de iniciação refletindo os níveis do exército. Contudo, um culto exclusivamente masculino que classificava as mulheres como fora da humanidade e cujo emblema principal do sacrifício era bem distinto dos demais dificilmente poderia coexistir confortavelmente na vida urbana normal. Mas não há indícios de conflitos, apesar do fato de que romanos destacados que participavam do culto no exército não parecem tê-lo feito quando permaneciam na cidade.
Do nosso ponto de vista,' o fenómeno religioso mais importante do Império é a emergência de várias ideias e instituições a partir do contato de diferentes grupos religiosos - conversão, perseguição, martírio, heresia, e todo o aparato criado para defini-los e reprimi-los. Se tais concepções existiram antes, tiveram uma aplicação muito limitada no quadro da cidade antiga. Só nos anos 180 vemos uma forma de religião ser perseguida. Como vimos, não há evidência que demonstre que os adeptos de Baco romperam com a religião tradicional, mas, ao menos potencialmente, representaram um perigo para as autoridades romanas.
No mesmo período, grupos judeus nas cidades do mundo mediterrânico mantinham suas tradições religiosas em meio a comunidades pagãs. Isto implicava
REPENSANDO o IMPÉRIO ROMANO 157
manter um calendário diferente, uma dieta distinta dos demais membros da cidade e, ao menos em princípio, evitar os rituais e festivais da cidade pagã. Isso não leva necessariamente a um conflito, mas há sempre o risco de os habitantes da cidade temerem a existência deste grupo, com que vivia lado a lado. Mas a diáspora judaica tinha a seu favor o fato tranquilizador de sua religião ser herdada dos seus ancestrais, e não buscavam fazer proselitismo neste período. Provavelmente, não se distinguiam sobremaneira de outros grupos étnicos, que também viviam nas cidades e mantinham suas práticas religiosas. Os pagãos podiam vê-los mais como excêntricos ou engraçados, mas dificilmente como perigosos. Em certos aspectos, porém, esta ideia é um erro. Assim como as comunidades cristãs posteriores, os judeus rejeitavam os deuses dos gentios. Além disso, as comunidades judaicas parecem ter atraído seguidores entre os gentios ou ao menos apoios fortes para a religião judaica. É também verdade que a identidade religiosa judaica é incompatível com a prática de qualquer outro culto de outra religião. De fato, conhecemos muito pouco da vida das comunidades judaicas nas cidades pagãs para emitirmos um juízo seguro. De todo modo, é inquestionável que o cristianismo aparecerá às autoridades romanas como uma religião muito mais ameaçadora do que o judaísmo.
R E F E R Ê N C I A S
Documentação
APULEIUS; KENNEDY, E. J. (trad.) The Golden Ass. London: Penguin Classics, 1999.
CICERO, M. T. WUILLEUMIER, P; TUPET, A-M. (ed. e trad.) De haruspicum responso. Discours. Coll. des Universités de Frances (Coll. Budé), tome XIII, 2. Paris: Les Belles Lettres, 1966.
CICERO. WATTS, B.A.. (ed. e trad.). The Speeches, Pro Archia Poeta, Post Reditum in Senatu, Post Reditum ad Quirites, De Domo Sua, De Haruspicum Responsis, Pro Planeio. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1935,2a ed.: Loeb Classical Library.
JUVENAL. The Satires. Oxford Classical Texts. Oxford University Press, 1991. LIVY, The Early History of Rome (Books IV) . London: Penguin Classics. L983. POLÍBIO. PATON, W.R (trad.) Po lyh ius . The His tor ies . Vol. VI. L o n d o n : l .oeh r*i : — i • ••-
SÉNECA, The Apocolocyntosis. London: Penguin Classics, 1986. TITO LÍVIO. History of Rome. 3 vols. London: Penguin Classics, 1990.
Bibliografia BEARD, M. "Priesthood in the Roman Republic". In: BEARD, M. & NORTH, J. A.
(ed.) Pagan Priests. London: Routledge and Kegan Paul, 1990, pp. 17-48. BEARD, M., NORTH, J.A., PRICE, S.R.F. Religions of Rome. Vol 1. Cambridge:
Cambridge University Press, 1988. BEARD. M; CRAWFORD, M. Rome in the Late Republic. Problems and
Interpretations. New York, Ithaca: Cornell University Press, 1985. BICKERM AN, E.J. "Consecratio". In: Le culte des souverains dans 1'Empire romain.
Foundation Hardt, Entretiens 19 (1973), Vandoueuvres-Geneva: 3-25. BURKERT, W. Ancient Mistery Cults. Cambridge, MA and London, 1987. ELSNER, P T "Cult and Sacrifice: sacrifice in the Ara Pacis Augustae". JRS 81 (1991):
50-61. GORDON, R. "The Roman Empire". In: BEARD & NORTH, 1990:177-255. GRUEN, E. S. "Studies in Greek Culture and Roman Policy". Cincinnati Classical
Studies, 7 (1990). Leiden: 34-78. LINDERSKI, J. "The Augurai Law", ANRW II, 16.3: 2146-312. NORTH, J. A. "Religious Toleration in Republican Rome". PCPS - Proceedings of
Cambridge Philological Society, 25 (1979): 85-103. PRICE, S. R. F Rituais and Power: the Roman Imperial Cult in AsiaMinor. Cambridge:
Cambridge University Press, 1984. PRICE, S. R. F. "From noble funerais to divine cult: the consecration of Roman
Emperors". In: CANNADINE, D. & PRICE, S.R.F. Rituais of Royalty: Power and Ceremonial inTraditional Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1US7, 56-105.
S( UI.LARD, H. H. Festivais and Ceremonies of the Roman Republic. London: ( larendon Press. 1981.
I (IREI .1 -I, M. Tipology and Structure of Roman Histórica] Reliefs. Ann Arbor, l°82. WISLMAN, T. P. "Cybele, Virgil and Augustus", Poetry and Politics in the Age ol
AugUStUS. I. Wbodman and 1). West (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 117-28.