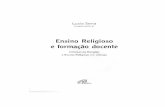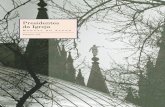Tres nociones de pluralismo en el espacio público - Revistas UdeA
Religião e república - desafios do pluralismo democrático
Transcript of Religião e república - desafios do pluralismo democrático
RELIGIÃO E REPÚBLICA:DESAFIOS DOPLURALISMO
DEMOCRÁTICO
Joanildo À. Burity
Introdução
República e transformaçõescontemporâneas
Assiste-se desde a década passada aurna renovada tematização da república nopensamento político e em certas iniciativaspráticas de movimentos políticos ou de orga-nizações da sociedade civil. O fulcro dessatematização aponta em duas direções: o alar-gamento da esfera pública, para além da suareferência estatal clássica, e a criação ou oaprofundamento de uma cultura cívica daparticipação e da responsabilidade políticados cidadãos. Em ambos os casos a repúbli-ca é pensada em chave democrática. Já nãose trata tanto da idéia de urna mobilizaçãode massas revolucionária, dirigida à supera-ção da democracia burguesa e em nome deuma sociedade socialista. Também não se li-
Pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco;professor das pós-graduações em Sociologia e ciênciaPolitica da universidade Federal de Pernambuco. E-mail:
ioanildo1undai.9ov.br
mita à afirmação de uma identificação doscidadãos com os símbolos da nacionalidadeou de uma comunidade de destino homogê-nea. A república, cujas marcas são a vitalida-de e a amplitude da(s) esfera(s) pública(s) ea solidez da cultura cívica, é pensada comomoldura de um entendimento da democraciacomo algo mais do que um conjunto de ritu-ais de autorização do poder legítimo.
A preocupação com a república não é,sem razão, uma mera fantasia de intelec-tuais. Profundas transformações vividasem escala planetária' nas últimas déca-das têm não apenas trazido inovações noâmbito da produção e da reprodução eco-nômica, social, política, cultural nas soci-edades nacionais, mas também reforçadodesigualdades, suscitado conflitos e pos-to em xeque representações familiares
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democráticã
Joanildo A. Burity
sobre a mudança e a conservação, sobreos lugares de atores-chave na cena soci-al e sobre as relações entre os sujeitoscoletivos. O avanço da democracia políti-ca se deu a par com uma neutralizaçãode sua capacidade de solucionar proble-mas sociais graves e com sua rendiçãoquase completa à lógica do mercado (nãoapenas por meio da centra/idade da polí-tica económica na gestão da política, mastambém pela incorporação de comporia-mentos de mercado ria administraçãopúbl(ca).2
Difundiu-se um pessimismo quanto à ca-pacidade de resposta das democracias real-mente existentes aos desafios postos pelarevolução técnico-científica e das comunica-ções, pela globalização econômica e cultu-ral, pelo neoliberalismo e sua glorificação daliberdade de mercado, pela crise do traba-lho, pelo aumento exponencial da pobrezano mundo, pela emergência de múltiplas de-mandas por reconhecimento por parte de gru-pos excluídos ou discriminados. Recorrentesescândalos ou denúncias de corrupção napolítica (e mesmo em grandes empresas),perda de legitimidade dos mecanismos derepresentação tradicional (notadamente aparlamentar), levando a uma relativa retra-ção da participação dos cidadãos em váriospaíses e a forte penetração de valores indivi-dualistas, competitivos e consumistas juntoà população, por meio das formas de presen-ça e difusão da cultura de massas e da mí-dia, além de uma alarmante escalada daviolência e do crime organizado, contribuempara enfraquecer a adesão democrática e aidéia de uma responsabilidade dos cidadãospelo destino da comunidade política. Atitudesreativas, defensivas ou de retração da esferapública começam a se disseminar entre am-plos segmentos da sociedade, assumindocontornos autoritários ou conformistas, e lan-çando dúvidas sobre a solidez das convic-ções democráticas de expressivas parcelasda população?
Face ao predomínio dos argumentos ne-oliberais quanto às pressões fiscais sobre ogasto público, à crise do desenvolvimento e
das políticas distributivas centradas na açãoestatal e à necessidade de focalizar gruposespecíficos, com o fim de redimensionar oalcance e eficácia das políticas sociais, vári-as implicações se colocaram: (1) a redefini-ção das relações entre estado, governo esociedade civil; (II) a transferência de respon-sabilidades governamentais para a "socieda-de", ao mesmo tempo em que se conclamavaa uma relação mais colaborativa entre os doiscampos (através das parcerias), em nome danecessidade de impulsionar uma cidadaniaativa; (III) um esforço, por parte das organi-zações da sociedade civil, de adaptação àambigüidade das novas condições, seja pelatentativa de fortalecer os vínculos mútuos pormeio da formação de redes, seja por meio deuma resposta positiva ao chamado para quese construíssem relações mais "construtivas"com o estado, tanto no plano local como na-cional, e mesmo para além das fronteirasnacionais.
Dessa forma, os ideais republicanos vol-tam a ser enfatizados por pensadores e ati-vistas preocupados com a qualidade dademocracia, e convencidos da necessida-de de reforçar a esfera pública e a participa-ção cidadã. Para esses republicanistas, semuma esfera pública forte frente aos interes-ses privados, sustentada tanto pela açãoestatal como pela presença mobilizada deorganizações e movimentos da sociedadecivil imbuídos de um sentido público parasua atuação, não há como assegurar o aten-dimento das expectativas distributivas, dereconhecimento das diferenças, de partici-pação decisiva e regular nas decisões polí-ticas associadas à democracia e da próprialiberdade (cf. Vianna e Carvalho, 2000; Meio,2002; Burity, 20021b)4
Em meio a esse mesmo conjunto de trans-formações, o republicanismo precisa assu-mir os desafios da pluralidade. Sua origemem contextcs históricos marcados por comu-nidades pequenas e relativamente homogê-neas contrasta com a proliferação dediferenças e identidades contemporâneas, decaráter étnico, cultural, político-ideológico,
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocrático
Joanildo A. Burity
24
regional etc. Historicamente, a relação entrerepublicanismo e pluralidade (para não dizerainda pluralismo) não são livres de contradi-ções e ambivalências, As idéias da indivisibi-lidade da comunidade política (nacional) e danecessária tolerância para com (algumas das)diferenças tenderam a promover políticas as-similacionistas, de contenção dos espaçospara a expressão pública da divisão social eiou de identificação entre o discurso dos gru-pos hegemônicos (quer no plano da compo-sição étnico-cultural da população, quer noda sua organização econômica) (Davidson,1999; Connolly, 1999b).
O espaço uno da comunidade política,onde o direito à participação é assegurado aum cidadão genérico (sem cor, sem religião,sem género, sem língua própria etc.), quecompartilharia traços fundamentais com osdemais membros da comunidade, tem prima-zia sobre qualquer afirmação de particularis-mos que ameacem a unidade da nação. Adiversidade ou pluralidade é admissível des-de que se atenham a espaços periféricos daordem social ou sejam expressões de prefe-rências ou escolhas individuais, privadas. Aspolíticas de nacionalidades, de imigração eculturais em modelos republicanos procura-ram forjar, por meio da educação pública oude provisões legais relativas à imigração ouà gestão das diferenças étnicas, lingüísticas,culturais, um sentido de comunidade nacio-nal indivisa (Kymlicka, 1995; Kymlicka e Nor-man, 2000; Modood, 2001).
Ora, essa representação da composiçãosocial ou político-ideológica dos sistemas re-publicanos confronta-se cada vez mais coma estreiteza de seus limites, com a contin-gência da origem e formas de suas insti-tuições, com os desafios colocados pelamobilização de identidades coletivas (velhase novas) que reivindicam reconhecimento eações redistributivas. Desde a segunda me-tade do século XX, levas e levas de imigran-tes aportaram nos países de capitalismoavançado, mudando, aos poucos, não ape-nas a composição da classe trabalhadora,mas o panorama cultural, descentrando ima-
gens profundamente enraizadas de cidada-nia associada à cultura européia-ocidental (cf.Hall, 2003:25-50, 73-81; Vásquez, 1999:11-14). Mais recentemente, essa imigração temsido acrescida de mais do que diferença ét-nica: a crescente percentagem de muçulma-nos em países como o Reino Unido, França,Alemanha, Estados Unidos, introduz a dife-rença religiosa de forma profunda e desesta-bilizadora (na medida em que ela vemassociada a um modelo integrista de influên-cia religiosa em todas as esferas da vida co-tidiana, chocando-se com a pvatização davivência religiosa liberal) (cf. Hirst, 2000; Riis,1999; lontcheva, 1998; Davidson, 1999).
Mais do que um reconhecimento da plu-ralidade, coloca-se, face às assimetrias depoder entre os diferentes referenciais declassificação social (grupos, classes, movi-mentos, organizações, 'interesses difusos",direitos individuais etc.) e à proliferação deexpressões de intolerância e exclusão (pa-trocinadas pelo poder estatal ou por gruposespecíficos contra outros), uma exigência depluralismo. Ou seja, de uma atitude ativa derelação com a diferença em que se mantémem tensão o direito à livre expressão e anecessidade de respeito e justiça nas rela-ções entre os atores em questão. O desafiodo pluralismo, já colocado para as versõesliberais da democracia, torna-se ainda maiscomplexo frente à tradição republicana.Combinar democracia, republicanismo e plu-ralismo torna-se um programa posto peladinâmica das sociedades complexas con-temporâneas, mas de difícil concretização.
República, religião e pluralismoA idéia de república está historicamente
associada a dois postulados fundamentais,mas não facilmente harmonizáveis: a obriga-ção do cidadão com a comunidade ou com acoisa pública, o comum (traduzida por suaigualdade básica com todos os demais cida-dãos), e a liberdade de consciência, expres-são e organização. O tema da religião foi umdos primeiros que pós à prova a solidez detal articulação, ainda no século XVI. 0 con-
Religiãoe república:
desa nosdo pluralismo
democrático
Joanildo A. Burity
texto de afirmação dos ideais republicanosna formação do Ocidente moderno coincideem larga medida com o da cisão religiosa quedeu origem ao protestantismo e às chama-das guerras de religião. Face ao conflito e àintolerância religiosa, assegurara separaçãoentre igreja/religião e estado e afirmar á li-berdade religiosa para todos representaramuma resposta política para os dilemas colo-cados pela saída de uma ordem social e po-lítica dominada, pelo catolicismo na Europados inícios da era moderna, ou pela consti-tuição de uma nova ordem em jovens naçõesmarcadas pelo caráter pluriêtnico de sua po-pulação (como nas Américas).
Na Europa como nas Américas, essa du-pla resposta (separação igreja/estado e liber-dade religiosa) não se deu da mesma maneiraem todos os lugares, havendo arranjos dife-rentes, ora implantando as duas, ora a se-gunda sem a primeira (mitigando a idéia deseparação por meio de uma repartição deesferas - público/privado - mas mantendo oreconhecimento estatal de uma religião ofici-al). Mesmo em países com forte peso do ]ai-cismo, como a França, houve composições,sob a forma de concordatas, de manutençãode certos "privilégios" para alguns grupos re-ligiosos (via o reconhecimento legal daque-les tidos como "legítimos"). Nos EstadosUnidos, a implementação dos dois princípiosnão representou uma completa dissociaçãoentre estado e religião (ou religiões), man-tendo-se uma zona de forte permeabilidadedaquele ás visões e demandas da(s)religião(ões), notadamente no caso do con-servadorismo. A garantia da liberdade religi-osa na verdade ampliou as possibilidades deformatos de influência religiosa na política,ainda quando os termos da relação público/privado eram mantidos sob a vigilância da leie dos demais atores sociais (religiosos ounão), No Brasil, a dupla resposta se deu empresença de uma sólida história de inter-re-lação entre catolicismo e estado, o que acar-retou uma defasagem de quase um séculoentre a consagração legal da separação, deum. lado, e o enraizamento cultural dessas
mudanças e o tratamento mais equánime en-tre o Estado e as diferentes religiões, de ou-tro lado (cf. Chandler, 1999; Cochran, 1990;Wald e Corey, 2000; Marty, 1998; Wimberleye Swatos Jr., 1998; Ferrari, 1999; Rosenfeld.1999; Giumbelli, 2002; Mouffe, 2004).
A articulação entre república e pluralismo,tanto em termos políticos mais amplos quan-to em relação à definição do lugar da religião,também tem uma história nos países centraisdo Ocidente. Ou seja, os arranjos presentesnão estiveram sempre no lugar, nem surgi-ram linear e ascendentemente, de uma vezpara sempre. Isto recomenda um misto decautela e "generosidade" nas comparaçõescom histórias "ao sul", como a da sociedadebrasileira. Cautela, por conta da recorrentetendência a comparar o Brasil realmente exis-tente com uma leitura idealizada dos paísescentrais, o que leva a se cobrar seja um fun-cionamento das instituições seja uma lineari-dade do processo de avanço do pluralismo eda democratização que nunca existiram emlugar algum (cf. Souza, 1999; Sorj, 2002).Generosidade, porque é preciso dar a devi-da consideração, para além de nossa justaansiedade por mudanças mais decisivas emais profundas, ao enorme trabalho históri-co que os setores subalternos (mais ou me-nos integrados, mais ou menos organizados)têm realizado para construir espaços de par-ticipação e colocarem-se à altura dos desafi-os postos por cada conjuntura, .nos planoslocal, nacional e internacional/global. Não épouco o que foi alcançado nas últimas déca-das no sentido de redesenhar algumas linhasdemarcatórias da relação Estado/Sociedadeno país.
Assim, é preciso admitir proviscriamenteque não podemos opor o ponto de chegada(o hoje) de sociedades que levaram muitomais tempo para amadurecer e consolidardeterminadas conquistas democráticas e plu-ralistas, ao tempo curto e intermitente de nos-sa experimentação democrática. Por outrolado, o contexto global em que as socieda-des que "partiram atrás" no processo de de-mocratização se inserem hoje não deixa
Religiãoe república:desa flosdo pluralismodemocrático
Joanildo A. Buiity
26
espaço para estratégias incrementalistas,conformadas com o pouco até aqui consoli-dado, em nome de alguma "paciência" ou danecessidade de cumprir etapas. Neste senti-do, como na tese trotskyana do desenvolvi-mento desigual e combinado, a conjunturadas últimas décadas, com a globalização,coloca sem cessar as sociedades como abrasileira desafios e exigências que precisamser respondidos simultaneamente - porexemplo, não há como forçar uma seqüên-cia entre a demarcação de um modelo dedesenvolvimento e de afirmação política vis-à-vis as grandes forças da globalização; odesafio de promover a urgente "equalizaçãode condições" (Tocqueville) da democracia noplano econômico, social e cultural; o reco-nhecimento da legitimidade das diferenças;o enfrentamento da violência e da intolerân-cia. Tudo isso precisa hoje ser enfrentado nomesmo tempo.
No Brasil, como no caso do reconheci-mento da igualdade fundamental entre oscidadãos, que até hoje não se estendeu aosnegros e índios e aos brancos pobres (cf.Souza, 2003), a trajetória da relação entrereligião e pluralismo num contexto republi-cano permaneceu condicionada a dois re-ferenciais: (a) um marco institucionalrepublicano, com provisões constitucionaisreferentes à dupla resposta acima mencio-nada, e (b) uma prática cultural frente à le-gitimidade da diferença religiosa que muitolenta e ambiguamente situou os não-católi-cos no nível da cidadania, da identidadeautóctone e da diferença irredutível à assi-milação ou ao sincretismo.
À naturalidade com que se encara a de-sigualdade na sociedade brasileira correspon-deu, no caso da religião, por mLljb tempo,uma invisibilidade das religiões não-católicas(e da irreligião), quando não reações abertasou tentativas de enquadramento jurídico oupolicial das mesmas. A suspeição de estran-geirismo, de imoralidade, de divisionísmo, demanipulação da boa fé dos fiéis, com muitafreqüência pairaram, ao longo desta história,sobre os adeptos das novas religiões, mes-
mo que legalmente permitidas pela repúbli-ca. Acresça-se a isso a transposição da ideo-logia da cordialidade para o campo dacompetição religiosa e nos vemos frente a uma"impaciência" face à diferença religiosa que emvários momentos se expressa como intolerân-cia, ou como critica a todo proselitismo (vistocomo infração à liberdade religiosa!). Temos,assim, um imagináo republicano que acomo-dou a isonomia formal perante a lei com a de-sigualdade real frente a ela, mantendo-sealheio à não-inclusão das massas à cidadaniae ãveíso.à dissidência e ao conflito de valo-res, reivindicações e interesses..
E, no entanto, temos tido, ao longo dasúltimas duas décadas recorrentes demons-trações de solidez dos avanços democrati-zantes no plano político e cultural, em meioà permanência de ambigüidades e áreas dequase nenhuma mudança. No caso da reli-gião, esse duplo movimento de transforma-ção e persistência de antigas práticas, nosrecomenda a distinguir a pluralidade religi-osa do pluralismo religioso.
Pluralidade e pluralismo religioso
Num trabalho anterior (Burity, 2003a:19-23), propusemos uma distinção entre plura-lidade religiosa e pluralismo religioso (quetambém se aplica ao pluralismo entre asreligiões e outras propostas culturais e polí-ticas na sociedade) de modo a dar contatanto do que já se pode assumir como umaevidência empírica de pluralismo quanto doque ainda permanece como uma indicação,sem garantias de consolidação. A pluralida-de se constitui tanto em relação às origensde uma comunidade ou nação, quanto emrelação a momentos subseqüentes de suahistória - imigração, migrações internas,crescimento/decréscimo na filiação dos gru-pos religiosos e surgimento de novas pro-postas religiosas em diferentes conjunturas.Pluralidade é variedade de experiências re-ligiosas, é multiplicidade de marcos organi-zativos dessas experiências. A pluralidadeé um fato que pode ser aceito ou negado,valorizado positiva ou negativamente.
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
Joanildo A. Burtty
27
O pluralismo se refere à existência de umacultura e de um marco institucional e legalinclusivos, de forma que se definam as for-mas de acesso, de convivência e de adjudi-cação de conflitos ou divergências públicasdos diferentes grupos/organizações religiosase não-religiosas. Como cultura, o pluralismoé reconhecimento mútuo ativo da pluralida-de e do direito à existência e livre expressãoda diferença religiosa. Como marco instituci-onal e legal, o pluralismo define parâmetrospara a religião social ou publicamente reco-nhecida como legítima, prevê direitos, moda-lidades de coexistência, sanções face àsmanifestações de intolerância entre religiõesou violação da autoridade civil, etc.°
E preciso dizer à luz do que já foi visto,que a relação entre pluralidade e pluralismonão é de contigüidade, mas de superposi-ção, no mínimo parcial, não se constituindode forma evolutiva, linear. A existência deuma pluralidade de formas religiosas impli-ca algum tipo de pluralismo, senão cultural,pelo menos político, que a reconheça. Ain-da que imaginássemos situações de profun-da intolerância e conflito inter-religiosoaberto, em condições de modernidade (vis-ta histórica ou contemporaneamente), a dis-tância entre pluralidade e pluralismo será degrau, mas não de exterioridade ou seqüen-cial (do tipo a primeira, depois o último). Talqualificação também nos permitiria salien-tar um ponto destacado por Giumbelli, paraquem há limitações no foco macropolíticoda noção de "separação" (que a rigor é his-toricamente inexistente) que recomendari-am "enfocar a variedade de mecanismos edispositivos concretos de regulação da reli-gião" (2002:51).
Referida a pluralidade às origens da co-munidade nacional, no Brasil colonial e im-perial, as questões referentes à imigraçãonunca desestabilizaram ou levaram a rede-finições importantes na ordem política, sejaporque se deram num momento em que nãohavia questão sobre qual a religião a seradmitida dos imigrantes', seja porque o es-tatuto dos imigrantes, europeus ou asiáticos,
lhes concedia liberdade religiosa, mas im-punha um projeto assimilacionista. Por ou-tro lado, a imigração tampouco representouo desaparecimento ou a completa fusão dareligiosidade dos imigrantes à matriz católi-ca brasileira, como atesta a forte tradiçãode estudos sobre o sincretismo.
Mesmo após a separação entre Igreja eEstado, com a República - para a qual con-correram liberais, maçons, militares, protes-tantes, segmentos liberais do clero católico,etc. - a redefinição das relações entre reli-gião e Estado não implicaram demandas porpreocupação por parte de outras religiõesdo espaço deixado (em princípio) pelo cato-licismo, nem tampouco levou à adoção deum arranjo pluralista (especialmente no sen-tido cultural que definimos acima). Até mea-dos dos anos de 1970, ser um não-católicono Brasil implicava um misto de complexode minoria e ser alvo de desdém ou mesmode diferentes formas de intolerância culturalpor parte do campo majoritário da religião edo campo minoritário dos não-religiosos.
Nossa caracterização do campo religio-so no Brasil desde fins dos anos de 1970, éde um processo de diferenciação interna,empiricamente identificável, no interior decada tradição e entre as diferentes tradiçõesreligiosas, além da explicitação de uma au-sência de filiação religiosa que cresce de-mograficamente. Tal diferenciação, se dandonum contexto de crescente relaciona/idadedas identidades sociais, põe em tela a ques-tão das formas de gestão desta co-presen-ça (a que reservo o uso da expressão"pluralismo religioso"). A partir deste proces-so de diferenciação e pluralização já não sepode mais falar da igreja, mas de igrejas,no que se refere ao cristianismo. E, aos pou-cos, vai se tornando impróprio designar por"igreja(s)" o conjunto dos atores religiososrelevantes nos espaços públicos da socie-dade brasileira, tendo em vista o crescimen-toda identificação religiosa não-cristã. O queé preciso perguntar aqui é se esta diferenci-ação evidencia apenas um aumento da ofer-ta religiosa (diversidade ou pluralidade
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocrático
]oanildo A. I3urfty
28
religiosa) ou se aponta na direção de maiorpluralismo religioso no país.
O que, pode-se dizer, é novo, e para issoconcorre decisivamente a conjuntura da de-mocratização e da crise econômica dos anosde 1980 em diante, é que houve não apenasuma mudança demográfica na composiçãoreligiosa do país, mas também importantesdiferenciações internas às tradições cristãs(afetando identidades nos planos institucio-nal e ético) e um discreto, mas significativo,crescimento das opções não-cristãs (religio-sas ou não) - realçando a pluralidade religio-sa brasileira. 8 Não apenas isso, mas amudança demográfica e identitária trouxe doisnovos componentes ao cenário: o aprofun-damento de um desenho pluralista nas rela-ções públicas entre as religiões e o Estado, ea emergência de um novo patamar de com-petição religiosa que tanto agrega elemen-tos ao desenvolvimento de uma culturapluralista como também tensiona o campodas religiões em direção inversa (do conflitoou da tensão entre religiões, notadamente emtorno dos pentecostais).
Vivenciamos, portanto, essa situaçãopluralista parcial que se define pela diferen-ciação de alternativas religiosas, pelo des-locamento do paradigma sincrético, pormomentos de acirramento da disputa iden-titária entre religiões ou de demanda por re-presentação no espaço público e pelareconfiguração da relação entre Estado e re-ligiões. O pluralismo é parcial, porque os pa-drões hierárquicos ainda fortementedisseminados no plano cultural (autorita-rismo social), os efeitos da forte exclusãosocial e o estranhamento entre diversos se-tores das elites políticas e intelectuais emrelação às expressões de cultura e religio-sidade popular, continuam a pesar na ne-gação da legitimidade de existir do outro enuma atitude de superioridade e preconcei-to frente ao diferente. Mas há, sim, um pro-cesso de ampliação e aprendizagem dopluralismo que acompanha a trajetória dehegemonização de uma cultura democráti-ca no país' e quê ajuda a compreender os
baixos níveis de conflito religioso aberto (quenão deve ser confundido com competiçãoreligiosa, que é disseminada, embora hajavários casos em que os limiares entre elessão bastante discutíveis).
É possível perguntar se há algo mais doque uma conjuntura puramente local, brasi-leira, nestas mudanças. Creio que seja pos-sível levantar a hipótese de que, por maisque haja, como sempre, inúmeros microfa-tores singulares ou contextuais que expli-cam essas mudanças no campo religioso,há paralelos em várias partes do mundo, nomesmo período, isto é, a partir dos anos de1970 (p.ex. Bouma, 1995; Kymlicka, 1995;Kymlicka e Norman, 2000; Parker, 1999;Ris, 2000; Gray, 2000; Burity, 2001). Taisparalelos, contudo, não precisam e não de-vem ser lidos como uma propagação deondas na direção centro-periferia (estandoo Brasil supostamente no segundo pólo). Apluralização religiosa brasileira precisa sercompreendida à luz de um processo de di-ferenciação religiosa vis-à-vis o catolicismo,mas também de um processo de democra-tização social pelo qual se desbloqueiampreconceitos relativos às classes popularese suas formas de expressão e organizaçãocultural e sociopolítica. Dessas a emergên-cia pública do pentecostalismo nos anos de1980 e a visibilidade política dos "evangéli-cos" (em larga medida coincidindo com ospentecostais) são elementos importantesque ressaltam a distância cultural existenteentre esses novos sujeitos políticos e ornainstream intelectual e político da socie-dade brasileira (cf. Corten, 2001). A compa-ração com diversos casos internacionais depublicização, pluralização ou politização dasreligiões se deve não a um processo que seirradia, por força da globalização, do centropara a periferia. Antes, pode-se dizer que asimultaneidade desses processos liga-se àconjuntura da globalização através dos efei-tos de deslocamento produzidos por esta emtodos os contextos nacionais, quer pela oci-dentalização expansiva da cultura e práti-cas de mercado, quer pela antagonização
Religiãoe república:
desa nosdo pluralismo
democrMico
Joanildo A. Burity
29
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocráticorico
Joanildo A. Burity
das culturas não-ocidentais por parte dasgrandes potências mundiais, quer pelaameaça" percebida de 'invasão" do Nortepor massas de imigrantes e refugiados doSul. Assim, a direcionalidade e o conteúdodesses processos de publicização das reli-giões são complexos e precisam ser anali-sados contextualmente (cf. Vàsquez,1999:8ss; Castells, 1997).
E possível assumir a realidade da plura-lidade e mesma do pluralismo, mesmo quenão se adote uma posição pluralista (planonormativo). Isso se aplica tanto aos agen-tes sociais, quanto aos analistas. Há muitasconfusões em várias discussões decorren-tes dénão se explicitar a posição normativafrente ao pluralismo. Isto é sintomático nouso dos termos tolerância/intolerância nasanálises sociais e na fala dos agentes (cf.Burity, 1997:713ss; Holland, 2000)10 Tantoagentes como analistas podem questionara pluralidade existente como uma ameaçaà integração ou à estabilidade social (pos-tura normativa antipluralista), como podemidentificar nas contradições da convivênciaplural entraves a esta, geradores de intole-rância ou intrusão indevida (posturas nor-mativas não-pluralistas ou pluralistas), ouainda procurar identificar os sinais de umprocesso de pluralização e concentrar-se emreforçar as tendências nesta direção (pos-tura normativa pluralista). O problema comessas leituras não estará em avaliarem asituação numa ou noutra direção, mas semantiverem invisível ou dissimulada suaorientação normativa, pressupondo a natu-ralidade (ou o imperativo ético) do modelode ordem ou de sociedade que tomam comoparâmetro para a avaliação.
Assim, é preciso ressaltar que uma dasfrentes do debate a ser travado hoje é a daprópria legitimidade do pluralismo como ori-entação éticopolítica - tanto para os agen-tes como para os analistas. Há diversosmodos de lidar com a pluralidade ou mes-mo com o pluralismo (no plano empírico),nem todas admitindo-o como valor (no pla-no normativo). E isso se aplica á religião
como objeto de discuiso ou como prática.No primeiro caso, implica como interpretaras mudanças no campo religioso (cresci-mento ou decréscimo em certas religiões,presença pública de algumas delas, emer-gência de um crescente número de indiví-duos sem referências religiosas etc.) e suasrepercussões para a estruturação da esferapública da democracia. Que papel poderiacaber ao discurso científico sobre a religiãona avaliação sobre quanto de vocabulário ede atores religiosos é compatível com umasolução republicana e pluralista para as de-mandas por participação desses últimos? Nosegundo caso, a legitimidade do pluralismodiz respeito não exatamente à prevalênciade diálogo inter-religioso, mas à medida emque, no plano do debate público e das insti-tuições políticas, o outro religioso (que in-clui tanto o de outra religião quanto o denenhuma religião) é um adversário a com-bater e não um inimigo a destruir (Mouffe,2004).
Um aspecto ilustrativo das dificuldadese lacunas no discurso e nos procedimentosrepublicanos existentes pode ser aferido naquestão da definição de minoria (religiosa).A idéia de minoria - chave, tanto no discur-so liberal sobre o tratamento republicano dasdiferenças, quanto no discurso democráti-co-radical da sociedade civil tem proble-mas para ser aplicada no Brasil, se tomadaem sua acepção padrão, assumida, porexemplo, pela ONU. Na perspectiva de do-cumentos internacionais sobre direitos hu-manos, como o Pacto Internacional dosDireitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pi-desc), a garantia constitucional contra dis-criminações étnicas, raciais, religiosas, degênero, de opinião, e os dados censitáriosoficiais só permitiriam identificar os indíge-nas como minoria (cf. Comissão de DireitosHumanos da Câmara dos Deputados et ai,2000:10). Não há uma política clara relativaás minorias, até porque a tradição assimila-cionista muito forte, até pelo menos a Cons-tituição de 1988, não reconhecia direitos oumesmo uma problemática das minorias (Ibi-
ffl
dem). O documento mencionado, que ava-lia o grau de consolidação e institucionali-zação dos direitos humanos no Brasil,percebeu tais limites ao recomendar
"Que os responsáveis pela implementa-ção de políticas públicas e aplicação dasleis no Brasil passem a ouvir e interagircom juristas e cientistas sociais - geó-grafos, lingüistas, historiadores, sociólo-gos, antropólogos etc. e, principalmente,com os representantes dos movimentosrepresentativos dos diversos segmentosda população-, para compreenderem demodo plural a realidade das minorias ét-nicas, lingüísticas e religiosas. Para, aofim e ao cabo, compreenderem que umademocracia pluralista é feita também deminorias, diferentes da sociedade envol-vente, menores em número mas não emdireitos" (idem: 14).
Assim, no equacionamento do pluralismo,estamos diante de uma demanda que deve-ria, segundo o documento, envolver tanto osdiscursos especializados (como o da acade-mia) como os discursos militantes (de movi-mentos e organizações representativos dapopulação), rumo à construção de uma defi-nição socialmente aceita de minorias e seusdireitos - entre elas, as religiosas.
Pluralismo, regulação e desregulaçãosocial e política
Segundo Ris (1999), um limite do plura-lismo se localiza na tendência das religiõesuniversalistas de transpor o momento do á-tual para o da ética, o que as lança no terre-no de outras propostas de organização daconduta individual e coletiva e cria o potenci-al para conflitos. O reconhecimento da plura-lidade não implica a aceitação indiscriminadada diferença religiosa.
Desde outra perspectiva, partindo-se docaráter relacional da constituição da identi-dade, na medida em que há sempre fronteiraentre identidades, a diferença jamais seráneutra, podendo levar a uma posição plura-lista ou desencadear reações exclusivistas oude dominação do outro (cf. Burity, 1997:89-101; Calhoun, 1995; Silva, 2000; Hall, 2003),
Um aspecto particularmente importante éo da tradução do pluralismo no plano culturalpara o plano político. Neste caso, não se estámais no nível das atitudes ou da resoluçãoprática de conflitos e dissensos no âmbito docotidiano. Está-se no campo das propostasde institucionalização de arranjos ou de insti-tuição de uma ordem - no plano da regula-ção do pluralismo. Nesse contexto, o avançoda participação organizada das religiões podetraduzir pretensões de hegemonia em termosde representação ou de direção da socieda-de, caso elas se prevaleçam do pluralismopara maximizarem seus próprios objetivos.Também pode ser o caso de que a maior pre-sença política das religiões implique um trans-bordamento para o espaço público dacompetição cultural e social que movem umasem relação às outras.1'
Nessas condições, colocam-se as ques-tões contemporâneas (mas deforma algumainusitadas) da legitimidade de certo grau depermeabilidade do Estado ou da esfera pú-blica às identidades e demandas das religi-ões, e da delimitação de novas fronteirasjurídico-políticas entre ambos os campos (oEstado e a religião). O desafio então, quan-do todos os países ocidentais e todos os pa-íses regidos por alguma versão dademocracia moderna reconhecem a liberda-de religiosa (de culto, de organização e decrença), é como traduzir politicamente essapluralidade. E como fazê-lo de modo a pre-servar a liberdade de adesão e de desafilia-ção dos indivíduos associados a certascaracterísticas identitárias ou oriundos de cer-tas comunidades étnicas, religiosas ou cultu-rais? Como fazê-lo de modo a reconhecer asdiferenças publicamente sem deixar que elascapturem e desfigurem a esfera pública?.
De um lado, quase todos os países ma-joritariamente liberais em termos da relaçãoentre religião e Estado, admitem exceçõesnessas áreas (cf. Burity, 2001; Kymlicka,1995; Giumbelli, 2002). O neutralismo per-manece como um gesto ideológico, brandi-do em situações que ameaçam reverter oequilíbrio (instável) entre os dois pólos12 , ou
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
Joanildo Á. Burity
31
é ostensivamente descartado em favor depráticas híbridas ou mesmo contraditórias.`
De outro lado, a competição religiosa nassociedades onde o fenômeno é significativo- ou seja, boa parte do mundo, à exceçãoda Europa ocidental, onde a tese da secula-rização adquire toda sua plausibilidade - ea interconexão das expressões comunitári-as de vida com diferentes alternativas reli-giosas forjando identidades mobilizadas,publicizarna religião (Casanova 1994). Estapublicização da religião, digo noutra parte,a propósito da visibilidade dos evangélicosna política brasileira,
"não é, ou não é simplesmente, uma ten-tativa de retorno da religião para neutra-lizar ou reverter a autonomia do político.E no ocidente, eia não tem ameaçado ademocracia, certamente não mais do queoutras forças culturais e políticas per-feitamente seculares em operação nasdemocracias realmente existentes. Apublicização ocorre muito em termos deresposta, reação, reafirmação de prá-ticas, valores e identidades que estãocolocadas em torno de questões contem-porâneas. Colocadas pelos fluxos globa-lizan (es, pelo avanço do pluralismocultural e político em grande parte domundo ocidental e, por força desses flu-xos globalizantes, como pressão sobreoutros espaços geopolíticos do planeta.Essa publicização é uma resposta, umareação em vários casos a questões quesão colocadas por desdobramentos dadinâmica social hoje, e não simplesmen-te uma espécie de resquício ou tentativade reinventar um mundo áureo da anti-guidade."
`No caso brasileiro, há que acrescentarque se trata também de um efeito de re-acomodação da diferença religiosa numasociedade por muito tempo acostumadaa mudar de forma transformista, absor-vendo o impacto das rupturas pela suaincorporação mitigada ao sistema da or-dem. Há novos atores religiosos em evi-dência, neste momento majoritariamenteevangélicos, e cuja representação nareligião civil do país e nas instituiçõespolíticas ainda é alvo de disputas e de
estratégias de ampliação de esferas deinfluência - numa frase, há um compo-nente religioso de luta hegemônica nasociedade brasileira. Quem, quando ecomo instaurará uma outra relação coma mudança social e política é matéria deinvenção social - por enquanto, suspei-to de que a religião fará parte indeléveldo processo". (Burity, 2004).
Os modelos de relação entre Estado ereligião são vários, histohcarnente: (a) religiãooficial, sem reconhecimento de pluralidadenum mesmo território (cujus régio, ejus reli-gio); (b) religião oficial, com reconhecimentopúblico de outras religiões num mesmo terri-tório; (c) separação entre religião e Estadocom liberdade religiosa; (d) separação entrereligião e Estado sem liberdade religiosa; (e)separação entre religião e estado com fortepredominância de uma religião (relações ofi-ciosas); (f) separação entre religião e Estadocom admissão de uma variedade de formasde presença religiosa na política ou de finan-ciamento público de atividades mantidas pororganizações religiosas.
Na medida em que haja provisões legaisou procedimentais para o funcionamentodessas modalidades, estamos claramentenum terreno de regulação, pluralista ou não.A exigência de registro para funcionamentode organizações religiosas (ligadas a anti-gas ou novas religiões), também é um casode regulação. Assim, qualquer exigência dereconhecimento público é já uma forma deregulação (Giumbelli, 2002). No entanto, aregulação não se esgota aí, mas pode seestender a um outro domínio: em que medi-da pode o Estado interferir nas disputas en-tre as religiões? Os avanços proselitistas deumas sobre outras constituem violação daliberdade religiosa? A influência política dealgumas constitui uma violação da separa-ção entre igreja e Estado? Que mecanismossão utilizados pelas próprias organizaçõesreligiosas no sentido de uma "auto-regula-ção" do campo? Qual o caráter público dosdebates em torno de questões como tais?
Essas interrogações, que se esperariaresolvidas pela repartição entre religião e
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocrático
joanildo A. Burity
32
Estado institucionalizada no modelo liberalmoderno, têm sido alvo de renovado interes-se em vista dos desafios postos, no Norte, peladireita cristã ou pela crescente populaçãomuçulmana (imigrantes de várias gerações);e no Sul, pelo crescimento dos evangélicosna América Latina, na África e partes da Ásia.Conflitos de base étnico-religiosa têm ocorri-do tanto num hemisfério como noutro.
Os principais modelos que disputam aestabilização dos arranjos regulatórios entrereligião e esfera pública na contemporanei-dade referenciam-se, ainda quando de for-ma crítica e qualificada, na tradição liberal.Do clássico laicismo (ou secularismo) de tipofrancês (ou indiano), ao multiculturalismo, orepublicanismo e o pluralismo democrático,as alternativas se apresentam cada vez maiscompósitas no que se refere ao quantum deintervenção da autoridade civil (legal ou polí-tica) empregada na regulação das religiões.Mas cada vez menos gozam de aceitaçãomodelos que prescrevem um enrijecimentoda fronteira entre a esfera pública e as práti-cas e organizações religiosas. De um lado,no plano jurídico-político, o multiculturalismotem avançado no sentido de assegurar cer-tas margens, brechas e espaços formais paraa vivência e a apresentação de demandasde identidades culturais (e religiosas) por re-conhecimento, eqüidade e participação. Deoutro lado, no plano das ações governamen-tais e das ações públicas de organizaçõesda sociedade civil, cresce um duplo movimen-to: de tolerância face a'"contribuição" de for-mas religiosas alheias à lógica laica dacidadania e do pluralismo político, e de cons-trução de redes e parcerias com organiza-ções e movimentos religiosos nas políticaspúblicas. Em todos esses casos - mesmoquando a retórica pública é inequivocamenteliberal (liberdade negativa, individualismo va-lorativo etc.) - também surgem numerosospontos de discórdia e distanciamento entreos grupos mais conservadores e os mais sen-síveis ás lógicas multicultural e pluralista.
Tomemos, para finalizar, o exemplo darecente intensificação das relações entre
organizações governamentais e organiza-ções religiosas na área social. As indicaçõesde que isso vai tornando-se mais recorren-te aparecem em diversas pistas deixadasno discurso dos gestores públicos. Em umdocumento produzido pela Assessoria Es-pecial da Presidência da República em 2000,elencavam-se as igrejas entre os parceirosnão-governamentais necessários para quea ação governamental pudesse dar contada amplitude da "questão social". Lê-se, ali,que o Programa de Redução da Mortalida-de Infantil, implementado em 914 dos muni-cípios mais pobres do país, contava comuma parceria entre o Governo Federal e aIgreja Católica. 14 (2000:20-21, 28, 32-33).
Num artigo onde analisam a filantropiaprivada nos últimos anos, Peliano e Begh-hin apontam que quase a metade das doa-ções feitas por empresas é dirigidas aorganizações comunitárias, filantrópicas oureligiosas que realizam ações sociais(2000:51; cf. tb. Paula e Rhoden, 1998; Lan-dim e Scalon, 2000).
Relatórios de instituições financeiras,como o BNDES, também reconhecem essevínculo entre religião e Estado na implemen-tação de ações sociais, desde há muito (BN-DES, 2001:6, 7). A tentativa do Estado denormatizar essas relações, através da cons-tituição de um novo tipo de ator da socieda-de civil, as organizações do terceiro setor,ao mesmo tempo em que procurava distin-guir legalmente essas das organizações re-ligiosas, partidárias, sindicais, profissionais,dentre outras, não conseguiu atrair as orga-nizações não-governamentais para seumodelo de parceria. Ainda em 2001,0 mes-mo documento reconhecia a pequena res-posta à convocação governamental(ldem:14)15.
No debate internacional, notadamentenos Estados Unidos, há uma ênfase na im-portância da participação das organizaçõesreligiosas na implementação de programassociais, ainda que não se saiba com exati-dão o impacto dessa presença. Tal ênfaseprovém tanto de fontes politicamente con-
Religiãoe república:
desaflosdo pluralismo
democrático
Joanildo A. Burity
33
servadoras - no governo Bush instituciona-lizou-se uma política federal de canalizaçãode programas sociais através de organiza-ções religiosas, sem prejuízo das já exis-tentes envolvendo organizações laicas dasociedade - quanto de setores organizadosnão-governamentais (cf. Goggin e Orth,2002; Dionne Jr. e Chen, 2001)16
Um discurso vai emergindo no plano in-ternacional, a partir de organismos multila-terais, das agências de cooperação para odesenvolvimento, de organizações e movi-mentos da sociedade civil de caráter trens-nacional, que valoriza a contribuição dasreligiões e das igrejas como provedoras deserviços sociais em bases voluntárias. Asfaith-based initiatives, por exemplo, tornam-se um alvo explícito da política governamen-tal norte-americana no governo Bush,embora de forma alguma sejam uma novi-dade. As questões legais e ideológicas liga-das ao acesso a fundos públicos por partede organizações religiosas foram sendo con-tornadas, sem que para isso se tivesse quealterar qualquer aspecto do marco constitu-cional de separação entre igreja e Estadonesses contextos nacionais. As chamadaspolíticas multiculturais, por sua vez, incluí-ram a identidade religiosa e as práticas as-sociadas a ela como parte das diferenças aserem integradas a partir de certas noçõesde direitos de cidadania ou de afirmaçãocomunitária, à ordem política das democra-cias liberais (cf. Greeley, 1997a; 1997b;Modood, 1999; Kaminer, 1997; Kramnickand Moore, 1997; Burity, 2000a, 2000b;Connolly, 1999a; Marchand, 2000).
Assim, o processo vivenciado no Brasilnão apenas tem a sua contraparte em outroscontextos nacionais, como as experiênciasali vivenciadas cruzaram-se em diferentesmomentos, pela tentativa de aplicação demodelos ou pela disseminação de informa-ções 1 com o paulatino processo de composi-ção política (não fortuita, não ditada por algumautomatismo estrutural ou conjuntural, masfruto de investimentos deliberados, de articu-lações e experimentações) entre os desafios
e contradições postos pela história recentedo país e as tendências internacionais. Énesse bojo que a articulação entre políticassociais e religião vai se dando, no espaço deintersecção da sociedade civil com o estado.
O discurso das redes e parcerias, articu-lado ao tema da religião, já está colocado naagenda pública, mesmo que haja limites le-gais para o tipo de relação que se estabele-ça entre parte destes atores, a saber,organizações religiosas e agências governa-mentais (o marco legal do terceiro setor, apro-vado em 1998, proíbe a celebração deparcerias com entidades que tenham objeti-vos explicitamente confessionais). No entan-to, isso de forma alguma inibiu a canalizaçãode recursos através de entidades religiosas,uma vez que elas se encontram amparadaspor outra legislação, a que dá conta das açõesfilantrópicas ou das de utilidade pública. Umlevantamento feito por nós em 2002 somen-te junto ao Programa Comunidade Solidária,em quatro estados brasileiros - Pernambu-co, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grandedo Sul - apontou um número de 175 entida-des que recebiam recursos ou mantinhamprojetos em parceria com o Governo Fede-ral, Além do mais, o exemplo de entidadescomo a Fundação Luterana de Diaconia, cre-denciada como OSCIP (o ente jurídico de quetrata a Lei do Terceiro Setor) aponta para afácil solução desse impedimento, na medidaem que se constitua uma entidade - aindaque diretamente chancelada e gerida porestruturas eclesiásticas - que se qualifique atal perfil de parceria, contanto que a atuaçãonão-proselitista e o sentido público dos servi-ços oferecidos (sem seleção por adesão reli-giosa) estejam claramente assegurados. Emoutros casos, mais comuns nas parceas nosníveis estadual e municipal, sequer esses li-mites se colocam, ao mesmo tempo continu-ando uma longuíssima tradição - de origemcatólica, mas hoje mudando apenas de cará-ter denominacional com a evidência políticaassumida pelos evangélicos conservadores.
O discurso, assim, não chama à existên-cia um processo sem precedentes, mas re-
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocrã Ci co
Joanildo A. Burity
34
articula-o, introduzindo novas dimensões -sendo as mais significativas a ampliação dasreferências organizacionais, com a inclusãodos evangélicos (conservadores ou não) nasredes de políticas sociais; e a disseminaçãodo imaginário da conexão e da cooperaçãocomo horizontes obrigatórios da ação socialou política eficaz. Nesse ínterim, não há umtotal desbloqueio de qualquer resistência aesse processo. A presença evangélica nocenário político ainda é controvertida o bas-tante para desarmar os espíritos mais céti-cos - e há boas razões para isso, mesmoquando se considera o fato de que algunsdos parceiros mais vulneráveis a essas críti-cas entraram no cerne da composição politi-ca do atual governo: a própria aliança PT/PL,que sacramenta a estratégia da Igreja Uni-versal. Mas há um claro desbloqueio da mo-vimentação dos evangélicos e outros gruposreligiosos menores estatística e politicamen-te em direção a uma presença mais ativa nocenário sociopolítico do país, reforçando atendência ao reforço mútuo entre pluralismopolítico e pluralismo religioso.
Dados da pesquisa mencionada acima,sobre a legitimação das organizações reli-giosas para atuação em redes e parceriasna área social (Burity, 2003), mostraram quenão aparecem resistências e sim qualifica-ções na posição das ONGs laicas, as quaisindicam a maior facilidade de trabalhar suasquestões com igrejas que possuam abertu-ra ecumênica ou sensibilidade para traba-lharem num contexto complexo. Seja porlidar com a religião num contexto amplo derespeito às diferenças e de afinidade políti-ca do tipo de trabalho realizado na socieda-de, ou pela valorização da experiênciafilantrópica das igrejas. Para uma ONG lai-ca, que desde sua fundação conta comapoio e financiamento de agências ecumê-nicas e evangélicas, o marco jurídico dasrelações entre igreja e Estado no Brasil de-fine bem o lugar de cada um. O que nãoimpede que as igrejas exerçam influênciajunto ao Estado, principalmente através dospolíticos que as representam.
Esse reconhecimento do papel das or-ganizações religiosas em parcerias com ór-gãos públicos se coloca, para outra ONGlaica, no contexto das dimensões do proble-ma da pobreza e da exclusão social na so-ciedade brasileira, que demandaria aresponsabilidade do conjunto da sociedade;tendo as instituições religiosas um "impor-tante papel agregador que representam nasociedade, são importantes nessa tarefa".Além do mais, dever-se-ia fazer justiça à si-tuação de fato existente:
"Muitas organizações do terceiro setortêm base religiosas. Não devem ser ex-cluídas por sua origem se realizam tra-balho em prol de excluídos. Essa é umatendência mundial. Muitas das agênciasde cooperação que financiam [nome daONG, JAB] são organizações religiosasque desenvolvem importante papel emseus países e no nosso. Seria hipocrisianossa aceitar recursos de organizaçõesreligiosas estrangeiras e querer excluí-das [sic] do processo interno" (Questio-nário, pesquisa direta).
Algumas entidades religiosas assumemposturas semelhantes, tendo ou não umaexperiência significativa na atuação junto aoEstado: apontam a credibilidade junto à po-pulação, o que ao mesmo tempo permitiriae recomendaria "assegurar autonomia emrelação ao governo", de forma a manteraberto o canal de escuta e compromissocom as demandas sociais; defendem a le-gitimidade de acesso a recursos públicos seas atividades que as igrejas desenvolvemna área social (saúde, creches etc.) são deresponsabilidade governamental e não es-tejam sendo assumidas por este; desco-brem, na prática, a "grande contribuição" queas igrejas oferecem "no campo da forma-ção humana, no cultivo de valores éticos ede cidadania, razão pela qual nada impedeque do Estado receba subsídios para o de-senvolvimento do seu trabalho".
Conclusão
Esta exploração destacou que há mudan-ças na forma como a República contemporã-
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
]oanlldo A. Burity
911
nea vem equacionando a relação entre Esta-do e religião. De um lado, o republicanismotem sido apresentado como um suplementoimportante do déficit de participação e de vir-tude cívica em certas dimensões das socie-dades liberal-democráticas. De outro lado, aose revalorizar esse capital social" e as virtu-des cidadãs, encontram-se não apenas ve-lhas práticas ligadas a instituições religiosas(com sua longa experiência de serviço vo-luntário, filantrópico ou sócio-politicamenteengajado), mas também uma série de inter-faces entre a politização de identidades cole-tivas e o pertencimento religioso. Além disso,a revalorização do republicanismo se dá apar com uma admissão da pluralidade e he-terogeneidade da comunidade política, o quelevanta a questão do pluralismo no cerne domodelo republicano.
As sociedades contemporâneas e, paranossos propósitos, particularmente a brasi-leira, têm vivenciado diversos processos quelevam do reconhecimento da pluralidade àemergência de uma situação pluralista. Aampliação da malha associativa e a intensi-ficação das iniciativas da sociedade civil nosentido de promover a cidadania e intervirdecisivamente no processo de tomada dedecisões (desde a formação da agenda pú-blica até a provisão social, passando por suaparticipação na legislação e nas políticaspúblicas) são os meios principais dessa ex-perimentação. Não é um processo linear,nem isento de ambigüidades, das quais osconflitos jurídicos pela reacomodação dasfronteiras entre o religioso, o público e o pri-vado são apenas uma ilustração. Mas o atualquadro aponta para a necessidade de umaséria revisão de pressupostos e formas deabordagem dos fenômenos ligados à pre-sença pública das religiões, seja entre osanalistas acadêmicos, seja entre os atoressociais e políticos laicos.
Se, como querem Vianna e Carvalho(2000) em sua leitura dos caminhos da re-pública no Brasil, a novidade dos últimosanos foi "conceder liberdades de movimen-tos, no contexto de uma institucionalidade
democrática, às grandes maiorias", levan-do a uma recriação da república desde bai-xo, "enraizada nos interesses e expectativasde direitos do que até agora foi o limbo doBrasil", ainda há muito que compreender eque acomodar nas tibrilações desse "limbo"que partem do campo religioso, em plenoprocesso de diferenciação, dessincretizaçãoe descoberta da esfera pública. A capacida-de da república democrática de dar espaçoa essas expressões de uma sociabilidadeque só tão recentemente vem re-encetandoseu momento de politização (interrompidoque foi, política e doutrinariamente, nos anosda ditadura, após uma breve "primavera"entre 1950 e 1964), dependerá não somen-te da plasticidade das instituições políticaspara abrigar o "interesse bem compreendi-do" religiosamente, mas também da conti-nuidade do processo de pluralização dacultura cívica secular e do campo religioso.
Por fim, não se pode descurar o papel dosintelectuais orgânicos politicamente engaja-dos das religiões, em seus esforços de dis-putar hegemonicamente seja a opiniãodominante de suas igrejas, centros, terreiros,ou outras formas organizativas, seja as inici-ativas de base na área do envolvimento soci-al e da "inculturação" das práticas religiosasno cotidiano local ou das identidades religio-sas. Esse segmento da população religiosa-mente motivada ou mobilizada desde hámuito mantém laços e constroem redes comdiferentes atores que se movem na socieda-de civil e em diversas instâncias intermediá-rias de participação popular - como fóruns econselhos ligados a programas ou políticaspúblicas. Seria inexplicável para o pensamen-to democrático e a análise sociológica e polí-tica das práticas republicanas no país se asestratégias de pesquisa focalizassem as ini-ciativas locais e minoritárias laicas com vis-tas a seu potencial e contribuições emdetrimento de outras tantas homólogas e emmuitos casos articuladas em rede com aque-las, mas que se constituem a partir de identi-dades religiosas militantes. A essas tambémse aplicaria o "paralelo tocquevilleano" de que
Religiãoe repúbUca:desafiosdo pluralismodemocrático
]oanildo A. Burity
36
fala Ireland (1999), de como uma politização'bem compreendida" da religião reforça oassociativismo, os valores democráticos e acidadania, mesmo que isso não seja inteira-mente consistente com certas práticas e va-Ores vivenciados no nível das comunidadesreligiosas.
Não é de se esperar que esse "paralelo"signifique um reforço inequívoco do republi-canismo por parte das religiões brasileiras,nem que a expansão politizante dos gruposreligiosos - que ora já vai além dos pente-costais, por emulação de suas estratégiaseleitorais - forneça um modelo para a soci-edade em geral. Isso seria ingenuidade te-órica ou triunfalismo confessional. Oargumento deste trabalho aponta inteira-
mente noutra direção: a de que é precisotemperar o republicanismo com o pluralis-mo como cultura, e não somente como mar-co institucional e legal. Assim, pode-semanter aberta a tensão e o lugar para queformas de identificação democrática possamsurgir (e mesmo competir) num terreno quenem se confunde com a comunidade políti-ca (nacional) una e homogênea, nem comuma dispersão de identidades ensimesma-das em nome de uma discutível ética daautenticidade. Em que as demandas cultu-rais e políticas da identidade se dividem,indëcididas, entre a coisa pública para to-dos e o respeito às diferenças de cada qual.Novos nomes e lugares para a utopia repu-blicana no novo século.
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
Joanildo A. Burity
37
Notas
Escala que define o escopo dessas transformações - suaabrangência espacial, através das fronteiras nacionais -mas não diz ainda muito sobre a intensidade com que sãosentidas ou produzem impactos em cada contexto local(quer em termos das"unidades"nacionais do mundo politi-camente organizado, quer em termos de regiões, localida-des ou comunidades particulares). A escala é planetária,mas sua'distribuição"e intensidade variam bastante de umcontexto para outro.
1 Oriunda de uma história da formação politica do pais, emque liberalismo fora coisa de elites e combinara-se em do-ses generosas a um comunilarismo corporativista, a cultu-ra politica dominante no Brasil agregou a esta dupla herança- cujo principal efeito foi o de uma incorporação subalternae seletiva á cidadania da classe trabalhadora - um indivi-dualismo anti-político, centrado nas práticas de mercado,descomprometido com a esfera pública e no máximo serelacionando de forma instrumental com as instituições re-publicanas. Somente a partir da segunda metade dos anosde 1950— e em meio á forte ascensão da cultura de merca-do - outra lógica da cidadania e da coisa pública se desen-volverá, a partir da idéia de participação popular (cf. Viannae Carvalho, 2000).
Para algumas referências sobre as razões da ênfase naquestão do republicanismo hoje, ver Skinner, 1999; Rawls,2001; 1-tabermas, 2004; Tàylor, 2000; Ireland, 1999.
8 Vásquez destaca este ponto com relação á América Lati-na, em geral, no mesmo periodo (cl, 1999) - ainda que otaça a partir de uma versão da teoria da modernização deque discordamos.
Para algumas análises que analisam, questionam e des-crevem aspectos relevantes para nossa interpretação da di-ferenciação e pluralismo na sociedade brasileira desde osanos de 1990, mas com as quais não necessariamente esta-mos de acordo nos detalhes, veja-se Soares, 1993; Freston,1993; Oro, 1996, 2003; Pierucci, 1996; Sanchis, 2001,
'° Para boas discussões sobre questões históricas e filosó-ficas relacionadas à questão da tolerância, cf. Labrousse,2003; Ric'oeur, 1993; McCture, 1990; Holland, 2000. Discu-tio tema em relação à conjuntura de meados dos anos de1990, em Burity, 1997:88-127,
''tsto sempre se dá num lerreno de retaçõeb assimétricas depoder, decorrentes de fatores como demogratia, recursos or-ganizacionais, propensão ao proselitismo, rivalidades ou pre-conceitos éticos ou étnicos, Assim, a emulação ou oantagonismo entre religiões, traduzindo-se em tentativas deestabilizá-las politicamente, podem ser desencadeadas apartir de uma delas (ou de uma tração desta). No exemplobrasileiro, é indiscutivel o peso que o pentecostatismo temtido nas duas últimas décadas em deseslabitizar a hegemo-nia católica e o arranjo constitucional liberal vigentes.
Me abstenho de discutir aqui alguns filões da tradição re-publicana, como aqueles que definem o envolvimento coma esfera pública como uma forma essencial de realizaçãohumana (humanismo cívico) ou definem a obrigação frenteá esfera pública como condição para preservar a(s)liberdade(s) (republicanismo clássico) - cl. Meto, 2002;Skinner, 1999; Taytor, 2000; Habermas, 2004. No que sesegue, estará mais subjacente aquilo que Vianna e Carva-lho chamam da"experiéncia republicana tal como se apre-senta no mundo, e não a sua construção modela((2000).Uma construção histórica, processual, não-linear de demo-cratização da esfera pública, em que o individual e o coleti-vo encontraram formas de controle e suporte mútuos, Isto,no entanto, não nos põe em acordo irrestrito com a inter-pretação dos autores, notadamenle na sua concepçãoda"naturalização"da república no estado de direito e em suainstitucionalização em procedimentos juridico-politicos.
2 Para discussões equilibradas, mas com conclusões distin-tas sobre a questão do neutralismo, tanto em relação á exis-téncia de espaços e procedimentos institucionais sensiveisà diferença religiosa, como à legitimidade ou moralidade douso de linguagem ou argumentos religiosos no debate públi-co, cf. Connotty, 1999a; 1999b; Rãitkã, 2000. Sobro o neu-tralismo liberal na prática académica, ver Burity, 2003:25-28,
" Recentemente este hibridismo tem exposto seu lado con-traditório na forma como a identidade religiosa istámica temsido alvo de diversas medidas regutatórias. Tome-se o casofrancês, em que, por lei, proibiu-se o uso do véu por alunasde escotas públicas. Em noticia veiculada pelo boletim ra-diofónico da BBC Brasil, em 081912004, noticiou-se que umrestaurante parisiense adotou a mesma proibição, e foi for-çado a voltar atrás pelo órgão responsável por apurar vio-lações da liberdade religiosa e dos direitos civis, sob oargumento de que isto violava a liberdade religiosa.
Religiãoe república:desaflosdo pluralismodemocrático
Joanitdo A. Burity
Sobre a singularidade histórica da articulação entre religião,sociedade e cultura no Ocidente europeu moderno - queimplica numa critica implicila ás tentativas de transformaçãoda modemidade religiosa ocidental num modelo histórico paraos demais países - cl. Burity, 2002a; Kalberg, 1993.
Cf. Berger, 1998; Riis, 1999; Gray, 2000; McClure, 1992.
No caso da colónia, não se pode propriamente falar deimigração, senãoem breves momentos, como no penedoholandês (a qual esteve articulada á liberdade religiosa),ou em relação aos judeus (antes das perseguições pomba-tinas). A população africana de escravos nunca foi conferi-do nenhum direito de escolha ou respeito a suas religiões.
IS Através da Pastoral da Criança.
° Documentos produzidos para o Banco Mundial sobreações de enfrentamento da pobreza e organizações dasociedade civil também apontam para essa relevância dasorganizações religiosas (Poverly Reduclion and EconomicManagement Network, 1999, Meto, 1999).
6 Boa parte deste debate pode ser encontrado no projetomantido pelo Nelson A. Rocktetter Instituis ol Government,com recursos da Pew Charitabte Trusts, chamado"TheRoundtabte on Retigion and Social Wetfare Poticy "Videww.retigionandsociatpoticy.org/index.htm.
38
Referências Bibliográficas
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
BERGER, Peter. Protestantism and lhe Questfor Certainty, The Christian Century, August 26-September2, 1998, pp. 782-796. www.religion-online.org 1 acesso em 0111012002.
BOUMA, Gary D. The emergence of religiousplurality in Austral/a: A multicultural society. So-ciology of Rehgion, v. 56, no- 3; Fali 1995.
GREWER, Taibot e Walzer, Michael. Civil socie-ty and democracy: a conversation with MichaelWalzer. The Hedgehog Review, vi, rf. 1, 1999.http:l/etext.virginia.edu/etcbin . Acesso em 24108/04.
BURITY, JoanildoA. Identidade e política no cam-po religioso: estudos sobre cultura, pluralismo e onovo ativismo eclesial. Recife, IPESPEAJFPE. 1997.
Religião e política na fronteira: desinsti-tucionalização e deslocamento numa relaçãohistoricamente polêmica. Teoria & Sociedade, nt.8, dezembro, pp. 98-115. 2001.
"Mudança cultural, mudança religiosa emudança política: para onde caminhamos?" Bu-rity, Joaniido (org.). Cultura e identidade: pers-pectivas interdisciplinares. Rio de Janeiro, DP&A,pp. 29-63. 2002a.
Cultura e cultura política: sobre retor-nos e retrocessos, Revista de Ciências Sociais-UFC, v. 33, n°. 1, pp. 7-31.20021b.
Redes sociais e a construção da legiti-midade política para a participação religiosa naspolíticas sociais no Brasil. Relatório de pesqui-sa. Recife, Fundação Joaquim Nabuco, mimeo.2003a.
CASANOVA, José. Public Religions in lhe Mo-dern World. Chicago, Chicago University. 1994.
CASTELLS, ManuS, The Powerof ldentity (TheInformation Age: Economy, Society ano Culture,v. II). MalderdOxford, Blackweil. 1997.
CHANDLER, Ralph Clark. Religion in lhe publicsquare. Public Administration Review, MarlApr1999; v. 59, n9. 2. 1999.
COCHRAN, Clarke E. Religion in Public ano Pri-vate Lite. London/New York, Routiedge. 1990.
COMISSÃO de Direitos Humanos da Câmarados Deputados; Movimento Nacional de Direi-tos Humanos; Procuradoria Federal dos Direi-tos do Cidadão (coords.). O Brasil e o PactoInternacional de Direitos Económicos, Sociais eCulturais. Relatório da Sociedade Civil sobre oCumprimento, pelo Brasil, do Pacto Internacio-nal de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.Brasília, abril, 79 pp. 2000.
CONNOLLY, William E. Why IAm Not a Secula-rist. Minneapolis/London, University of Minneso-ta. 1999a.
______ The ethos of pluralization. Minneapolis,University ol Minnesota. 19991b.
CORTEN, André. O pentecoslalismo transnaci-onalizado no contexto teológico-político. Horizon-tes Antropológicos, v. 7, pp. 149-60, Julho. 2001.
DAVIDSON, Alastair. Open Republic, multicultu-ralism ano citizenship: lhe French debate. The-ory & Event, v. 3, no. 2. 1999.
Joanildo A. Burity______ Novas cartografias do sagrado: Religiãoe religiosidade num contexto plural e em deslo-camento. Trabalho apresentado no XXVII Encon-tro Anual da ANPOCS, GT Religião e Sociedade.Caxambu. 2003b.
"Religião, voto e instituições políticas:notas sobre os evangélicos nas eleições 2002."Burity, Joanildo e Machado, Maria das DoresCampos (orgsj. Evangélicos, eleições e políticano Brasil. Recife, Massangana. 2004.
CALHOUN, Craig. "Social Theoiy and lhe Poli-tics o! ldentity "Calhoun, Craig (ed.). Social The-ory ano lhe Politics o! ldentity. Oxford/Carnbridge,Mass., Blackweil. 1995.
DIONNE JR., E. J. e Chen, Ming Hsu (eds.).Sacred places, civic purposes: should gover-nment help faith-based charity? Washington,DC., Brookings Institution. 2001.
FERRAR], Silvio. 'The New Wine ano lhe OldCask: Tolerance, Religion, and lhe Law in Con-temporaryEurope."Sajó, András e Avineri, Schlo-mo (eds.). The Lawof Religious ldentity: Modelsfor Post-Communism. The Hague/Boston/Lon-don, Kluwer Law Internatiorial. 1999.
FRESTON, Paul. Protestantes e Política no Bra-sil: da Constituinte ao lmpeachment. Tese dedoutoramento em Sociologia. Campinas, Univer-sidade Estadual de Campinas, mimeo. 1993.
39
GIUMBELLI, Emerson. O Fim da Religião: dile-mas da liberdade religiosa no Brasil e na Fran-ça. São Paulo, Attar/CNPq-Pronex. 2002.
GOGGIN, Malcoim L. e Orth, Deborah A. HowFaith-Based ano Secular Organizations TackleHousing for lhe Homeless. Albany, RockefellerInstitute of GovernmentlState University of NewYork, October. 2002,
GRAY, John. Pluralism and toleration in contem-poraiypoliticalphilosophy Political Studies, v. 48,pp. 323-333. 2000.
HABERMAS, Jurgen. A Inclusão do Outro: estudosde teoria política. 2. ed. São Paulo, Loyola, 2004.
HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e medi-ações culturais. Belo Horizonte/Brasília, UFMG/Representação da UNESCO no Brasil. 2003.
MACHADO, Maria das Dores Campos. igrejaUniversal: uma organização providéncia. "IgrejaUniversal do Reino de Deus: os novos con quis-tadores da fé. São Paulo, Paulinas, pp. 303-320.2003.
MACHADO & MARIZ, Cecilia Loreto. Evangéli-cos e Católicos: as articulações da religião coma política. Trabalho apresentado na XXVII Con-ferência lnternational da Sociedade Internacio-nal de Sociologia das Religiões. Turim, 21-25 dejulho. 2003. http://www.xenodus.com/articie-.php3?id_article=16 .
MARTY, Martin E. "Public religion." Swalos, Wi-liam H. (ed.), Encyclopedia of Religion ano So-ciety. Walnut Creek, CA, Altamira, 1998. acessoem 1710912004. http://hirr/hartsem.edu/ency/PublicR.htm,
HIRST, Paul. J.N. Figgis. Churches ano lhe Sta-te. The Political Ouarterly, v. 71, suplemento ri2.1, Agosto, pp. 104-120. 2000,
HOLLAND, Catherine A, Giving reasons: re-thinking toleration for a plural world. Theory &Event, v. 4, no. 4. 2000.
IONTCHEVA, Jenia Power. Clashes in a Multi-cultural World. Theory & Evenl, vol. 2, no. 1.
IRELAND, Rowan. 1999. Popular religions anolhe building of democracy in Latin America: sa-ving lhe Tocquevlllean parailel. Journal ol Inte-ramerican Studies and World Atfairs, v. 41, n 9 . 4,inverno, pp. 111-136. 1998.
KALBERO, Stephen. "Cultural Foundations ofModern Citizenship."Turner, Bryan S. (ed.). Citi-zenship and Social Theory. London/NewburyParldNew Délhi, SAGE. 1993.
MCCLURE, Kirstie. Difference, Diversiiy and lheLimits o! Toleration. Political Theory, v. 18, n 3,agosto. 1990.
"On lhe Subject of Rights: Pluralism, Plu-ralityandPoliticalldentity."Mouffe, Chantal (ed.).Dimensions of Radical Democracy. London, Ver-so, pp. 108-127. 1992.
MELO, Marcus André. "Gains and Losses in lheFavelas", Voices of lhe Poor: From Many Lands.World Bank, 1999. Acessado em. http://www.-worl dbank. o rg/pove rty/voi ces/re ports/lands/lanbraz.pdt.
Republicanismo, Liberalismo e Racio-nalidade. Lua Nova, ri2 . 55156. 2002.
MODOOD, Taq. Their liberalism and our multicul-turalism? Brftish Joumal ot Politics and Intematio-nal Relations, v. 3, no. 2, Junho, pp. 247-57. 2001.
Religiãoe república:desafiosdo pluralismodemocrático
KYMLICKA, Will. Multicultural citizenship: A Li-beral Theory of Minority Rights. Oxford, Claren-don. 1995.
KYMLICKA & NORMAN, Wayne (eds.) Ciii-zenship in Diverse Societies. Oxtord/New York,Oxford University.. 2000.
LABROUSSE, Elisabelh. "Religious Toleration",The Dictionaty of 0w 1-listory o! ldeas. ElectronicTexi Center, University ot Virginia, http:/letext.vir-ginia.edu/cgi-local/DHI, acesso em 2510812004.2003.
LANDIM, Leilah & SCALON, Maria Ccli. Doaçõese trabalho voluntário no Brasil: uma pesquisa.Rio de Janeiro, 7 Letras. 2000.
MOUFFE, Chantal. 'Religião, democracia libe-ral e cidadania." Burity, Joanildo e Machado, Ma-ria das Dores Campos (orgs.). Evangélicos,eleições e política no Brasil. Recife, Massanga-na. 2004.
ORO, Ari Pedro. Avanço Pentecostal e ReaçãoCatólica. Petrõpolis, Vozes. 1996.
igreja Universal: um poder político.Oro, Ari Pedro; Corlen, André; Dozon, Jean-Pi-erre (orgs.). Igreja Universal do Reino de Deus:os novos conquistadores da fé. São Paulo, Pau-linas, pp. 281-302. 2003.
PARKER GUMUCIO, Cristián. Globalización, di-versidad religiosa y democracia multicultural.
Joanildo A. Burity
40
Religiãoe república:
desafiosdo pluralismo
democrático
Religião & Sociedade, v, 20, ri2 . 1, abril, pp. 9-38. 1999.
PAULA, Sérgio Goes de; e Rhoden, Fabiola. 'Fi-lantropia empresarial em discussão: números econcepções a partir do Prêmio Eco, "Landim, Lei-ah (org.). Ações em sociedade: Militância, cari-dade, assistência, etc. Rio de Janeiro, Nau/ISER.
PIERUCCI, Antonio Flávio. Liberdade de Cultosna Sociedade de Serviços - em defesa do con-sumidor religioso. Novos Estudos CEBRAP, ri2.
44, Março. 1996.
POVERTY REDUCTION AND ECONOMIC MA-NAGEMENT NETWORK. Consultations with lhePoor: Brazil National Synthesis Report, TheWorld Bank.1999. Acessado em http://www.-worldbank.org/poverty/voices/reports/national/brazil.pdf
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/Assessoria Es-pecial. Preparando o Brasil para o Século XXI:uma experiência de governo para a mudança.Brasília, fevereiro. 2000.
RAWLS, John. Justice as fairness: a restatement.Cambridge, Belknap PresslHarvard UniversilyPress. 2001.
RÂIKKÂ, Juha. The Placa ofReligiousArgumentsin Civic Discussion. Ratio Juris, v. 13, no. 2, Ju-nho, pp. 162-76. 2000.
RICOEUR, Paul. 'Tolerância, intolerância, into-lerável' Leituras 1: Em Torno ao Político. SãoPaulo, Loyola. 1993.
RllS, Ole. Modes of Religious Pluralism underConditions of Globalisation. MOST Journal onCultural Pluralism, v. 1, n 2. 1 Notas. 1.1999. http:/Iwww.unesco.org ./mostivll ni iis.htm. Acesso em03/0611 999.
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e di-ferença: a perspectiva dos estudos culturais. Pe-trópolis, Vozes. 2000.
SKINNER, Quentin. Liberdade antes do libera-lismo. São Paulo, Unesp. 1999.
SOARES, Luiz Eduardo. "Dimensões democrá-ticas do conflito religioso no Brasil: a guerra dospentecostais contra o afro-brasileiro' Os doiscorpos do presidente e outros ensaios. Rio deJaneiro, Relume-Dumará. 1993,
SORJ, Bernardo. A Nova Sociedade Brasileira.22 . Ed. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002.
SOUZA, Jessé. "Max Weber, Patrimonialismo e aSingularidade Cultura) Brasileira." Costa, Silvio(org.). Concepções e Formação do Estado Brasi-leiro. São Paulo, Anta Garibaldi, pp. 58-81. 1999.
- A construção social da subcidadania.Belo Horizonte, UFMG. 2003a.
- Para a ralé, nada. Entrevista de JesséSouza a Flávio Pinheiro, no mínimo, seção 'Ratode livraria", 8 de dezembro, 2003b. Acessado emhttp://nominimo.ibest.com.br/notitia2 . 08/1212003.
TAYLOR, Charles. Argumentações filosóficas.São Paulo, Loyola. 2000.
VÁSQUEZ, Manuel A. Towarda new agenda forlhe study of religion in lhe Americas. Journal olInteramerican Studies and World Aflairs, v. 41,0. 4, pp. 1-19. 1999.
WALD, Kenneth D. e Corey, Jeffrey C. The Chris-tian Right and Public Policy: testing lhe SecondGeneration Thesis. Department af Political Sci-ence, University of Florida. 2000. Acessado emwww.clas.ufl.edu/users/kenwald/mairi!070001 WaldKennet.pdf, 1010612004.
Joanildo A. Burity ROSENFELD, Michel. "A Pluralist Critique o! lheConstitutional Treatment of Religion." Sajã, An-drás e Avineri, Schlonio (eds.). The Lawof Reli-gious ldentity: Modeis for Post-Communism. TheHague/Boston/London, Kluwer Law International.1999,
SANCHIS, Pierre (org.). Fiéis & Cidadãos: Per-cursos de sincretismo no Brasil. Rio de Janeiro,UERJ. 2001.
WIMBERLEY, Ronald C. e Swatos Jr., William H."Civil religion."Swatos, Williarn H. (ed.). Encyclo-pedia of Religion ano Society. Walnut Creek, CA,Altamira. 1998. Acesso em http:/Riirr/hartsem.edu/ency/PublicR.htm. 17109/2004.
41