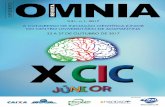ANAIS DO CBEB '2000 XVII Congresso Brasileiro de ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ANAIS DO CBEB '2000 XVII Congresso Brasileiro de ...
ANAIS DO CBEB '2000
XVII Congresso Brasileiro de Engenharia 11 - 13 de Setembro de 2000
Ilha de Santa Catarina Brasil
" 1
ORGANIZAÇÃO PROMOÇ O
édica
Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica - GPEB/UFSC
Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB
EDITORES
Fernando Mendes de Azevedo Jefferson Luiz Brum Marques
Idágene Cestari
Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (XVII.: 2000: Florianópolis, SC) Anais do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 11 a 13 de Setembro de 2.000, realização Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica (GPEB) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB), editores Fernando Mendes de Azevedo ... [ et al.] - 1.473 p.: il.
ISBN: 85-901540-1-7 Com: XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.
Engenharia Biomédica. I. Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (17.: 2000: Florianópolis). II. Fernando Mendes de Azevedo, 1954.
XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
Presidência: Vice-Presidência: Secretaria Executiva: Tesouraria:
COMITÊ EXECUTIVO
COMITÊ APOIO
Prof. Dr. F emando Mendes de Azevedo Prof. Dr. Renato Garcia Ojeda Jom. Vânia A. Mattozo Eng. Lourdes Mattos Brasil, Ora.
Prof. Dr. F emando Mendes de Azevedo Prof. Dr. Renato Garcia Ojeda Prof. Dr. Raimes Moraes Prof. Dr. Jefferson Luiz Brum Marques Ora. Lourdes Mattos Brasil Jom. Vânia A. Mattozo
Andrea T. Barbosa Riccio André Lückman Ciro Jose Egoavil Montero Daniela Figueiredo Ferreira Pinto Glória Millaray Curilem Saldías Ivonete M. C. Seifert Jorge Roberto Guedes José Fábio Kolzer Kathya Collazos Linares Kátia Gonçalves Hilsheim Letícia Baltazar Marco Aurélio Benedetti Rodrigues Maria do Canno Vitarelli Pereira Maria Nazaré Munari Angeloni Renato Zaniboni Sérgio Antunez Wayne Brod Beskow
III
XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
COMITÊ CIENTÍFICO E CORPO REVISORES
Adolfo A Leimer Adroaldo Raizer
Adson Ferreira da Rocha Airton Ramos
Alberto Carlos Amadio Alcimar Barbosa Soares
Aldo Brngnera Junior Aldo Pacheco Ferreira Aldo Von Wangenheim
Ana Cecília Pedrosa de Azevedo Ana Claudia Rubi Castro
Annie France Frere Antônio Augusto Faso lo Quevedo
Antonio Balbin Villaverde Antonio Carlos Shimano
Antonio Fernando Catelli lnfantosi Antônio Gianella Neto
Antônio José da Silva Neto Antônio Luiz Barbosa Pinheiro
Armando Albe1iazzi Aurora Trinidad Ramirez Pozo
Bernd H. Storb Bertoldo Schneider Jr. Carlos Inacio Zanchin
Carlos Marcelo Gurjão de Godoy Cássio Guimarães Lopes
Cecil Chow Robilotta Cecilia Amélia de Carvalho Zavaglia
Ciro José Egoavil Montero Claudia Mirian de Godoy Marques
Danilo Paiva Almeida Diego Sebastian Graf Caride
Edileusa Bems Edna Lúcia Flôres
Eduardo Tavares Costa Elisamara de Oliveira
Erlon de Rocco Fabio Cesar Knihs
Prof. Jefferson Luiz Brum Marques, Dr. Coordenador
Fernanda Isabel Marques Argoud Fernando Mendes de Azevedo
Fernando Reiszel Pereira Flávio Fonseca Nobre
Franco M. Pessana Frank Hrebabetsky
Gilberto Arantes Carrijo Gilberto Goissis
Gloria Dulce de Almeida Soares Gloria Millaray Julia Curilem Saldías
Golberi de Salvador Ferreira Hanilson Savi
Heitor Silvério Lopes Helio Schechtman Homero Schiabel
Jane Maryam Rondina Jean Claudi Sucupira Domingos Jefferson Luiz Brnm Marques
Jorge E. Monzon Jorge Roberto Guedes
José Carlos Pereira José Marcos Alves José Marino Neto
José Tadeu Fontes Leite José Wilson Magalhães Bassani
Jurandir Nadal Kátia Calligaris Rodrigues
Kleide Mara Ferreira Lea Mirian Barbosa da Fonseca
Leo Janner Cartana Albornoz Lincoln de Assis Moura Jr.
Lírio Schaeffer Lourdes Mattos Brasil Luis Carlos Carvalho
Luis Eduardo Schardong Spalding Luis G. Gamero
Márcio Celso Fredel Márcio Nogueira de Souza
Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
IV
Marcos Duarte Marcos Tadeu Tavares Pacheco Marcos Vinícius Lucatelli Mardson Freitas do Amorim Mareni Rocha Farias Maria do Carmo Vitarelli Pereira Maria Marlene de Souza Pires Maurício Campelo Tavares Mauro Roisenberg Max Chacón-Pacheco Nancy Akemi Sigaki Nicolau André Silveira Rodrigues Odair Dias Gonçalves Paulo Jorge Câmara Pizarro Paulo José Abatti Pedro Miguel Gewehr Raimes Moraes Raul Sidnei Wazlawick Renato Garcia Renato Zaniboni Ricardo Luís Armentano Roberto de Alencar Lotufo Roberto Macoto lchinose Rosana A. Bassani Rosimary Terezinha de Almeida Sérgio Santos Mühlen Sérgio Shiguemi Furnie Sílvia Modesto Nassar Simone Nunes Ferreira Sônia Maria Malmonge Susana Llanusa Ruiz Vera Lúcia da Silveira Nantes Button Wagner Coelho de Albuquerque Pereir Wagner José Barreto Walter Weimgartner Wang Binseng Wayne Brod Beskow Welingtom Dinelli
XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENTIDADE ORGANIZADORA
GPEB/UFSC Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa Catarina
Fernando Mendes de Azevedo Coordenador
Renato Garcia Ojeda Sub-Coordenador
ENTIDADE PROMOTORA
Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB
Idágene Aparecida Cestari Presidente
José Wilson Magalhães Bassani Vice-Presidente
Rosa Maria Volpi Piva Secretária
José Carlos Teixeira de Barros Moraes Tesoureiro
V
PATROCÍNIO
CNPq CAPES
APOIOS INSTITUCIONAIS
Universidade Federal de Santa Catarina
FEESC
Fundação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina
CORAL
Conselho Regional de Engenharia Biomédica para América Latina
Eme -(0---
En gi n e e ri n g in Medicine and Biology Society
IEEE - Sul Brasil
IEEE - Sul Brasil
VI
XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
APRESENTAÇÃO
Depois de dezessete anos e no limiar de um novo milênio, o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica volta à Ilha de Santa Catarina, onde serão discutidos as perspectivas e os encaminhamentos para a área em nosso país no próximo século.
A missão da Engenharia Biomédica é contribuir para o desenvolvimento das ciências e das tecnologias associadas à Saúde, para promover a criação e a melhoria dos recursos disponibilizados aos profissionais da área. O resultado de todos os esforços realizados no país com este fim são, tradicionalmente, apresentados no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB).
A Comissão Organizadora do CBEB '2000 e a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) não mediram esforços para que este último congresso do século apresentasse, da maneira mais abrangente possível, não somente as pesquisas e os desenvolvimentos tecnológicos em andamento no Brasil como também em outros países da comunidade latino-americana e, até mesmo, nos países ditos desenvolvidos. Dessa forma, uma larga divulgação do evento foi realizada. Por conseqüência, o número de submissões ficou acima das mais otimistas previsões. Quase 350 trabalhos foram submetidos, dos quais 286 foram aceitos pelo Comitê Revisor. Um número significativo desses trabalhos veio de outros países (aproximadamente 10%), em particular da América Latina. Esse é um fato importante, haja visto as semelhanças entre nossos países, as políticas de integração existentes e a necessidade de buscar soluções criativas adequadas às nossas realidades.
Das conversas mantidas com pesquisadores brasileiros, resultou a vinda de cinco pesquisadores estrangeiros, nomes reconhecidos mundialmente, que contribuirão com palestras e mini-cursos sobre o estado da arte em suas respectivas áreas de conhecimento.
Durante a organização foram realizadas algumas alterações no formato tradicional do evento. A forma dos trabalhos, que em edições anteriores apareciam como resumos ou "short papers", foi alterada para permitir a publicação em até seis paginas, possibilitando uma melhor exposição da pesquisa por parte dos autores e uma melhor compreensão por parte dos leitores.
A apresentação dos trabalhos contará com dois moderadores por Sessão Técnica e, no caso das Sessões de pôsteres, os trabalhos também serão apresentados para os moderadores, propiciando melhores oportunidades para questionamentos e discussões.
Nesta edição do congresso implementou-se a apresentação de trabalhos convidados. Em cada área temática, um pesquisador senior, de reconhecida experiência, foi convidado para apresentar um trabalho, que abre as exposições da respectiva área.
O crescente apelo da área de Saúde, indicado pelo interesse cada vez maior de graduandos e jovens profissionais na busca de formação específica, convergiu na realização da I Escola de Engenharia Biomédica, cujo objetivo é transmitir conhecimentos básicos sobre domínios emergentes da área.
Ainda com o propósito de reunir experiências e discutir perspectivas futuras foi contatado o Comitê Admínistrativo do Conselho Regional de Engenharia Biomédica para América Latina (CORAL) que realizará sua Reunião Anual durante o evento.
Finalizando, gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização do CBEB '2000. Em especial aos nossos alunos de pós-gradução, pelo trabalho voluntário, ao CNPq e à CAPES pelo patrocínio formal. Não poderíamos deixar de registrar também o apoio fundamental da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Fundação de Ensino de Engenharia em Santa Catarina (FEESC).
Florianópolis, Setembro de 2000
Comissão Organizadora do CBEB'2000
VII
SUMÁRIO
ARTIGOS CONVIDADOS A Bioengenharia e o Estudo do Transporte de Ca2
+ no Coração 03 O Estado da Arte dos Biomateriais no Brasil 08 Ensaios Tecnológicos de Materiais Biológicos 15 Certificação de Qualidade em Equipamentos Médico-Hospitalares 22 Aspectos Relativos a Interferência e Compatibilidade Eletromagnética em Sistemas Elétricos, 28
Eletrônicos e Seres Vivos Critérios para a Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares 38 Engenharia de Reabilitação e Dispositivos Assistenciais: Estado da A1ie e Perspectivas 46 Ultra-Som: Transdutores e Instrumentação Biomédica 50 Inteligência Artificial e Engenharia Biomédica: Casamento Perfeito ou Amantes Eternos? 59 Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva Através da Assistência Circulatória Mecânica 67 Molelización de la Pared Arterial: de la Experimentación a la Clínica 78 Ética e Pesquisa Científica: Fronteiras e Dilemas 86 Quarentena Anos de Processamento de Sinais em Eletrocardiografia: Da Cardioversão à Estratificação 91
de Risco da Morte Súbita BIOENGENHARIA 99
Estimation of Ca2+ Recirculating Fraction in Rat Vertricle: Influence of the Methodological Approach 1O1
Citotoxicidade do Corante Fotossensibilizável Alumínio Ftalocianina Cloreto (alpccl) em Cultura em 104 Células K562 e Vero
Características da Amostragem Visual na Manutenção Postural em um Indivíduo Portador de 108 Neuropatia Periférica
Determinação do Comprimento de Sarcômeros de Miócitos Isolados Utilizando Análise Espectral 112 Metabolic Changes Induced in Yeast Saccharomyces Cerevisiae by 11 O, 220 and 31 O mT Steady 115
Magnetic Fields Determinação do Tempo de Recuperação do Nódulo Sinusal em Átrio Direito Isolado de Ratos Infantes 118
e Adultos BIOMECÂNICA 121
Avaliação da Repetibilidade Intra-Individual de Variáveis Cinemáticas e Cinéticas Obtidas Durante 123 Marcha
Histerese em Fêmures de Ratas Jovens Submetidos a Ensaios de Flexão 128 Propriedades Mecânicas do Enxerto Córtico-Esponjoso Homogêneo de Cães Esterilizado em Óxido de 132
Etileno Biomecânica de um Sistema de Fixação Transpedicular com Hastes Transversais 135 Ensaios Mecânicos com Espaçadores Vertebrais "Cages" 139 Experimental Control OfMechanical Aging Due To Gravity 143 Avaliação Dinâmica da Marcha Humana 14 7 Efeitos da Imobilização e do Exercício Físico nas Propriedades Mecânicas do Músculo Gastrocnémico 151
de Ratas Submetidas a Ensaio de Tração Estudo das Forças Atuantes na Coluna Vertebral Durante o Levantamento de Carga 154 Projeto e Adaptação de uma Máqu~na de Ensaio de Impacto para Ossos Longos de Animais de Pequeno 158
e Médio Porte Particle Image Velocimeter Measurements the Flow Upstream And Downstream of a Mechanical 164
Artificial Heart Valve Avaliação do Torque e da Força Gerada pelo Músculo Bíceps Braquial Durante o Exercício com uma 167
Resistência elástica, Comparados aos Exercícios com uma Resistência Fixa e ao Isocinético Comparação entre Protocolos de Aquisição e Análise do Sinal Mioelétrico - Estudo Piloto 173 Análise do Desempenho de Alças de Retração Ortodôntica Via Método dos Elementos Finitos 178 Laboratório de Biomecánica de Bajo Costo: Desarrollo de Sistema de Videografia Digital 184 Avaliação das Características Mecânicas de um Novo Modelo de Stent: Estudo da Força de Expansão 190
Radial Através da Análise da Tensão Avaliação do Comportamento Mecânico do Tendão Patelar 194
BIOMATERIAIS 199 Caracterização Térmica, Morfológica e Mecânica das Blendas de Poli(L-ácido lático)/ 201
Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) A Relevância da Análise Tennodinâmica no Desenvolvimento de Recobrimentos Biocerâmicos 207 Propriedades Ténnicas e Mecânicas da Blenda Bioabsorvível Poli(~-hidroxibutirato) / Poli(L-ácido 211
láctico) Análise Numérica e Experimental de Membranas e Bio-membranas Viscoelásticas Submetidas à 216
Expansão Caracterização e Uso de um Vidro Bioativo em Falhas Ósseas 22 Melhoria das Propriedades Mecânicas dos Hidrogéis de pHEMA para Uso como Superfície A1ticular 22 Imobilização Covalente de Gentamicina em Matrizes de Coágeno a partir do Método da Azida 23 Malhas de Polipropileno Recobertas com Colágeno Aniônico ou como Dupla Camada com Cloreto de 23
Polivinila para a Reconstrução de Parede Abdominal Matrizes Tridimensionais Acelularizadas de Colágeno: Elastina a partir de tecidos: preparação, 24
caracterização e biocompatibilidade Implantes Dentários Recobe1ios com Hidroxiapatita por Deposição Eletrolítica 24 Influência da Micromorfologia da Superfície do Titânio Sobre o Crescimento ln Vitro e a Diferenciação 25
de Osteoblastos da Medula Óssea Humana Efeito da Composição da Solução sobre a Precipitação Heterogênea de Fosfatos de Cálcio em Titânio 25 Membranas de poli(ácido lático)-co-(ácido glicólico): Degradação in vitro 26: Estudos Preliminares de Liberação de Ciprofloxacina em Compósito Hidroxiapatita: Colágeno 26: Zirconia Femoral Component ofthe Total Knee Replacement 27, Alterações Estruturais em Válvulas Cardíacas Biológicas Induzidas pelo Armazenamento em Aldeídos 27j Colágeno Aniônico a partir de Serosa Porcina: Características e Preparação de Compósitos com 28'.
Ramsana como Géis Injetáveis Dispositivos de Assistência Ventricular: Uso do Pericárdio Bovino no Revestimento da Câmara de 28'.
Sangue CERTIFICAÇÃO, CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS MÉDICO- 291 ASSISTÊNCIAS
Avaliação do Risco de Produtos Médicos 29~
Testes de Controle de Qualidade em Equipamentos de Angiografia por Subtração Digital - Resultados 29~
Preliminares Informática como Instrumento de Qualidade em Instituições de Saúde 30= Avaliação dos Níveis de Ruído Ocupacional em Unidades de Tratamento Intensivo 30~
Cursos de Qualificação e Requalificação de Técnicos de Manutenção de Equipamentos Médico- 311 Hospitalares no Oeste do Paraná e de Santa Catarina
Certificação NBR ISSO 9002 da Clínica São Vicente da Gávea/ RJ. Caso Prático 313 Avaliação do Microclima Proporcionado por Incubadoras Infantis 315 Impacto da Implantação de um Sistema de Garantia da Qualidade na Radiologia Odontológica no 320
Estado de São Paulo Avaliação de Equipamentos de Ultra-som para Fisioterapia Segundo a Norma IEC 1689 da Associação 326
Brasileira de Nonnas Técnicas Avaliação das Resoluções Lateral e Axial e Zona Morta como Parâmetros Indicadores da Qualidade de 331
Imagem de Equipamentos de Ultra-som para Diagnóstico Clínico Avaliação de Ventiladores Pulmonares Através de Parâmetros de Nonnas 337 Roteiro de Testes para Ensaios de Monitores Cardíacos 341
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E APLICAÇÕES DE ELETROMAGNETISMO 347 Interferência Eletromagnética em Equipamentos Eletromédicos Ocasionada por Telefone Celular 349 Efeitos da Radiação de 2,45 GHz em Ratos de Laboratório 354 Estimulador Magnético Local NaK para el Tratamiento de la Psoriasis Vulgar 358
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 363 STAFF -Ambiente Hipermídia para Fonnação de Recursos Humanos em Atenção Farmacêutica 365 Education in Medical Engineerring in România 370 Combinação de Estratégias Pedagógicas e Técnicas Multimídia para o Desenvolvimento de um Sistema 373
Tutor Monitor: um Programa para Treinamento de Técnicos de Equipamentos Biomédicos sobre Monitores 379
Cardíacos Sistema Computacional Didático de Auxílio à Área de Processamento Digital de Sinais 384
ENGENHARIA CLÍNICA E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 387 Avaliação da Utilização da Tomografia Computadorizada no Estado de Santa Catarina - Brasil 389 Estabelecimento de Critérios de Avaliação Tecnológica 392 Sistema de Apoio à Especificação de Equipamentos Médico-Hospitalares 396 Avaliação dos Custos de Manutenção de Monitores Cardíacos 401 Medida de Hansen Utilizada na Análise de Acessibilidade Geográfica a Hospitais Públicos no 404
Município do Rio de Janeiro, RJ Planejamento Estratégico de uma Estrutura de Engenharia Clínica para Santa Catarina 409 Resultados Preliminares da Avaliação de Serviços de Raios X em Consultórios Odontológicos 414 Análise do Processo de Aquisição de Equipamento Odonto-Médico-Hospitalar para a SESAB - Estudo 418
de Caso: Projeto Reforsus
1 5 o 5
2
s 2
Metodologia para Ensaio de Temperatura Excessiva em Aparelhos de Ultra-Som para Fisioterapia Metodologia para Teste de Funcionamento de Aparelhos de Ultra-som para Fisioterapia em Função da
Variação da Tensão de Alimentação Contribuição ao Estudo da Qualidade em Estruturas de Engenharia Clínica: Arcabouço Teórico Avaliação de Sistema de Informação Real para Gerenciamento de Tecnologia Médico-assistencial em
Santa Catarina, Brasil Estratégia de Manutenção para Equipamentos Lotados em Centro Cirúrgicos Desenvolvimento de um Programa de Segurança Elétrica e Avaliação de Desempenho para
Equipamentos Eletromédicos Baseados nas Normas da Família NBR IEC 60601 Proposta de Implementação de Indicadores para Levantamento de Produtividade em Estruturas de
Engenharia Clínica Estudo de Desempenho de Umidificadores de Respiradores Pulmonares Utilizados em Unidades de
Tratamento Intensivo Neonatal UTI Neonatal Móvel: Uma Adaptação Tecnológica Unidade Eletro-Cirúrgica de Alta Freqüência em Hospitais Públicos da Grande Florianópolis: Avaliação
de Utilização Omega Ambiente de Apoio à Gestão Municipal de Serviços de Saúde Sistema de Custeio Baseado em Atividades como Ferramenta Gerencial em Engenharia Clínica Estudo do Processo de Análise de Referência Aplicado à Engenharia Clínica e Metodologia de
Validação de Indicadores de Referência Classificación de Gravadad Usando el Método de las k-medidas Adaptivas Una Aproximación para
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal
423 427
431 437
443 449
455
460
465 468
473 476 482
488
Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Litotriptores Ultra-sônicos: Resultados 494 Preliminares da Estimativa da Região Focal
Proposta de um Protocolo de Avaliação de Máquinas de Circulação Extracorpórea in vitro 500 Dosagem de Diclofenaco Sódico por Espectroscopia Raman: Novas Perspectivas em Farmacologia 503
Clínica ENGENHARIA DE REABILITAÇÃO E DISPOSITIVOS DE ASSISTÊNCIA 509
Validación Clínica de um Sistema para Bipedestación y Marcha Mediante Estimulación Eléctrica 511 Funcional
Utilização da Diálise Peritoneal Automática na Reabilitação de Pacientes com Insuficiência Renal 516 Crônica
Implementação de um Transdutor com Extensômetros Metálicos para Monitoras Forças Exercidas pelos 522 Membros Superiores de Pacientes
Estimulação Elétrica Transvaginal no Tratamento de Incontinência Urinária 528 Dispositivo Emulador de Mouse Dedicado à Pessoas Tetraplégicas ou Portadoras de Doença 531
Degenerativa do Sistema Neuromuscular Avaliação de um Estimulador Neuromuscular Funcional Portátil e Telemétrico 536 Controlador Adaptativo neurofi1zzy para Geração da Marcha via Estimulação Elétrica 539 Sistema Computadorizado de Estimulação Elétrica Neuromuscular Empregando Controle 544
Eletrogoniométrico Controle de Eletroestimulador em Malha Fechada e Simulação de Resposta Muscular Utilizando Lógica 550
Fuzzy Plugga: Sistema de Comunicação para Indivíduos Tetraplégicos 555 Sistema de Estimulação Elétrica para Prevenção e Tratamento de Disfunção Diafragmática 560
INTRUMENTAÇÃO, SENSORES, TRNASDUTORES E METROLOGIA 565 Sensitivity Characterization of an Evanescent-field Coupling Fibreoptic Biosensor for Escherichia coli 567
0157:H7 Equipamento Portátil para Manometria Retal - PROCTOSYS-II 571 Efeito das Não-linearidades do Gerados na Aurácia dos Parâmetros Respitarórios Obtidos por Meio da 576
Técnica de Oscilações Forçadas Sensor Óptico de Fluxo Respitarório Utilizando Técnicas de Correlação Cruzada 581 Medição da Velocidade de Propagação da Onda Ultra-sônica a Partir do Perfil de Atraso de Sinais 584
Retroespalhados Sistema de Ceratometria Automática Adaptado em Lâmpada de Fenda Automatic Keratometry System 590
Attached to a Slit Lamp Sistema de Aquisição e Processamento de Sinais Biológicos para Estudos de Ritmos Biológicos de 595
Animais em Cativeiro Monitor Digital de Estresse 602 Sistema Biotelemétrico para Medição de Temperaturas Internas sem a Utilização de Baterias 606 Desenvolvimento de Um Bisturi Eletrônico Conforme Normas Brasileiras 609 Sistema de Controle de Acionamento Remoto de Alta Precisão para Cápsulas Biotelemétricas 613
Implantáveis ou Ingeríveis Envelhecimento de Membranas Sensoras para Detectação de Oxigênio 616 Avaliação do Desempenho de Sensores Tácteis com Elementos Poliméricos Resistivos 620 Desenvolvimento de Sensores Tácteis Utilizando Extensômeros Semicondutores 626 Implementação e Avaliação de um Instrumento Microcontrolado para Geração de Padrões de Fluxo de 631
Ar Protótipo de Ventilador Pulmonar Adaptivo a Diferentes Condiciones Geográficas 634 Automação de Cadeira Rotatória para Testes de Prova Rotatória Pendular Decrescente 640 Determinação das Dimensões do Ponto Focal com um Dispositivo de Leitura Automático 643 Sistema de Medição de Oxigênio Gasoso através de Fosforescência com Led Azul como Fonte Óptica 647 Low-intensity Pulsed Ultrasound Therapy for the Accelaration ofBoné Fracture Repair 650 Detecção da Freqüência Respiratória Utilizando um Sensor com Redes de Bragg em Fibra Óptica 656 Microscopia por Retro-espalhamento de Ultra-som (UBM) 660 Transdutores de Alta Freqüência (50 MHz), Utilizando PVDF, para Aplicações em Imagens Médicas 655 Equipamento Aplicado na Terapia Anti-Tumoral 669 Método dos Mínimos Quadrados Aplicado à Sistema Sensor de Imagem Radiodiagnostica 673 Sistema de Regulação de Potência Aplicada em Eletro-cirnrgias 677 Neurolab - Instrnmentação Virtual para Pesquisa de Potenciais Extracelulares Corticais 680 Resultados Preliminares do Desenvolvimento de um Sensor para Gases Anestésicos Utilizando 684
Tecnologia Óptica Estimulador Elétrico Neuromuscular Microcontrolado de Dois Canais 688 Sistema de Biotelemetria Multicanal para a Monitoração da Marcha 693 Fibra Óptica com Ponta Difusora para Aplicação em Terapia Fododinâmica 699 Campo Ultra-Sônico de Transdutores Apodizados: um Estudo Comparativo 702 Instrnmentação para Análise de Desvios dos Captores Podais 706 Desenvolvimento de um Sistema de Monitoração e Controle Hemodinâmico da Circulação 711
Extracorpórea Influência da Intensidade Luminosa na Determinação da Saturação de Oxigênio por Reflectância 716 Sistema de Controle para o Propulsor do Ventrículo Artificial InCor 720 Desenvolvimento de um Sensor de Fluxo Sanguíneo Via Técnica Laser Doppler para o Estudo da 724
Microcirculação Monitor Metabólico de Tercera Generación para Pacientes em Cuidados Intensivos y Ambulatórios 727 Preubas Electroacústicas de um Micrófono de Medida de Tubo Flexible para Aplicaciones Audiológicas 731 Equipo Estimulador de CoITiente Eléctrica Directa para el Tratamiento de Tumores 735 Desenvolvimento de um Monitor Cardíaco Po1tátil para Três Derivações 739 Implementação e Avaliação de um Sistema Telemétrico de Alta Confiabilidade para Sinais Biológicos 745 Medida Transadventícia da Fluorescência Induzida pela Ftalocianina-Al na Artéria Ilíaca de Coelho 748 SINUS Sistema Integrado de Instrnmentação para Ultra-Som 752
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SAÚDE 757 Duas Abordagens Numéricas Utilizadas no Tratamento da Ince1teza em um Sistema de Apoio ao 759
Diagnóstico Médico KDD em Base de Dados na Área Médica 765 Estudo Comparativo entre Raciocínio Baseado em Casos e Redes Bayesianas Aplicados ao Diagnóstico 769
deDEP Redes Neurais e Regressão Logística para a Predição de Acessibilidade em Saúde 774 Raciocínio Clínico Utilizando Probabilidade: Falência do Crescimento em Lactentes 778 Sistema de Diagnóstico de Câncer de Mama Baseado em Redes Neurais 779 Classificação de Agrupamentos de Microcalcificações Mamárias por Redes Neurais Artificiais 782 Utilizando Data Mining como Ferramenta de Análise de Evolução da AIDS em Santa Catarina 786 Uso de Uma Rede Neural para Detecção de Anormalidades Fetais 790 Análise Ergo-espirométrica da Cardiopatia Chagásica Crônica Via Redes Neurais Artificiais 800 Uma Análise de Redes Neurais na Extração de Componentes Principais 806 Sistemas de Informação em Centros de Saúde 811 A Fuzzy Algorithm for the Diagnosis of Atherosclerosis 815 SADNT Sistema de Apoio ao Diagnóstico de Nódulos Tiróideos 819 Técnicas para a Extração do Conhecimento a Serem Utilizadas para Sistemas Especialistas 824 Sistema Especialista para Diagnóstico da Desnutrição Energético Protéica Utilizando Raciocínio 830
Baseado em Casos Sistema de Apoio à Detecção de Distúrbios e Complicações Metabólicas Relacionadas a Terapia 834
Nutricional Sistema de Auxílio ao Diagnóstico Diferencial de Cefaléia em uma Unidade de Emergência 839 Rede Neural Baseada na Estrutura e Organização da Circuitaria Extra-foveal da Retina para o Pré- 843
Processamento de Sinais de EEG Sistema de Apoio à Decisão Médica em Valvulopatias 849 Sistema de Redes Neurais Artificiais para Classificação Automática de Estados do Ciclo Sono-Vigília 855
em Recém-nascidos MEDIÇÕES FISIOLÓGICAS, MONITORAÇÃO E TERAPIA INTENSIVA 861
Análise do Desempenho de Oxigenadores de Membrana Através da Experimentação em Animais 863 Atuador Eletro-pneumático para Ventrículos Artificiais 868 Sinal Óptico Intrínseco na Retina: Uma Técnica de Medição de Espalhamento de Luz 872 Sistema Computadorizado para Mapeamento Eletrodo Miocárdio em Tempo Real Durante Cirurgia 878 Um Método para Recuperação das Distribuições de Ventilação a Partir da Lavagem de N2 com 882
Múltiplos Ciclos Influência do Arranjo Tetrapolar de Eletrodos na Estimativa da Impedância Bio-elétrica 886 Matrizes de Microeletrodos para Medidas Eletrofisiológicas 892 Determinação do Ácido Láctico em Meios Biológicos Utilizando Espectroscopia Raman no 898
Infravermelho Reprodutibilidade das Medidas Quantitativas para Avaliação do Equilíbrio Postural 903 Efeito da Irradiação do Laser de Hêlio-Neônio (HeNe) no Potencial de Membrana de Mitocôndrias em 907
Células Cultivadas ln Vitro Correlación entre el EEG de Fondo y la Velocidad Dei Flujo Sanguíneo Cerebral en Recien Nacidos 910
Durante Trazado Alternante Desarrollo de un Sistema para la Medición Automática de la Velocidad de la Onda dei Pulso Basado en 915
Microcontrolador Estudo das Transições entre os Padrões Contínuos e Descontínuos do EEG Neonatal 919 Efeito do Espaço Morto na Análise dos Momentos da Lavagem de Nitrogênio com Múltiplos Ciclos em 924
Ventilação Espontânea e Suporte Pressórico Sistema para Medição de Atenuações e Velocidade de Propagação de Ondas Ultra-Sônicas em 929
Diferentes Meios Caracterización No-invasiva de la Dinámica Parietal Carotídea y su Aplicación en Hipe1tensión A1tirial 935 Propriedades Mecânicas do Músculo Grande Dorsal Eletricamente Estimulado 940
MODELAGEM E SIMULAÇÃO 945 Distribuição de Campo Elétrico e Cargas Iônicas em Tecidos Biológicos Através da Técnica do Circuito 947
Elétrico Equivalente Contacto Lubricado en Articulaciones Sinoviales. Análisis Numérico de un Modelo con Fluido 953
Pseudoplastico Phantoms Computacionais para Imagens Ultra-Sônicas 959 Desempenho Preditivo e Replicação Bootstrap em Redes Neurais Artificiais 963 Modelagem da Mortalidade Infantil em Municípios Brasileiros Usando Redes Neurais e Regressão 968
Linear Simulação Computacional para Análise da Distribuição de Intensidade do Ponto Focal sobre a Nitidez 974
das Imagens Radiológicas Analysis ofBlood Viscosity Parameters Obtained Via Rotating Viscometry and Laser RBC 979
Aggregametry: Influence of the hematocrit Método Computacional para Projeto de Filtros de Compensação para Uniformização da Intensidade do 985
Feixe em Aparelhos de Raios-X Médicos Obtenção de Distribuições de Doses Radioterápicas Através de Simulação Monte Cario 991 Simulação Computacional de uma Estrutura Anatômica O Pulmão 994 Determinação do Desempenho de Combinações Écran-Filme através de Simulação Computacional 998 Análise da Dinâmica Iônica no Meio Extracelular de Tecidos Neuronais 1003 Uso da Técnica Fonte-detetor em Tomografia com Espalhamento Anisotrópico 1009 Determinación de la Variación Temporal dei Diámetro y de la Tensión de Cizallamiento Parietal, a 1015
Partir de Perfiles de Velocidad Obtenidos ln-Vivo Mediante Retrodifusión de Ultrasonidos Simulações de Monte Cario no Estudo da Correção do Espalhamento Compton em SPECT 1019 Simulação Computacional do Efeito Compton para Avaliação do Desempenho dos CAD Mamográficos 1023 Simulação Computacional das Estruturas Anatômicas da Mama para Controle de Qualidade e Avaliação 1028
do Processamento Simulador de Sons Cardíacos 1034 Desenvolvimento e Caracterização de um Phantom de Tecido Biológico na Região do Infravermelho 1040
Próximo Dependencia Endotelial de la Elasticidad Arterial Modulada por la Viscosidad Sanguínea 1044 Respuesta en Frecuencia de la Pared Arterial en la Hipertensión Renovascular 1047 Respuesta en Frecuencia de la Pared Arterial 1053 Modelagem Bidimensional da Interação dos Campos de Radiofreqüência com Meios Biológicos 1059
Utilizando TLM Simulação de Pulsos Ultra-Sônicos de Transdutores Apodizados Baseada no Método de Espectro de 1065
Diretividade Técnicas de Simulação e Hipennídia Aplicadas ao Ensino na Área Médica 1069
TEMAS DIVERSOS 1075 Sistema de Informação em Otorrinolaringologia em Tempo Real Via Internet 1077 Telediagnóstico Auxiliado por Computador e Monitoramento Através de Imagens de Reparação 1080
Tecidual de Úlceras Tróficas de Perna Definindo Mercados Hospitalares em Área Urbana 1084 Proposta de Desenvolvimento de um P ACS Distribuído Utilizando CORBA para Gerenciamento de uma 1089
Base de Imagens Médicas Software para Obtenção de Indicadores Estatísticos da População de Diabéticos 1094 Biblioteca Básica de Acesso a um Prontuário Médico Portátil 1100 Materiais Mimetizadores de Tecido para Confecção de Phantoms para Ultra-Som Diagnóstico 1105 Phantoms para Ultra-som com Perfil para a Velocidade de Propagação da Onda 1111 Análise de Perfis de Crescimento em Neonatos de Baixo Peso 1116 Elaboração de um Conjunto Mínimo de Informações para o Atendimento de Emergência 1120 Implementação de um Shell para Desenvolvimento de Sistemas Especialistas Fuzzy Usando Prolog 1124 A Utilização do HL 7 na Comunicação de Sistemas de Informação em Saúde 1128 Ergonomia em Equipamentos Médicos: Aplicação no DAV InCor 1133
PROCESSAMENTO DE IMAGENS 1139 Microtomografia 3D por Raio-X para a Caracterização de Osso Trabecular 1141 Processamento de Imagens de Microscópios Oculares do Endotélio Corneano ln Vivo 1146 Influência das Condições de Processamento no Desempenho da Qualidade de dois Sistemas de Imagens 1151
Utilizados na Mamografia Detecção de Agrupamentos de Microcalcificações em Mamas Densas: Avaliação de Duas Técnicas para 1154
Realce de Contraste Um Novo Método para Segmentar e Visualizar a Musculatura Extraocular 1160 Comparação de Desempenho de um Esquema de Processamento a partir de Diferentes Conjuntos de 1166
Imagens Mamográficas Digitalizadas Um Sistema para Segmentação Interativa de Imagens de Ressonância Magnética Utilizando o Método 1171
Watershed Um Método para Detecção do Contorno do Ventrículo Esquerdo a partir de Bordas Desconexas em 1178
Imagens de Medicina Nuclear Restauração de Imagens Biológicas Obtidas com um Microscópio de Força Atômica (AFM) através do 1184
Método de Regularização de Tikhonov - uma Abordagem em Problemas Inversos Serviço de Radiologia Digital (filmless) em Hospital Universitário 1189 Sistema de Avaliação Automático do Endotélio Comeano para Banco de O lhos 1194 Algoritmo para Co-Registro de Imagens de SPECT e Ressonância Magnética 1198 Sistema Automático para Análise de Experimentos com Labirinto de Água (resultados preliminares) 1201 Sistema Automático para Contagem de Colônias em Placas de Petri 1204 Visualizador Contextual de Imagens Médicas Orientado a Objeto 1209 Utilização da Análise de Componentes Principais e Redes Neurais Artificiais para a Classificação de 1214
Nódulos em Mamogramas Digitalizados Proposta de um Método para Detecção e Quantificação da Incisura Protodiastólica 1217 Desenvolvimento de Algoritmo para Correção da Distribuição de Densidade não Uniforme nas Imagens 1223
Mamo gráficas Método Abrangente para Avaliação dos Algoritmos de Processamento de Imagens Médicas 1227 Planejamento de Próteses Endoluminais Personalizadas Através da Reconstrução 3D de Aneurismas de 1233
Aorta Correção Baseada em Conhecimento de Segmentações Falhas de Imagens Radiológicas 1239 Algoritmo Híbrido para a Compressão de Imagens Médicas 1243 Compressão de Imagens Médicas via Quantização Vetorial 1249 Segmentação de Mamogramas: Identificação da borda da mama, músculo peitoral e disco glandular 1255 Correspondência de Pontos em Seqüência de Artérias Coronárias 1262 Metodologia para Classificação de Imagens Baseada em Características da Entropia de Shannon 1268 Segmentação de Imagens Microscópicas Ginecológicas em Cores 1274 Detecção de Movimento Utilizando Análise de Freqüência no Espaço e no Tempo 1280
PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLÓGICOS 1285 Diagnóstico Não Invasivo de Tecidos Dentários Através da Utilização da Espectroscopia Raman 1287 Cálculo de Entropia e Análise de Espectro Singular em Sinais Senoidais e de RF Ultra-sônicos 1290
Simulados
Estudo do Eletrograma Intramiocárdico Pós Transplante Cardíaco 1296 Comparação de Técnicas para o Processamento do Eletromiograma Superficial Aplicadas na Avaliação 1300
de Tratamento Fisioterapêutico Estagiamento Automático do Sono Usando Mapa F AN 1305 Um Método para Compressão de Eletrocardiogramas Baseado na Quantização Otimizada dos 1311
Coeficientes da Transformada Cosseno Discreta Algoritmo para la Detección de Ondas P y T de! Electrocardiograma en Base a Transformada Ondeleta 1316 Estudo sobre bases Wavelet e Aplicação em Reconhecimento Automático de Espículas em 1320
Eletroencefalograma Desenvolvimento de um Sistema de Aquisição e Processamento de Sinais Biológicos em Lab VIEW. 1325
Aplicação em EMG de superficie Herramienta para Discriminar Automáticamente Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral 1330
Normales Estimación de Potenciales Evocados Usando Mejoradores de Seiíal Adaptativos No Causales 1334 Análise de um Classificador Neural de Sinais de EEG na Detecção de Movimentos 1341 Determinação do Vetor de Direção Resultante dos Movimentos Sacádicos do Olho em Sinais de 1346
Eletronistagmografia Avaliação do Grau de Sincronismo em Regiões C011icais devido à Foto-Estimulação Intermitente 1349 Análise de Atributos de Classificação Extraídos do ECG 1354 A Influência da Foto-Estimulação Intermitente no Ritmo Alfa 1359 Montagem Experimental para Registro do Eletrocardiograma de Corações Isolados: Quantificação do 1363
Vetor do Coração Aplicación Clínica de la Biblioteca de Funciones VFCLab para el Análisis de la Variabilidad de la 1368
Frecuencia Cardíaca Influence of Wavelet Shape on the Performance oflmage Coding using Wavelet Packets 1374 Detecção da Primeira e Segunda Bulhas (SI e S2) dos Sons Cardíacos Através de Análise Tempo- 1379
Freqüência Detecção de Emissões Otoacústicas Evocadas por Transiente Utilizando Predição Linear 1384 Modelagem Auto-Regressiva na Monitorização do EEG Neonatal 1389 Implementação de um Banco de Dados para Sinais de EEG 1393 Método para Detecção Automática de Crises de Epilepsia em Registros de EEG 1398 Estimando a Atenuação e Dilatação do MLAEP na Monitorização do Plano Anestésico 1402 Análise de Sincronismo entre o Potencial Extracelular e o IOS em Retina de Ave Durante Depressão 1408
Alastrante Modelización de! Electrocardiograma con Redes de Onditas 1414 Um Método Simples e Eficiente Para a Obtenção dos Coeficientes de Filtragem na Análise Espectral de 1418
Banda Larga Análise em Freqüência na Banda Gama durante Estimulação Somato-sensitiva de Voluntários Humanos 1422
Nonnais USO DE RADIAÇÕES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS 1427
Modificações na Dentina Causadas pela Radiação do Laser de Nd:YAG -Análise MEV/EDX 1429 Observação de Fótons no Espectro Visível Através da Excitação de Fígado Bovino A 1,06 µm 1435 Análise dos Efeitos da hradiação de Diferentes Laseres em Raízes Dentárias Submetidas à Ápicetomia 1438 Efeito da Irradiação Laser no Gap Apical 1443 Desenvolvimento do Protótipo de um Quantificador de Conteúdo Mineral Ósseo para Clínica de 1448
Grandes Animais - (Resultados preliminares) Diferenciação entre a Mucosa Normal e Neoformações Malignas do Cólon através da Utilização da 1453
Espectroscopia de Fluorescência Resposta de Dose de um Dosímetro Individual Multifiltro para Radiações X e Gama 1457 Os Efeitos do Laser de Baixa Intensidade em Feridas Cutanêas Induzidas em Ratos Diabéticos 1460 Reparação Cicatricial de Rattus albinus Wistar Irradiada com Laser de Hélio-Neônio (He-Ne) 1464 Parâmetros de Qualidade em Sistemas de Radiologia Digital Odontológica 1467 Análise Estrutural do Modelo de Deposição da Publicação ICRP 66 1473
('' 1 :I itiZ
1 ti i'
1 i t
' ~'
'*' ::~
1 l J :~
l
!
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
A Bioengenharia e o Estudo do Transporte de Ca2+ no Coração
José W. M. Bassani 1, Rosana A. Bassani 1 e Paulo Alberto P. Gomes2
1Departamento de Engenharia Biomédica e Centro de Engenharia Biomédica/ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Caixa Postal 6040, 13083-970, São Paulo e 2Núcleo de Pesquisas Tecnológicas/ Universidade de Mogi
das Cruzes, Mogi das Cruzes, São Paulo bassani@ceb. unicamp. br
Resumo: Neste trabalho, utilizando a técnica de fluorescência do indo-1 para medição de transientes de Ca2~ (induzidos por estimulação elétrica ou por aplicação de cafeína), mostramos que o mecanismo de troca sódio-cálcio é funcionalmente mais ativo no coração do animal neonato (tl/2 de queda do transiente de cafeína= 2,17 ± 0,22s), quando comparado ao adulto (t 112 = 0,84 ± 0,09s). Para possibilitar este estudo aplicamos um modelo eletromagnético (Klee & Plonsey, 1976), visando caracterizar o limiar para despolarização celular pelo campo aplicado. Devido, principalmente às diferenças de tamanho e forma das células, a estimulação de miócitos de ratos neonatos requer cerca de 25 vezes mais potência que a necessária para estimular os miócitos de animais adultos. Com este trabalho realçamos a importância do trabalho multidisciplinar, típico da Bioengenharia, no estudo da fisiologia básica do músculo cardíaco.
Palavras-chave: miócitos cardíacos, transporte de Ca2+ no coração, desenvolvimento pós-natal, fluorescência do indo-1,
estimulação elétrica por campo
Abstract: ln this work, using indo-1 fluorescence for measuring Ca2+ transients (induced by electrical stimulation, as
well as by caffeine application) we have shown that the sodium-calcium exchange is functionaly more active in the neonatal (tl/2 of caffeine transient decay = 0.84 ± 0.09s) compared to the adult (t 112 = 2.17 ± 0.22s) rat heait. Because we were initially unable to stimulate cells from neonatal animais, we applied an electromagnetic model (Klee & Plonsey, 1976) to characterize cell depolarization threshold to field stimulation. Mainly due to differences in cell size and shape, threshold stimulation of myocytes from neonatal rats requires about 25 times more power than adult myocytes. Predictions of the electromagnetic model were confinned experimentally after we built a high-power electrical stimulator to perfonn the experiments. With these results we emphasize the importance of multidisciplinary work, typical in the Bioengineering area, to help understand the basic physiology ofheart muscle.
Keywords: cardiac myocytes, Ca2+ transport in heart, development, indo-! fluorescence, electrical field stimulation.
Introdução
O uso de técnicas da Engenharia no tratamento de problemas médicos e biológicos é o ponto central da área de Engenharia Biomédica. Para que esta área se desenvolva, é importante que os engenheiros sejam expostos aos problemas de outras áreas e procurem entendê-los tal como se apresentam, antes que qualquer técnica das Ciências Exatas seja, eventualmente, aplicada.
No Laboratório de Pesquisa Cardiovascular (LPCv) do Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, a preocupação central é o entendimento dos mecanismos envolvidos na contração do músculo cardíaco. Para isto, várias técnicas, baseadas no uso de miócitos cardíacos isolados, são utilizadas: eletrofisiologia, medição de cálcio por fluorescência e medição de encurtamento celular por detecção de borda de sinal de vídeo. Além disso, técnicas para estudo de preparações multicelulares ( e.g. usando átrio esquerdo ou músculo papilar) são também utilizadas para medição de contração isométrica, incluindo contraturas induzidas por resfriamento.
Um dos focos de nossa atenção, buscando entender a atividade contrátil cardíaca, é o transporte de cálcio. O íon cálcio (Ca2+) é extremamente
imp01tante para o funcionamento das células do organismo, como um todo.
Ca1+ é importante nos processos de divisão
celular, expressão genética, comunicação celular, secreção e, em particular no músculo cardíaco, Ca1
+ é fundamental na atividade elétrica, dispara a contração e suas variações intracelulares controlam o curso temporal e amplitude das contrações. A Figura 1 ilustra os principais mecanismos envolvidos no processo de acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco de mamíferos.
Durante o potencial de ação, Ca1+ entra na
célula por meio de canais de Ca2+ tensão-dependentes.
O Ca1+ que entra, além de diretamente ativar os
miofilamentos (MF), de modo importante, provoca a liberação de Ca1
+ do retículo sarcoplasmático (RS), principal estoque do Ca2
+ ativador da contração (Bers, 1991 ). Com isto, sua concentração intracelular, de cerca de 100 nM em repouso, eleva-se bruscamente para 0.6 a 1 µM. Nestas condições, Ca1
+
se difunde para os miofilamentos e liga-se à troponina C, disparando o processo de encurtamento celular (contração) e geração de força.
ANAIS DO CBEB'2000
NCX ATP
Figura 1 - Principais mecanismos envolvidos no processo de acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco. RS - retículo sarcoplasmático; MF miofilametos; Mito - mitocôndria; NCX troca sódio cálcio; ATP ATPase de cálcio.
?+ Para que o relaxamento ocorra, Ca- deve ser reduzido no meio intracelular. A maior parte do íon é recaptada para o RS por uma A TPase, e parte é transportada para fora da célula pelo mecanismo de troca sódio-cálcio (NCX). Estes dois mecanismos são considerados rápidos para transporte do íon e redução rápida da concentração intracelular de Ca2+ [Ca2+Ji_ Outros dois mecanismos lentos contribuem para a redução de [Ca2+]i: o uniporter mitocondrial de Ca2
+ e a ATPase de Ca2
+ do sarcolema. Estes últimos contribuem juntos com apenas 1 % do transporte, enquanto o RS e a NCX são responsáveis por cerca de 92% e 7%, respectivamente, no coração do rato (Bassani et al., 1994).
A variação brusca da [Ca2+]i que se segue ao potencial de ação é denominada de transiente de Ca2
+.
Indução e medição de transientes de Ca2+ -Quando se deseja estudar o curso temporal dos transientes de Ca2
+, pode-se induzir o seu aparecimento pela indução de potenciais de ação por meio de estimulação elétrica por campo. Neste caso, as células são estimuladas por eletrodos colocados em contato com a solução fisiológica, na câmara de perfusão. Todos os sistemas de transporte estarão atuantes na determinação da forma de onda do transiente. Outra maneira de induzir o aparecimento de um transiente de Ca2
+ é pela aplicação de alta concentração (10 mM) de cafeína, na ausência de estimulação elétrica. Este composto tem a propriedade de entrar facilmente na célula, atrav~~ da membrana e provocar a liberação massiva de ca- do RS. Na presença da droga, o RS não pode se recarregar de Ca2
+ (a taxa de liberação é maior que a recaptação), e pode ser depletado do íon. Neste caso, o pie~ do transiente é um indicador indireto da carga de ca-. do RS e o decaimento do transiente indica o papel da NCX na redução do Ca2
+ (por extrusão), já que o RS, seu maior competidor está efetivamente inoperante.
Não é possível, contudo, obter transiente de Ca2+ induzido por cafeína se o RS não se carregar de Ca2+ a partir do influxo do íon durante potenciais de
4
ação, e para gerar estes últimos, é necessária aplicaçã prévia de estimulação elétrica supralimiar.
Há disponível atualmente grande número d indicadores fluorescentes de Ca2
+ usados para mediçã1 do transiente de Ca2
+. Estes indicadores são carregado no interior da célula, onde seu espectro de excitaçã1
1. e ?, e/ou emissão é modificado pela sua 1gação com a-A luz emitida pelo indicador pode ser medida 1 calibrada para ser convertida a [Ca2+]i.
Mecanismos envolvidos no processo d1 controle da atividade contrátil cardíaca vêm sendc desvendados com o uso dos transientes de Ca2~ Apesar dos avanços na área, ob~erva-se que. o: trabalhos visando estudar os mecamsmos envolvido: no transporte e regulação de Ca2
+ têm sidc concentrados no estudo da fisiologia ou patologia de animal adulto. É possível, contudo, que a participaçãc da NCX no relaxamento seja diferente ao longo de desenvolvimento pós-natal, pois tem sido relatadc maior nível de expressão genética do trocador Na+-Ca2
·
de mamíferos neonatos e jovens do que em adulto~ (Boerth et al., 1994; Vetter et al., 1995).
No nosso laboratório, decidimos estudai transporte de Ca2+ em células miocárdica~ de rato,s. ac longo do desenvolvimento pós-natal (projeto tematlcc junto a F APESP). Para realizar o nosso objetivo, era necessário obtennos células isoladas de animais de idades diferentes e induzir transientes de Ca2+ por estimulação elétrica e por cafeína.
Embora tenhamos tido sucesso no isolamento de miócitos de animais em vanas etapas do desenvolvimento, deparamo-nos com um problema antes insuspeitado: não éramos capazes de estimular os miócitos de animais jovens, na maioria das tentativas, e praticamente nunca os miócitos de animais neonatos. Esta aparente diferença de excitabilidade celular representava não apenas um inconveniente, mas poderia constituir-se em importante questão a ser analisada de modo mais profundo.
Neste trabalho, apresentaremos resumidamente o estudo do processo de estimulação por campo elétrico, realizado a partir do problema encontrado, ilustrando a importância do trabalho multidisciplinar. Vamos ainda mostrar resultados do nosso estudo, procurando comparar o papel da NCX no decaimento do transiente de Ca2+ em animais adultos e neonatos.
Metodologia
Isolamento de células e carga do indicador de Ca2+ -
As células foram isoladas pelo método de digestão enzimática, usando colagenase (Tipo 2 W 01thington, 0.5-1 mg/ml) em sistema para perfusão tipo Langendorff (Bassani et ai., 1992). Para carga do indicador as células foram incubadas com a forma éster do indicador indo-! (indo-1 AM, 5 µM). A emissão do indicador foi medida com um sistema de microfluorimetria (Photon Technology International) em dois comprimentos de onda: 400 nm (no qual a emissão aumenta com aumento da ligação de Ca2~ ao
1 1 t
1 1 l a
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
indicador) e 500 nm (no qual a emissão cai quando o indicador liga-se a Ca2+), sob excitação por luz ultravioleta (365 nm). A calibração dos sinais de fluorescência foi feita de acordo com Bassani et al. (1995).
Estimulação elétrica e aplicação de cafeína - As células de animais adultos foram estimuladas por um par de eletrodos de platina, paralelos e imersos em solução fisiológica (0.5Hz, intensidade de 20-40 mA, duração 2 ms). Para miócitos de animais jovens e neonatos, utilizamos em estimulador de alta potência (construído no CEB - UNICAMP), capaz de gerar correntes de até 1,0 A.
A câmara de perfusão foi construída de modo que o modelo de capacitor de placas paralelas pudesse ser usado para geração do campo elétrico, e com dimensões tais que o campo fosse dado por: E(V/cm) = I* 100, onde I é a corrente (A) que flui na solução do banho na presença das células (Gomes, 1997).
Cafeína (10 mM) foi dissolvida na mesma solução controle de perfusão (solução de Tyrode). A solução de cafeína foi aplicada (e mantida por 10 s) por substituição rápida (< 500 ms) da solução controle, após interrupção da estimulação elétrica (Bassani et al., 1992).
Modelo Biológico Em repouso, a célula possui um potencial transmembrana negativo, da ordem de -85 mV. Quando o campo elétrico estimulatório é aplicado, cargas positivas movem-se, no interior da célula, em direção ao polo negativo do eletrodo de estimulação, aproximando-se da membrana e mudando o potencial de membrana, localmente, para valores menos negativos. Isto resulta em despolarização local com eventual disparo de um potencial de ação e contração celular.
Modelo eletromagnético- Para procurar explicar o efeito do campo elétrico sobre as células, utilizamos o modelo eletromagnético proposto por Klee & Plonsey ( 1976). Não está no escopo deste trabalho descrever detalhadamente o modelo. O leitor pode consultar o artigo original e/ou Gomes (1997). Neste modelo teórico, a célula é considerada um dielétrico perfeito, esferóide prolato, com diâmetros maior e menor 2c e 2a, respecivamente, separando dois meios condutores: o sarcoplasma e o meio extracelular, no qual um campo elétrico uniforme é gerado pela passagem de corrente entre os dois eletrodos de estimulação.
Com base neste modelo, podemos deduzir uma expressão que fornece o campo elétrico limiar, EL, (necessário para excitar a célula, produzindo potencial de ação seguido de uma contração) médio, aplicado em uma direção qualquer da célula:
0=1t/2 EL = (2/7t) .ó. V L f [-ª2 A 2sen2eo +
+ _ç2ç2cos2eorl/2 de
onde .ó. V L representa a despolarização maxuna da membrana no campo limiar. Esta despolarização, de acordo com o modelo adotado, pode ser obtida conhecendo-se, além da intensidade do campo aplicado, a direção do campo com relação ao eixo maior da célula (0o) e os parâmetros geométricos A e Ç, derivados do comprimento médio dos eixos a e c da célula (-ª e f).
De posse dos parâmetros geométricos das células, nas diversas idades, pudemos então estimar o campo limiar e comparar ao campo elétrico limiar medido experimentalmente.
Resultados
A Figura 2 ilustra o campo elétrico limiar necessário para disparar uma contração em miócitos cardíacos isolados de ratos ao longo do desenvolvimento pós-natal. Este resultado é no mínimo surpreendente, já que nos indica que o campo elétrico necessário para estimular células de animais neonatos é cerca de 5 vezes maior que o efetivo para estimular as células de animais adultos. Isto significa a necessidade de 25 vezes mais potência para estimular o miócito do animal neonato que o do adulto. De posse dos cálculos básicos, construímos um estimulador de alta potência e, com este equipamento, realizamos experimentos visando obter EL, o que está ilustrado na Figura 2 (n=20). Como se observa, os dados experimentais estão em acordo com a teoria.
40
Ê 30
~ 20
ü:l 10
0+..i.-'-t-'-...1-f--'-'-+-'-'-+'--'-l
Figura 2. Campo elétrico limiar médio em células cardíacas isoladas de animais ao longo do desenvolvimento pós-natal. Dados experimentais (n=20, barras) são comparados aos valores teóricos (símbolos) calculados pelo modelo.
A Figura 3 ilustra transientes de Ca2+ obtidos
por estimulação elétrica e por meio da aplicação de cafeína em células de animais neonatos e adultos. É evidente que o decaimento do transiente de Ca2~ de cafeína no animal adulto é mais lento (tl!2actulto=2, 17±0,22 s vs. t112neonato= 0,84±0,09 s; N=20), significando um papel menor da NCX, comparado ao animal neonato.
ANAIS DO CBEB'2000
3 Neonato
~2
o +. Caf
Adulto
~
~ +
MM N
<ti S2.
o • Caf
5s
Figura 3. Transientes de Ca2+ obtidos em células de
animais neonatos e adultos. Os transientes à esquerda foram obtidos por estimulação elétrica e à direita estão os transientes induzidos por aplicação de cafeína (Caf) que é mantida durante todo o período de decaimento do sinal.
Discussão
Os resultados apresentados na Figura 3 ilustram a grande importância do estudo aprofundado do transporte de Ca2~ ao longo do desenvolvimento pósnatal e confirmam a idéia de que a NCX é mais ativa no animal neonato em comparação ao adulto. No presente trabalho apresentamos uma confirmação funcional para o papel da NCX no decaimento do transiente de Ca2
+ em células miocárdicas intactas, já que na presença de cafeína o RS está impedido de acumular Ca2
+.
A diferença na amplitude relativa dos transientes de Ca2
+ obtidos por estimulação elétrica e por aplicação de cafeína é realmente maior no animal neonato. A causa desta diferença está sendo estudada em continuação a este trabalho e pode estar ligada a uma menor capacidade de ligação passiva (buffering) intracelular de Ca2
+ (Bassani et al., 1998), aliad~ a uma aparente restrição na liberação fracionai do íon pelo RS, no neonato.
O interesse primário de nossa equipe era estudar o transporte de Ca2
+ em animais ao longo do desenvolvimento pós-natal. Para isto foi necessário evocar transientes de Ca2
+ por estimulação elétrica. A barreira encontrada, ou seja, a impossibilidade de estimular as células de animais neonatos gerou uma questão relevante e só pôde ser ultrapassada com a aplicação de conhecimentos das áreas de Engenharia e
6
Física. Os dados da Figura 2 exemplificam o porquê da dificuldade de estimulação. O modelo eletromagnéticc prediz a necessidade de um campo elétrico cerca de 5 vezes maior para estimulação dos miócitos de animais neonatos. Dados disponíveis no nosso laboratório sobre as dimensões das células indicam um aumento de cerca de 5 vezes no eixo maior e de 1,5 vezes no eixo menor da idade de 3-6 dias para a idade adulta, além de mudança drástica de forma.
De que modo o campo elétrico interage com as células para gerar a despolarização? Esta questão é hoje um tema importante no nosso laboratório pela grande aplicação no estudo da estimulação usada nos marcapassos e em especial na desfibrilação cardíaca.
O conhecimento de técnicas da Engenharia, já presente no LPCv, tem facilitado o estudo do tema de modo muito interessante e efetivo. Além de eventuais contribuições do ponto de vista tecnológico com aplicação terapêutica, o resultado imediato é a viabilização do estudo, para nós e para outros pesquisadores, do transporte de Ca2
+ no coração de animais ao longo do desenvolvimento pós-natal.
Conclusões A interação multidisciplinar é fundamental
para o desenvolvimento da ciência em todas as áreas e deve ser preservada e incentivada na Engenharia Biomédica que a tem como vocação primária.
O envolvimento de pesquisadores com as atividades mistas de experimentação fisiológica e de desenvolvimento tecnológico pode ser a chave para o desenvolvimento de inovações em produtos de apoio à pesquisa médica e biológica.
Agradecimentos
À FAPESP (proc. n. 95/0355-3 e 97/07537-5, e ao CNPq (proc. n. 301905/84 - 3 (NV)) pelo apoio financeiro. Agradecemos também à Srta. Michele Roveri aos Srs. Gilson B. Maia Jr. e Rogério Toledo pelo suporte técnico.
Referências
- Bassani, R.A., Bassani, J.W.M. & Bers, D.M. Mitochondrial and sarcolemmal Ca2
+ transport reduce [Ca2+]; during caffeine contractures in rabbit cardiac myocytes. Journal of Physiology, 453: 591-608, 1992.
- Bassani, J.W.M., Bassani, R.A. & Bers, D.M. Relaxation in rabbit and rat cardiac cells: speciesdependent differences in cellular mechanisms. Journal of Physiology, 476:279-293, 1994.
- BassanL J.W.M., Bassani, R.A. & Bers, D.M. Calibration of indo-! and resting intracellular [Ca]i in intact rabbit cardiac myocytes. Biophysical Journal, 68: 1453-1460, 1995.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
- Bassani, R. A., Shannon, T. R. & Bers, D. M. Passive Ca2+ binding in ventricular myocardium of neonatal and adult rats. Cell Calcium, 23: 433-442, 1998.
- Bers, D. M. Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic; 1991.
- Boerth S.R., Zimmer D.B. & Artman M. Steady-state mRNA leveis od the sarcolenunal Na +-Ca2+ exchanger peak near büth in developing rabbit and rat hea1ts. Circ. Res., 74: 354-359, 1994.
-Gomes P.A.P. Aplicação de Técnicas de Engenharia no Estudo de Células Cardíacas Isoladas: Medição de [Ca"+]; e Limiar de Estimulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, 1997. 163p.
- Klee, M. & Plonsey, R. Stimulation of spheroidal cells: the role of cell shape. IEEE Transactions 011
Biomedical Engineering BME-23: 347-354, 1976.
- Vetter R., Studer R., Reinecke H., Kolár F., Ostadálova I & Drexler H. Reciprocai changes in postnatal expression of the sarcolemmal Na+-Ca27
exchanger and SERCA 2 in rat heart. J. Mo!. Cell. Cardiol., 27: 1689-1701, 1995.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
O Estado da Arte dos Biomateriais no Brasil
Helio Schechtman 1, Cecília A. C. Zavaglia2
1Programa de Computação Científica (PROCC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Brasil, 21045-900
Fone (OXX21)598-4369, Fax (OXX21)270-5141 2Depto. de Engenharia de Materiais
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, 13083-970 Fone (OXX19)788 3316/788 3309, Fax (OXX19)289 3722 [email protected], zavagl@fem. unicamp. br
Resumo - Este artigo apresenta uma retrospectiva histórica do conhecimento sobre biomateriais, exemplificando com pesquisas em tendões e define os conceitos básicos dos principais termos utilizados nesta área. Simultaneamente, os autores buscam apresentar a situação atual e perspectivas do conhecimento científico através da listagem das pesquisas dos grupos atuantes na área de biomateriais no Brasil.
Palavras-chave: Biomateriais, Colágeno, Hidroxiapatita, Hidrogéis, Titânio, Biomimético
Abstract - This paper presents an historical retrospective of the knowledge about biomaterials, exemplifying with research on tendon, and define the basic concepts of the main terms utilised in this field. Simultaneously, the authors attempt to the present situation and perspectives of the scientific knowledge by listing the research done by groups active in the area ofbiomaterials in Brazil.
Key-words: Biomaterials, Collagens, Hydroxypatite, Hydrogels,Titanium, Biomimetic
Introdução
Este artigo tem como finalidade descrever a situação atual do conhecimento científico nacional com relação aos biomateriais. Pretende-se ainda apresentar as perspectivas de desenvolvimento deste interessante campo de conhecimento.
Os autores, por razões metodológicas e didáticas, dividem os biomateriais em naturais, dando ênfase àqueles de origem humana, e os artificiais, que englobam os naturais modificados e os sintéticos. Evidentemente, os autores compreendem que o desenvolvimento de biomateriais artificiais pressupõe conhecimento preciso das propriedades físico-químicas dos materiais naturais a serem substituídos.
Os biomateriais artificiais podem ser definidos como substâncias de origens naturais ou sintéticas que são toleradas, de fonna transitória ou permanente pelos diversos tecidos dos organismos dos seres vivos. Eles são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura, ou substitui algum tecido, órgão ou função do corpo, ou ainda como um material não viável utilizado em um dispositivo médico, com a intenção de interagir com os sistemas biológicos [ 1].
Um biomaterial artificial deve atender a dois reqms1tos básicos: biocompatibilidade e biofuncionalidade. Biocompatibilidade significa que o material e seus possíveis produtos de degradação devem ser tolerados pelos tecidos envoltórios e não devem causar prejuízos ao organismo a curto e longo prazos.
Segundo Williams [ 1] biocompatibilidade pode ser definida como a habilidade de um material ter um desempenho satisfatório, quando em contato com o organismo vivo, com resposta apropriada do tecido hospedeiro, numa dada aplicação. Já a biofuncionalidade está relacionada com as características mecânicas que o dispositivo implantado deve ter, para cumprir a função desejada, pelo tempo necessário, que pode ser longo, em caso de implante permanente, ou curto, no caso de implante temporário.
Os tecidos de sustentação biológicos são biomateriais naturais na forma de compósitos de fibras colagênicas e uma matriz hidratada. Devido a estas características estes tecidos são anisotrópicos e carregados em tensão. Quando sujeitos a compressão, a carga compressiva é suportada por cristais cerâmicos, como no esqueleto ósseo, ou por uma matriz rica em glicosaminoglicanos altamente hidrófilos que a transfere como carga tensional às fibras, como nas cartilagens.
Os autores concentrarão os exemplos de biomateriais naturais em dados obtidos de tendões, por serem estes quase que unicamente constituídos de colágeno organizado em fibras paralelas submetidas a carregamento em tensão. Ressalte-se que o colágeno é a proteína estrutural básica dos tecidos e órgãos dos mamíferos, e em particular dos seres humanos.
Quanto aos biomateriais artificiais, os autores discutem a biocompatibilidade dos mesmos, detalhando e classificando-a como bioinerte, bioativo e/ou
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
biodegradavel. Estes materiais são exemplificados por metais, cerâmicas e polímeros.
Quando se trabalha com biomateriais é imp01iante o entendimento da correlação entre propriedades, funções e estruturas dos tecidos biológicos, dos materiais sintéticos e da correlação entre eles.
Os principais avanços no campo dos biomateriais tem ocorrido principalmente devido ao aumento do número de pacientes em função do aumento da população e da expectativa de vida. O grande número de acidentes nos meios de transporte também colabora nessa grande necessidade de biomateriais.
O aumento do uso de materiais sintéticos para restaurar partes do corpo humano tem exigido o desenvolvimento de tecnologias diferenciadas na fabricação de produtos que atendam às solicitações de materiais implantáveis. Até há pouco tempo, o que vinha ocorrendo era a adaptação de materiais já consagrados para outras aplicações, como biomateriais. Essa adaptação não se dava sem problemas e atualmente muitos pesquisadores tem buscado desenvolver materiais especificamente para aplicações nas diversas áreas da medicina e odontologia.
Os autores discutem então as pesquisas realizadas no Brasil sobre ligas metálicas de titânio, revestimentos destas ligas, cimentos cerâmicos, hidrogéis e polímeros biodegradáveis.
Ressaltamos que a comunidade científica que trabalha no desenvolvimento de biomateriais artificiais é ainda incipiente no país, e só há pouco tempo começou a se organizar, através da fundação da Sociedade Latino Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais (SLABO), que ocorreu em Belo Horizonte, em dezembro de 1998 (www.slabo.com.br).
Perspectiva histórica
A pesquisa científica das propriedades mecânicas de tecidos humanos é relativamente antiga. Já em 184 7 Wertheim [2] investigou a tensão e deformação de ruptura de diversos tecidos humanos. Houve em seguida um longo hiato até aproximadamente a década de 60, quando Rigby et ai. [3] publicaram um dos trabalhos mais citados sobre as propriedades mecânicas de tendão, no caso, murino. Estes autores investigaram propriedades viscoelásticas, no caso o relaxamento de tensões, bem como a dependência desta propriedade com relação à temperatura.
As décadas de 60, 70 e 80 mostraram-se prolíficas em pesquisas das propriedades mecânicas, seja resistência mecânica sejam viscoelásticas [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12] e [13], bem como modelagem [14], [15], [16] e [17] destas propriedades. Iniciam-se também nestas décadas as investigações sobre a influência de fatores ambientais e fisiológicos nas propriedades mecânicas [18], [19], [20] e [21].
A percepção, pelos engenheiros biomédicos, dos tecidos biológicos como entidades vivas iniciou-se já em 1892 com o trabalho de Wolff [22] sobre remodelagem de ossos. Em 1966, Nash [23] expandiu a teoria de Miner-Palmgren [24] e [25] de falha mecânica
por danos causados por fadiga à materiais vivos, isto é materiais que apresentam a capacidade de autoregeneração.
Diversos pesquisadores interessam-se, então, por investigar a resistência à fadiga mecânica [26], [27], [28] e [29]. Recentemente, Bader and Schechtman [30] discutiram as implicações de danos por fadiga e possíveis estratégias de remodelagem e reparo em tendões humanos.
Entre as diversas estratégias possíveis de adaptação de tecidos biológicos ao carregamento mecânico estão a modificação da matriz extracelular, seja através dos seus diversos componentes seja pela diferenciação de suas próprias células. As pesquisas sobre esses possíveis mecanismos biológicos iniciaramse na década de 60 investigando, por exemplo, a quantidade de colágeno [31 ], evoluindo para a diferenciação celular e caracterização dos glicosaminoglicanos na matriz extracelular [32], [33] e [34].
A capacidade dos biomateriais naturais de se modificarem e, portanto, se adaptarem a novas situações tem sido utilizada como inspiração à manufatura de biomateriais artificiais e como elemento modificador da interface corpo-implante.
Classificação dos biomateriais artificiais
De acordo com a origem, os biomateriais artificiais podem ser classificados corno naturais e sintéticos. Como exemplos de biomateriais naturais modificados pode-se mencionar o colágeno e a quitosana. Como biomateriais sintéticos pose-se citar os metais e suas ligas, as cerâmicas, os polímeros e materiais compósitos.
Segundo Hench [35] os biomateriais podem ser classificados, de acordo com seu comportamento fisiológico em: biotoleráveis, bioinertes, bioativos e biodegradáveis.
Biotoleráveis são aqueles materiais apenas tolerados pelo organismo, sendo isolados dos tecidos adjacentes através da formação de uma camada envoltória de tecido fibroso. Essa camada é induzida pela liberação de compostos químicos, íons, produtos de corrosão e outros, por parte do material implantado. Quanto maior a espessura da camada de tecido fibroso formada, menor a tolerabilidade dos tecidos ao material. Os materiais biotoleráveis são a maioria dos polímeros sintéticos e muitos materiais metálicos.
Bioinertes são materiais também tolerados pelo organismo, mas em que a formação do envoltório fibroso é de espessura mínima. O material implantado libera quantidades mínimas de produtos químicos. Exemplos de materiais bioinertes são a zircônia e a alumina, o titânio e suas ligas e o carbono.
Bioativos são aqueles materiais nos quais ocorrem ligações químicas entre material de implante e tecido. Os principais exemplos desse tipo de biomaterial são os biovidros, as vitro-cerâmicas , a hidroxiapatita e outras cerâmicas à base de fosfato de cálcio. Normalmente esse tipo de efeito é observado em implantes colocados nos tecidos ósseos . Em função da
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
similaridade química entre o material de implante e a parte mineral do tecido ósseo, ocorre uma ligação entre esses materiais, permitindo a osseocondução através do recobrimento por células ósseas.
Biodegradáveis ou reabsorvíveis são materiais que, após certo período de tempo em contato com os tecidos biológicos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo. Seus produtos de degradação não são tóxicos e portanto são eliminados pelo metabolismo normal do paciente. Esses materiais são bastante úteis em diversas aplicações clínicas, principalmente em implantes temporários, pois torna-se desnecessário uma nova intervenção cirúrgica para a retirada do material de implante. Os principais exemplos desses materiais são o fosfato tricálcico (~-TCP) e os polímeros poli-( ácido láctico) (PLA) e poli-( ácido glicólico) (PGA).
Os materiais metálicos são considerados os menos biocompatíveis de todos os materiais sintéticos. Eles são mais susceptíveis a sofrer corrosão no meio fisiológico, que é bastante agressivo. Embora se utilizem como biomateriais aqueles metais mais resistentes à corrosão, como a aço inoxidável austenítico (F-138), a liga cobalto-cromo-molibdénio e titânio e suas ligas, ainda assim esses metais são corroídos. A discussão dos pesquisadores é sobre os efeitos sistémicos dos produtos de degradação dessas ligas metálicas, devido à corrosão. Outros fatores negativos das ligas metálicas são suas altas densidades e elevados módulos de elasticidade, quando comparados com o tecido ósseo, por exemplo. Porém, embora os metais tenham esses inconvenientes, eles possuem propriedades mecânicas superiores aos outros materiais, são de fácil processamento e relativamente baratos . Portanto são mais adequados quando se tem alta solicitação mecânica como por exemplo em implantes ortopédicos de articulações.
As cerâmicas possuem densidade moderada, elevada biocompatibilidade (na sua maioria) e boa resistência à compressão. Em princípio serve para substituir tecidos duros como osso e dentes. Porém as cerâmicas possuem dois grandes inconvenientes: uma baixa tenacidade à fratura e dificuldade de processamento (cerâmica avançada). Algumas cerâmicas sofrem degradação de suas propriedades mecânicas em meio fisiológico. Normalmente as cerâmicas são utilizadas para substituir pequenos ossos, ou para revestir implantes metálicos.
Os materiais poliméricos, devido a suas baixas densidades, são adequados para a substituição de tecidos moles do organismo humano. Eles devem ser isentos de aditivos tóxicos e de resíduos de monômeros. Alguns dos inconvenientes de se utilizar biomateriais poliméricos são as baixas resistências mecânicas (podem ser reforçados com fibras carbono) e a dificuldade para esterilização. Como os pontos de fusão, ou de amolecimento da maioria dos polímeros são baixos, a esterilização por estufa seca ou estufa a vapor não podem ser realizadas. Portanto, a normalmente os dispositivos poliméricos implantáveis são esterilizados com produtos químicos ou radiação ionizante (com taxa de dose controlada).
Grupos de pesquisa
Diversos grupos de pesquisa trabalham cmr desenvolvimento de biomateriais no país. Pode-se destacar o grupo liderado pelo Prof. Gilberto Goissis, nc IQ de São Carlos, USP, cujas linhas de pesquisa sãc basicamente biomateriais naturais, a base de colágeno t:
quitosana e também cerâmicas de fosfato de cálcio [36: e [3 7]. Seus trabalhos encontram aplicações m odontologia, cardiologia e oftalmologia, com algumaE aplicações clínicas já realizadas.
Outro grupo que se destaca é aquele formado po1 pesquisadores da COPPE/ UFRJ e UFF, lideradm respectivamente pelos professores Glória Almeida Soares e Carlos Nelson Elias. As principais linhas de pesquisa desse grupo são cerâmicas de fosfato de cálcio, revestimentos não convencionais [38] em implantes metálicos e estudos detalhados de implantes dentários ("design", processo de fabricação, acabamento superficial e comportamento in vivo).
O uso de materiais carbonosos em biomateriais é a linha de pesquisa realizada no CT A, em São José dos Campos, com coordenação da Dra. Mirabel Rezende.
Na UFMG um grupo de pesquisa liderado pela Profa. Marivalda Pereira, estuda também o desenvolvimento de cerâmicas de fosfato de cálcio e o processo de revestimento de implantes pela técnica de aspersão ténnica a plasma [39].
Também deve-se mencionar o Instituto Brasileiro de Biomateriais, coordenado pelo Dr. Leonardo Wykrota, que realiza pesquisas na área de biomateriais para odontologia e oftalmologia, entre outras.
O desenvolvimento de ligas metálicas e o estudo de corrosão de diversos materiais metálicos utilizados em odontologia são as linhas de pesquisa realizadas na IQ-UNESP, de Araraquara, lideradas pelo Prof. Antonio Carlos Guastaldi.
No DEMA-EESC-USP são desenvolvidas ligas metálicas e revestimentos especiais para dispositivos e próteses ortopédicas, sob coordenação da Profa. Lauralice Canale.
No IPEN/CNEN em São Paulo, algumas linhas de pesquisa são desenvolvidas. Uma delas é a preparação de enxertos vasculares poliméricos pela técnica de enxertia ("grafting"), coordenada pela Dra. Olga Higa. O uso de hidrogéis como ataduras para queimados e desenvolvimento de pele artificial fazem parte das pesquisas coordenadas pelo pesquisador Adernar Lugão. O estudo de biomateriais cerâmicos inertes e bioativos, para diversas aplicações faz parte da linha de pesquisa coordenada pela Dra. Ana Helena Bressiani.
Deve-se destacar também o grupo de pesquisas em biocerâmicas do DEMa-UFSCar, liderado pelo Dr. Anselmo Boschi, destacando-se como temas estudados as cerâmicas de fosfato de cálcio, obtenção de revestimentos cerâmicos pelo método biomimético e o desenvolvimento de cimentos de fosfato de cálcio reforçados por fibras (em parceria com a UNICAMP) [40].
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Alguns grupos realizam desenvolvimento de dispositivos para ortopedia, destacando-se o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP, liderados pelo Engo. Tomaz Puga Leivas e dispositivos e equipamentos para a área cardio-vascular , destacandose o Hospital Dante Pazzaneti (coordenado pelo Dr. Aron Andrade) [41] e INCOR (coordenado pela Enga. Marina Maizato ).
Finalizando, deve-se mencionar as pesquisas realizadas no DEMA-FEM-UNICAMP, das quais serão destacadas algumas em particular, para um melhor detalhamento e exemplificação das pesquisas realizadas no país.
Este grupo de pesquisa começou a ser nucleado em 1990 no DEMA, mas teve a colaboração de pesquisadores de outros Institutos, como por exemplo Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Odontologia, Institutos de Química, de Física e de Biologia.
São abordados os seguintes temas: hidrogéis para cartilagem articular artificial, pinos e dispositivos de polímeros biodegradáveis, resinas compostas para uso em odontologia, liga de titânio alternativa, produção de camadas de hidroxiapatita via o método biomimético e desenvolvimento de vidros e vitro-cerâmicas por solgel, para aplicação em cimentos de ionômeros de vidro.
Cartilagem articular artificial
Nos últimos anos têm se intensificado as pesquisas que buscam soluções alternativas para restaurar superficies articulares lesadas [ 42]. Muitas destas pesquisas envolvem a utilização de diferentes materiais, biológicos ou sintéticos nos casos em que a lesão apresenta-se com área bem definida. Os implantes de polímero apresentam grande potencial de uso, desde que sejam fáceis de produzir, manusear e biocompatíveis. Dentre os materiais poliméricos estudados para essa aplicação podemos destacar os hidrogéis sintéticos[ 43]. Os hidrogéis apresentam elevada capacidade de incorporação de água e baixos coeficientes de atrito, características fundamentais para este tipo de aplicação. Estes trabalhos [ 44] e [ 45] apresentam um estudo realizado para a avaliação do potencial de uso de hidrogel a base de uma blenda de poli-(2-hidróxi-etil-metacrilato) (poli-HEMA) e poli-(metacrilato de metila-co-ácido acrílico) como material de reparo para defeitos da cartilagem articular.
Atualmente estão sendo feitos projetos alternativos de próteses para minimizar o desgaste e, consequentemente, aumentar a durabilidade da prótese articular. Dois tipos diferentes de dispositivos estão sendo feitos. Para aplicação como superficie articular artificial em próteses, o dispositivo a ser desenvolvido será formado por substratos porosos de polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) comercial recobertos por hidrogéis poliméricos (poli-HEMA) e para aplicação no reparo de defeitos osteocondrais o dispositivo a ser desenvolvido será formado por uma mistura de hidroxiapatita e fosfato tricálcico recobertos com hidrogéis poliméricos (poli-HEMA) [ 46].
Pinos e dispositivos de polímeros biodegradáveis
Os poli-(a-hidroxi ácidos) são uma classe de poliésteres os quais vem sendo utilizados há duas décadas com material de sutura no corpo humano, devido à sua biodegradação, pois sofrem cisões hidrolíticas, podendo ser absorvidos e eliminados pelo organismo (47]. Os principais polímeros são o poliácido lactico (PLLA) e o poli-ácido glicólico (PGA). Esses materiais tem sido utilizados para uma grande variedade de sistemas de implantes em tecidos moles e reparos ósseos em medicina e odontologia devido à sua excelente biocompatibilidade e biodegradação in vivo, eliminando a necessidade de remover o dispositivo após a recuperação do osso. Essas características tornam esses materiais promissores para aplicações como placas, parafusos, pinos, etc.
Vários trabalhos da literatura [47], (48], [49] relatam a degradação do PLLA puro e reforçado para aplicações como reparação de tecidos ósseos, nervosos, liberação controlada de drogas e alguns dão ênfase aos dispositivos para osteossíntese. Através da variação da morfologia, cristalinidade, e peso molecular desse polímero, são verificados a influência desses parâmetros no processo de degradação após o implante, através de ensaios in vitro e in vivo.
A partir de 1997 iniciou-se o estudo de blendas de polímeros bioabsorvíveis envolvendo misturas desses materiais em várias composições e avaliando-se o processo de degradação in vitro e in vivo, principalmente para aplicações em ortopedia, com a colaboração de Ortopedistas (CCMB-PUC-SP) e com o grupo do Instituto de Biologia da UNICAMP. Iniciou-se um trabalho em colaboração com o Instituto de Ciências Biológicas e Químicas/ PUCCAMP. Nesse sentido alguns trabalhos foram desenvolvidos. As blendas estudadas são: poli-( ácido lático)/ polidioxanona; poli-( ácido lático)/ poli-(hidróxibutirato-co-hidroxivalerato ); poli-( ácido /poli-( óxido de etileno).
Nestes estudos [49] e [50] utilizou-se o polímero biodegradável derivado do ácido láctico com maior e menor grau de cristalinidade, submetendo-o a testes in vitro para caracterização do grau de cristalinidade e das suas características mecânicas e testes in vivo para aferir a tolerabilidade do tecido muscular e ósseo à sua presença.
Este trabalho está tendo continuidade através da aplicação de membranas de PLLA porosas para regeneração de tecidos moles lesados [ 51] e não porosas, como barreiras mecânicas entre tecidos moles e duros.
Resinas compostas para uso em odontologia
Esta pesquisa [52] teve com objetivo principal a otimização da formulação e a caracterização de compósitos de matriz polimérica, reforçadas com partículas de quartzo, para uso em odontologia , com cura fotoquímica e química, em substituição ao amálgama de prata. Esses materiais, embora apresentem grandes vantagens como elevadas resistências mecânica
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
e ao desgaste e podem ser empregados mesmo que as peças a restaurar estejam úmidas; apresentam como agravante uma elevada toxicidade, pouca estética e o fato de garantir totalmente a selagem da cavidade.
Apesar de todas as vantagens estéticas das resinas compostas, como restauradores dentais, esses materiais ainda possuem propriedades mecânicas inferiores às amálgamas.
Neste trabalho foi feita a otimização da formulação dos compósitos, visando aperfeiçoar esses materiais, determinando-se as relações ideais para iniciador-monômero, mistura iniciador-carga e a distribuição do tamanho das partículas de carga.
Este estudo está tendo continuidade com a utilização de outros materiais de reforço, visando aperfeiçoar ainda mais as propriedades mecânicas desses materiais.
Aplicações de ligas alternativas de titânio em implantes dentários
Os biomateriais metálicos destinados às aplicações de implantes devem possuir propriedades mecânicas, físicas, químicas e biológicas, de maneira que, quando em contato com tecidos e fluidos dos seres vivos , de forma transitória ou permanente, devem compor um estado harmônico. Estudos contínuos de novos materiais tem sido realizados para uso ortopédico e odontológico, na tentativa de melhorar sua biocompatibilidade. Neste trabalho [53] foram confeccionados implantes dentários, tipo parafuso por usinagem da liga Ti-6Al-7Nb, sendo que alguns desses implantes foram revestidos com pó de hidroxiapatita pela técnica de plasma-spray.
Atualmente estão sendo desenvolvidas ligas de titânio do tipo ~' utilizando-se vários teores de Nb, Ta ou Zr [54]. As vantagens dessas ligas sobre as convencionais (a+~) são os módulos de elasticidade inferiores e a não existência de elementos tóxicos. Essas ligas do tipo ~ serão bastante interessantes para a utilização em dispositivos para ortopedia.
Produção de camadas de hidroxiapatita via método biomimético
Na região de contato entre a prótese e o fluido fisiológico (corpo humano) há a necessidade de uma região porosa para que ocorra a osteointegração (porosidade entre 100 e 200 µm).
Kokubo [55] desenvolveu uma solução que simula o fluido fisiológico (SBF Simulated Body Fluid). Substratos que apresentam grupos funcionais (hidrofóbicos ou hidrofílicos) quando em presença de SBF e à temperatura do corpo humano (37 ºC) cristalizam uma camada de fosfato de cálcio na sua superfície [56]. A mineralização da camada de fosfato de cálcio é porosa e aderente à superfície. A funcionalização do substrato pode ocorrer por dois métodos: processo de Langmuir-Blodgett e a técnica de auto-montagem.
12
O processo de Langmuir-Blodgett consiste na transferência de uma monocamada da superfície da água para um substrato. Esta monocamada é obtida via a aspersão de moléculas anfifílicas (moléculas anfífilicas são aquelas que apresentam um lado hidrofóbico e outra ponta hidrofílica) na superfície da água e quando comprimidas passam de um estado de total desorganização para o estado organizado e se continua a compressão da monocamada há o colapso (uma molécula sobre a outra). Quando esta monocamada é transferida o grupo químico que fica para fora do substrato é o grupo funcional. Dependendo do tamanho do grupo químico e da distância entre eles, cristais de fosfato de cálcio crescem na sua superfície.
A técnica de filmes auto-montáveis consiste em recobrir substratos por simples afinidades de cargas. Essa monocamada forma-se espontâneamente e, da mesma maneira que os filmes de Langmuir-Blodgett, são altamente organizados.
A caracterização desta monocamada tem sido realizada via a microscopia de força atômica, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura com EDS e difração de raios X [57]. Os resultados de difração de raios X identificam a hidroxiapatita como a fase formada. A observação das imagens de MF A identifica que a camada de HA formada apresenta tamanho de poros na faixa de 100 to 200 µm. Os resultados de MEV-EDS identificam o fosfato de cálcio formado com a proporção de Ca/P de 1,67, valor típico da fase hidroxiapatita.
Desenvolvimento de vidros e vitro-cerâmicas via método sol-gel
Este trabalho [58] teve como objetivo a síntese, através do processo sol-gel, de vidros e vitro-cerâmicas de diferentes composições, no sistema SiOrA120 3-
CaO - CaF2• Utilizou-se a técnica de modelagem de misturas na seleção das composições sintetizadas nesse trabalho. A caracterização dos vidros e vitro-cerâmicas obtidos realizou-se através de análise química por fluorescência de raios X e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia RAMAN, microscopia eletrônica de varredura convencional, acoplada à análise dispersiva de raios X e microscopia eletrônica de alta resolução. Concluiu-se ser possível obter vidros e vitro-cerâmicas ricos em flúor, em temperatura ambiente, através da técnica de processamento sol-gel.
Agradecimentos
Os autores agradecem a todos os pesquisadores que trabalharam nas pesquisas aqui mencionadas e desculpam-se antecipadamente por qualquer omissão involuntária.
Referências
[l] D. F. Williams, "Definitions in biomaterials", Consensus Conference of the European Society for Biomaterials, Chester, 1986, pp. 485-480.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
(2] M.G. Wertheim, "Mémoire sur l'élasticité et la cohésion de principaux tissus du corps humain", Ann. Chim. Phys., vol. 21, pp. 385-414, 1847.
(3] B.J. Rigby, et al., "The mechanical properties of rat tail tendon", J. Gen. Physiol., vol. 43, pp. 265-283, 1959.
(4] P. Mason, "The viscoelasticity and structure of keratin and collagen", Kolloid Z. Z. Polymere, vol. 202, pp. 139-147, 1965.
(5] J.D. Van Brocklin and D.G. Ellis, "A study of the mechanical behavior ofToe Extensor Tendons under applied stress", Arch. Phys. Med. Rehab., vol. 46, pp. 369-373, 1965.
(6] M. Abrahams, "Mechanical behavior of tendon in vitro: a preliminary report", Med. Biol. Eng., vol. 5, PP 433-443, 1967.
[7] J.V. Benedict, L.B. Walker, and E.H. Barris, "Stress-strain characteristics and tensile strength of unembalmed human tendons", J. Biomechanics, vol. 1, pp. 53-63, 1968.
(8] R.E. Cohen, C.J. Hooley, and N.G. McCrum, "Viscoelastic creep of collagenous tissue" J. Biomechanics, vol. 9, pp. 175-184, 1976.
[9] C.J. Hooley, N.G. McCrum, and R.E. Cohen, "The viscoelastic deformation of tendon" J. Biomechanics, vol. 13, pp. 521-528, 1980.
(10] H. Schwerdt, A. Constantinesco, and J. Chambron, "Dynamic viscoelastic behaviour of the human tendon in vitro" J. Biomechanics, vol. 13, pp. 913-922, 1980.
(11] S.L-Y. Woo, "Mechanical properties of tendons and ligaments - I: quasi-static and non-linear viscoelastic properties", Biorheology, vol. 19, pp. 385-396, 1982.
(12] D.L. Butler, et al., "Effects of structure and strain measurement technique on the material properties of young human tendons and fascia", J. Biomechanics, vol. 17, pp. 579-596, 1984.
(13] M.B. Bennett, et al., "Mechanical prope1ties of various mammalian tendons", J. Zoo!. London (A), vol. 209, pp. 537-548, 1986.
(14] J. Diamant, et al., "Collagen: ultrastructure and its relation to mechanical properties as a function of ageing", Proc. Royal Soe., vol. Bl80, pp. 293-315, 1972.
(15] R.C. Haut and R.W. Little, "A constitutive equation for collagen fibers", J Biomechanics, vol. 5, pp. 423-430, 1972.
(16] M. Comminou and I.V. Yannas, "Dependence of stress-strain nonlinearity of connective tissues on the geometry of collagen fibers", J. Biomechanics, vol. 9, pp. 427-433, 1976.
[17] Y. Lanir, "Structure-strength relations in mammalian tendon", Biophys. J., vol. 24, pp. 541-554, 1978.
[18] F.R Paitington and G.C. Wood, "The role of noncollagen components in the mechanical behaviour of tendon fibres", Biochim. Biophys. Acta, vol. 69, pp. 485-495, 1963.
[19] A. Viidik and T. Lewin, "Changes in Tensile Strength Characteristics and Histology of Rabbit Ligaments Induced by Different Modes of Post-
M01tal Storage", Acta Orthop. Scand., vol. 37, pp. 141-155, 1966.
(20] R.J. Minns, P.D. Soden, and D.S. Jackson, "The role of the fibrous components and ground substance in the mechanical properties of biological tissues: a preliminary investigation", J. Biomechanics, vol. 6, pp. 153-165, 1973.
[21] A. Viidik,, C.C. Danielsen, and H. Oxlund, "On fundamental and phenomenological models, structure and mechanical prope1ties of collagen, elastin and glycosaminoglycan complexes", Biorheology, vol. 19, pp. 437-451, 1982.
(22] J. Wolff, Das gesetz der transformation der knochen, Berlin: Hirschwals Verlag, 1892.
[23] C.D. Nash, "Fatigue of self-healing structure: a generalized theory of fatigue failure", in ASME Publication 66-WAIBHF-3, New York: ASME-American Society of Mechanical Engineers, 1966, pp. 1-4.
(24] A. Palmgren, "Die lebensdauer vou kugellagem", Z. Ver. Dt. Ing., vol. 68, pp. 339-341, 1924.
(25] M.A. Miner, "Cumulative damage in fatigue", J. Appl. Mech. (ASME Trans.), vol. 67, pp. Al59-Al64, 1945.
(26] A.I. King and F.G. Evans, "Analysis of fatigue strength of human compact borre by the Weibull method", Digest o.f the VII International Conference on Medical and Biological Engineering, Stockholm, 1967, pp. 514.
(27] B. Weightman, "Tensile fatigue of human articular cartilage", J Biomechanics, vol. 9, pp. 193-200, 1976.
(28] D.R. Carter and W.E. Caler, "A cumulative damage model for bone fracture", J. Orthop. Res., vol. 3, pp. 84-90, 1985.
(29] H. Schechtman and D.L. Bader, "ln vitro fatigue of human tendons", J. Biomechanics, vol. 30, pp. 829-835, 1997.
(30] D. Bader and H. Schechtman, "Mechanical characterisation of tendons in vitro", in Structural Biological Materiais: Design and StructureProperty Relationships. M. Elices Ed. Amsterdam: Pergamon, 2000, pp. 161-186.
(31] D.H. Elliot and G.N.C. Crawford, "The thickness and collagen content of tendon relative to the strength and cross-sectional area of muscle", Proc. Royal Soe., vol. Bl62, pp. 137-146, 1965.
[32] K.G. Vogel, et al., "Proteoglycans in the compressed region of human tibialis posterior tendon and in ligaments", J. Orthop. Res., Vol. 11, pp. 68-77, 1993.
[33] D.L. Butler, et al., "Accelerating tendon repair -structure-function relationships", in Third World Congress o.f Biomechanics. Y. Matsuzaki, T. Nakamura, and E. Tanaka, Eds. Sapporo, 1998, pp. 126.
[34] P. Malaviya, et al., "An in vivo model for loadmodulated remodeling in the rabbit flexor tendon", J Orthop Res, vol. 18, pp. 116-125, 2000.
(35] L.L. Hench and J. Wilson, in Introduction to Bioceramics, vol. 1, New York: World Scientific Publ. Co., 1993, pp. 1-15.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
[36] G. Goissis, et al., "Preparation and characterization of collagen-elastin matrices from blood vessels intended as small diameter vascular grafts", Artificial Organs, vol. 24, pp. 217-223, 2000.
[37] V.C.A. Martins and G. Goissis, "Nonstoichiometric hydroxyapatite-anionic collagen composite as support for the double sustained release of gentamicin/norfloxacin/caprofloxacin", Artificial Organs, vol. 24, pp. 224-230, 2000.
[38] M.H.P. Silva, et al., "Conversion of eletrolytically deposited monetite to hydroxiapatite", Bioceramics vol. 11, pp. 223-226, 1998.
[39] S.N. Silva, Efeito de Parâmetros do Spray a Plasma sobre as Características Estruturais de Recobrimentos de HA, Dissertação de Mestrado, CPGEM-UFMG, 1998.
[40] LA. Santos; et al., "Fiber reinforced calcium phosphate cement", Artificial Organs, vol. 24, pp. 212-216, 2000.
[41] AJ.P. Andrade, Projeto, Protótipo e Testes ln Vitro e ln Vivo de um Novo Modelo de Coração Artificial Total, Tese de Doutorado , FEMUNICAMP, 1999.
[42] S.M., Malmonge, Hidrogéis Sintéticos para Reparo da Cartilagem Articular, Tese de Doutorado, FEEC-UNICAMP, 1997.
[ 43] P.A. Netti, et al., "Hydrogels as an interface between bone and an implant", Biomaterials, vol. 14, pp. 1098-1104, 1993.
[44] S.M. Malmonge, C.A.C. Zavaglia, and W.D. Belangero, "Hydrogel in articular cartilage repair. a biomechanical evaluation in rats", Brazilian J. Medical Biological Res., vol. 33, pp. 307-312, 2000.
[45] S.M. Malmonge and A.C. Arruda, "Artificial articular cmtilage: mechanoelectro-chemical behavior", Artificial Organs, vol. 24, pp. 174-178, 2000.
[46] V.P. Bavaresco, et ai., "Devices for use as an artificial surface in joint prostheses or in the repair of osteochondral defects", Artificial Organs, vol. 24,pp.202-205,2000.
[47] S.A.M. Ali, P.J. Dorherty, and D.F. Williams, "Mecanisms of polymer degradation in implantable <levices. 2 Poly(DL-lactic acid)", J. Biomed. Mater.Res., vol. 27, pp. 1409-1418, 1993.
[ 48] M.C. Meikle, et al., "Effect of poli Dl-lactide-coglycolide implants and xenogeineic bone matrixderivated growth on calvaria! bone repair in the rabbit", Biomaterials, vol. 15, pp. 513-521, 1994.
[49] E.AR Duek, y C.A.C. Zavaglia, "Degradacion de los poli( acido lactico ). caracterizacion fisico/mecanica: estudio m vitro", Revista lnformación Tecnológica, vol. 19, pp. 119-124, 1998.
[50] E.A.R Duek, C.A.C. Zavaglia, and W Belangero, "Degradation of poly(l-lactide acid) rods. part I: study in vitro", Polymer, vol. 40, pp. 6465-6473, 1999.
[51] R.M. Luciano, C.A.C. Zavaglia, y E.AR. Duek, 11 Sintesis y caracterization de membranas porosas
14
de poli(acido lactico)", Revista fl?formación
Tecnológica, vol. 19, pp. 115-118, 1998. [52] R.E.L. Palacio, Otimização da Formulação e
Avaliação Físico-química de Biomateriais Compósitos para Obturações Odontológicas, Dissertação de Mestrado, DEMA-FEM-UNICAMP, 1998.
[53] I.C.L. Valereto, Caracterização de Implantes Dentários da Liga Ti-6Al-7Nb Revestidos por Hidroxiapatita pela Técnica de Plasma-spray, Tese de Doutorado, Ipen/Cnen, 1998.
[54] R.R. Chaves, R. Bertazzoli, V. Oliveira, and R. Caram, "Preparation and characterization of Ti-AlNb alloys for orthopedic implants", Brazilian Journal of Chemical Engineering, vol. 17, pp.326-333, 1998.
[55] T. Kokubo, H.M. Kim, and F. Miyaji, "Apatiteforming ability of alkali-treated Ti metal in body environment",JCeram. Soe. Jpn., vol. 105, pp. 111-116, 1997.
[56] N. Costa, and P.M. Marquis, "Biomimetic processing of calcium phosphate coating", Medical Engineering & Physics, vol. 20, pp. 602-606, 1998.
[57] N.G. Costa, C.A.C. Zavaglia, and M.A. Cotta, "Characterisation of hydroxyapatite crystal grown on self assembled monolayers via atomic force microscopy", Bioceramics vol. 11, pp. 719-722, 1998.
[58] M.S. Zolotar and C.A.C. Zavaglia, "Study of sol-gel processing of glass-ceramic powders in the SiOzAl20rCaO-CaF2 system, part 1 - effect of powder composition on gel time and temperature", J. NonOystalline Solids, vol. 247, pp. 50-57, 1999.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Ensaios Tecnológicos de Materiais Biológicos
Antônio Carlos Shimano1 & Marcos Massao Shimano2
1Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP Av. Bandeirantes, 3900 - 14049-902 - Ribeirão Preto - SP
ashimano@fmrp. usp. br 2Pós-graduando em Bioengenharia, interunidades EESC e FMRP, ambas da USP
shimano@sc. usp. br
Resumo - O corpo humano é uma das máquinas mais perfeita que existe, onde há todos os aspectos importantes para seu bom funcionamento. Apesar das diferenças entre os materiais biológicos e os materiais usados na engenharia, os equipamentos modernos utilizados nestas áreas sugerem temas de estudo na interface. Algumas técnicas de análise estática e dinâmica utilizadas em engenharia podem ser adaptadas aos estudos de ossos, assim como alguns equipamentos das áreas médicas produzem resultados que podem ser manipulados para obtenção de propriedades de materiais. Esta apresentação tem por finalidade apresentar alguns aspectos importantes nas realizações de ensaios mecânicos em materiais biológicos. Na realização da pesquisa básica para conhecer o comportamento dos diversos segmentos do sistema ósteo-muscular, por meio de ensaios Biomecânicos das partes envolvidas (ossos longos, tendões, massa muscular e articulações). E na realização da pesquisa tecnológica, em projetos, visando principalmente o ensaio de órteses, de próteses ou de dispositivos auxiliares que possam recuperar a atividade do paciente. Neste aspecto podese antever a importância do desenvolvimento de novas próteses de substituição e/ou implantáveis Goelho, quadril e ombro) associadas a novos materiais (ligas metálicas ou polímeros complexos). Da mesma forma, na fixação de segmentos ósseos, quer internamente (tipo placa/parafuso e hastes intramedulares) ou externamente (tipo fixadores externos).
Palavras-chave: Ensaios de materiais, corpo de prova, propriedades mecânicas
Abstract - The human body is one of the most perfect machines than it exists, where there are all the important aspects for its good function. ln spite of the differences among the biological materiais and the materiais used in the engineering, the modem equipment used in these areas suggest study themes in the interface. Some techniques of static and dynamic analysis used in engineering can be adapted to the studies of bones, as well as, some equipment of the medical areas they produce results that can be manipulated for obtaining of properties of materials. This presentation has for purpose to present some important aspects in the accomplishments of mechanical rehearsals in biological materials. ln the accomplishment of the basic research to know the behavior of the severa! segments of the osteo-muscle system, by means of rehearsals biomechanics of the involved parts (long bones, tendons, muscle mass and articulations). And in the accomplishment of the technological research, in projects, seeking mainly the ortheses rehearsal, of prostheses or of auxiliary <levices that can reco ver the patients activity. ln this aspect the importance of the development of new prostheses of substitution or can be foreseen you implanted (knee, hip and shoulder) associated the new materiais (complex metallic or polymeric leagues). ln the sarne way, in the fixation of bone segments, wants internally (type plate/screw and interlocking nail) or extemally (type externai fixation).
Key-words: Materiais tests, specimen, mechanical properties.
Introdução
O corpo humano é uma das máquinas mais perfeita que existe, onde há todos os aspectos importantes para seu bom funcionamento. Como um computador central, o cérebro, comanda direta ou indiretamente todas partes do corpo humano. Estes comandos são enviados às partes, por meio de um sistema de rede neural (parte elétrica e eletrônica) e a parte mecânica, que é o esqueleto, sem ele o corpo seria uma massa gelatinosa. A eficiência da máquina humana é de aproximadamente de 25%, que é alto comparado com as outra máquinas. Mas, as diferenças básicas desta
15
máquina com as demais, são que ela vive, regenera, renova e sente.
O esqueleto, com toda sua estrutura óssea, tem funções fundamentais, mecânicas e dinâmicas, no corpo humano. Estas funções são responsáveis pela sustentação da massa corporal, proteção das solicitações externas, locomoção, além de repositor de cálcio e de células. O conhecimento das propriedades mecânicas de cada parte da estrutura óssea é essencial ao ortopedista ou aos profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento, como por exemplo de novas técnicas de tratamento de fraturas e de novas próteses.
O osso é um material biológico e por isto deve existir uma relação entre os processos fisicos e
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
biológicos: portanto, o conhecimento da complexidade de sua estrutura e de suas propriedades mecânicas são necessários.
O osso é um tipo especial de tecido conjuntivo denso comum, que é composto basicamente por células e material extracelular mineralizado. É constituído por células osteoprogenitoras, osteócitos e osteoblastos. A constituição das duas primeiras parece corresponder a diferentes etapas funcionais de um mesmo tipo celular, enquanto que os osteoblastos originam-se de monócitos da medula óssea e do sangue circulante, [ 1].
O tecido ósseo é formado por fibras colágenas e por componentes inorgânicos que são responsáveis por aproximadamente dois terços do peso do osso. Pode-se distinguir basicamente dois tipos de tecido ósseo: o esponjoso e o cortical. O esponjoso é fon11ado por uma rede trabecular com os vazios preenchidos pela medula óssea, enquanto que o cortical é compacto, de massa contínua, e contém canais vasculares interligados de tamanho microscópico.
O osso é um material anisotrópico e não homogêneo, possuindo também as propriedades da piezoeletricidade e da viscoelasticidade.
A formação e a reabsorção óssea se processam de modo contínuo e simultâneo por toda a vida, embora este ritmo se altere com a idade e varie nas diferentes partes do esqueleto, [2].
O tecido ósseo possui, além de suas atividades biológicas, a importante função de sup01tar cargas. Não se pode estudá-lo como material de engenharia simples, pois como tal permaneceria inalterado, ou se alteram muito pouco, ao longo do tempo sob influência de agentes externos. Já o osso se mantém em processo contínuo de remodelação, por meio do qual a estrutura se adapta às tensões a ela aplicadas ao longo do tempo.
Apesar das diferenças entre os materiais biológicos e os materiais usados na engenharia, os equipamentos modernos utilizados nestas áreas sugerem temas de estudo na interface. Algumas técnicas de análise estática e dinâmica utilizadas em engenharia podem ser adaptadas aos estudos de ossos, assim como alguns equipamentos das áreas médicas produzem resultados que podem ser manipulados para obtenção de propriedades de materiais.
Esta apresentação tem por finalidade apresentar alguns aspectos gerais importantes na realização de um ensaio mecânico em material biológico.
Alguns aspectos teóricos dos ensaios mecânicos
Para todo objeto quando submetido à ação de forças externas tende a deformar-se, apresentando uma resistência interna contra esta deformação. Define-se como tensão a razão entre a força que atua em um corpo e a área da secção transversal deste corpo onde ela atua. A tensão pode ser normal quando a força atua perpendicularmente sobre a superficie do objeto e tangencial, ou de cisalhamento, quando sua direção é paralela a sua superficie. As tensões podem ser divididas ainda de acordo com a forma de aplicação das forças. Quando as forças agem no sentido longitudinal tendendo a alongar o objeto ou rompê-lo, denomina-se
16
tensão de tração. O sentido inverso das forças com tendência a comprimir o objeto é denominado tensão de compressão. A tensão de flexão atua tendendo vergar, ou seja, dobrar o objeto, podendo ocorrer com uma das extremidades fixas, em balanço ou bi-apoiado, conhecido como flexão em três pontos ou podendo ser até flexão em quatro pontos. A tensão de torção é gerada por uma força atuando com um braço de alavanca ou através de um eixo transmitindo potência, produzindo um movimento de torção. A tensão de cisalhamento pode ser gerada quando o sistema de força atua tendendo a deslocar duas secções contínuas e paralelas do objeto, [3].
As principais propriedades mecânicas dos materiais são: 1- Módulo de Elasticidade ou de Y oung: relaciona a tensão e deformação, na fase elástica do material. Esta propriedade caracteriza o material, medindo a sua rigidez, pode ser determinado pela tangente da inclinação da reta na fase linear do material. 2- Limites de proporcionalidade e de elasticidade: estas duas propriedades em alguns materiais, como nos metais se confundem, são o valor máximo onde há proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação. Pode ser também a máxima tensão onde cessada a aplicação dos esforços o material ensaiado volta as condições iniciais. 3- Limite de resistência: é a tensão máxima que o material pode suportar antes da ruptura. 4- Limite de ruptura: é a tensão na qual o material se rompe. 5- Resiliência: é a capacidade do material absorver energia de deformação na fase elástica. Pode ser determinada pela área do triângulo retângulo formado abaixo da reta na fase elástica do material. 6- Tenacidade: é capacidade do material resistir a altas cargas juntamente com grande deformação sem se romper. Pode ser determinada pela área total abaixo da curva até a ruptura do material.
Estas propriedades podem ser determinadas pode meio de dados obtidos pela observação do comportamento de estruturas já existentes, mas a forma que apresenta maior confiabilidade é mediante ensaios padronizados que proporcionam resultados comparáveis e reprodutíveis. Estes ensaios são os denominados de ensaios mecânicos.
O mais conclusivo dos ensaios é realizar os ensaios dos matenais, em condições reais de funcionamento, mas infelizmente este tipo é caro necessita muito tempo e muitas vezes torna impossível realizá-lo, principalmente quando estes materiais são biológicos.
Os ensaios de materiais têm como objetivo determinar o maior número de características, que podem ser classificados em: ensaios destrutivos e não destrutivos. Os ensaios destrutivos são caracterizados pela destruição dos corpos de prova ou modelos após os ensaios realizados e os não destrutivos são aqueles que não há destruição, podendo até ser executado em peça já acabada. Os ensaios destrutivos são os ensaios mecânicos em geral (tração, compressão, flexão, torção
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
e cisalhamento ), e os ensaios não destrutivos são por exemplo: raios x, ultra-som e ressonância magnética.
Os ensaios mecânicos também podem ser classificados quanto à velocidade de aplicação de carga, são eles, estático e o dinâmico. Nos ensaios estáticos, a carga é aplicada durante um tempo relativamente curto, mas suficientemente lenta, de tal maneira que a velocidade de aplicação da carga é considerada desprezível, os exemplos de ensaios são a maioria dos ensaios destrutivos. Nos ensaios dinâmicos, a carga é aplicada tão rapidamente ou então ciclicamente de tal maneira que os problemas de tempo e inércia aparecem, os exemplos são ensaios de impacto e de fadiga, [3], [ 4].
Dos vários trabalhos realizados para detenninar as propriedades mecânicas e geométricas em ossos, ou as con-elações e leis empíricas destas propriedades e as do material, pode-se destacar os trabalhos: [5], [6], [7], [8] e [9].
Qual ensaio realizar?
O melhor ensaio a ser realizado é aquele em que podemos simular principalmente a maior força a ser solicitada quando em atividades normais, por exemplo, na tíbia e fêmur, os esforços principais atuantes são os de compressão e de flexão, portanto geralmente deve-se procurar realizar os ensaios utilizando estes tipos de esforços na Máquina Universal de Ensaio (MUE).
Geralmente os músculos, ligamentos ou tendões, são solicitados a esforços de tração, portanto os ensaios a ser realizados geralmente são os ensaios de tração.
Máquina universal de ensaios
A máquina universal de ensaios, o próprio nome já especifica o seu uso, ela pode ser utilizada para realizar qualquer tipo de ensaio mecânico estático que se desejar, desde que se utilize o acessório adequado, principalmente quando necessitar combinações de diferentes tipos de esforços como por exemplo, esforços de flexão e compressão.
Os parâmetros importantes que devem ser levados em consideração são: velocidade de aplicação de carga, pré-carga e tempo de acomodação. A velocidade de aplicação de carga depende do tipo de material a ser ensaiado, velocidade maior para materiais mais elásticos, como músculos e ligamentos, e velocidade menor para materiais mais rígidos, como os ossos. A importância da pré-carga e do tempo de acomodação é para eliminar as possíveis folgas existentes nas gan-as (acessórios) da máquina e para que haja uma padronização dos ensaios a serem realizados.
Corpos de prova e modelos
Para materiais metálicos, em geral, além de existir normas próprias para realização dos ensaios mecamcos e por ser geralmente homogêneo e isotrópico, tem a facilidade de se padronizar os corpos de prova, normalmente são usinadas.
Para matenais biológicos a dificuldade aumenta sensivelmente, devido a não homogeneidade e anisotropia dos materiais. Para estes materiais ainda não existem normas próprias para seus ensaios. As grandes dificuldades nestes ensaios são os acessórios a serem utilizadas, normalmente deve-se confeccionar para cada tipo de material a ser ensaiado, o seu próprio acessório.
Quando o experimento é realizado em animais de pequeno porte como ratos e coelhos geralmente são utilizadas as peças integras, como: ossos longos (tíbia e fêmur), ligamentos e músculos, para a realização dos ensaios mecânicos, devido as suas dimensões serem pequenas. Para experimento realizado em animais de médio e grande porte, de seus ossos longos, por exemplo, podem ser obtidos corpos de prova (CDPs) para realizar os ensaios mecânicos.
As vezes em determinados experimentos onde o objetivo é avaliar as peças integras independente do tamanho do animal, quando solicitados a determinados tipos de esforços, são necessários a confecção das bases de apoios aos modelos propostos, a fim de manter o paralelismo, dois exemplos estão apresentados nas figuras 6 e 1 O.
O osso é um material que tem comportamento anisotrópico e não homogêneo. Por isso para estudar e detenninar as propriedades mecamcas requer a confecção de CDPs, obtidas de regiões padronizadas. Esta padronização é necessária devido a sua propriedade anisotrópica, onde as propriedades mecânicas variam com a direção de obtenção dos CDPs, [10]. A figura 1 apresenta alguns corpos de provas obtidas das regiões esponjosa e cortical de uma tíbia humana. A retirada dos CDPs exige cuidados especiais, principalmente na sua obtenção com formas geométricas precisas, por exemplo de faces paralelas. O paralelísmo é importante nos CDPs, para que no ensaio a ser realizado não apareça outro tipo de esforço se não, o principal atuante, [11 ], (Figura 2).
Figura 1: CDPs das regiões esponjosa e cortical de uma tíbia humana
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Figura 2: Obtenção de corpos de provas.
Exemplos de alguns tipos de ensaios mecânicos realizados no Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP
1- Ensaios de tração: Título do trabalho de mestrado defendido em
1997, pela fisioterapeuta Denise Ferreira de Meneses: Aplicação do ultra-som terapêutico em lesão muscular experimental aguda, [12].
Objetivo: Investigar o efeito da aplicação do ultra-som terapêutico na reparação da lesão muscular experimental em coelhos, mediante a avaliação mecânica, utilizando o ensaio de tração (Figura 3).
Figura 3: Detalhe do ensaio de tração mostrando o músculo preso aos acessórios
Título do trabalho de doutorado defendido em 1996 pelo médico ortopedista Saulo Monteiro dos Santos: Comparação das propriedades mecânicas dos ligamentos coracoacromiais e coracoclaviculares de cadáveres humanos submetidos a ensaios de tração, [ 13].
Objetivo: Comparar as propriedades mecânicas dos ligamentos coracoacromiais e os coracoclaviculares de cadáveres humanos submetidos a ensaios de tração (Figura 4).
18
Figura 4: Detalhe do ensaio de tração mostrando o ligamento coracoacromial
2- Ensaio de compressão: Título do trabalho de mestrado defendido em
1989 pelo engenheiro mecânico Antônio Carlos Shimano: Uso de dupla placa na estabilização de osteotomias em osso cortical longo. Análise das deformações "in vitro" com "Strain Gauges" e experimento "in vivo" em carneiros, [14]. A figura 5 apresenta quatros corpos de prova com os diferentes materiais, para confecção das bases de apoio dos modelos ósseos, onde foram realizados ensaios de compressão. A figura 6 apresenta o modelo ósseo juntamente com as placas principal e secundária, com "Strain Gauges" colados, utilizado nos ensaios de compressão.
Figura 5: Corpos de prova de diferentes materiais.
Figura 6: Modelo ósseo utilizado nos ensaios de compressão
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Título do trabalho de doutorado defendido em 1998 pelo médico ortopedista Murilo Antônio Rocha: Ensaio mecânico da região epifísio-metafisária. Estudo experimental em remures de coelhos em crescimento, [15].
Objetivo: Investigar as propriedades mecânicas e o padrão de falência da região epifísio-metafisária distal do remur de coelhos de 4 a 12 semanas de idade, submetida à carga de compressão axial, com joelho em flexão de 30 a 60 graus (Figura 7).
Figura 7: Joelho flexionado em 30 graus fixados aos acessórios.
3- Ensaios de flexão: Título do trabalho de mestrado defendido em
1999 pelo zootecnista Luiz Carlos de Paula Mello: Análise das propriedades mecânicas de remures de coelhos submetidos a dietas com diferentes concentração de flúor [16].
Objetivo: Estudar e avaliar as propriedades mecânicas de remures de coelhos submetidos a dietas com diferentes concentração de flúor, com ensaio mecânico de flexão em três pontos (Figura 8).
Título do trabalho de mestrado defendido em 1999 pelo engenheiro mecânico Adriano de Jesus Holanda: Efeitos da orientação das fibras de colágeno nas propriedades mecânicas de flexão e impacto dos ossos.[17].
Objetivo: Comparar as tenacidades obtidas nos ensaios de flexão em três pontos (ensaio estático) e de impacto (ensaio dinâmico) e verificar o índice de correlação entre a orientação das fibras de colágeno e as propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de flexão e de impacto. (Figura 8).
Figura 8: Ensaio de flexão em três pontos em tíbia de coelho.
4- Ensaios de cisalhamento: Título do trabalho de mestrado defendido em
1995 pelo médico ortopedista Carlos Fontoura Filho: Ensaio de cisalhamento sobre a placa de crescimento proximal da tíbia de ratas em idades diferentes. Estudo comparativo entre tíbias ensaiadas a fresco e após congelamento, [ 18].
Objetivo: Determinar comparativamente em duas idades diferentes, as características mecânicas da placa de crescimento de ratas em desenvolvimento quando submetida ao ensaio de cisalhamento a fresco e após congelamento (Figura 9).
Figura 9: tíbia de rata de 25 dias de idades, acoplado ao acessório para ensaio de cisalhamento.
5- Combinações entre os ensaios de compressão e flexão:
Título do trabalho de doutorado defendido em 1996 pelo médico ortopedista Itibagi Rocha Machado: Estudo experimental comparativo da fixação posterior do segmento subaxial da coluna cervical, através das técnicas de aramagem sublaminar, interespinhosa e placas de Roy-Camille, em cadáveres humanos, [ 19].
Objetivo: Análise em estudo experimental comparativo do efeito imediato da estabilização pela fixação posterior da coluna cervical subaxial, através das técnicas de aramagem sublaminar, interespinhosa e placas de Roy-Camille, em cadáveres humanos sob uma cond' ão controlada de instabilidad a 10).
Figura 10: Aparelho de simulação dos esforços de flexão e compressão de uma coluna cervical.
Título do trabalho de doutorado defendido em 2000 pelo médico ortopedista Alcides Dirugan Junior: Estabilização de osteotomia do colo ciiúrgico do úmero
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
utilizando tipos de fixação com pinos rosqueados: estudo experimental em fêmures de suínos, [20].
Objetivo: avaliar a utilidade de um novo modelo biomecânico (remur de suíno) submetido a uma osteotomia transversal ao seu eixo longitudinal na região metafisodiafisária, simulando fraturas do colo cirúrgico do úmero e, comparar a resistência da fixação com quatro montagens utilizando pinos rosqueados tipo Shanz, (Figura II).
Figura II: Carga sendo aplicada em um modelo fixado em 20° de inclinação.
Considerações gerais
A associação entre a Bioengenharia com a Ortopedia e Traumatologia é um feliz exemplo da interação multidisciplinar, uma vez que a transferência de conhecimentos e seu melhor aproveitamento poderão ser feitos sob os seguintes aspectos mais importantes: !Realização da pesquisa básica, para conhecer o comportamento dos diversos segmentos do sistema ósteo-muscular, por meio de ensaios Biomecânicos das partes envolvidas (ossos longos, tendões, massa muscular, articulações, etc.). 2- Realização da pesquisa tecnológica, em projetos, visando principalmente ao ensaio de órteses, de próteses ou de dispositivos auxiliares que possam recuperar a atividade do paciente. Neste aspecto pode-se antever a importância do desenvolvimento de novas próteses de substituição e/ou implantáveis (joelho, quadril, ombro, etc.) associadas a novos materiais (ligas metálicas ou polímeros complexos). Da mesma forma, a fixação de segmentos ósseos, quer internamente (tipo placa/parafuso e hastes intramedulares) ou externamente (tipo fixadores externos), ou ainda o desenvolvimento de membros artificiais, completos ou em paites, envolverá sempre amplos conhecimentos, quer de engenharia, quer de medicina especializada.
Algumas recomendações importantes para realizações de ensaios mecânicos em geral, de materiais biológicos são: 1- padronizar o tipo de ensaio a ser realizado, 2- padronizar o tipo de corpo de prova ou modelo a ser utilizado nos ensaios, 3- Especificar o tipo de acessório a ser utilizado, 4- determinar os parâmetros importantes dos ensaios, como velocidade de aplicação de carga, pré-carga e tempo de acomodação e 5-verificar quais os parâmetros mecamcos a ser analisados. Recomenda-se para todo tipo de
20
experimento onde há ensaios Biomecânicos envolvidos a realização de testes pilotos. Referências
[l] D. W. Fawcett,A Textbook ofHistology, IIª ed., W. B. Saunder Co., pp. I 99-238, 1986.
[2] M. V. Moreira, "Aplicação do método de dupla energia para análise da quantidade mineral em simuladores de tecido ósseo", Dissertação de Mestrado em Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1991.
[3] S. A. Souza, Ensaios Tecnológicos dos Materiais, Ed. McGraw-Hill, 1977.
[4] A. H. Burstein and T. M. Wright, "Fundamentais of Orthopaedic of Biomechanics", Willians & Wilkins, 1944.
[5] W. Bonfield and M. D. Grynpas, "Anisotropy of the Young's modulus of bone", Nature, vol. 270, pp.453-454, 1977.
[6] J. D. Currey, "Strain rate and mineral content in fracture models of bone", J. Orthop. Research, vol. 6, n.l, pp.32-38, 1988.
[7] R. B. Martin, "Detenninants of the mechanical properties of bones", J. Biomechanics, vol. 24, pp. 79-88, 1991.
[8] J. Y. Rho, et al., "Young's modulus oftrabecular and cortical bone material: ultrasonic and microtensile measurements", J. Biomechanics, vol. 26, n.2, pp. 111-119' 1993.
[9] J. F. Mammone and S. M. Hudson, "Micromechanics of bone strength and fracture", J. Biomechanics, vol. 26, pp. 439-446, 1993.
[10] A. C. Shimano, "Análise das propriedades geométricas e mecânicas de tíbia humana: Proposta de metodologia". Tese de doutorado em Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia de São Carlos/USP, 1994.
[11] J. Brandão, "Módulo de elasticidade de ossos corticais: revisão e otimização da metodologia para ossos longos". Dissertação de mestrado em Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1997.
[12] D. F. Meneses, "Aplicação do ultra-som terapêutico em lesão muscular experimental aguda", Dissertação de Mestrado em Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1997.
[I3] S. M. Santos, "Comparação das propriedades mecânicas dos ligamentos coracoacromiais e coracoclaviculares de cadáveres humanos submetidos a ensaios de tração". Tese de Doutorado em Ortopedia e Traumatologia, Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, 1996.
[14] A. C. Shimano, "Uso de dupla placa na estabilização de osteotomias em osso cortical longo. Análise das deformações "in vitro" com "Strain Gauges" e experimento "in vivo" em carneiros". Dissertação de Mestrado em
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1989.
[15] M. A. Rocha, "Ensaio mecânico da região epifisiometafisária. Estudo experimental em fêmures de coelhos em crescimento"., Tese de Doutorado em Ortopedia e traumatologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1998.
[16] L. C. P. Mello, "Análise das propriedades mecânicas de fêmures de coelhos submetidos a dietas com diferentes concentração de flúor". Dissertação de Mestrado em Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1999.
[17] A. J. Holanda, "Efeitos da orientação das fibras de colágeno nas propriedades mecânicas de flexão e impacto dos ossos". Dissertação de Mestrado em Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1999.
[18] C. Fontoura Filho, "Ensaio de cisalhamento sobre a placa de crescimento proximal da tíbia de ratas em idades diferentes. Estudo comparativo entre tíbias ensaiadas a ji-esco e após congelamento", Dissertação de Mestrado em Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 1995.
[ 19] I. R. Machado, "Estudo experimental comparativo da fixação posterior do segmento subaxial da coluna cervical, através das técnicas de aramagem sublaminar, interespinhosa e placas de RoyCamille, em cadáveres humanos", Tese de Doutorado em Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina de São Paulo/USP, 1996.
[20] A. Durigan Junior, "Estabilização de osteotomia do colo cirúrgico do úmero utilizando tipos de fixação com pinos rosqueados: estudo experimental em fêmures de suínos". Tese de doutorado em Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, 2000.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Certificação de Qualidade em Equipamentos Médico-Hospitalares
Sérgio Santos Mühlen
Departamento de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Centro de Engenharia Biomédica
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo, Brasil, 13081-970 Fone (Oxxl 9)788-7895, Fax (Oxxl 9)289-3346
Resumo - Este artigo analisa a situação da certificação de qualidade dos equipamentos médico-hospitalares no Brasil considerando um pouco da história, aspectos legais, situação atual dos agentes do processo de qualidade e alguns dados sobre os equipamentos certificados. Esta análise culmina com uma discussão sobre as perspectivas deste processo e seu impacto na qualidade da assistência à saúde.
Palavras-chave: Certificação de Qualidade, Normas Técnicas, Equipamentos Médico-Hospitalares, Engenharia Clínica.
Abstract - This paper analyzes the current state of quality certification on medical equipment in Brazil. Some historical and legal aspects are considered, as well as the situation of the quality process agents and partners. Some information about certified equipment is also presented. The perspectives and effects in health care are discussed.
Key-words: Quality Certification, Standards, Medical Equipment, Clinicai Engineering.
Introdução
A certificação de qualidade dos equipamentos médico-hospitalares, produzidos e comercializados no Brasil, é uma das ocorrências mais impo11antes desta última década no cenário das tecnologias em saúde, por suas repercussões no setor industrial, no gerenciamento dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) e na esfera governamental, propulsora e reguladora deste processo.
A despeito dos diversos progressos que se observaram em outros setores da sociedade na busca por mais qualidade, motivados essencialmente pela competição iniciada pela abertura da economia e das fronteiras a partir de 1990, o setor de equipamentos médicohospitalares (EMH) permaneceu alheio por algum tempo a este movimento. Uma das prováveis razões para isso é que, diferentemente de outros bens de consumo duráveis, os EMH estão sujeitos a uma condição particular: quem recebe seus beneficios (ou sofre os efeitos de sua baixa qualidade) não é quem decide sua compra; quem deles se serve geralmente dispõe de poucas informações sobre a qualidade, e poder limitado para influir na aquisição; e quem paga por eles usa como critério de seleção apenas o preço. Este sistema desprovido de controle social permaneceu em vigência durante décadas e sinalizou claramente aos produtores de EMH que a qualidade era secundária ao preço. Isto favoreceu a proliferação de empresas sem qualificação e desestimulou empresas sérias a comercializarem produtos de qualidade por serem pouco competitivos.
A longevidade desta condição socialmente perversa é decorrente também do fato que os episódios onde a baixa qualidade dos EMH resulta em prejuízo para os pacientes (diagnósticos equivocados ou incon-
clusivos, seqüelas de tratamentos, acidentes e iatrogenia) são raramente investigados e portanto dificilmente relacionados com a baixa qualidade dos equipamentos.
Esta realidade é particularmente verdadeira para a rede de saúde pública (sendo o Estado historicamente o maior comprador de EMH), mas permeia também vários setores da medicina privada, ciosa de garantir seus lucros.
Um quadro definido por ausência de controle da assistência médica pela sociedade ou seus representantes, ausência de critérios de qualidade explícitos e compulsórios para os fabricantes de EMH, aquisições decididas sem considerar a qualidade, só poderia ser revertido através de uma ação sistêmica, que considerasse cada uma das suas componentes, e necessariamente promovida pelo Ministério da Saúde.
Este artigo tem por objetivo analisar as ações que foram empreendidas ao longo dos últimos anos, caracterizar a situação atual da certificação de qualidade dos EMH e discutir algumas tendências futuras.
O processo de certificação
A certificação é um indicador para os consumidores de que o produto, processo ou serviço atende a padrões mínimos de qualidade. Auxilia na identificação de produtos que atendam à Normas específicas, estabelecendo por conseqüência parâmetros para decisão de compra, complementares ao custo. A certificação de conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade. Eleva e demonstra de forma independente a qualidade de produtos e serviços perante os diversos mercados, aumentando a sua competitividade e possibilitando a utilização de novas estratégias de marketing. Adicionalmente, permite às empresas expo11adoras
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
superar barreiras técnicas em outros mercados. Os fornecedores aprovados obtém no mercado a confiança necessária nos produtos e serviços certificados, evitando a multiplicação de inspeções e avaliações de clientes.
Para o Governo ou seus representantes, facilita o controle dos produtos e serviços no mercado e simplifica as compras públicas.
Credenciamento é o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que uma entidade tem competência técnica para realizar serviços específicos. O organismo de credenciamento do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -INMETRO, organismo governamental que concede, por si ou através de terceiros, a Marca Nacional de Confonnidade, ou Certificados de Confonnidade baseados em laudos emitidos pelos laboratórios de ensaios credenciados, pertencentes à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio - RBLE.
Certificado de conformidade é o documento emitido pelo organismo de certificação credenciado pelo INMETRO, de acordo com as regras de um sistema de certificação, que atesta a qualidade de um sistema, processo, produto ou serviço. O documento é emitido com base em normas elaboradas por entidades reconhecidas no âmbito do SINMETRO ou com base em regulamentos técnicos emitidos por órgãos regulamentadores oficiais.
Organismos de Certificação Credenciados -OCC, organismos públicos, privados ou mistos, de 3ª parte e sem fins lucrativos, são as entidades que conduzem e concedem a certificação de conformidade. Dentre outros tipos, há os Organismos Certificadores de Produto - OCP, que conduzem e concedem a certificação de conformidade de produtos nas áreas voluntária e compulsória, com base em regulamentos técnicos ou normas nacionais, regionais e internacionais, estrangeiras e de consórcio.
A pedido do fornecedor de EMH, pode ser realizada uma verificação inicial da conformidade às normas aplicáveis através de ensaios em protótipos (ensaios de adequação). Neste caso, os protótipos podem ser encaminhados pelo solicitante diretamente ao laboratório de ensaio, devendo o OCC ser comunicado. O OCC ou OCP deve realizar auditoria na fábrica do produto objeto da solicitação, para avaliação da organização da produção, dos meios de controle e do sistema da qualidade, e/ou coletar as amostras para os ensaios, segundo indicado no regulamento específico correspondente. As amostras devem ser representativas da linha de produção, fabricadas conforme processo normal de fabricação do produto. O controle exercido pelo OCP compreende avaliações programadas, que incluem auditorias no fabricante para comprovar a realização dos ensaios de rotina e verificar o funcionamento dos meios de produção e controle. Deve ser feita ao menos uma auditoria por ano para cada produto. Se for o caso, devem ser avaliadas as modificações introduzidas no produto desde a última avaliação. Caso haja revisão das normas conforme as quais a certificação foi concedida, o OCP deve informar ao fabricante, que receberá prazo para enquadrar o produto nas novas condições.
23
É vedada a participação do OCP em atividades de consultoria.
A certificação de um produto tem validade estabelecida no regulamento específico. Após expirada, deve ser feita uma solicitação de reavaliação a um OCP. Se for demonstrado que não houve modificação das condições em que a certificação foi concedida, a revalidação é automática. Caso contrário, o OCP informará a necessidade de novas avaliações.
Normas
A regulamentação do processo de certificação de qualidade em EMH no Brasil é hoje definida por dois documentos: a Regra Específica para a Certificação de Equipamentos Eletromédicos NIE-DINQP 068 publicada pelo INMETRO emjunho de 1998 (em vias de substituição) e a Resolução nº 444 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - ANVISA, publicada em setembro de 1999. O primeiro documento descreve os detalhes técnicos que condicionam a certificação dos EMH e o segundo define os contornos políticos daquela ação.
A comercialização legal de EMH no país (nacionais ou importados) só é autorizada para equipamentos com registro na ANVISA. O processo para a obtenção do registro inclui a apresentação pelo fornecedor de diversos documentos, dentre eles o certificado de conformidade emitido por um OCP, ou o Relatório para Análise da Qualidade e da Certificação do Equipamento - RAQCE, que será descrito mais adiante.
O INMETRO definiu para a certificação de conformidade o seguinte modelo (Modelo 5): "Ensaio de tipo, que é uma operação de ensaio em equipamento selecionado aleatoriamente efetuada uma única vez, avaliação e aprovação do Sistema de Qualidade do fabricante, acompanhado das medidas adotadas pelo fabricante para a garantia da qualidade de produção, seguido de um acompanhamento por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação de amostras retiradas no comércio e na fábrica". Fica então claro que a emissão do certificado de conformidade prevê, no primeiro momento, o ensaio do equipamento e a auditoria na fábrica, e posteriormente auditorias de controle.
A ANVISA definiu na Resolução nº 444 a adoção da norma brasileira NBR IEC 60601-1: "Equipamento Eletromédico. Parte 1 Prescrições Gerais para Segurança" e normas técnicas particulares brasileiras da série NBR IEC 60601-2 para os ensaios de tipo. As normas da família 60601 são compostas por:
e Norn1a geral (Parte 1), aplicável a todos os equipamentos eletromédicos, que já recebeu adendos de aspectos específicos, como compatibilidade eletromagnética, equipamentos modulares que incluem microcomputadores, etc.;
e Normas sobre aspectos particulares de segurança de equipamentos eletromédicos (Parte 2);
e Normas sobre aspectos particulares de desempenho de equipamentos eletromédicos (Parte 3).
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Os EMH são ainda classificados pela Portaria nº 2.043/94 segundo o potencial de risco que representam à saúde do usuário (operador ou paciente), como de baixo risco (classe 1 ), risco médio (classe 2) ou alto risco (classe 3). Esta classificação é utilizada para definir os documentos exigidos para o registro do equipamento (equipamentos de baixo risco - classe 1 - são dispensados de certificado de conformidade).
O conjunto de normas particulares (Parte 2) utilizado na emissão dos certificados de conformidade é composto por 46 normas publicadas pela IEC, para igual número de tipos de equipamentos. Destas, 29 estão traduzidas e foram publicadas pela ABNT como normas brasileiras (NBR), e portanto somente os EMH relacionados nestas normas estão sujeitos à certificação compulsória para a obtenção do registro.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica no país. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional de Normalização, e é a representante no Brasil das entidades de normalização internacional ISO e IEC.
As disposições da Portaria nº 2.043/94 aplicam-se aos seguintes produtos:
• Equipamentos de diagnóstico; • Equipamentos de terapia; • Equipamentos de apoio médico-hospitalar; • Materiais e artigos descartáveis; • Materiais e artigos implantáveis; • Materiais e artigos de apoio médico-hospitalar; • Equipamentos, materiais e artigos de educação físi
ca, embelezamento ou coneção estática.
Dessa forma, ficam sujeitos à regulamentação acima os seguintes equipamentos:
• Bisturis elétricos; • Aparelhos de diatennia por ondas curtas; • Desfibriladores e cardioversores; • Aparelhos de terapia por microondas; • Estimuladores de nervos e músculos; •Ventiladores pulmonares; • Equipamentos de anestesia; • Equipamentos de hemodiálise; • Incubadoras neonatais; • Berços aquecidos; • Bombas de infusão; • Eletrocardiógrafos; • Eletroencefalógrafos; • Monitores cardíacos;
D Aparelhos de raios-X para diagnósticos; D Equipamentos de radioterapia.
(As normas particulares brasileiras referentes aos EMH marcados com D acima ainda não foram publicadas).
Laboratórios
Internacionalmente, a certificação de que um produto está em confonnidade com detenninada nonna técnica é geralmente realizada por entidades estruturadas para
24
tal fim, credenciadas e inspecionadas por um órgão central, gerenciador do sistema, em conformidade com critérios e procedimentos pré-estabelecidos.
Na década de 70, alguns países começaram a realizar estudos sobre credenciamento de entidades certificadoras, abrangendo desde critérios e procedimentos até atividades de inspeção e auditoria, visando comparar os diversos sistemas e órgãos credenciados.
Ao final daquela década, como resultado deste estudo, o grupo de trabalho C da International Laboratory Accreditation Conference ILAC, junto com o grupo de trabalho ISO/CERTICO, elaboraram o ISO/IEC Guide 25, que estabelece critérios para o credenciamento de laboratórios de ensaios. Esta docwnentação passou por revisão em 1982, e juntamente com a série de nonnas EN 45000 adotada na Europa, fonnam a base dos sistemas de credenciamento utilizados atualmente, sendo seus documentos de referência:
• ISO/IEC Guide 25: General Requirements for the Technical Competence ofTesting Laboratories;
• ISO/IEC Guide 54: Testing Laboratory Accreditation Systems - General Recommendations for the Acceptance of Accreditation Bodies;
• ISO/IEC Guide 55: Testing Laboratory Accreditation Systems - General Reconm1endations for Operation;
• EN 45001: General Criteria for the Operation of Testing Laboratories;
• EN 45002: General Criteria for the Assessment of Testing Laboratories;
•EN 45003: General Criteria for Laboratory Accreditation Bodies.
Os órgãos de credenciamento de laboratórios têm se desenvolvido em vários países, devido ao crescimento da procura pelas empresas por entidades credenciadas para certificar seus produtos. Alguns desses órgãos de credenciamento nacionais desenvolveram-se a ponto de serem internacionalmente reconhecidos, e os ensaios realizados pelos laboratórios por eles credenciados, internacionalmente aceitos. São exemplo disso a European Organization for Testing and Ceriification - EOTC, no âmbito do Conselho das Comunidades Européias, com mais de 10.000 laboratórios de ensaios credenciados em toda Europa, o National Measurement Accreditation Service -NAMAS do Reino Unido, com cerca de 900 laboratórios credenciados, e a Red Espafiola de Laboratórios de Ensayo - RELE, com cerca de 60 laboratórios credenciados.
Adicionalmente, alguns laboratórios de ensaios independentes, por adotarem estrita confornúdade com os critérios e procedimentos internacionais, recebem o reconhecimento de órgãos credenciados de outros países, como o caso do Underwriters Laboratories - UL (EUA). Os EUA adotam a Quality System Regulation da FDA, e a conformidade às normas da família IEC 60601 lá não é exigida.
Dentre todos estes laboratórios, diversos são usados para avaliar a confonnidade de EMH a nonnas técnicas, como parte da certificação exigida pelos sistemas de saúde dos países por eles abrangidos.
No Brasil um esforço significativo foi empreendido no sentido de estabelecer um conjunto mínimo de
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
entidades capazes de oferecer o suporte laboratorial que 0 sistema de certificação de qualidade exige. Assim, no início dos anos 90, o Ministério da Saúde desenvolveu o Programa de Ensaios de Conformidade de Equipamentos para a Saúde - PECES, responsável por parte das atividades desenvolvidas no âmbito do Sub-Programa Qualidade do programa mais amplo, Programa de Equipamentos Médico-Odonto-Hospitalares PROEQUIPO.
O através do PECES foram identificadas instituições interessadas em estabelecer parceria com o Ministério da Saúde na implantação de laboratórios de certificação, seja por já estarem credenciadas para certificação em outras áreas ou equipamentos e desejarem expandir seu campo de ação, seja por desenvolverem atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de equipamentos médicos, e desejarem iniciar atividades de certificação de qualidade. O PECES previa recursos para a adequação laboratorial, que foram investidos em um pequeno número de instituições selecionadas.
O primeiro laboratório de ensaios credenciado para avaliar a conformidade a normas da família NBR IEC 60601 (IEE / USP) começou a operar em 1996. Só então o sistema de qualidade se completou, com todas as peças que permitiram ao Ministério da Saúde exigir a certificação compulsória de conformidade.
Atualmente os produtores de EMH podem buscar a certificação de seus produtos em três OCP: a Certificadora do IEE da USP (CERTUSP), a União Certificadora (UC) e a BRTÜV.
Estas instituições contam com quatro laboratórios de ensaios credenciados para a realização dos ensaios de conformidade: o Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE-USP), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPTUSP), o Laboratório de Engenharia Biomédica da Escola Politécnica (LEB-EPUSP) e o Laboratório Especializado em Eletro-eletrônica da Pontificia Universidade Católica (LABELO-PUCRS).
Para equipamentos importados, a certificação pode ser concedida pelo OCP com uma variante: se o equipamento já foi ensaiado e certificado no exterior, e houver um Memorando de Entendimento - MoU (termo de reciprocidade) estabelecido entre estas duas instituições certificadoras, o OCP pode emitir o certificado de conformidade reconhecendo a documentação internacional e portando dispensando o ensaio no Brasil. Esta equivalência não dispensa, no entanto, a auditoria do sistema da qualidade realizada na fábrica.
A situação de contratação dos quatro laboratórios, para as atividades de Certificação, Adequação e Reavaliação, é a seguinte (*dados de 28/06/2000):
LEB - Laboratório de Engenharia Biomédica -EPUSP (início das atividades: 2000)
Orçamentos Contratados
Ano Emitidos Total Certif. Adeq. Certif. Adeq. Reav.
1998 o o o o o o 1999 o 16 16 o 4 o 2000* o 7 7 o o o
25
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas / USP (início das atividades: 1999)
Orçamentos Contratados
Ano Emitidos Total Certif. Adeq. Certif. Adeq. Reav.
1998 o o o o o o 61 2 63 4 2 o
O* 35 5 40 o 5 o
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica - PUCRS (início das atividades: 1999)
Orçamentos Contra~ados
Ano Emitidos Total Certif. Adeq. Reav.
1998 o o 1999 o 16
2000* o 7
IEE - Instituto de Eletrotécnica e (início das atividades: 1996)
Orçamentos Ano Emitidos Total
o
/USP
Contratados
Certif. Adeq. Certif. Adeq. Reav.
1996 o 9 9 o 9 o 1997 87 13 100 10 10 2
1998 79 13 92 11 3 6
1999 94 33 127 16 21 9
'000* 6 3 o 1 4 2 o (fonte: ABIMO).
Equipamentos eletromédicos certificados
A situação atual dos equipamentos certificados é a seguinte:
1) Equipamentos enquadrados na Resolução nº 444/99 (e Nacionais, + Importado)
e 04 Bisturis elétricos; e O 1 Aparelho de diatennia por ondas curtas; e 03 Estimuladores de nervos e músculos; e 02 Ventiladores pulmonares; + O 1 Equipamento de hemodiálise; e 14 Incubadoras neonatais; e 12 Berços aquecidos; e 02 Bombas de infusão; • O 1 Eletroencefalógrafo; e 03 Monitores multiparamétricos; e 08 Aparelhos de raios-X odontológicos;
2) Equipamentos não enquadrados na Resolução acima (todos nacionais)
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
• O 1 Balança neonatal; • 04 Aparelhos para fototerapia; • 12 Cadeiras odontológicas; • O 1 Laser terapêutico para estimulação fotônica; • O 1 Monitor gráfico de ventilação pulmonar; • O 1 Monitor e sincronizador de ventilação; • 02 Umidificadores aquecidos para ventilação; • O 1 Aparelho de terapia por ultra-som; • 11 Outros (aparelhos para laboratório de análises).
Total de equipamentos: 85; Total de empresas: 14.
Discussão e Conclusões
Diversas considerações cabem ao se analisar a certificação de EMH no Brasil.
A adoção do Modelo 5 para a certificação de conformidade pelo INMETRO foi uma decisão ambiciosa mas acertada, e se assemelha mais aos modelos europeus descentralizados do que ao norte-americano, este vinculado a uma enorme instituição de referência. É no entanto um modelo caro, pois depende da implantação de uma estmtura de laboratórios de ensaios credenciados e de OCP, inexistentes até então na área de tecnologia em saúde. Vale lembrar que os laboratórios credenciados para ensaios de conformidade diferem em muito daqueles dedicados às atividades de pesquisa, principalmente pela necessidade imperativa de um sistema da qualidade rígido e constante em todos os processos, que incluem desde a rastreabilidade periódica dos equipamentos e padrões utilizados nos ensaios até os procedimentos, registros e a confidencialidade das informações.
O investimento inicial foi considerável, não só material mas principalmente humano, pois tanto laboratórios como OCP requerem profissionais com treinamento bastante específico (engenheiros, técnicos e auditores com a "cultura da qualidade", além dos conhecimentos técnicos), ainda bastante raros na área de tecnologia médica. A capacitação de pessoal já é em si um ganho deste processo.
A adoção do conjunto de normas da família IEC 60601 também se mostrou uma opção interessante tanto por forn1ar um todo coerente e portanto de implementação mais simples e lógica, quanto pela boa aceitação internacional.
A implantação do sistema de certificação foi desde o início conduzida pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde e da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde aglutinou em tomo de seu projeto todos os parceiros do processo: representantes de empresários, do setor de usuários, do INMETRO, da ABNT e da comunidade científica. Se a implantação de tal programa representou uma inovação e um desafio para todos estes setores, foi sem dúvidas no setor empresarial que as conseqüências econômicas mais rapidamente dividiram as opiniões: a perspectiva de avaliação compulsória de qualidade despertou reações que foram do entusiasmo à rejeição, mas com larga predominância de desconfiança e ceticismo.
A fragilidade inicial da estrutura laboratorial ser-26
viu de anteparo para muitos integrantes do setor empresarial acobertarem as deficiências de seus produtos e protelarem as modificações tecnológicas necessárias para se adequarem às novas regras. Isto se tomou um mecanismo de pressão que, somado ao temor dos usuários por uma alta excessiva nos preços dos EMH e à indisponibilidade de recursos para a implantação de mais laboratórios credenciados resultaram em sucessivas prórrogas nos prazos estipulados para cada uma das etapas de implantação do programa.
Os principais atores deste período transitório de implantação - produtores (industriais e importadores), avaliadores (laboratórios e OCP) e reguladores (Ministério da Saúde e INMETRO) - viveram anos de contínuos ajustes e concessões em suas posições iniciais, mas o projeto original não foi abandonado, e o que se vê é uma implantação paulatina da certificação de qualidade.
É interessante notar por outro lado, que a Resolução nº 444/99 possibilita ao fornecedor obter o Registro do EMH na ANVISA através do ce1iificado de conformidade ou, alternativamente, através da apresentação de uma declaração do fornecedor de que o seu produto atende aos requisitos da norma NBR IEC 60601-1, e do Relatório para Análise da Qualidade e da Certificação do Equipamento (RAQCE). Este documento é emitido pelo OCP quando for constatada a inexistência de capacitação da infra-estrutura tecnológica ou normativa do Sistema Brasileiro de Certificação ou outra inexeqüibilidade da certificação. Quando este for o caminho escolhido pelo fornecedor, a ANVISA concede uma Autorização de Modelo que habilita a comercialização daquele produto por 12 meses, prorrogáveis por no máximo mais 12 meses.
Esta via alternativa é motivada pelos diversos transitórios por que passa o processo de certificação, desde a adequação laboratorial, a adequação dos produtos às normas dentro dos prazos estipulados pelas Portarias do Ministério da Saúde, e o estabelecimento de mecanismos ágeis de fiscalização. É certamente também a maneira conquistada pelo setor de fornecedores de agilizar junto ao Ministério da Saúde os registros dos produtos em curso de certificação ou certificados no exterior. É, no entanto, uma situação de risco para os laboratórios de ensaios, que tiveram sua ainda frágil auto sustentabilidade duramente posta à prova por no mínimo mais 12 meses, contando para sua sobrevivência com um número desprezível de ensaios, como mostram as tabelas acima.
Tal situação atinge menos duramente os OCP, pois além terem custos operacionais menores, o RAQCE não dispensa as auditorias na fábrica, para equipamentos nacionais ou impo1iados, o que assegura um nível de ocupação normal em paiie das atividades.
O estabelecimento de MoU se mostra vantajoso para os fabricantes estrangeiros que tencionam exportar para o Brasil. EMH fabricados no exterior, principalmente aqueles oriundos do primeiro mundo, normalmente contam com alguma certificação de qualidade. Numa perspectiva de o Brasil importar muito mais EMH do que exportar, o documento de reciprocidade facilita o registro dos equipamentos no Brasil dispen-
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
sando a etapa de ensaios, normalmente mais cara e demorada. Esta situação mais uma vez penaliza os laboratórios de ensaios brasileiros, excluídos do circuito de importação de EMH. Só serão ensaiados aqui os equipamentos nacionais destinados à expmtação ou ao comércio interno.
A autorização de comercialização por até 24 meses sem necessidade de ce1tificado de conformidade representa uma opção confmtável para os produtores de equipamentos de tecnologia mais volátil, que são rapidamente substituídos por modelos mais novos. Este "prazo de tolerância" coincide com a vida útil média de muitos EMH importados, em seus países de origem. Isto equivale dizer que, a perdurar a atual legislação, uma parte dos EMH está automaticamente excluída da obrigatoriedade de certificar sua conformidade, o que contraria frontalmente os preceitos de todo o programa de qualidade.
Os passos mais importantes e dificeis foram dados com o estabelecimento de um sistema completo e inédito de controle da qualidade dos produtos de saúde. A sua sobrevivência depende da credibilidade do trabalho de todos os atores. Agilizar a comercialização deve significar simplificação da burocracia, sem perda do controle do processo, e não pode implicar em abrir mão da avaliação constante da qualidade.
A atividade normativa foi uma das pedras fundamentais no sistema de certificação, por fornecer os documentos de referência. Até 1999 podiam ser utilizadas normas internacionais da família IEC 60601-2 nos processos de certificação quando não houvessem normas brasileiras, mas a Portaria nº 444/99 eliminou esta possibilidade. A conseqüência desta medida é que um conjunto maior de EMH ficou dispensado de certificação de conformidade pela inexistência atual de textos traduzidos da série IEC 60601-2 para todos os equipamentos. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, enquanto organismo propulsor e regulador do programa, deveria (a exemplo do que já ocorreu no passado), promover ações concretas para estimular a produção das normas brasileiras.
A legislação atual penaliza mais duramente o setor de avaliação do que o de fornecedores. A conseqüência disso é ficarmos presos à condição anterior ao programa ministerial, com a qualidade dos equipamentos fora do controle da sociedade. É importante que os órgãos responsáveis impeçam esta reversão e salvaguardem o processo em suas bases originais. É igualmente necessário que se valorize o resultado das certificações, com a sua exigência em todas as licitações públicas.
Se não houverem modificações no atual conjunto de regras que regulam todo este processo, acredito que os laboratórios de ensaios poderão participar progressivamente mais, uma vez que os certificados concedidos no passado para equipamentos que queiram permanecer legalmente no mercado estão em vias de expirarem, assim como expirarão as autorizações de modelo, o que deve significar uma retomada das revalidações, e um reequilíbrio do curso da ce1tificação da qualidade dos equipamentos médico-hospitalares.
27
Agradecimentos
O autor agradece os engenheiros Fernando Dobermann e Eliane M. Apolinário, o Dr. Jean A. Bodinaud e o prof. Dr. José Carlos T. B. Moraes, pelas informações e as discussões gentilmente compartilhadas, sem as quais este artigo estaria desprovido do essencial.
Referências
Associação Brasileira de Nonnas Técnicas - ABNT. NBR IEC 60601-1: "Equipamento Eletromédico. Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança". Rio de Janeiro, RJ, 1994, 149 p.
Associação Brasileira de Nonnas Técnicas -ABNT. Série de norn1as NBR IEC 60601-2: "Requisitos particulares de segurança em Equipamento Eletromédico". Rio de Janeiro, RJ.
ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de A1tigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios. Sistema ABIMO de Ce1tificação de Confonnidade. ABIMO. São Paulo, SP, 1989.
Biomedical Safety Standards (BSS). International Quality Systems - Standards Report, 1992.
Ministério da Saúde. Programa de Ensaios de Confonnidade em Equipamentos para a Saúde - PECES. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Brasília, DF, 1991, 16p.
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE). Catálogo RBLE edição 1992. INMETRO, Duque de Caxias, RJ, 1992.
ANAIS DO CBEB'2000 A
Aspectos Relativos a Interferência e Compatibilidade Eletromagnética em Sistemas Elétricos, Eletrônicos e Seres Vivos
Adroaldo Raizer
GRUCAD/EEL/CTC/UFSC, CP 476, 88040-900 - Florianópolis - SC - Brasil Fone (48)331-9649, Fax (48)234-3790
raizer@grucad. ufsc. br
Resumo - No presente trabalho serão abordados aspectos relativos às causas mais comuns e os principais efeitos da interferência eletromagnética (EMI) em equipamentos eletrônicos e nos seres humanos, bem como serão apresentados métodos para evitar, controlar e medir essas interferências, na tentativa de se obter a compatibilidade eletromagnética (EMC).
Palavras-chave: Interferência e compatibilidade eletromagnética, efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, normas de segurança.
Abstract - ln the present work will be approached relative aspects to the most conunon causes and the principal effects of the electromagnetic interference (EMI) in electronic equipments and in the human beings, as well as will be presented methods to avoid, to control and to measure those interferences, in the attempt of obtaining the electromagnetic compatibility (EMC).
Key-words: Electromagnetic interference and compatibility, biological effects of electromagnetic fields, safety guidelines.
I. Introdução
A operação de equipamentos elétricos e eletrônicos gera ondas eletromagnéticas, que podem se propagar por condução pelos cabos de alimentação ou irradiados pelo ar ou pela combinação dos dois.
Essas ondas eletromagnéticas podem transmitir uma informação necessária, como aquelas de um telefone celular ou emissora de rádio, e também causar interferência em outros sistemas. O ser humano, imerso nesse ambiente eletromagnético, está sujeito a essas ondas, mesmo sem conhecer os reais efeitos a longo prazo na sua saúde.
A comunidade científica tem atentado para diversos problemas de interferência eletromagnética, como por exemplo: a influência do uso indiscriminado de telefones celulares, a em1ssao de ondas eletromagnéticas por lâmpadas fluorescentes ou monitores de vídeo e televisão, a presença de linhas transmissão de alta tensão em locais urbanizados, a interferência entre equipamentos em ambientes hospitalares, etc.
Não obstante, as ondas eletromagnéticas são muito importantes no cotidiano das pessoas. Vários sistemas se utilizam de ondas eletromagnéticas para realizar tarefas importantes para a humanidade, como na utilização de computadores, telefones, sistemas de ressonância magnética, entre outros, e mais recentemente no tratamento de enfermidades de ordem geral.
28
No entanto, é necessário controlar e harmonizar todos estes sistemas, juntamente com o meio ambiente e os seres vivos que fazem parte dele.
Neste artigo serão abordados alguns aspectos relativos as causas mais comuns e os principais efeitos da interferência eletromagnética (EMI), bem como apresentar métodos para evitar, controlar e medir essas interferências, na tentativa de se obter a compatibilidade eletromagnética (EMC).
n. Histórico
A poluição eletromagnética não é novidade para o homem. Talvez, o primeiro fato marcante sobre o tema tenha sido o experimento de Marconi com o telégrafo, no final do século XIX, qúando "surgiu" a interferência e sua correção. Já em 1901, o mesmo Marconi estabeleceu a primeira transmissão transatlântica, que foi recebida apenas por alguns rádios.
Nesta época, devido à ausência de outros sistemas elétricos e a quantidade. de faixas de freqüências ainda não utilizadas, er~relativamente fácil corrigir qualquer interferência, bastava procurar outra faixa para a transmissão. . ·
Na década de 20 começ~~ªl11 ~ aparecer os primeiros artigos técnicos sobre interferência em jornais técnicos e em 1930 a rádio intêrferênéia através de equipamedtos elétricds torna-se u~pr~bl~~1a crescente.
Durante a Segunda Guerra Munâial, o uso de dispositivos eletrônicos, primeiramente, rádios,
ANAIS DO CBEB'2000 Arti
dispositivos de navegação e radar, foi intensificado, começando a ser percebidos, diretamente, problemas de comunicação entre bases, navios e aviões. A partir de então, passou-se a utilizar a expressão interferência eletromagnética (EMI).
A problemática foi intensificada nas décadas de 1950, 1960 e 1970, quando surgiram o transistor bipolar, o circuito integrado e o microprocessador, respectivamente, aumentando de forma significativa a utilização das bandas de freqüência, juntamente com as crescentes transmissões de dados e voz.
Mas a sociedade começou realmente a preocupar-se com o fato por volta de 1979, com a introdução dos processadores digitais de sinais, que proporcionaram a diminuição física dos computadores e grande redução em seu consumo energético. Em virtude da interferência entre sistemas digitais e comunicações via rádio e fios, a Federal Communications Commission (FCC) publicou, nos Estados Unidos, uma regulamentação que exigia que as e1mssoes eletromagnéticas de todos os dispositivos digitais estivessem abaixo de certos limites, com o intuito de tentar limitar os níveis de interferência eletromagnética.
Os Estados Unidos não foram os primeiros a limitar as emissões eletromagnéticas. Em 193 3, uma reunião da Intemational Electrotechnical Commission (IEC), em Paris, recomendou a formação do Intemational Special Committee on Radio Interference (CISPR), para tratar do problema emergente da EMI. O comitê produziu um documento detalhando inclusive os equipamentos de medida para determinar o potencial das emissões EMI.
Essas regulamentações têm feito da EMC um aspecto crítico na fabricação de um produto eletrônico. Se o produto não cumpre com essas regulamentações para um país em particular, ele não pode ser comercializado nesse país, o que é uma maneira de se reduzir os nívies de interferência eletromagnética.
UI. Interferência Eletromagnética em equipamentos Eletrônicos.
Basicamente, pode-se conceituar a interferência eletromagnética (EMI) como sendo o distúrbio indesejado que vem a degradar a qualidade de um sinal desejado, como ocorre, por exemplo, no caso de uma unidade eletrocirúrgica-UEC, que em operação pode causar o mal funcionamento de um monitor cardíaco. Na figura 1 são apresentadas as várias emissões irradiadas e conduzidas que podem causar interferência eletromagnética e na figura 2 um monitor cardíaco antes e depois de ser vítima de uma interferência eletromagnética
Convidados
29
.Antcnnas
1 - Emissões irradiadas de uma UEC 2 - Emissões conduzidas pela rede de alimentação
de energia 3 - Emissões conduzidas pela corpo do paciente
Figura 1 - Propagação das emissões eletromagnéticas de uma UEC [15]
(a)
(b)
Figura 2- Monitor cardíaco antes (a) e depois (b) de ser vítima de uma interferência eletromagnética causada por uma
UEC [15]
IV. O Controle das Emissões em Equipamentos Eletrônicos.
De acordo com a figura 2, parece claro que um cirurgião não pode confiar nas informações advindas de um monitor cardíaco enquanto uma unidade eletrocirurgíca estiver ativada. O que fazer para controlar as emissões? Existem normas de emissões para controle de equipamentos. Testes de emissões para certificação devem ser realizados para assegurar que os equipamentos estão funcionando de acordo com o seu
ANAIS DO CBEB'2000 A nvid dos
objetivo principal, e além disso, não estão emitindo ondas tanto para a rede elétrica (via cabo de alimentação) quanto para o meio externo, normalmente o ar.
Em um caso prático analisado no MagLabLaboratório de Eletromagnetismo para Engenharia do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, foi testado um equipamento eletrônico. Basicamente ele funciona retirando a energia da rede elétrica (220V em fonnato senoidal) e através de seu circuito eletrônico fornece energia em outro formato para os principais componentes de um outro sistema eletrônico. Esses equipamentos são muito comuns atualmente, mas a maioria não está de acordo com as normas internacionais, isto é, são sistemas geradores de interferência eletromagnética não controlada.
Uma possibilidade de reduzir a interferência eletromagnética, conduzida através da rede de alimentação, é feita através da inserção de filtros. Os filtros utilizados no equipamento eletrônico para suprnmr as em1ssoes conduzidas (interferência eletromagnética) pelo cabo de alimentação foram basicamente componentes do tipo capacitores e indutores, utilizando o modelo atualmente mais aceito para esse tipo de filtro.
Nas figuras 3 e 4 são apresentadas as configurações sem e com filtro no equipamento em questão. As figuras apresentam uma linha tracejada, que é a norma limitadora de interferência eletromagnética e a linha contínua e o ruído (interferência) gerado pelo equipamento. Percebe-se que com a inserção do filtro consegue-se reduzir o ruído a níveis aceitáveis pela norma.
Figura 4 -Resultado final - com filtros (dois capacitores e indutor de modo comum)
30
Para o mesmo equipamento eletrônico verificou-se também o nível de emissões de interferência eletromagnética irradiada pelo ar.
Na figura 5, a linha contínua, apresenta o nível de emissões de interferência eletromagnética irradiada pelo equipamento, sendo e linha tracejada a norma limitadora.
70
60
50
'º 30
20
10
-10
-20
30,0 100,0 1000,0 MHz
Figura 5 Emissões irradiadas de um equipamento eletrônico.
Na figura 6, apresenta-se o resultado de um primeiro controle das emissões irradiadas através do uso de uma blindagem. O controle das emissões irradiadas é sempre mais elaborado do que o de emissões conduzidas, pelo fato da distribuição dos campos irradiados não ser uniforme e com níveis de freqüência e energia diversos. Pode-se observar ainda pela figura 6, que esforços devem ainda ser feitos para se reduzir os níveis de emissão nos pontos em torno de 70 e 200 MHz.
30.0
Figura 6
100,0 1000,0 MHZ
Resultado do controle de emissões irradiadas através de uma blindagem.
No caso de equipamentos médicos existem normas específicas também, e que devem ser aplicadas e observadas com rigor. Entre essas normas podemos citar a CISPR 11, IEC 61000-4-3. Dependendo do tipo de equipamento e ambiente em que ele deverá ser utilizado existe um conjunto de normas a ser observado. Neste trabalho não será apresentado um detalhamento destas normas. No entanto qualquer informação necessária poderá ser obtida com o autor do trabalho.
Analisando o caso da UEC, seria necessário verificar a sua conformidade com as normas vigentes. No entanto, neste momento, existe a necessidade de se
ANAIS DO CBEB'2000 Artí os Convidados
fazer um comentário importante, isto é, um equipamento estar em conformidade com a norma, não garante que ele não seja gerador de inte1ferências eletromagnéticas. Logo, uma UEC, pode estar em conformidade com a norma e ainda gerar interferências no monitor cardíaco. Então o que fazer? A solução neste caso nem sempre é trivial, mas a primeira alternativa seria utilizar um equipamento que não gere interferências eletromagnéticas como a UEC, isto é, utilizar unidades a laser poderia ser uma solução (bem entendido, dentro dos limites de operação e resultado esperado do equipamento). Outra solução seria dispor de um monitor cardíaco imune a estas interferências, para isto seria necessário conhecer os níveis de emissão e utilizar um equipamento que fosse imune a elas. Senão, confiar em outros equipamentos que sejam imunes a estas interferências. É importante salientar que além das UEC, existem outros equipamentos geradores de altos níveis de interferência eletromagnéticas em ambientes cirúrgicos, como as serras e as máquinas de perfusão [ 15].
Percebe-se que tanto o paciente como o cirurgião, bem como os outros membros da equipe e os outros equipamentos de monitoração, estão no mesmo meio ambiente do emissor de interferências eletromagnéticas, que nesse caso poderia ser uma UEC. Logo, recebendo ondas eletromagnéticas, isto é, fazendo parte deste ambiente poluído do ponto de vista eletromagnético.
Pesquisas feitas, principalmente, na última década, indicam que a exposição prolongada a emissões eletromagnéticas pode ser prejudicial à saúde, trazendo sintomas como fadiga, cefaléia, enjôo, problemas relacionados à concentração e visão, perda de memória de curto tenno, insônia, zumbido nos ouvidos e irritabilidade [2]. Por outro lado, várias pesquisas mostram que existem vários efeitos benéficos quando os campos eletromagnéticos são usados de maneira advertida [ 16].
A seguir, detalharemos alguns estudos relacionados a interação dos campos eletromagnéticos com os meios biológicos e consequentemente com os seres vivos.
V. Interação dos campos eletromagnéticos com os meios biológicos
A influência da ação dos campos elétricos, magnéticos e ondas eletromagnéticas sobre os organismos vivos vem sendo observada, já desde os passados séculos XVIII (Galvani) e XIX (d'Arsonval) [l] . Na década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial começam a aparecer na literatura técnica os primeiros trabalhos com rigor científico sobre o tema. Mas não foi até o início da década de 1980, que cientistas e a sociedade em geral começaram verdadeiramente a se preocupar com o fato. Este interesse crescente pelos estudos dos fenômenos da interação dos campos com os seres vivos (fundamentalmente com o homem), é sobretudo devido ao vertiginoso desenvolvimento tecnológico, dos dispositivos eletro-eletrônicos geradores de emissões
eletromagnéticas (computadores, telefones celulares, torres-antenas de comunicação, etc.), que poluem praticamente todos os ambientes em que o ser humano está inserido.
As atuais pesquisas e normas são classificadas segundo os valores da freqüência de operação dos campos eletromagnéticos (ver tabela I). Sendo assim, no presente texto serão abordados sucintamente, aspectos essenciais da interação dos campos elétricos, magnéticos e ondas eletromagnéticos com os seres vivos, exemplos dos possíveis efeitos adversos à saúde, bem como apresentar métodos para evitar as interferências e as normas e limitações recomendadas pelos organismos internacionais para o controle efetivo das emissões eletromagnéticas.
Tabela 1 - Faixas de Freqüências e Denominações
Subdivisão de freqüências Faixa compreendida <3Hz
31
ELF (extremamente baixas) ULF (ultra baixas) 3Hz-3kHz
VLF (muito baixas) 3kHz-30kHz LF (baixas) 30kHz-300kHz
MF (médias) 300kHz-3MHz HF (altas) 3MHz-30MHz
VHF (muito altas) 30MHz-300MHz UHF (ultra altas) 300MHz-3GHz SHF (super altas) 3GHz-30GHz
EHF (extremamente altas) 30GHz-300GHz Ainda sem denominação >300GHz
A. Aspectos teóricos da interação dos campos com os meios biológicos
A interação dos campos alternados (isto é, com variação periódica em relação ao tempo) com os meios biológicos, é um fenômeno que depende de numerosos parâmetros, o qual toma seu estudo um problema de alta complexidade.
As caraterísticas dos campos que penetram no interior dos tecidos biológicos dependem fundamentalmente de [l] [2]:
A intensidade, freqüência e polarização dos campos externos incidentes que os originam.
O tamanho tisico, forma geométrica e propriedades dielétricas dos tecidos que conformam o corpo irradiado.
Configuração da fonte excitadora e a distância da mesma do corpo irradiado.
Presença de objetos próximos (efeitos reflexivos). Por outro lado, a permissividade elétrica dos
tecidos ( E ) é uma grandeza complexa, que vai depender do tipo de tecido (segundo o conteúdo de água do mesmo), da freqüência e da temperatura.
Nota-se então, que a quantificação dos campos distribuídos no interior dos tecidos, pode resultar numa tarefa extremamente dificil. De fato, os primeiros resultados verdadeiramente satisfatórios, no tratamento destes problemas, começaram a aparecer somente na década passada (1990). Isto foi devido ao desenvolvimento de poderosas técnicas de cálculo numérico (ligado ao avanço da informática), e à realização de projetos experimentais aplicando
ANAIS DO CBEB'2000 Arti os Convidados
tecnologia de ponta [17]. Como foi dito, os estudos relativos à interação dos campos com os meios biológicos classificam-se, atendendo às faixas de freqüência de operação. Geralmente estes são divididos em dois grandes grupos [2]:
Campos elétricos e magnéticos de baixa freqüência (valores de freqüência até 100 kHz).
Ondas eletromagnéticas (valores de freqüência maiores de 100 kHz, os estudos e aplicações atuais abrangem até 300 GHz). Este grupo compreende os campos de rádio-freqüência (RF) e microondas
No primeiro grupo, a grandeza tisica utilizada para a quantificação dos efeitos de acoplamento e penetração dos campos é a densidade de corrente J, que se relaciona com os campos elétricos induzidos no corpo mediante a lei de Ohm's [2]:
i=(JE (A1m 2) (1)
onde ()é a condutividade elétrica do meio.
Estes campos de baixa freqüência interagem principalmente com a membrana das células do organismo, mas também penetram através desta e interagem com o tecido mais profundo, podendo causar correntes elétricas induzidas internas [ 18]. Considera-se que essas correntes sejam perigosas a partir de O, 1 A/m2
[3]. Porém, os valores de absorção de energia e o incremento da temperatura nos corpos expostos aos campos de baixa freqüência são considerados não significativos [2].
Já para as ondas eletromagnéticas, correspondentes ao segundo grupo ( freqüências de 100 kHz- 300 GHz), a interação com os meios biológicos é caraterizada por níveis significativos de absorção de energia no corpo e incrementos de temperatura[2].
O aquecimento produzido nos tecidos biológicos devido a incidência de ondas eletromagnéticas de até 1 O GHz e a quantidade de energia absorvida neles, são quantificados a partir do uso da taxa de absorção específica (SAR) [1 ],[2],[4 ]-[7], expressa como:
(W /kg) (2)
onde p é a densidade de massa do tecido e JE111ª' 1 é o
módulo do valor máximo de campo elétrico no ponto de análise.
Esta grandeza diz respeito à porção da energia eletromagnética Í!Tadiada que é absorvida em determinado volume do corpo exposto. Ao mesmo tempo, a taxa de incremento da temperatura nos tecidos é também diretamente proporcional ao SAR, e igual à[l][5]:
dT SAR -=--dt e
(3)
onde T é a temperatura , t é o tempo e e é a capacidade específica de calor do tecido.
32
Consideráveis progressos teóricos e experimentais tem sido feitos para o entendimento do processo de interação dos campos de RF com sistemas vivos. Por exemplo, recentes pesquisas utilizando modelos muito realistas de interação do corpo humano com antenas próximas, revelam que[ 1] [2]: - Os valores máximos de SAR são produzidos na superficie do modelo, no eixo onde está localizada a fonte excitadora, decrescendo exponencialmente com a distância em direção perpendicular à superficie. - Nos casos onde a antena fica muito próxima do corpo humano (distancias menores de 1 cm), aproximadamente 50 % e até mais, do total da energia irradiada pela antena, é absorvida pelo corpo. - A maior parte da energia irradiada é depositada em uma pequena porcentagem do volume total do corpo humano (aproximadamente 15-20% ), correspondente à região próxima do ponto de excitação. - A absorção de energia pelo corpo decresce drasticamente com o aumento da distância da fonte excitadora. - Existem diferenças significativas (quanto à magnitude) entre valores de SAR obtidos para modelos homogêneos e heterogêneos da mesma geometria. Daí a importância de uma correta seleção dos parâmetros elétricos dos tecidos para obter resultados confiáveis.
Finalmente, para radiações acima de 10 GHz, a profundidade de penetração dos campos nos tecidos é muito pequena, e o SAR deixa de ser uma grandeza adequada para a medição da energia absorvida. Nesses
casos a densidade de potência incidente S = E X fJ (dada em W/m2
), é mais apropriada [2].
B. Efeitos adversos à saúde produzidos pelos campos elétricos e magnéticos de baixafi'eqüência (até 100 kHz).
Nesta seção serão expostas algumas reflexões sobre os possíveis efeitos adversos à saúde produzidos pelos campos elétricos e magnéticos de baixa freqüência, obtidas da literatura disponível. Vale destacar que, para a maioria dos estudos reportados até o momento, os resultados não são considerados consistentes o suficiente para confirmar com absoluta certeza que os riscos à saúde existem [2]. Os mostrados a seguir são dos poucos em que a comunidade científica mostra quase consenso.
Para exposição à níveis de densidade de corrente entre 1 O e 100 mA/m2
, considerados altos, podem acontecer varias afetações fisiológicas nos seres humanos, fundamentalmente mudanças no sistema nervoso central. Para valores superiores à 100 mA/m2
,
os tecidos são afetados severamente, ficando seriamente comprometida a saúde da pessoa exposta. Se estes níveis de densidade de corrente atingem valores extrema damente altos, excedendo os 1 A/1112
, as conseqüências podem ser fatais: fibrilação ventricular, parada cardíaca, tétano muscular, falhas respiratórias entre outros graves problemas podem acontecer [2].
A maioria dos estudos epidemiológicos
ANAIS DO CBEB'2000 Arti os Convid
desenvolvidos nos últimos anos sobre os possíveis riscos de câncer nas pessoas que moram perto das redes elétricas de transmissão de energia de alta tensão (50-60 Hz), concluíram a existência de uma forte associação entre a exposição às baixas induções magnéticas (da ordem de 0.2 - 0.3 µT) e elevadas taxas de leucemia infantil. Porém, as pesquisas não indicaram a existência de riscos para outros tipos de câncer em crianças nem para qualquer tipo em adultos. Até a atualidade, os fundamentos teóricos que explicariam o porque da ligação entre a leucemia infantil e os campos magnéticos das linhas de transmissão de energia são desconhecidos [ 1] [2].
Semelhante ao item anterior, a maioria das pesquisas coincidem na existência de elevados riscos ao aparecimento de certos tipos de câncer, como a leucemia, tumores no tecido nervoso e no peito, para os operários do setor elétrico que ficam expostos por períodos prolongados e/ou periodicamente aos elevados campos elétricos e magnéticos das linhas de transmissão de energia [1][2].
C. Efeitos adversos à saúde produzidos pelos campos de RF e microondas
É bem conhecido que a expos1çao continua a níveis altos de campos de RF e microondas pode produzir danos severos à saúde. Isto é devido aos efeitos de aquecimento que os mesmos causam às células, provocando alterações funcionais. De fato, é esse o principio de funcionamento dos fornos de microonda domésticos para cozinhar os alimentos.
Os dados experimentais, atualmente disponíveis na literatura, sugerem fortemente que efeitos biológicos em mamíferos de laboratório acontecem quando os valores de SAR estiverem entre 1 a 6 W/kg, onde a temperatura média dos corpos foi elevada até 41-43 ºe [1] [2] [8]. Alguns exemplos são relatados a seguir [1]:
A exposição crônica relativa a um SAR de 2.5 W /kg em ratos fêmeas durante a gestação, ocasionou o nascimento das crias com baixo peso corporal.
Esterilidade temporária foi reportada em ratos masculinos para níveis de SAR de 5.6 W/kg. A temperatura média atingida foi de 41 ºe.
Retardo no processo de aprendizagem e mudanças de comportamento foram percebidas em macacos submetidos a níveis de SAR de 5.0 W/kg.
Também em macacos, estudos mostram alteração dos neurônios no sistema nervoso central , quando estes foram submetidos à exposições crônicas de irradiação com valores de SAR de 2 W /kg.
Mudanças nos sistemas endócrino, imunológico e hematológico, assim como na composição química da sangue foram observados a partir de 1 W/kg para tratamentos prolongados de irradiação em ratos.
Outro grupo de estudos em ratos reportou para exposições crônicas relativas a um SAR de 2-3 W/kg, a aparição de efeitos carciogênicos.
Já em seres humanos, dezenas de trabalhos indicam prejuízo à saúde das pessoas que trabalham ou moram em áreas de grande concentração de antenas de rádio,
33
TV e/ou celular, geradoras de altos níveis de irradiação eletromagnética. Estudos de 93, no Reino Unido, e 96, na Austrália, mostraram que, quanto mais perto da antena moravam os pesquisados, maior era a incidência de câncer, sobretudo leucemia e tumor cerebral [9]. Outros estudos nos EUA indicam que a exposição contínua à campos elevados de rádio-frequência pode provocar sensação de cansaço, mudanças de comportamento, perda de memória, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, cataratas, má-formação fetal, derrame, câncer e até paradas cardíacas [9].
D. Efeitos biológicos das radiações de RF de baixos níveis de energia. O telefone celular.
Não há dúvidas de que a emissão de ondas eletromagnéticas de grandes magnitudes eleva a temperatura do corpo e faz mal ao organismo. Porém, não é conhecido até que ponto, ou por quais mecanismos, níveis baixos de radiação RF poderiam causar efeitos adversos à saúde. As pesquisas desenvolvidas até o momento são alvo de questionamentos por parte da comunidade científica internacional, e principalmente, por produtores e vendedores de aparelhos eletro-eletrônicos, porque nenhuma conseguiu demonstrar de que maneira estas ondas eletromagnéticas alteram o funcionamento do organismo.
Sem lugar à duvidas, o uso do telefone celular (onde a antena transmissora fica próxima da cabeça do usuário) é o exemplo mais conhecido, estudado e questionado deste tipo de fenômeno. Só para ter uma idéia da vertiginosa expansão do uso deste aparelho, um levantamento estatístico nos EUA em 1999 mostrou que existem aproximadamente 80 milhões de usuários nesse país, com uma tendência de incremento de 1 milhão por mês [8]. Assim, as evidências científicas disponíveis hoje não permitem concluir se um determinado modelo de telefone celular é absolutamente seguro, ou pelo contrario, se o uso deste pode trazer riscos para à saúde.
Porém, experiências em animais para investigar os efeitos às exposições de ondas de RF características dos telefones móveis sugeriram que baixos níveis de RF pudessem apressar o desenvolvimento de câncer em animais de laboratório [1][2][8]. Há muita incerteza entre os cientistas na avaliação dos resultados obtidos nos testes, as principais críticas são:
Muitos dos estudos usaram animais que já tinham sido alterados geneticamente e/ou tratados com substâncias químicas, com o intuito de predispor os mesmos à desenvolver um tipo de câncer específico.
Na maioria dos estudos expuseram os animais à tratamentos crônicos (até 22 horas por dia de iITadiação continua).
Existem controvérsias na hora de extrapolar os resultados obtidos em ratos ou outros animais de laboratório para o ser humano.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Figura 7 Interação dos campos elétricos de RF do telefone celular com o corpo humano.(REMCOM INC-USA)
Durante os últimos cinco anos nos Estados Unidos, as indústrias de telefonia móvel apoiaram projetos de pesquisa na procura de possíveis efeitos biológicos dos seus aparelhos. As principais descobertas, que mereceram a continuidade dos estudos, foram [8]: 1. Em um estudo caso-controle, os pesquisadores
procuraram uma associação entre o uso do telefone celular e qualquer espécie de glioma (tipos de câncer de cérebro) ou neuroma acústico (um tumor benigno do nervo). Os resultados estatísticos mostraram que não existe nenhuma associação significativa entre uso do telefone e o neuroma acústico, também não foi achada nenhuma associação com respeito aos gliomas, quando foram considerados todos os tipos de gliomas juntos. Porém, quando foram considerados 20 tipos de glioma separadamente, uma associação foi achada entre uso de telefone móvel e um tipo. raro de glioma, conhecido como neuroepithelliomatous. O mais interessante da pesquisa foi a descoberta de que o risco não aumentou com a freqüência com que o telefone era usado, ou com o tempo das
34
chamadas, fato que contradiz as atuais teorias de que o risco à aparição de tumores cancerígenos aumenta com o tempo de exposição.
2. Dois gmpos de 18 pessoas foram submetidas, em condições de laboratório, à sinais simulados de telefone celular enquanto eles executavam testes de função cognitivos. Não percebeu-se nenhuma mudança na habilidade de memorização, por exemplo, para recordar palavras, números, ou quadros. Mas, os membros do grupo exposto às inadiações puderam fazer escolhas mais rápidas em um teste visual, quando comparado com o grupo de controle. Esta foi a única mudança notada entre mais de 20 variáveis comparadas.
3. Foi feito um estudo de 209 casos de tumor cerebral onde o uso do telefone celular era considerado como um dos possíveis agentes causadores. Achouse que um número considerável dos tumores ficavam localizados no lado da cabeça onde o telefone móvel era usado.
Estudos aprofundados destas e outras descobertas estão sendo desenvolvidos na atualidade pelo Instituto de Nacional de Câncer dos EUA [8].
Resumindo, não há informação suficiente neste momento para assegurar publicamente que há, ou não há, problemas de saúde associados ao uso de telefones celulares ou qualquer outro aparelho gerador de sinais fracos de RF e microondas.
A própria posição da OMS (Organização Mundial da Saúde) é cautelosa: " ... Pesquisas mostram que, embora insuficiente para provocar aquecimento do corpo, a exposição pode alterar a atividade elétrica do cérebro de gatos e coelhos. Outros estudos sugerem que ela altera a taxa de proliferação das células, a atividade das enzimas e que também afeta o DNA. Mas as implicações à saúde ainda não foram suficientemente entendidas para dar base a uma restrição à exposição humana ... "[9].
E. O Controle das Emissões.
Mesmo assim, a OMS também afirma que os riscos levantados até agora " ... demandam urgência no desenvolvimento de programas que levem a um consenso científico que possibilite o esclarecimento desses assuntos ... " [9].
O controle efetivo das emissões de campos elétricos, magnéticos e ondas eletromagnéticas exige um profundo entendimento dos fenômenos de radiação eletromagnética por parte do pessoal envolvido. Muitos estudos realizados trouxeram informações valiosas a respeito dos níveis seguros para a exposição do ser humano (3]. Organismos internacionais têm proposto recomendações para a exposição segura, por exemplo, na tabela 2 podem ser vistos os limites normalizados para os campos até 300 GHz da ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção às Radiações Não-Ionizantes), órgão ligado à OMS encarregado de orientar o debate internacional sobre o assunto [2].
Por exemplo, a ICNIRP estabelece que nenhuma tone-antena deve emitir radiação superior a 435 microwatts por cm2 [9]. No Brasil, embora a OMS
ANAIS DO CBEB'2000 Arti os Convidados
recomendasse fiscalização intensa para driblar esses problemas, não havia nenhuma legislação limitando a emissão de radiação por rádio-frequência. Com a proliferação das antenas de celulares, o clima de desconfiança sobre potenciais efeitos nocivos das antenas aumentou, o que determinou que algumas prefeituras decidiram não esperar pela Anatei, o órgão regulador, e criaram limites municipais. Finalmente, em julho de 1999, a Anatei decidiu que, enquanto não for elaborada a legislação nacional, vale o valor recomendado pela OMS [9].
Com respeito aos níveis de absorção de energia pelo corpo humano, quantificados geralmente pelo SAR, também existem outras regulamentações de segurança, além da ICNIRP. As normas da ANSI/IEEE C 95.1-1992 e da FCC (United States Federal Communications Commission) estabelecem um valor máximo admissível de SAR de 1.6 W/kg para qualquer porção de tecido de um 1 g de massa num intervalo contínuo de tempo de exposição de 30 minutos[4]. Já as normas CENELEC- ENV (European Communities Prestandart) fixam o valor máximo do SAR até 2.0 W/kg para qualquer porção de tecido de um 10 g de massa num intervalo contínuo de tempo de exposição de 6 minutos [5].
F. Como se proteger.
Mas, e se as normas limitadoras não são cumpridas pelos fabricantes e os órgãos fiscalizadores são burlados ou não desempenham com rigor seu dever? Ou mesmo dentro das faixas recomendáveis de irradiação, na ausência de informação conclusiva sobre os riscos à saúde, o que podem fazer os indivíduos para se proteger?
Há precauções simples é práticas que as pessoas podem seguir para reduzir qualquer possível risco. Primeiramente, deve-se saber que o tempo de exposição e a distância em que a pessoa fica da fonte emissora são
fatores chaves à serem considerados. Os especialistas recomendam [8] [9]:
Evite conversações prolongadas pelo telefone celular.
Evite o tempo prolongado de uso de secadores de cabelo ou qualquer outro dispositivo elétrico ou eletrônico de alta potência que esteja muito perto da cabeça.
No caso de conversações telefônicas dentro do carro, recomenda-se os modelos de telefones móveis que permitem colocar a antena do lado de fora.
Procure ficar a 90 cm de distância da tela dos computadores. Cuidado: o fundo do monitor emite mais ondas do que a frente, fique a 120 cm.
Os cobertores elétricos estão entre os aparelhos mais poluentes. Use só para esquentar a cama, mas tire da tomada antes de se deitar.
No quarto de dormir evite o uso de aparelhos eletrônicos. Se tiver rádio-relógio digital, não deixe muito perto da cabeça. O mesmo vale para os outros aparelhos elétricos é eletrônicos, como arcondicionado, lâmpadas fluorescentes, etc.
Não ficar olhando os alimentos cozinharem ou aquecerem em um forno de microondas. Mantenha-se sempre a uma distância razoável do aparelho.
Se mora ou trabalha perto de torres de TV, rádio, celular ou de linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, e tem dúvidas se estão de acordo com a lei, é recomendável procurar os serviços especializados das instituições facultadas para a medição dos campos eletromagnéticos. Na dúvida mantenha-se a distância e sobretudo as crianças.
Finalmente, procurar estar sempre a par do que acontece, das descobertas a respeito, através de livros e artigos científicos que geralmente trazem informações interessantes e atualizadas. Não acreditar nunca em especulações sem base científica [3].
Tabela 2 - Guia 12ara a ex12osição segura aos cam12os elétricos e ma~néticos até 300 GHz - ICNIRP [2] Característica Faixa de Densidade de SAR médio SAR localizado SAR Densidade do ambiente Freqüência corrente para a no corpo (cabeça e tronco) localizado de energia
cabeça e tronco (W/kg) (W/kg) (membros) S (W/m2)
J {mA/m2) {rms) (W/kg)
até 1 Hz 40 1 -4 Hz 40/f
4Hz- l kHz 10 Controlado 1- 100 kHz f/100
100 kHz- 10 MHz f/100 0.4 10 20 10 MHz- 10 GHz 0.4 10 20 lOGHz 300 GHz 50
até 1 Hz 8 Não 1 -4 Hz 8/f
controlado 4 Hz-1 kHz 2 1-100 kHz f/500
100 kHz- 10 MHz f/500 0.8 2 4 10 MHz-10 GHz 0.8 2 4 10 GHz- 300 GHz 10
35
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
VI. Efeitos benéficos dos campos eletromagnéticos
Os argumentos colocados até agora no presente trabalho, podem induzir ao leitor pensar que todos os fenômenos associados à interação dos campos eletromagnéticos com o ser humano só podem trazer, na melhor das hipóteses, duvidosas consequencias negativas para à saúde, levando-o acreditar que quanto mais afastado ficar destes campos, melhor. No entanto, fatos comprovados cientificamente mostram que os campos elétricos, magnéticos e as ondas eletromagnéticas podem trazer também mumeros beneficios à saúde, introduzindo novas possibilidades e expectativas de cura de vanas enfermidades. Logicamente, as aplicações devem ser realizadas sob condições controladas e por pessoal médico e de apoio especializados.
Antigas civilizações orientais, principalmente a chinesa, utilizavam o efeito dos campos magnéticos estacionários fracos gerados pelos ímãs permanentes para o tratamento de algumas doenças e para o restabelecimento do equilíbrio funcional do corpo. Mas não foi até há poucos anos, na segunda metade do presente século, com o desenvolvimento tecnológico e da ciência, que verdadeiramente a sociedade e a comunidade científica começaram a acreditar nos efeitos positivos dos campos eletromagnéticos. Na atualidade, existem institutos de pesquisa e clínicas hospitalares em vanos países (EUA, Alemanha, Eslovénia, Japão e Cuba, por exemplo) que se dedicam exclusivamente ao estudo e aplicação de técnicas para o tratamento terapêutico de diversas doenças utilizando os campos eletromagnéticos. Ao mesmo tempo, prestigiosas instituições internacionais como a ISBEM (International Society for Bioeletromagnetism), a IEEE/ Engineering in Medicine and Biology Society, a EMC Society e outras dedicam boa parte dos seus congressos e revistas à discussão e exposição dos trabalhos mais recentes relacionados ao tema.
Vejamos então, alguns exemplos de utilização dos campos eletromagnéticos para fins médicos.
Em relação ao tratamento de alguns tipos de câncer cutâneos e subcutâneos, tem-se demostrado que a corrente elétrica direta e os campos electrostáticos (sobre determinadas condições) reduzem e ajudam na eliminação das células cancerígenas, exercendo um efeito antitumoral. As técnicas para este tipo de tratamento são conhecidas como eletroterapia. A eletroterapia se caracteriza por ser local, imediata, altamente efetiva e sua invasividade é mínima [10][11][16].
Uma variante da técnica anterior é a eletroquimioterapia. Neste caso, as áreas afetadas pelo tumor são submetidas a pulsos de correntes intensos e curtos, o que provocam mudanças transitórias e reversíveis nas membranas celulares. Desta forma as células tumorais ficam permeáveis, permitindo a penetração de drogas e medicamentos químicos no interior das mesmas, o que era impossível de se obter
36
pelas técnicas convencionais de quimioterapia[l 8]. Nódulos tmnorais na cabeça e pescoço, e alguns tipos de câncer de pele são os casos mais comum de tratamento por estas técnicas[ 11].
O uso das con-entes elétricas pulsantes também foi estendido a outros tipos de doenças, com resultados altamente satisfatórios. É o caso dos tratamentos para recuperação de tecido em úlceras crônicas, como as que aparecem nos períodos pós- traumáticos de ferimentos e em pacientes diabéticos [11].
Os campos eletromagnéticos de baixas freqüências também tem um imp01tante papel na medicina contemporânea. Dentro dos efeitos terapêuticos destes campos (geralmente aplicados à baixas intensidades), destacam-se as ações anti-inflamatórias e analgésicas [12]. Excelentes resultados são obtidos também na aceleração dos processos de recuperação de tecido em fraturas ósseas. As técnicas e equipamentos utilizados para o tratamento por campos de baixos níveis de freqüência e intensidade são muito diversos, razão pela qual se exige uma alta qualificação e especialização do pessoal médico e pessoal de apoio, para evitar procedimentos en-ôneos que tragam prejuízos à saúde do paciente.
Na faixa das rádio-freqüências e microondas, destacam-se os tratamentos terapêuticos de câncer por hipertermia (elevação da temperah1ra dos tecidos por exposição à campos de RF e microondas) [7] [ 13] [ 14][16]. O aquecimento localizado dos tecidos pode ser produzido invasivamente , isto é, inserindo dentro do tumor arranjos de pequenas antenas de microondas mediante agulhas especiais, ou por outro lado o procedimento pode ser não invasivo, utilizandose de "aplicadores" externos de RF e microondas. O primeiro caso é o mais indicado para tumores em regiões profundas do corpo humano, já os tratamentos não invasivos aplicam-se à tumores superficiais (na pele) ou pouco profundos, como alguns intramusculares, na cabeça, na região torácica, etc. Os tratamentos de hipertennia podem ser aplicados isoladamente, ou em combinação com outras técnicas convencionais, como a quimioterapia. Neste último caso, o aquecimento dos tecidos cancerígenos a temperaturas entre 41 e 46 ºe favorece a penetração dos medicamentos químicos nas células [13]. As freqüências de operação mais comuns dos equipamentos utilizados estão na faixa de 1 O - 1000 MHz.
Finalmente, não pode-se deixar de comentar a respeito das técnicas e equipamentos médicos de diagnóstico, onde os campos eletromagnéticos desempenham um papel fundamental na atualidade: a obtenção de imagens por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para a detecção de inúmeras doenças, malformações e tumores é o exemplo mais conhecido. Mais recentemente tem surgido outras inovadoras técnicas, que oferecem ao pessoal médico valiosas informações para doenças que há poucos anos eram praticamente impossíveis de diagnosticar de maneira precisa e confiável. Exemplos são a Magnetoenc~falografia (para esh1dos do cérebro), e a
ANAIS DO CBEB'2000 Arti os Convidados
Microwave Imaging (técnica para a obtenção de imagens por aplicação de sinais de microondas, o que oferece um mapa das características dielétricas do corpo humano) [14].
(b) Figura 8 Recuperação de tecido mediante tratamento
terapêutico de pulsos curtos e intensos de corrente elétrica. a) Inicio do tratamento. b) Um mês depois.[ 11]
Referências
[I] M. A. Stuchly, "Mobile Communication Systems and Biological Effects on their Users", The Radio Science Bulletin, URSI, no. 275, pp. 7-12, December 1995.
[2] Intemational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)", Health Physics, no. 4, volume 74, pp-494-522, April 1998.
[3] L. Firmino e A. Raizer, "Poluição Eletromagnética", UFSC, 1999.
[4] H. C. Chen and H. H. Wang, "Current and SAR Induced in a Human Head Model by the Electromagnetic Fields Irradiated from a Cellular Phone", IEEE Trans. Microwave The01:v Tech., vol. 42, no. 12, pp.2249-2254, December, 1994.
[5] J. Cooper and V. Hombach, "The Specific Absorption Rate in a Spherical Head Model from a Dipole with Metallic Walls Nearby", IEEE Trans. 011 Electromagnetic Compatibili(v, vol. 40, no. 4, pp.377-382, November 1998.
[6] Qishan Yu, Om P. Gandhi and M. Aronsson, "An Automated SAR Measurement System for Compliance Testing of Personal Wireless Devices", IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, vol. 41, no. 3, pp.234-245, August 1999.
37
[7] H. R. Underwood, A. F. Peterson and R. L. Magin, "Electric-Field Distribution Near Rectangular Microstrip Radiators for Hyperthermia Heating: Theory Versus Experiment in Water", IEEE Trans. 011 Biomedical Engineering, vol. 39, no. 2, pp.146-153, Febrnary 1992.
[8] FDA, "Consumer Update on Mobile Phones", FDA site: http:/www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html.
[9] Eder Chiodetto, "Ondas Eletromagnéticas poluem o ar das cidades", Folha de São Paulo, 2000.
[10] L. Bergues, et. ai., "Efectos de la corriente eléctrica directa en el tumor murino subcutâneo de Ehrlich. I: Estudios de necrosis y volumen dei tumor en estadíos avanzados", Anais do VI Talher Nacional de Eletromagnetismo, Santiago de Cuba, Cuba, Dezembro 1998.
[l l]Laboratory of Biocybernetics at Faculty of Electrical Engineering of University of Ljubljana (LBK), Slove11ia, Internet site: http//lbk.fe.uni-lj.si.
[ 12] M. Mulet e M. Batista, "Estudio clínico com campo magnético alterno sobre la Psoriasis Vulgar", Anais do VI Talher Nacional de Eletromagnetismo, Santiago de Cuba, Cuba, Dezembro 1998.
[13] D. R. Lynch, K. D. Paulsen and J. W. Strohbehn, "Finite element solution of Maxwell's equations for hyperthermia treatment planning," J. Comp. Phys., vol. 58, pp. 246-269, 1985.
[14] S. Caorsi, G. Luigi and M. Pastorino, "A Model-Driven Approach to Microwave Diagnostics in biomedical Applications", IEEE Trans. Microwave Theo1y Teclz., vol. 44, no. 1 O, pp.1910-1920, October, 1996.
[15] C.A.C. Guimarães Jr., R. Garcia-Ojeda, A.Raizer, "Studies of Electromagnetic Interference from Electrosurgical Units", EMC'98 Roma International Symposium 011 Elecetromagnetic Compatatibility, pp.689-694, September, 1998.
[16] M.Telló, G.A.D. Dias, A.Raizer, "The BECM Concepts Applied to Real Cancer", IEEE Trans. 011 Magnetics, vol. 34, no. 5, pp.2811-2814, September, 1998.
[ 17] H. Almaguer-Dominguez, A.Raizer, "Analysis of Fundamental Limitations of Electrics-Type Hype1ihermia Applicators Based 011 TLM Method", 3r<l International Conference on Bioelectromagnetism, Slovenia, October, 2000.
[18] A.Ramos, J.B.Marques, A.Raizcr, "Modelling The Electric Field and Ionic Charge Distribution in Biological Tissue Through the Equivale11t Electric Circuit Method", 3rd I11ternational Confere11ce on Bioelectromag11etism, Slovenia, October, 2000.
Biografia:
Adroaldo Raizer, é Professor Titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor pelo lnstitut National Polytechnique de Grenoble-França. Especialista em Interferência, Poluição e Compatibilidade Eletromagnética e Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos. Publicou vários artigos em revistas e congressos nacionais e internacionais, além de ter orientado e ser orientador de alunos de mestrado e doutorado nos temas relacionados.
Agradecimentos:
O Prof. Adroaldo Raizer, gostaria de agradecer a valiosa ajuda de seus Alunos de Mestrado e Doutorado, especialmente o Sr. Hugo Dominguez Almaguer e também aos vários colegas Professores e Pesquisadores, em especial aos Professores Marcos Telló e Guilhem1e Dias pelas frutuosas discussões realizadas. A UFSC, CAPES, COFECUB, CNPq e British Council que apoiam as pesquisas realizadas.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Critérios para a Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares
Saide Jorge Calil
Centro de Engenharia Biomédica e Depto. de Engenharia Biomédica Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, 13081-970 Fone (OXX19)788-7895, Fax (OXX19)2893346
Resumo A aquisição de equipamentos médico-hospitalares é sempre problemática para o pessoal de compra dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EASs). Por um lado, a falta de conhecimento sobre as características dos equipamentos a serem adquiridos, produzem especificações que nem sempre refletem aquilo que foi solicitado pelo usuário, no caso o médico. Por outro lado, a falta de conhecimento sobre o que exigir ou negociar com o fornecedor para que o setor técnico, assim como o setor administrativo, possa reduzir o número de prováveis futuros problemas envolvendo a manutenção e operação do equipamento, faz com que os contratos de aquisição (hospitais privados) ou os editais de licitação (hospitais públicos) sejam extremamente favoráveis aos fornecedores em casos de conflitos entre as partes. Este trabalho apresenta um resumo das exigências que podem ser colocadas em um contrato/edital de aquisição para que ambas a partes, fornecedores e compradores, estabeleçam suas condições de fornecimento e aquisição de equipamentos médico-hospitalares.
Palavras chave: procedimento de aquisição, engenharia clínica, equipamento médico-hospitalar
Abstract - The process of acquiring medical equipaments have always being a problem for the administrative personal from Health Units. On one hand, the lack of acknowledges about the characteristics of the equipment to be bought generates specifications that not always reflect the expectations of the user, the medical doctor. On the other hand, the lack of information about what to request or negotiate with the supplier to reduce the number of future problems involving the equipment operation and maintenance, makes the acquisition contracts extremely favourable to the supplier in case of conflicts between both parts (supplier and buyer). This work shows a summary of requests that can be placed in an acquisition contract for that both, suppliers and buyers establish their conditions for supplying and acquiring medical equipment.
Key words: acquisition methodology, clinicai engineering, .medical equipment
Introdução
Estima-se que o mercado brasileiro movimenta cerca de US$ 1,3 bilhão/ano de equipamentos médicohospitalares, sendo US$ 500 milhões para o setor de diagnóstico por imagem. No período 1994 1997, o setor saúde adquiriu 131 unidades de ressonância nuclear magnética e 568 unidades de tomografia. computadorizada [2]
Estima-se a incorporação de 729 tomógrafos, entre 1993 a 1999. Supondo-se que a cada 2 anos seja necessário a troca do tubo a um valor médio em torno de U$ 50.000,00, resulta que anualmente, somente para a troca destas peças, o sistema de saúde gaste aproximadamente U$ l 8 milhões. [2]
Ministério da Saúde MS estima que 40% dos equipamentos médico-hospitalares, inclusive os equipamentos de imagem, estão subtilizados ou inoperante [ 1].
No período de 1994 a 1998, foram importados aproximadamente, US$ 1.190 milhões em equipamentos de imagem. Pode-se estimar que no ano de 1999, o setor saúde gastou com a mão de obra para
38
a manutenção destes equipamentos (vencido o período de 12 meses de garantia), um valor aproximado de US$ 71 milhões [2].
Apesar deste volume de equipamentos comercializados e paralisados, um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais que atuam na área de saúde é a definição de um método para a aquisição dos equipamentos médico-hospitalares. Se este processo não for muito bem equacionado, corre-se o risco de gastos desnecessários ou excessivos, com equipamentos inadequados ou prematuramente desgastados, ou tecnologicamente obsoletos.
Assim, é de extrema importância que se estabeleçam metodologias que procurem auxiliar na racionalizar e padronizar o processo de aquisição, e que reduzam a complexidade dos processos burocráticos, administrativos e legais envolvidos. Neste trabalho será utilizada a expressão "Equipamentos Médicohospitalares", que englobará todos os equipamentos médicos, biomédicos, odontológicos, hospitalares etc., utilizados por um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS).
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Objetivo
O objetivo básico aqui, é a apresentação uma metodologia aquisição de equipamentos Médicohospitalares a ser utilizada por administradores hospitalares. A proposta apresenta um guia para orientação do profissional de um EAS para a especificação e seleção de marcas e modelos dos equipamentos a serem adquiridos. É importante ressaltar que toda orientação fornecida é dirigida para uma seleção baseada em itens técnicos. A escolha do equipamento baseada em itens clínicos não é contemplada aqui.
Este roteiro parte do pressuposto que todos os tipos de equipamentos médico-hospitalares a serem adquiridos já tenham sido previamente definidos e quantificados pela administração do hospital.
Metodologia
Das diversas etapas que devem ser desenvolvidas durante um processo de aquisição será limitado aqui somente aquela que envolve a elaboração do contrato/edital, o recebimento e a instalação dos equipamentos médico-hospitalares a serem utilizados por este serviço de saúde.
Dentro do processo de elaboração do contrato/edital, podemos definir as seguintes atividades: a- definição da equipe de implementação do processo
de aquisição b- coleta de dados c- especificação das características técnicas dos
equipamentos médico-hospitalares. d- determinação das cláusulas gerenciais para
aquisições nacionais e internacionais e- detenninação das cláusulas para aquisições
internacionais
- Definição da equipe de implementação do processo de aquisição
Para a implementação do processo de aquisição é necessário a existência de uma equipe composta de no mínimo os seguintes profissionais: 1 advogado, 1 médico (normalmente o solicitante) e 1 enfermeira (impo1iante que ambos façam parte do serviço de saúde que esteja solicitando o equipamento), 1 pessoa com conhecimento na parte técnica dos equipamentos e fornecedores. Nem sempre todas estas pessoas estarão atuando no processo de aquisição ·ao mesmo tempo mas certamente participarão em diferentes etapas do processo.
- Coleta de dados Para a montagem do contrato/edital de aquisição
aqui proposta, é necessário a obtenção de informações que viabilizem as especificações dos equipamentos. A falta de dados técnicos e clínicos sobre os equipamentos a serem adquiridos durante a elaboração do processo de licitação, pode acarretar uma série de
39
atrasos que fatalmente refletiria de maneira negativa na confiabilidade da equipe perante a administração da unidade. Assim, antes do início da elaboração do contrato/edital, é impmtante a obtenção dos seguintes dados: a) relação dos equipamentos e acessórios
pretendidos, baseado em infonnações fornecidas pela equipe de saúde responsável pela sua futura utilização;
b) projetos de arquitetura, de engenharia e de instalação;
c) banco de dados sobre equipamentos médicohospitalares existentes no mercado nacional e internacional, incluindo especificações técnicas, testes comparativos e análise de custos (investimento, operação e manutenção);
d) catálogos, folhetos e informações fornecidas pelo fabricante ou seus representantes locais sobre os equipamentos produzidos e oferecidos pelos mesmos;
e) regulamentos, padrões e/ou normas técnicas nacionais e locais ou internacionais, na ausência das primeiras, sobre equipamentos de saúde (uso, instalações e procedimentos de segurança);
f) informações de usuários locais e nacionais sobre a experiência anterior com as marcas, os modelos e os fabricantes/representantes locais que estão sendo considerados no processo de seleção; e
g) informações sobre os aspectos legais, estabelecidos a nível federal, estadual, municipal e inclusive local (normas internas da unidade de saúde).
- Especificação das características técnicas dos equipamentos médico-hospitalares
Seja para entidades públicas ou privadas, a especificação dos equipamentos médico-hospitalares, deve ser feita de forma clara objetiva, sem direcionamento a uma marca qualquer, mas em função das reais necessidades do serviço de saúde que está solicitando sua aquisição. Para se este sucesso, devemos seguir uma metodologia detalhada.
Caso ainda não exista um banco de dados contendo as especificações técnicas do equipamento, deve-se proceder a uma coleta de informações consistindo de manuais, catálogos e literatura pertinentes ao equipamento em questão. Essa coleta deve ser iniciada aproveitando-se o material já existente e disponível na instituição. Em complemento a estas informações, deve-se coletar dados sobre os equipamentos disponíveis comercialmente, junto aos fabricantes, e realizar uma pesquisa junto a usuários experientes para priorização das características médicas de fundamental importância. Estas características servirão de subsídios para uma investigação dos produtos existentes no mercado, visando evitar a necessidade de projetos especiais "sob encomenda", o que acarretaria custos sensivelmente maiores.
Além das informações mencionadas anteriormente, deve-se realizar um levantamento sobre normas técnicas, regulamentações e outros dispositivos legais, relacionados a cada equipamento em questão,
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
para evitar uma aquisição em desacordo com a legislação em vigor.
De posse de todas estas informações deve-se elaborar as especificações médicas, detalhando os requisitos médicos em relação a cada equipamento, incluindo objetivos, parâmetros de medida ou estimulação, faixas, restrições, etc.
Além das especificações médicas, é necessária a inclusão de requisitos técnicos, tais como: mecânicos, elétricos, químicos, ambientais, etc.
Conhecendo-se as normas e legislações aplicáveis, deve-se elaborar detalhadamente os requisitos derivados das mesmas, dando ênfase a itens de segurança, tais como: eletricidade, poluição, contaminação, radiação, etc. São importantes também as especificações dos métodos.de ensaio e dos testes de aceitação pertencentes às nonnas e/ou estabelecidos pelo grupo técnico da instituição adquirente.
Com todos os dados (médicos, técnicos e legais), a equipe de aquisição deve consolidá-los e apresentar uma descrição genérica para cada tipo de equipamento.
Abaixo listados os itens que devem ser lembrados na confecção da especificação para cada equipamento médico-hospitalar a ser adquirido. I - Nome do material: Apresentar o nome que de forma comum identifica o equipamento desejado. Dependendo do equipamento, o nome que o identifica pode variar de acordo com a região do país. II - Características de utilização: Especificar se o material é descartável ou reutilizável, implantável ou não implantável, invasivo ou não invasivo, esterilizável, etc. III - Tipo de montagem: Especificar a forma na qual o material ficará montado para a utilização. Exemplo: bancada, piso, sobre rodízios, estativa, portátil, fixo, transportável, etc. IV Configuração fisica: Deve especificar as características fisicas específicas do material ou parte dele, tais como: modular, integrado, disposição física (vertical ou horizontal), tipo e forma de acesso físico, tipo e forma de conexão, etc. V - Princípio de funcionamento: Se aplicável, deve-se especificar o princípio de funcionamento. Exemplo: sistema Venturi, ultra-som, piezelétrico, elétrico, pneumático, hidráulico, mecânico, eletro-mecânico, etc. VI - Capacidade nominal: Indica a quantidade de trabalho que o material pode processar por ciclo, exemplo: volume de exames por hora, número de amostras processadas por hora, etc. VII - Dimensões Físicas: Indica dimensões físicas aproximadas internas e/ou externas do equipamento. VIII - Faixa de funcionamento: Indica os limites inferior e superior que o equipamento pode processar, medir, monitorar, exemplo: faixa de temperatura, pressão, velocidade, etc. IX Controles: Indicar todos os parâmetros que podem ser ajustados através de controles. Exemplo: volume corrente de mistura ar/02, temperatura para o paciente,
freqüência respiratória, etc.
40
X Alarmes: Indicar quais os parâmetros que devem ser monitorados ou protegidos por alarn1es, ajustes das faixas, etc. Exemplo: faixa de alarmes de um monitor cardíaco. XI - Modo de indicação e registro dos parâmetros: Especificar de que forma os parâmetros devem ser registrados ou indicados. Exemplo: tela de monitor, vídeo, registrador térmico, impressora, etc. XII - Exatidão: Este valor expressa qual o valor máximo do erro permitido para o equipamento. É calculado pela seguinte fórmula; (valor medido - valor real)xlOO/valor medido. Exemplo: uma bomba de infusão infantil deverá ter no máximo um desvio do valor real de 2%, ou seja, uma exatidão de 2%. XIII - Precisão: Especificar qual a precisão necessária para a finalidade a que o equipamento se destina, ou seja, o número de casas decimais após a vírgula, que são necessárias à utilização apropriada do equipamento. XIV - Sensibilidade: É o incremento mínimo na entrada que produz uma alteração do valor na saída; ex: um transdutor de pressão deverá ter uma resposta de 5,0 mV para uma variação de pressão de 1,0 mm na coluna de mercúrio. XV - Resolução: É o valor m1111mo da escala de medida ou registro que o material é capaz de fornecer. Exemplo: em uma escala de 1 a 100, cada subdivisão do indicador tem uma resolução de 1 unidade, ou seja, resolução de uma unidade por divisão. XVI - Saídas e entradas: Especificar quantas e quais devem ser as entradas e saídas, suas características e compatibilidade necessária. Exemplo: entrada e/ou saída isolada, saída padrão RS232C, etc. XVII Acessórios: Especificar quantos e quais os acessórios que devem acompanhar o equipamento, suas características e finalidades. Exemplo: cabos, eletrodos, transdutores, circuitos de paciente, etc. XVIII - Características de construção: Especificar as características de construção e acabamento do material. Exemplo: proteção contra cmTosão, em aço inoxidável, biocompatível, cor, etc. XIX Segurança: Especificar quais os requisitos que o material deve incorporar visando a segurança do paciente, do operador e do ambiente relativo aos aspectos elétricos, mecamcos, radioativos, bacteriológicos, químicos, etc. XX - Alimentação: Especificar o tipo e características de alimentação que o material deve ter; ex: Elétrica l lOV e/ou 220V, corrente contínua ou alternada, vácuo, gás, bateria, etc. XXI - Exigências técnicas ou normativas: Em equipamentos onde já existam as exigências técnicas definidas em normas nacionais, é possível a eliminação de alguns itens como: sensibilidade, resolução, segurança, etc. Entretanto, é importante mencionar no edital a norma que o equipamento deve obedecer. Atualmente, devido a exigência para registro do equipamento na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, alguns tipo de equipamentos devem ser certificados em conformidade com a NBR-IEC 601.1 (3). A exigência do fornecimento de somente equipamentos certificados, pode evitar desagradáveis
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
surpresas da equipe de aquisição com relação à segurança do equipamento
- Determinação das cláusulas gerenciais para aquisições nacionais e internacionais
As exigências institucionais administrativas, assim como as exigências puramente técnicas do equipamento, não atendem àquelas necessárias ao trabalho do grupo técnico e do pessoal de saúde. Desta maneira, é necessário a elaboração de exigências específicas para cada tipo de equipamento, com a finalidade de evitar que tanto o grupo de gerenciamento da manutenção como a equipe médica, tenham longos e desgastantes conflitos com o fabricante/fornecedor. Em muitos casos, se as exigências e as condições da equipe de aquisição não forem estabelecidas previamente ao pagamento do equipamento, os conflitos podem ser extremamente danosos para ambas as partes.
Assim, são sugeridas e justificadas abaixo, algumas exigências que devem ser selecionadas pela equipe de elaboração do edital, de acordo com o tipo do equipamento e dos recursos humanos e financeiros que a unidade de saúde possa dispor no momento da aquisição.
- Listagem de peças de reposicão Durante o processo de aquisição, é necessário a
avaliação da melhor forma pela qual a manutenção no equipamento para o período pós garantia será executada; se por contrato com o fornecedor ou se o setor de técnico da unidade de saúde assumirá a responsabilidade. Esta decisão se faz necessária, tendo em vista sua influência no tipo e no conteúdo da lista de peças de reposição a serem adquiridas. Para a elaboração desta lista, devem ser avaliados aspectos como: manutenção executada somente através da troca de placas, existência do material no mercado nacional, lista de estoque do fornecedor, facilidade de importação do material, custo de estoque, possibilidade de investimento para estoque e custo real e social devido à paralisação do equipamento por falta da peça de reposição. De qualquer forma, deve ser feita uma avaliação juntamente com o fornecedor/fabricante de modo a se evitar paralisações desnecessárias e custo excessivo de estoque.
É recomendável que a listagem para o fornecimento de peças, fosse feita tanto para materiais importados como para os nacionais. Embora não exista um valor definido, é interessante que a soma do custo das peças contidas na listagem atinja a 10% do valor do equipamento. Entretanto, em caso de falta de recursos financeiros, a equipe técnica poderá priorizar este estoque para equipamentos importados tendo em vista a demora para importação. É importante lembrar que unidades de saúde localizadas distantes dos fornecedores, necessitam de um estoque de peças com maior probabilidade de substituição (manutenções preventivas e corretivas), para evitar longos períodos de paralisação.
- Garantia de peças de reposicão 41
Uma vez definida qual será a forma de manutenção para o equipamento em questão, deve ser vinculado ao processo de compra o compromisso do fornecedor/fabricante de fornecer peças de reposição/material de consumo, por um período mínimo de 1 O anos, de modo a possibilitar a utilização plena do equipamento, enquanto atender as necessidades do usuário dentro de padrões seguros, independente da descontinuidade de sua fabricação.
Em se tratando de equipamentos importados, é necessário tomar um maior cuidado no tocante ao fornecimento de partes e peças, pois a forma como as peças futuramente necessárias deverão ser fornecidas, poderá levar a uma manutenção com maior ou menor agilidade.
A definição de um percentual do custo do equipamento a ser destinado para importação de um lote de peças de reposição juntamente com o equipamento adquirido, não é a melhor forma de procurar minimizar os problemas com a demora de reposição. Deve-se negociar com o fabricante e/ou fornecedor, via contrato, para que seja mantida no Brasil um estoque mínimo dos itens considerados críticos para os equipamentos adquiridos. Uma listagem destes itens seria fornecida ao setor técnico interessado. Esta negociação pode ser baseada na alegação de que o fabricante/fornecedor possui um maior número de equipamentos sob utilização em várias unidades de saúde no país e teria maiores condições, se não a obrigação, de manter o estoque de peças para manutenção imediata dos mesmos. Desta forma, é possível a racionalização do número de itens a serem importados pelo EAS, reduzindo esta aquisição a um mínimo indispensável, que se necessário poderia ser impmiado. Assim, a instituição arcaria com parte dos custos das peças de reposição e o fornecedor se comprometeria a ter a outra parte das mais prováveis a serem substituídas para pronta entrega. Ressalta-se que para entidades públicas e filantrópicas, a importação e manutenção de estoque pelo fornecedor acarreta um custo de aquisição bem maior para o EAS se comparado àquele resultante de importação direta.
- Garantia de fornecimento de manuais técnicos Todo processo de aquisição deve levar em
conta, que o setor técnico, sem uma documentação adequada nem sempre poderá resolver os defeitos que o equipamento vier a apresentar. Assim, não basta notificar que a empresa deve fornecer toda a documentação técnica, pois existe uma grande quantidade de empresas que possuem apenas o catálogo com as especificações técnicas, o que está longe de ser o suficiente para possibilitar uma manutenção qualificada pela equipe local. Como documentação técnica devemos entender o fornecimento de: • manual de serviço: • manual de operação; • esquemas mecânicos; • esquemas eletrônicos; • esquemas pneumáticos;
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
e procedimentos de calibrado; e lista de equipamentos de calibrado; e procedimentos de manutenção preventiva; e lista de peças com maior freqüência de reposição e
respectivo código.
- Prazo de garantia Para alguns tipos de equipamentos, é comum
que o prazo de garantia normalmente oferecido pelos fornecedores/fabricantes seja menor que 12 meses. Em caso de justificativa insatisfatória pelo fabricante/fornecedor dos motivos desta redução, é recomendada a solicitação através do edital do prazo mínimo de garantia igual a um ano.
Um ponto de extrema importância a ser enfocado sobre garantia é o prazo real da mesma. Embora a garantia dada seja de um ano, em caso de quebra do equipamento, o tempo de paralisação para reparo pode ser bastante grande. Assim, é importante que durante o processo de aquisição, seja incluída uma ou mais cláusulas, que obriguem o fornecedor/fabricante a estender o período de garantia por igual, caso o equipamento fique paralisado por mais de 10( dez) dias. Para o caso de equipamentos importados, esta negociação deve ser mais rigorosa tendo em vista o longo tempo necessário para a importação de partes e peças.
- Competência técnica do licitante Mesmo que a unidade de saúde já disponha de
equipes de manutenção, é necessário que o fabricante/fornecedor possua uma equipe de manutenção própria ou de representantes autorizados, tecnicamente capaz de reparar o equipamento em um curto espaço de tempo e a um custo compatível àqueles praticados no mercado. Não é raro principalmente para equipamentos imp011ados, vendidos e mantidos por representantes nacionais, a falta de pessoal especializado na manutenção dos mesmos. Embora em caso de conflitos seja possível uma ação judicial, nenhuma das partes sai vencedora, tendo em vista o prejuízo social causado pela longa paralisação do equipamento. Assim, é importante estabelecer quem será o responsável pela manutenção do equipamento durante e após o período de garantia. É sugerido então uma pesquisa com outros EASs que já possuam este equipamento para pesquisar o comportamento do fornecedor em casos de manutenção.
Responsabilidades por falhas técnicas do equipamento
Para alguns fornecedores menos idôneos, sua responsabilidade para com o equipamento tennina no recebimento financeiro. Assim, o mesmo não encara como de sua responsabilidade quando após algum tempo de utilização do equipamento, este apresente falhas de projeto, defeitos de fabricação ou desgaste excessivo de partes e peças. Esta situação onera ainda mais o comprador pela substituição ou alteração de partes do equipamento. É necessário que no contrato de aquisição (edital de licitação), o fornecedor saiba que
42
durante um determinado período pós-aqms1çao (normalmente 2 anos), ele é totalmente responsável por estes tipos de problemas que venham a ocorrer.
- Treinamento Para EASs que já possuam equipes de
manutenção ou que estas se encontrem em fase de implantação, é de extrema importância que seja solicitado ao fornecedor a obrigatoriedade de treinamento de uma ou duas pessoas da equipe interna em cada aquisição. Esta cláusula é fundamental para o bom funcionamento do grupo de manutenção, tendo em vista a grande dificuldade que a maioria dos fornecedores irão impor para a execução do treinamento, após o pagamento do equipamento. Por um outro lado, treinamento envolve custo adicional para o fornecedor e normalmente representa um acréscimo no valor total do equipamento.
- Testes técnicos e clínicos do(s) equipamento(s) Para o caso de tipos e modelos de equipamentos
cujo EAS não tenha experiência quanto a qualidade e operação, é importante que estes sejam submetidos a uma série de testes clínicos e técnicos prévios à escolha definitiva do fornecedor. Para os testes clínicos, o equipamento deverá permanecer em operação na área clínica durante uma semana, no mínimo. Para os testes técnicos, o prazo deverá ser estabelecido pela equipe técnica, de acordo com os recursos disponíveis para o trabalho. Assim, durante o processo de seleção do fornecedor do equipamento, é importante negociar com os mesmos para que cedam o equipamento para testes durante um determinado período. Isto possibilita ao grupo de avaliação das propostas, o acesso a um maior número de informações para julgamento das mesmas.
Para casos onde os equipamentos são bastante sofisticados e/ou não possam ser instalados no EAS, é interessante que a equipe faça visitas em outros EASs que já disponham do mesmo equipamento. Neste caso, o pessoal técnico e clínico deverá elaborar um conjunto de perguntas sobre as características técnicas e clínicas do equipamento. Estas perguntas devem ser feitas aos operadores e ao grupo de gerenciamento da manutenção. Embora mais caro, a adoção deste procedimento poderá economizar muitos dissabores técnicos e financeiros por parte do pessoal do EAS.
- Outras exigências 1 - Verificação da proximidade do representante técnico para manutenção do equipamento a ser adquirido. O custo de transpo11e e diárias de um técnico para execução de serviços de reparo, em cidades distantes da oficina de manutenção, pode tornar inviável o reparo do equipamento. Assim, para equipamentos que atendam as qualificações exigidas em edital, é aconselhável a escolha daquele cujo representante técnico esteja mais próximo ao EAS. 2 - Dependendo do equipamento a ser adquirido, mesmo que o EAS possua um grupo de manutenção, será necessário a utilização de contratos de manutenção corretiva e preventiva após o período de garantia. Nestes casos seria interessante, para comparação na
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
avaliação das propostas, solicitar aos fornecedores o valor atual de seu contrato de manutenção, assim como uma copia deste contrato para verificação das condições de manutenção. Não só devido à distância mas também à mão-de-obra especializada, em casos de inexistência de um contrato de manutenção (manutenção por demanda), os representantes autorizados costumam cobrar preços que poderão inviabilizar, durante um certo período, o reparo do equipamento para a obtenção de recursos financeiros. Desta maneira, é importante analisar as cláusulas contratuais para verificar: e número de visitas para manutenção corretiva; e número de manutenções preventivas e o trabalho
que será executado; e as responsabilidades do fabricante para com o
equipamento; os custos extra-contratuais envolvidos para a manutenção;
e as responsabilidades do contratante. 3 - Fornecimento de uma lista de peças de reposição, com valor aproximado de 10% do valor do equipamento, e determinada pelo seu histórico de falhas; 4 Garantia de atualização do "software de processamento de dados e/ou imagem" por um período mínimo de 2 anos; 5 - Definição clara no contrato de aquisição sobre quem é o responsável pelo transporte dos equipamentos no Brasil até o local da entrega, envolvendo também a definição do tipo de cobertura e pagamento do seguro sobre o equipamento que está sendo adquirido, até a instituição que o adquiriu; 6 - Esclarecimento ao fornecedor de qual é a fonte financiadora, o sistema de pagamento e quais os mecanismos a serem utilizados pelo comprador para o recebimento e aceite do equipamento. Deve ficar explícito ao fornecedor sob quais as condições o equipamento será considerado entregue e aceito pelo EAS, cabendo só então o direito ao recebimento por parte do fornecedor; 7 - Especificar no contrato/edital, a responsabilidade das despesas para a instalação do equipamento; 8 - Especificar no contrato/edital que o fornecedor
selecionado deverá informar antecipadamente, as necessidades de pré-instalação de cada equipamento, não sendo autorizado o pagamento do mesmo enquanto não for confirmado o perfeito atendimento destas instalações, identificadas e reconhecidas através de inspeção local realizada pelo próprio representante ou firma por ele credenciada. Deverá ser previsto o prazo máximo para o atendimento das necessidades de pré-instalação, pois isto influirá na data de liberação do pagamento. O fornecedor não poderá ser penalizado pela não instalação do equipamento, quando o atraso for causado pelo comprador. 9 - necessidade de treinamento técnico de igual teor e profundidade àquele fornecido a seu próprio corpo técnico, cabendo todas as despesas decorrentes do atendimento desta exigência ao próprio fornecedor, a
43
qual, a seu critério poderá incluir no preço final do equipamento.
- Determinação das cláusulas para aquisições internacionais
Além das cláusulas mencionadas acima para aquisição no mercado nacional, algumas exigências deverão ser adicionadas em caso de importação, as quais são peculiares a cada EAS e específicas para cada tipo de equipamento.
Para o caso de entidades públicas, os critérios de avaliação das propostas podem variar de acordo com cada instituição. Neste caso, é fundamental que estes critérios sejam esclarecidos no edital de licitação. Isto possibilita o acesso a informações não disponíveis nos catálogos do equipamento, assim como esclarecimentos aos fornecedores quanto ao processo utilizado para seleção das propostas.
Para aqms1çoes internacionais, toma-se necessário um cuidado ainda maior, pois erros de planejamento e aquisição poderão resultar em dificuldades futuras, tanto de ordem financeira como de ordem técnica. Para minimizar estes tipos de problemas, a equipe de aquisição deverá estar atenta e exigir, através do edital de licitação (entidades públicas) ou de solicitação de propostas (entidades privadas), itens tais como: a) observância da legislação Federal em vigor; b) obrigatoriedade de representante no Brasil; embora
atualmente obrigatório por lei federal (nº 8666), seria importante conhecer a idoneidade do representante e a quantos anos o equipamento é comercializado no país de origem e no Brasil.
É interessante solicitar uma declaração do fornecedor que o preço "FOB" colocado na proposta é o mesmo praticado para o país de origem.
Exigir a clara definição sobre as condições incluídas no preço do equipamento normalmente as cotações são em preço "F.O.B. . Este último por definição, é o preço com todas as despesas incluídas até o local de embarque para o a que se destina, incluindo custos com seguro de transporte interno no país de origem, embalagem para transporte internacional e transporte até o ponto de embarque (porto ou aeroporto), sem quaisquer custos adicionais. Entretanto, algumas empresas embora cotem o preço F.O.B. interpretam que este seja o preço na fábrica, o que difere da definição de preço F.O.B. ("FREE ON BOARD"), ou seja, livre de despesas até o embarque no meio de transporte internacional utilizado);
Uma vez caracterizado o equipamentos a ser adquirido e estabelecido todas as exigências contratuais mencionadas acima, é então possível a realização das próximas etapas, ou seja: 1. elaboração do contrato de aquisição/edital (se
órgão público); 2. anúncio aos fornecedores (empresa privada) ou
abertura do processo de licitação (órgão público); 3. recebimento e avaliação da documentação; 4. aguardar os prazos para recursos (órgão público); 5. abertura e avaliação das propostas classificadas;
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
6. consolidação das propostas vencedoras por fornecedor;
7. conferência com a equipe de saúde; 8. cálculo do custo total; 9. apresentação dos resultados à coordenação do
projeto; 1 O. homologação e adjudicação da proposta
vencedora; 11. assinatura do contrato; 12. publicação do contrato (órgão público);
Algumas das 12 etapas acima mencionadas, necessitariam de uma maior discussão que o espaço limitado neste trabalho não permitiria. Como exemplo poderia citar as dificuldades que o grupo de aquisição enfrenta para selecionar em termos técnicos, gerenciais e financeiros cada uma das propostas enviada pelos fornecedores. Uma outra longa discussão poderia ser feita com relação a consolidação das propostas, ou seja, se uma das propostas tiver o menor preço mas não atende algumas das exigências contratuais e outra muito mais cara atende a todas as exigências feitas, qual o tipo de negociação que poderia ser utilizada. Conforme exemplificado para estas duas etapas, a equipe de aquisição enfrentaria dificuldades em algumas outras etapas tais como discussão com a coordenação, discussão com a equipe de saúde e homologação das propostas. Assim, para todas estas etapas seria importante que a equipe de aquisição desenvolvesse metodologias que a auxiliaria a reduzir as dificuldades que certamente irão enfrentar.
- Critérios para recebimento O recebimento técnico do equipamento deve sempre
ser executado por um grupo composto de técnico(s) e médicos(s) ou enfermeira(s) para que sejam avaliadas todas as condições impostas pelo contrato/edital. Somente após o atendimento destas condições e com a liberação deste grupo, é que o pagamento deverá ser efetuado. São freqüentes a entrega de equipamentos com partes faltantes ou danificadas, material técnico faltante, fora das especificações técnicas e sem os ajustes e calibrações necessárias à operação.
Durante o processo de recebimento, deve ser exigido do fornecedor que verifique e reconheça por escrito que todas as exigências técnicas e ambientais estão de acordo com aquelas exigidas pelo próprio fabricante (informadas no período de pré~instalação ). Este procedimento é de extrema importância para que não haja dúvidas quanto a adequação do ambiente para operação do equipamento.
- Instalação Estando as necessidades de pré-instalação atendidas
pode-se efetuar a instalação do equipamento, segundo o cronograma previamente estabelecido com o fornecedor. Deve ser feito o acompanhamento da instalação pelo pessoal técnico capacitado, pois se trata de uma primeira oportunidade de aprendizado sobre o equipamento recém adquirido. Nesta fase é comum a apresentação de problemas técnicos ou necessidade de que seja feita uma calibração.
Durante a instalação, deve ser feita uma anotação bastante detalhada de todos os dados sobre o equipamento,
44
pois estas informações serão utilizadas futuramente na formação de um banco de dados, necessanos ao acompanhamento da vida útil do equipamento. Além das informações de aquisição, tais como: custo, data de aquisição, forma de aquisição, etc., deverão ser anotadas informações sobre: fornecimento de documentação técnica e qual o seu tipo (se manual de operação, manual de manutenção corretiva e preventiva, lista de peças, etc.), quais partes e acessórios acompanham o equipamento (anotar seus respectivos números de série e sua localização), tensão de alimentação, potência do equipamento, tipo e características de baterias quando presente, tipos de fusíveis e dispositivos de proteção, tipos de lâmpadas, gases, etc.
No final, deverão ser realizados testes de segurança elétrica, radiológica, etc., conforme o tipo de equipamento, com o objetivo de efetuar a aprovação técnica e início dos testes clínicos, antes de se dar o aceite final e conseqüente liberação do pagamento.
Estando a área técnica e clínica de acordo quanto ao funcionamento do equipamento, deverá ser encaminhado um parecer final à administração (ou setor de compras) informando que poderá ser autorizado seu pagamento, conforme as condições e prazos estabelecidos no contrato de fornecimento.
Seguindo-se a esta fase, temos o período de garantia, durante o qual recomenda-se que seja efetuado o treinamento técnico para que, após o período de garantia, o setor técnico da instituição esteja preparado a realizar sua manutenção.
Comentários
O método de colocação das exigências técnicas e administrativas sugeridas no trabalho é bastante utilizado pela maioria dos sistemas de aquisição de EASs. Entretanto é uma forma bastante clássica de procedimento de aquisição e em alguns casos, se não existe equipe técnica no EAS ou a mesma não está familiarizada com a operação do equipamento, o material entregue pode não atender às exigências feitas no contrato/edital, e mesmo assim ser recebido e pago.
Podemos citar exemplos onde a bomba de infusão solicitada no contrato deveria apresentar como uma das características uma exatidão de no máximo 3%. Diversos fabricantes que participaram do edital apresentaram equipamentos cuja exatidão chegava a até 8%. Caso o EAS não possuísse uma equipe técnica capaz de testar esta característica, o equipamento seria recebido, pago e utilizado para a infusão de drogas em crianças prematuras onde a taxa de infusão assim como a exatidão devem ser extremamente controlados. Importante salientar que o fabricante tem pouca responsabilidade sobre o material fornecido uma vez que o EAS o aceita e paga sem questionar
Uma nova forma de procedimento de aquisição vem sendo desenvolvida por alguns hospitais. Ao invés do comprador listar as características exigidas em um determinado equipamento, o comprador envia um questionário ao fornecedor, onde é solicitado uma série de informações sobre as características do equipamento. Neste caso, as informações dadas pelo
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
fornecedor devem ser assinadas por uma pessoa na empresa que possa ser juridicamente responsabilizada em caso de informações propositalmente incorretas.
Este questionário enviado ao fornecedor, deve conter perguntas cujas respostas possam ser analisadas e utilizadas em um processo comparativo de avaliação. São atribuídos notas para cada uma das características técnicas e gerenciais do equipamento, que atenda às exigências do comprador.
Exemplificando este processo; suponha que uma das perguntas do questionário solicita esclarecimentos sobre o prazo de garantia concedido após aquisição para um detenninado equipamento a ser adquirido pelo EAS. A resposta de cada fornecedor é colocada em uma tabela comparativa onde aquele que concedeu o maior prazo de garantia recebe a maior nota e aquele com menor prazo recebe a menor nota. O mesmo pode ser feito com todas as outras respostas enviadas pelo fornecedor sobre o equipamento em questão. Para a conclusão deste processo, é feita a somatória das notas atribuídas a cada característica técnica do equipamento (alanne, segurança, assessórios, sensibilidade, etc.), assim como para cada exigência gerencial atendida (prazo de garantia, fornecimento de peças de reposição, custo do contrato de manutenção, etc.). O equipamento que recebeu a maior nota ou estiver acima de uma nota de corte previamente estabelecida estará tecnicamente classificado pela equipe de aquisição para possível compra.
A implantação desta nova sistemática de aquisição certamente dará um maior trabalho para a equipe de aquisição compilar todos os dados. Por um outro lado, a probabilidade de receber equipamentos com características que não atendam ao que foi solicitado poderá ser bastante reduzido.
Como última sugestão neste trabalho, é importante mencionar que os processos de aquisição estão ficando cada vez mais complexos e caros para um EAS. Os custos podem ser muitas vezes aumentados se a aquisição for feita de modo errado, ou seja, equipamento que não atende as expectativas do como clínico, especificações técnicas erradas, exigências não feitas ou não cumpridas, falta de documentação adequada para manutenção, etc. Assim, cada vez mais a presença de um especialista na área de equipamentos médico-hospitalares, como o Engenheiro Clínico é necessária. A participação na equipe de uma pessoa com conhecimento somente em manutenção é importante, mas atenderia parcialmente às exigências técnicas relativas aos equipamentos a serem adquiridos. As outras exigências para o gerenciamento da manutenção e avaliação da tecnologia dificilmente seriam lembradas ou elaboradas de maneira apropriada
Referencias
[1] Programa Nacional de Educação e Qualificação Profissional na Saúde - Formação de Profissionais para a Área de Equipamentos Médico-hospitalares (Documento Síntese); Brasília, Abril de 1997.
[2] Panorama Setorial - Análise Setorial: Sistema hospitalar; Gazeta Mercantil Vol. II; Dez 1998
[3] NBR-IEC 601. l Prescrições Gerais para Segurança. Parte 1- Equipamentos Eletromédicos
ANAIS DO CBEB'2000
Engenharia de Reabilitação e Dispositivos Assistenciais: Estado da Arte e Perspectivas
José Carlos Teixeira de Barros Moraes
Professor/Pesquisador do Laboratório de Engenharia Biomédica da Escola Politécnica da USP Av. Prof. Luciano Gualberto - Travessa 3 - nº 158 - Cidade Universitária - São Paulo - SP
Resumo - Este artigo visa apresentar o estado da arte atual e as perspectivas, incluindo tendências futuras, da Engenharia de Reabilitação e Dispositivos Assistenciais, conforme solicitação dos Organizadores do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.
Palavras-chave: Engenharia de Reabilitação, Dispositivos Assistenciais, Estado da Arte, Perspectivas, Tendências
Abstract - This paper presents the state of the art and the perspectives, including future tendency, of the Rehabilitation Engineering and Assistive Devices, according to invitation of the XVII Brazilian Biomedical Engineering Congress Organisers.
Key-words: Rehabilitation Engineering, Assistive Devices, State ofthe Art, Perspectives, Tendency
Introdução
A Engenharia de Reabilitação visa utilizar as técnicas, métodos e processos da engenharia no auxílio aos deficientes humanos de uma maneira geral, objetivando tipicamente uma melhoria em sua qualidade de vida, muitas vezes associada a uma reintegração à sociedade após um acidente. Normalmente os usuários beneficiários de seus resultados são pacientes com deficiências tisicas, principalmente neuro-motoras, sensoriais (visuais, auditivas, tácteis), cardíacas, pulmonares e urinárias, apesar que também há a possibilidade de aplicação em deficiências psíquicas. A Engenharia de Reabilitação tem uma atuação tão abrangente na atualidade que a própria divisão das atividades exercidas em Engenharia Biomédica, anteriormente incluindo apenas a Bioengenharia, a Instrumentação Biomédica e a Engenharia Clínica, passou a considerá-la como um quarto ramo nessa classificação.
A vasta abrangência da Engenharia de Reabilitação, as limitações de espaço inerentes a este texto e a determinação explicitada no convite dos Organizadores do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica de que este trabalho será editado nos Anais desse Congresso como primeiro trabalho dentro da respectiva área e abrirá as apresentações na primeira sessão técnica destinada ao referido tema acan-etaram na possibilidade e necessidade de ater sua abrangência apenas à Engenharia de Reabilitação e Dispositivos Assistenciais aplicados a pacientes com deficiências tisicas neuro-musculares e incontinência urinária, inclusive porque todos os artigos a serem apresentados na referida sessão técnica pertencem a esta categoria. Entretanto, esta limitação ainda resultará em uma visão bastante ampla da área pois a reabilitação de
pacientes com essas deficiências também exige um adequado desempenho de suas funções cárdiorespiratórias, de modo a resultar em um desempenho metabólico e energético tal que propicie uma qualidade de vida adequada. Por outro lado, os dispositivos assistenciais exigem um adequado uso de biomateriais, com especial atenção à biocompatibilidade, da mesma forma resultando em um significativo campo de aplicação.
Devido à abrangência do assunto sendo analisado neste artigo, será dada especial ênfase à indicação de referências bibliográficas atualizadas e que por si só poderiam dar uma razoável noção tanto do estado da arte vigente como das perspectivas e tendências futuras. Este trabalho também se baseará essencialmente nos artigos apresentados no 2000 W orld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering [l], realizado no mês de julho de 2000 em Chicago/USA e no Workshop/Simposium sobre Análise do Movimento Humano [2], realizado como pré-evento do mencionado Congresso Mundial.
Estado da Arte Internacional
A Engenharia de Reabilitação de pacientes com deficiências fisicas neuro-musculares se baseia essencialmente nos fenômenos da biomecânica. As Referências [3],[4], [5], [6], [7] e [8] apresentam a essência e os fundamentos biofisicos dessa área, observando-se que as Referências [5], [6] e [7] são mais destinadas à postura, equilíbrio e movimento, a última delas incluindo importantes e não triviais aspectos de controle do movimento, balanço e coordenação do "sistema biológico" em estudo, animal ou humano, incluindo perspectivas de neurociência, engenharia e modelagem matemática. Observe-se que a Neurociência
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Reabilitativa, apresentada com razoável detalhamento na Referência [7], atualmente tem um realce tão grande que normalmente possui sessões específicas nos periódicos internacionais, tanto da área médica com em engenharia, como ocorre, por exemplo, na importante revista IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering . A Referência [8] apresenta os princípios de biomecânica com uma orientação altamente clínica, também muito importante ao engenheiro biomédico.
Observa-se, pelo Congresso Mundial 2000 de Chicago, que a Biomecânica continua atuando principalmente em ergonomia, cinemática e dinâmica aplicadas ao estudo de movimentos humanos e animais, ortopedia, biomecânica espinal, mecânica das juntas do corpo humano, biomecânica da estrutura óssea, mecânica do tecido mole e aplicações em ortodontia, órtoses e próteses. Desse conjunto sobressai-se o estudo de movimentos humanos, cada vez mais realizado em sofisticados laboratórios e salas de atendimento clínico específicos a esta análise, em alguns casos denominados Laboratórios de Marcha [11]. O Workshop/Simposium sobre Análise do Movimento Humano realizado como pré-evento do mencionado Congresso Mundial 2000 forneceu impmiantes informações sobre este vasto campo da Reabilitação. Denominado " Pedriatic Gait: A New Millenium in Clinicai Care and Motion Analysis Technology", apesar de ter sido concebido para a específica aplicações em marcha pediátrica, considerou aspectos de estudos de movimento humano em geral, tanto sob o ponto de vista médico como tecnológico ou de engenharia.
As apresentações no próprio evento e alguns poucos artigos adicionais inseridos no livro resultante do evento[2], levam à conclusão que não há muita novidade nesta área, mesmo em nível internacional, inclusive ainda apresentando algumas deficiências já detectadas há muito tempo, tais como a falta de uma padronização universalmente aceita para a colocação de marcadores, a falta de um protocolo padrão para análise do movimento visando aplicações clínicas e a ausência de um procedimento sistemático para a verificação adequada do desempenho dos vários equipamentos médicos tipicamente existentes neste tipo de Laboratório, principalmente quanto à repetibilidade, confiabilidade e precisão[l2]. Considerando-se que trata-se de um sistema de medição, o descuido com exigências metrológicas bastante estudadas e bem estabelecidas é inaceitável, mesmo considerando-se que o clínico na atualidade utiliza este tipo de laboratório principalmente em relação às informações qualitativas fornecidas pelo sistema tridimensional de análise do movimento . Entretanto, o Workshop mostrou que há algumas importantes iniciativas isoladas, por exemplo, através dos trabalhos " Methodology for Developing a Multi-center Clinicai Research Study", de S. S. Thomas e "A Minimum Standardarized Gait Analysis Protocol: Development and Implementation by the Shriners Motion Analysis Laboratory Network(SMALnet), de R. B. Davis. Um outro aspecto que chama muito a atenção é o modismo das redes neurais, tipicamente usadas muito mais para o( s) autor( es) tentarem mostrar um aparente "aplicação moderna" do que pela efetiva
contribuição científica e/ou tecnológica. Um exemplo típico desta constatação, dentre muito encontrados no Congresso Mundial e no citado evento pré-Congresso, é o artigo de S.R.Simon, médico bastante conceituado na área em seu país, denominado "Improving the Efficacy ofMotion Analysis as a Clinica! Tool through Artificial Intelligence Techniques". Entretanto, também estão sendo realizados trabalhos muito úteis e aplicáveis clinicamente, como por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento de D. Childress e R. Weir entitulado "Portable Devices for the Clinicai Measurement of Gait Perfon11ance and Outcomes". A preocupação com a avaliação cárdio-respiratória e gasto energético durante o movimento não tem sido tão intensa como no início desta década, pelo menos de acordo com o Congresso Mundial e o Workshop, apesar de ainda existirem alguns estudos isolados, como o de S. Augsburger através de "Comparison of Volumetric Oxygen Consuption to Gait Mechanical Energy in Normal and Pathological Gait''.
Em relação à Engenharia de Reabilitação propriamente dita, a atuação mundial continua sendo em mobilidade, balanço e controle motor, reabilitação sensorial, estimulação elétrica funcional, próteses, Tecnologia Assistencial e Tecnologia Terapêutica. O Congresso Mundial apresentou três sessões, denominadas Engenharia do Desempenho Humano, Desafios e Possibilidades Promissoras no Futuro e Medidas de Resultados e Avaliação em Engenharia de Reabilitação, que visavam uma avaliação dos ganhos recentes e da perspectiva imediata. A conclusão obtida foi promissora. Um importante resultado desses estudos recentes é a importância prática da aplicação da Engenharia Neural em Engenharia de Reabilitação, conforme apresentado por C. Robinson em "An Overview of Neural Engineering". Talvez não por coincidência, os organizadores do Congresso Mundial incluiram no mesmo tema Engenharia Neural e Sistemas Neuromusculares, englobando Controle motor, Neuroengenharia, Sistemas motores e FES, Plasticidade neural, prótese sensoriais, microeletrodos e sensores micromaquinados, registro e estimulação de nervos periféricos, Potenciais evocados, EEG, EMG e GSR ( Galvanic Skin Response). A completar os estudos nesta área acrescente-se ainda vários resultados de modelagem fisiológica, dentre os quais sobressai-se, particularmente para os amantes da Teoria da Identificação de Sistemas, o trabalho de D. Westwick e R. Kirney entitulado "Identification of a Hammerstein Model ofthe Stretch Reflex EMG using Separable Least Squares".
As apresentações referentes a Dispositivos Assistenciais constituíram uma sessão independente no Congresso Mundial, ressaltando-se o uso de Inteligência Artificial no auxílio a pacientes com demência, apresentação de diferentes tipos de cadeiras de rodas, aplicações de Robótica na Reabilitação Humana e uso da Tecnologia Assistencial para a reabilitação da linguagem usando uma abordagem cognitiva. Verificase ainda que outras importantes contribuições para o desenvolvimento de dispositivos assistenciais pertencem à área de biomateriais, onde bio-compatibilidade está
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
cada vez mais tornando-se quase uma área independente, não apenas pela sua abrangência e importância no aspecto de segurança mas também pela enorme aplicabilidade. A grande variedade e complexidade de implantes e órteses não pode atingir todo seu potencial sem levar-se em consideração as necessárias precauções de bio-compatibilidade.
Muito pouco se apresentou no Congresso Mundial sobre incontinência urinária, sobressaindo-se apenas dois trabalhos: "Design and implementation of a multichannel urinary incontinence prosthesis" de J. Mouine et al. e "Investigation of urethral flow and cross-sectional area using video-urodynamics" de M. Damaser et ai. Entretanto, observe-se que a literatura tem apresentado recentemente alguns esparsos resultados de pesquisas relativas a incontinência urinária, principalmente através de estimulação elétrica funcional. Por exemplo, merece menção a referência [ 13 ], publicada bem antes do Congresso Mundial 2000, relativa a avaliação de um eletrodo para estimulação funcional da bexiga.
Perspectivas e Futuras Tendências Internacionais
As perspectivas internacionais em Engenharia de Reabilitação e Dispositivos Assistenciais são muito promissoras, por exemplo, com o desenvolvimento de próteses e ó1teses cada vez mais sofisticadas no projeto porém simples na realização, desde que aplicação do critério custo-beneficio torna-se cada vez mais necessária visando a utilização do desenvolvimento científico tecnológico ao tratamento de massa, ou seja, com o mínimo custo possível. Em relação a esta problemática, várias sessões foram realizadas no Congresso Mundial 2000, visando incentivar discussões e obter-se conclusões sobre o Balanço Custo-Beneficio na Tecnologia do Atendimento à Saúde. As próprias Tecnologias Assistenciais e Terapêuticas terão que minimizar a função custo segundo esse critério, sob pena de serem substituídas.
A estimulação elétrica funcional provavelmente continuará constituindo-se em uma boa alternativa médica porém utilizando eletrodos implantáveis e estimuladores cada vez mais funcionais e miniaturizados. Entretanto, as pesquisas da eletrofiologia e biomecânica deverão continuar ainda por um bom tempo desde que problemas relativos a fadiga e outros aspectos fisiológicos que diminuem a aplicabilidade e a eficácia do método ainda continuam em aberto. A biomecânica ainda tem muito a contribuir na Engenharia de Reabilitação, inclusive nas áreas de modelagem e simulação onde sofisticados instrumentos de medição e de informática possibilitam atualmente níveis de· precisão e complexidade sequer imaginados décadas atrás.
A análise do movimento humano em laboratórios especialmente instalados para esse fimjá se constitui em um método de avaliação clínica consolidado, exigindo apenas os cuidados anteriormente mencionados neste artigo. Considerando-se os avanços e a qualidade dos equipamentos e ferramentas de informática atuais, aliados à utilidade e a precisão das técnicas de
processamento de imagens disponíveis, deverá certamente oferecer contribuições valiosíssimas tanto à medicina como à própria biomecânica e à ciência em um futuro muito próximo.
A urologia, a urodinâmica e a reabilitação de deficiências urinárias, tal como a incontinência urinária, aparentam ainda não ter se beneficiado da Engenharia Biomédica como ocorreu com outras áreas da medicina. Tanto as publicações em literatura especializada escrita como os trabalhos de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos divulgados em Congressos Internacionais levam a conclusão que ainda há quase tudo a se descobrir e desenvolver nesta particular aplicação médica. Os poucos centros existentes em todo o mundo especializados nestes tratamentos através de técnicas utilizando modernas descobertas da Engenharia Biomédica aparentam demonstrar esta constatação. Espera-se que este quadro se modifique rapidamente e atinja o nível de qualidade e aplicabilidade observáveis em quase todas as outras áreas onde a engenharia biomédica atua e contribui significativamente na atualidade.
Finalmente, observe-se que o grande potencial da Engenharia de Reabilitação ainda está por ser aproveitado, inclusive em Dispositivos Assistenciais: as modernas técnicas de Identificação e Controle/ Regulação de Sistemas Dinâmicos, hoje em dia significativamente desenvolvidas e sofisticadas no campo da engenharia mas ainda incipientemente aplicadas na área biomédica, deverão em futuro muito próximo provavelmente acarretar em uma radical mudança de terapias, eficiência nos diagnósticos e até mesmo nos procedimentos cirúrgicos[l4]. Internacionalmente, esta era já é quase realidade em alguns centros bem adiantados.
Estado da Arte e Perspectivas no Brasil
Apesar das atividades em biomecânica terem sido iniciadas há um razoável tempo em nosso país e esta área ter um nível de atuação e abrangência que talvez até justifique a existência de uma Sociedade Científica própria e um Congresso independente da Engenharia Biomédica, infelizmente, a Engenharia de Reabilitação e o desenvolvimento de Dispositivos Assistenciais no Brasil ainda está em um estado bastante primitivo. A própria interação muito precária e instável de engenheiros biomédicos e/ou clínicos com centros de atendimento à saúde, tipicamente hospitais neste caso, demonstra esta afirmação.
Apesar do conhecimento dos profissionais atuantes na área ser bastante atualizado e provavelmente equivalente ao dos correspondentes colegas do exterior, bem como da existência de alguns sofisticados laboratórios de estudos de movimento e razoavelmente bem equipados laboratórios de pesquisa universitários, a aplicabilidade dos resultados obtidos em nosso país neste campo de aplicação é insipiente, relativamente ao que poderia ser pelo próprio potencial que o mercado oferece com pacientes e deficientes em quantidade suficiente para que o quadro fosse significativamente diferente. Além disso, infelizmente, a técnica de
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
estimulação elétrica funcional aparentemente ainda não seduziu um profissional da área médica para que se viabilize os necessários implantes.
Uma análise, mesmo superficial, dos trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica 200, infelizmente corrobora a afirmação anterior: só dez trabalhos serão apresentados na sessão técnica ERDA, realizados sob a supervisão de apenas sete diferentes Pesquisadores Responsáveis pelos projetos em nove centros de pesquisa, localizados em apenas sete cidades. Considerando as dimensões de nosso país, a quantidade de hospitais, inclusive os universitários, a quantidade de deficientes fisicos existente em todo o Brasil e até mesmo a quantidade de centros de pesquisa em engenharia biomédica/clínica brasileiros, os números apresentados na sessão ERDA são irrisórios e vergonhosos, indicando claramente uma grave deficiência até mesmo da Política de Saúde na área de Reabilitação. Além disso, há apenas um trabalho sobre reabilitação de pacientes com insuficiência renal crônica, um trabalho sobre transdutor para monitoração de forças exercidas pelos membros superiores, um trabalho sobre FES aplicado a incontinência urinária, um trabalho sobre dispositivo emulador de mouse para tetraplégicos ou portadores de doença degenerativa do sistema neuro-muscular, quatro trabalhos sobre estimuladores para FES, um trabalho sobre controlador adaptativo neurofuzzy para geração da marcha via FES e um trabalho sobre sistema de comunicação para tetraplégicos. A própria listagem fala por si. Entretanto, se a apresentação dos trabalhos demonstrar que todos são aplicáveis clinicamente, pode -se concluir que ainda há muito, ou quase tudo, por fazer, mas o começo pelo menos está sendo bom ...
Referências
[l] CHICAGO 2000, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Medical Physics, Vol. 27, Number 6, June 2000. CDROM with Digest of Papers of the 2000 W orld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering and the Proceedings of the 22nd Annual Internacional Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
[2] G.F. Barris and P.A. Smith, 2000 Pediatric Gait: A New Millenium in Clinical Care and Motion Analysis Technology, Instititute of Electrical and Electronics Engineering, Inc, 2000
[3] Y.C.Fung, " Biomechanics - Mechanical Properties of Living Issues, 586 pp, Springer-Verlang, New York,, 1993
[ 4) R.B.Martin, " Skeletal Tissue Mechanics, 392 pp, Springer-Verlang, New York,, 1998
[5] N. Ozkaya, M. Nordin and D. Leger, " Fundamental of Biomechanics - Equilibrium, Motion and Deformation, 414 pp, Springer-Verlang, New York, 2nd Edition, 1999
[6] A.Tozeren, " Human Body Dynamics - Classical Mechanics and Human Movement, 392 pp, Springer-Verlang, New York,, 1999
[7] J. Winters, " Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement, 664 pp, Springer-Verlang, New York,, 2000
[8] G.L.Lucas, F.W.Cooke and E.A.Friis, " A Primer of Biomechanics, 316 pp, Springer-Verlang, New York,, 1998
[9) F.H. Silver and D.L. Christiansen, " Biomaterials Science and Biocompatibility, 376 pp, SpringerVerlang, New York,, 1999
[10) W. Maurel. Y. Wu, N. M. Thalmann and D Thalmann, " Biomechanical models for Soft Tissue Simulation, 192 pp, Springer-Verlang, New York,, 1998
[11) J.C.T.B. Moraes, Instrumentação para Análise da Biodinâmica do Movimento Humano, Capítulo 1 do Livro " A Biodinâmica do Movimento Humano e suas Relações Interdisciplinares" editado por Alberto Carlos Amadio e Valdir José Barbanti, Editora Estação Liberdade, pp. 15 a 44, ISBN 85-7448-019-3, 2000, São Paulo, SP
[12) J.C.T.B. Moraes, Fundamentos de Metrologia aplicados a Laboratórios de Marcha, Capítulo 6 do Livro " A Biodinâmica do Movimento Humano e suas Relações Interdisciplinares" editado por Alberto Carlos Amadio e Valdir José Barbanti, Editora Estação Liberdade, pp. 113 a 132, ISBN 85-7448-019-3, 2000, São Paulo, SP
[13] J. S. Walter, J. S. Wheeler, W. Cai, W. W. King, and R. D. Wuster, Evaluation of a Suture Electrode for Direct Bladder Stimulation in a Lower Motor Neuron Lesioned Animal Model, IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, Vol. 7, No. 2, pp. 159-166, June 1999
[14] H. Qi, D. J. Tyler, and D. M. Durand, Neurofuzzy Adaptive Controlling of Selective Stimulation for FES, IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, Vol. 7, No. 2, pp. 183-192, June 1999
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Ultra-som: transdutores e instrumentação biomédica
Eduardo T. Costa
Depai1amento de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (DEB/FEEC) e Centro de Engenharia Biomédica (CEB) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Caixa Postal 6040, Campinas SP - Brasil, 13083-970 Fone: (Oxxl 9) 788-9291, Fax: (Oxxl 9)289-3346
Resumo -.O uso de ultra-som nas mais diversas áreas tem crescido continuamente ao longo dos anos. Na área médica, os equipamentos disponíveis para imagem e diagnóstico têm proporcionado aos médicos ultra-sonografistas imagens e ferramentas de auxílio ao diagnóstico de altíssima qualidade. Um dos aspectos mais importantes para a utilização do ultra-som na área medica é o fato de ser uma radiação não-ionizante e, portanto, mais segura que outros tipos de radiação. O entendimento sobre a geração, a propagação e a detecção do ultra-som e sua utilização como ferramenta de diagnóstico são explorados neste artigo, no qual uma breve revisão sobre os equipamentos é feita, procurando-se dar ao leitor uma visão das técnicas e instrumentação utilizadas, com bibliografia atualizada. Além do aspecto técnico, discutese também o trabalho desenvolvido por alguns grupos de pesquisa sobre ultra-som no Brasil.
Palavras-chave: Ultra-Som, Atenuação, Velocidade de Propagação, Transdutores, Imagens, Instrumentação.
Abstract -.The use of ultrasound in several areas has grown continuously for several years. ln the medical area, available equipment for imaging and diagnostic have provided ultrasonographists very high quality images and diagnostic tools. The most impo11ant aspect for the intense use of ultrasound in the medical field is due to its nonionizing nature and, accordingly, safer than other types of radiation. The understanding of the generation, propagation and detection of ultrasound and its use as a diagnostic tool is explored in this article, in which a brief review on equipment is carried out, trying to bring to the reader the available techniques and instrumentation, with actual references. Besides the technical aspects it is discussed the work carried out by some ultrasound research groups in Brazil.
Kev-words: Ultrasound, Attenuation, Ultrasound Velocity, Transducers, Image, Instrumentation.
Introdução
A pesquisa e o desenvolvimento de transdutores para aplicação na área médica tem sido constante ao longo das últimas décadas. Para cada grandeza a ser mensurada, diversos tipos de transdutores, de técnicas e de métodos para obtenção de medidas confiáveis destas grandezas têm sido desenvolvidos.
A busca por métodos não-invasivos para obtenção de informação sobre o funcionamento de diversos órgãos e sistemas do corpo humano e mesmo visualização de estruturas internas e detecção de possíveis patologias tem aumentado significativamente, principalmente utilizando radiação (ionizante e nãoionizante ). Dentre as radiações não-ionizantes, uma das mais seguras parece ser o ultra-som.
A utilização do ultra-som em medicina tem crescido continuamente devido ao seu baixo custo, à possibilidade de se conseguir imagens em tempo real e prover informações das propriedades elásticas dos tecidos e por ser um método não-invasivo. Tem sido largamente empregado como auxiliar no diagnóstico em diversas áreas da medicina, tais como obstetrícia e ginecologia, oftalmologia e cardiologia além de sua utilização como ferramenta comum em procedimentos terapêuticos. Para utilização na área médica a faixa de
50
freqüência das ondas ultra-sônicas se estende entre 300kHz e lOOMHz com baixa potência (10mW/cm2
) em diagnóstico, embora possa situar-se entre 25kHz e 50kHz e entre 10W/cm2 e 50W/cm2 em alguns procedimentos terapêuticos como por exemplo raspagem, corte, fragmentação e emulsificação. [1], [2],.[3].
O entendimento dos princípios básicos da geração das ondas ultra-sônicas, da sua propagação e interação em diferentes meios é de fundamental importância para se obter informação precisa sobre estes meios com este tipo de radiação. Para aplicações biomédicas, a radiação ultra-sônica (ou campo ultrasônico) é gerada pela aplicação de um sinal elétrico (pulso de cm1a duração ou salva de senóides) a um dispositivo transdutor com características piezoelétricas que (geralmente) está em contacto com a pele do paciente. As ondas geradas pelo transdutor propagam-se para o interior do corpo e interagem com os diferentes tecidos, o que faz gerar ondas (ecos) que são espalhados devido à não homogeneidade dos tecidos e propagam-se em todas as direções e também na direção do transdutor emissor. Estes ecos são detectados por este transdutor (que age como receptor) e, considerando-se conhecida a velocidade de propagação do ultra-som nos tecidos, busca-se interpretar os sinais recebidos a diferentes
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
profundidades (distâncias da face do transdutor). Dependendo da informação requerida é possível, por exemplo, visualizar estruturas internas ou estimar o fluxo sangüíneo ou a atenuação das ondas devido à diferenças de densidade entre os diversos tecidos, podendo permitir sua caracterização. Um equipamento básico de ultra-som é formado por uma unidade de geração e transmissão dos pulsos elétricos para excitação dos transdutores, uma unidade de recepção e amplificação de sinais captados pelos transdutores receptores, uma unidade de controle e processamento utilizada para configurar os parâmetros das unidades de transmissão e recepção e realizar o processamento dos sinais detectados, e uma unidade para visualização de resultados do processamento (por exemplo, imagens de estruturas e órgãos). [3], [4], [5], [6], [7], [8].
O campo ultra-sônico gerado pelos transdutores piezoelétricos (geralmente cerâmicos) tem natureza intrinsicamente difrativa e pode ser descrito de maneira simplificada pela interação das ondas diretas (geradas a partir de toda a face da cerâmica) com as ondas de borda (geradas pela periferia da cerâmica que é presa ao invólucro do transdutor) [9], [10], [11]. A difração pode ser causa de erros de medição de parâmetros que caracterizam tecidos e outros efeitos de degradação em imagens ultra-sônicas, o que faz com que se procure compreendê-la e tratá-la adequadamente. Entre as possíveis soluções, procura-se desenvolver transdutores que minimizem os efeitos da difração na medição (transdutores ou hidrofones de larga área ativa - LAH), ou que gerem campos com difração minimizada. Ainda, pode-se utilizar métodos computacionais para corrigir os efeitos da difração nas medições [3], [12], [13], [14], [15].
O desenvolvimento de instrumentação biomédica específica para tratar da radiação ultra-sônica tem experimentado grandes progressos nos últimos anos. Os equipamentos de imagem associam diferentes técnicas e provêm informações não só das estruturas anatômicas como do estado funcional dos diversos sistemas, com excelente qualidade de imagem. Isto se deve ao desenvolvimento de transdutores cada vez mais aprimorados e principalmente à utilização de eletrônica digital e de microprocessadores cada vez mais rápidos e potentes e da utilização de técnicas de processamento digital de sinais e de imagens o que tem permitido um avanço sem precedentes nas técnicas de diagnóstico por ultra-som.
Este artigo aborda alguns aspectos do ultra-som no que se refere a transdutores e à instrumentação biomédica a eles associada, e faz referência especial ao que se desenvolve nesta área no Brasil.
Transdutores e imagens 2D e 3D
A pesquisa na área de transdutores de ultra-som está em constante desenvolvimento. No início da utilização do ultra-som como ferramenta de auxílio ao diagnóstico médico, era comum o uso de transdutores circulares que faziam varredura em uma direção de uma área de interesse e as freqüências situavam-se entre lMHz e 3,5MHz. Com o advento de novas técnicas de
51
fabricação e encapsulamento das cerâmicas piezoelétricas, passou a ser comum o uso de transdutores do tipo matricial (array transducers), e o acionamento de cada elemento do array (varredura) passou a ser eletrônico. Além do desenvolvimento da eletrônica analógica e digital, a fabricação de transdutores de freqüência acima de 3,5MHz passou a ser comum. Isto facilitou a utilização do ultra-som em diversas áreas da medicina, e é comum sua utilização em oftalmologia, com transdutores operando em freqüências entre 1 O MHz e 25MHz. Ultimamente, é grande a quantidade de pesquisadores que estão desenvolvendo transdutores que chegam a operar entre 25MHz e 1 OOMHz, com aplicação direta na visualização de estruturas de artérias e vasos.
Um diagrama esquemático de um transdutor ultra-sônico de elemento único pode ser visto na Figura 1. Os elementos básicos deste tipo de transdutor são: cerâmica piezoelétrica (elemento transdutor), camada de retaguarda (para absorção da energia acústica que se propaga no sentido contrário ao da face frontal), camada frontal (para casamento de impedância acústica com o meio de propagação da onda acústica gerada pela cerâmica), elementos de casamento de impedância elétrica (geralmente indutores), cabos e material de encapsulamento da cerâmica.
Os transdutores de elemento único são ainda bastante utilizados com pequenas variações de encapsulamento segundo suas diversas aplicações. Para imagem, podem ser montados em estruturas móveis (por exemplo no eixo de motores) de forma a permitir o direcionamento de sua face frontal em diversos ângulos, formando imagens setoriais [ 16].
Os transdutores de tipo matricial podem ter diversos formatos e são constituídos por diversos elementos (geralmente) ceram1cos com pequenas dimensões, separados entre si e que podem ser excitados individualmente ou agrupados em pequenas células [ 16]. O número de elementos pode variar significativamente, de 8 a até 1024. Na Figura 1 são mostrados diagramas esquemáticos de transdutores matriciais. Dependendo do modo como os elementos do transdutor são excitados, pode-se conseguir focalizar ou dirigir o feixe ultra-sônico, permitindo a varredura eletrônica do tecido (ou material) investigado. Os atrasadores permitem a excitação individual ou de grupos de elementos do transdutor, gerando frentes de onda adequadas para cada caso. A imagem ultra-sônica obtida pode ser mostrada como na Figura 2, onde se pode ver uma imagem obtida com transdutor matricial linear e uma imagem obtida com transdutor matricial com varredura setorial. As técnicas de processamento de sinais e de imagens e os aperfeiçoamentos na fabricação dos transdutores tem possibilitado a obtenção de imagens com excelente qualidade e facilitando o diagnóstico médico.
As imagens de ultra-som são geralmente bidimensionais (2D) como visto na Figura 2. No caso de imagens obtidas com outros tipos de radiação, como em tomografia computadorizada por Raios-X, é comum buscar-se a visualização tridimensional (3D) das estruturas e órgãos internos do corpo.
Conector BNC
Sinal
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Invólucro de PVC
Camada de Retaguarda
Sintonizador
(a) Transdutor com elemento cerâmico único
(b) Transdutor matricial ID
(c) Transdutor Matricial 2D
Figura 1. Diagramas esquemáticos de transdutores de ultra-som.
52
Camada Frontal
ANAIS DO CBEB'2000
(a) Imagem obtida com transdutor matricial com varredura linear.
(b) Imagem obtida com transdutor matricial com varredura setorial.
Figura 2. Imagens 2D obtidas com transdutores matriciais específicos para varredura linear (a) e setorial (b ). Imagens gentilmente cedidas pela ATL Ultrasound (© 2000 ATL Ultrasound).
No caso de ultra-som, a obtenção de imagens tridimensionais é difícil e se encontra em estágio ainda inicial, embora muita pesquisa e desenvolvimento têm sido realizadas com sucesso por pesquisadores e empresas. Em geral, os sistemas que permitem a visualização tridimensional de órgãos e vasos do corpo humano são adaptações dos sistemas tradicionalmente disponíveis no mercado, usando transdutores lD ou tipo matricial anular cuja posição espacial é monitorada por dispositivos sensores. Os dados de posição espacial são
53
obtidos por uma grande variedade de mecanismos, incluindo motores de passo na cabeça de varredura do transdutor, dispositivos de translação e rotação, e o dispositivo sensor de posição pode ser eletromagnético, acústico ou óptico. O principal problema é devido ao manuseio do transdutor, que é movimentado livremente pelo médico tornando difícil manter conhecidas as coordenadas espaciais que indicam a posição e ângulo do transdutor em relação ao corpo do paciente. Inúmeros pesquisadores e empresas têm buscado obter
ANAIS DO CBEB'2000
sistemas confiáveis e que permitam a mesma facilidade de movimento que os ultra-sonografistas conseguem nos sistemas atuais.
Como visto acima, os transdutores para obtenção de imagens 3D podem ser os mesmos utilizados para imagens 2D com algumas adaptações para pennitir a localização tridimensional do feixe ultra-sônico, ou podem ser construídos especialmente com este fim. Nos casos de transdutores especiais, os elementos cerâmicos podem ser organizados em uma matriz 2D como visto na Figura 1. Entretanto, outras disposições dos elementos cerâmicos podem ser utilizadas. A varredura continua sendo eletrônica e é associada uma coordenada espacial a cada elemento da matriz de modo a pennitir a visualização de uma janela 3D de uma região do corpo do paciente. A grande quantidade (até 1024) de elementos cerâmicos destes transdutores tem levado à proposição dos chamados sparse arrays, nos quais os elementos são considerados ora transmissores ora receptores e são acionados de modo aleatório ou especial, evitando cross-talking e outros efeitos que minimizam a relação sinal/ruído [17], [18], [19], [20], [21], [22].
As imagens 2D e os dados de posição devem ser armazenados em memória durante a aquisição para subsequente montagem da imagem 3D. A aquisição das fatias pode ser feita como uma série de fatias paralelas, uma rotação ao redor de um eixo central ou em orientações arbitrárias. Após o volume ser construído, algorítmos especiais são usados para melhorar a imagem, visualizá-la e analisá-la. O tempo requerido para este processo varia entre alguns segundos a vários minutos dependendo da capacidade de processamento dos computadores (geralmente usando vanos processadores e co-processadores de sinais e de imagens) e dos displays utilizados. A quantidade de dados a serem armazenados depende do tempo de
aquisição e do número de imagens necessárias para se formar a imagem. O tipo de estudo também pode afetar os requisitos de armazenagem e processamento de dados e de imagens. Por exemplo, a varredura estática da face de um feto pode requerer somente 5 segundos de dados adquiridos a 10 quadros por segundo, enquanto um exame cardíaco requer de 35 a 45 segundos de dados adquiridos a 30 quadros por segundo. A aquisição de dados para imagens associadas com sinais Doppler e mostradas com escalas de cores sobre uma imagem em escala de cinza também requerem memória e processamento adicionais.
Qualquer que seja a técnica empregada para a geração da imagem 3D, os sistemas permitem a obtenção de dados quantitativos semelhantes aos dos equipamentos de imagem 2D, tais como medições de distâncias e áreas e, adicionalmente, permitem a quantificação de volume. Normalmente, os sistemas de imagens volumétricas precisam empregar técnicas especiais e calcular funções matemáticas complexas em que são levados em consideração os dados dos sensores de posição do transdutor, a largura do feixe ultra-sônico, entre outros dados importantes. Segundo alguns autores, as medições de volume usando métodos convencionais têm acurácia de ±5% para órgãos com forma regular e de ±20% para fonna irregular [23], [24], [25].
Tem-se buscado desenvolver um grande número de fe1nmentas computacionais sofisticadas para pennitir a manipulação das imagens 3D, que geralmente não mostram estruturas de interesse que precisam ser realçadas, ou mesmo eliminar estruturas ou partes do volume que não sejam úteis ao diagnóstico. Como exemplo de ferramentas de manipulação, usam-se escalpos para cortar partes dos volumes, aumento ou diminuição e rotação das imagens. Na Figura 3 são mostradas imagens de ultra-som 3D.
Figura 3. Imagem de ultra-som tridimensional da face de um feto na 26a. semana de gestação (esquerda) e imagem 3D da vasculatura renal (direita). Imagens gentilmente cedidas pela ATL Ultrasound (© 2000 ATL Ultrasound).
54
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Além das aplicações em equipamentos para imagem, tem sido constante o desenvolvimento de transdutores. A busca por novos materiais e compósitos, novos transdutores matriciais, e transdutores de alta freqüência tem sido relatado nos principais congressos e revistas nacionais e internacionais. No Brasil, há desenvolvimento de transdutores na UNICAMP, na USP, na COPPE-UFRJ, na UERJ e no CEFET-RJ e um grupo na UFSCar desenvolve pesquisas sobre materiais cerâmicos [5], [8], [26], [27], [28], [29]. Os transdutores de alta freqüência permitem a obtenção de pulsos ultrasônicos de curta duração, facilitando o estudo de
31]
15
estruturas muito finas (pele, córnea, paredes de artérias, etc]. Transdutores que minimizam os efeitos de difração por meio da polarização não-uniforme (apodização) da cerâmica piezoelétrica têm sido desenvolvidos na UNICAMP. Como exemplo dos efeitos da apodização das cerâmicas, na Figura 4 pode-se ver que o campo ultra-sônico produzido por um transdutor apodizado tem maior profündidade e menor efeito difrativo que o produzido por um transdutor convencional. Nesta figura os campos são mostrados como mapas de intensidade em níveis de cinza.
l;;w;; Y 1;mm}
Figura 4. Mapeamento de campo acústico de transdutores de ultra-som, com propagação em água, para transdutor com cerâmica não apodizada (superior) e para transdutor com cerâmica apodizada (inferior) segundo o método de Button e
colaboradores [8], [29].
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Muitos pesquisadores têm desenvolvido técnicas para minimização dos efeitos de difração no campo acústico de transdutores, e esta área de pesquisa tem se expandido continuamente [15], [30], [31].
Ultra-som aplicado à instrumentação biomédica
Além da utilização de ultra-som no apoio direto à saúde com equipamentos de diagnóstico por imagens, discutidos na seção anterior, outras aplicações têm sido propostas e muita pesquisa e desenvolvimento tem se realizado no Brasil nesta área. Por exemplo, utiliza-se o princípio de ultra-som para monitorar o tempo de coagulação sangüínea [32], desenvolve-se métodos e transdutores para medição de velocidade e espessura de meios multi-camadas [26] e [33], busca-se medir a velocidade e a atenuação de ultra-som como método alternativo à densitometria por Raios-X para estimar a osteoporose [34],[35] e aplicações em equipamentos de circulação extracorpórea [36], [37], [38].
Como exemplo da aplicação de ultra-som em equipamentos de circulação extracorpórea, foram desenvolvidos na UNICAMP dois equipamentos: 1) que permite a medição de nível em reservatório sangüíneo; 2) que permite a medição de fluxo sangüíneo na linha arterial das máquinas de CEC. [36], [37], [38]. Ambos os equipamentos procuram facilitar o controle da bomba de circulação extracorpórea, minimizando a possibilidade de riscos para o paciente e facilitando o trabalho do perfusionista.
Uma aplicação de ultra-som em instrumentação para diagnóstico de osteoporose é a proposta por Maia e colaboradores [35]. Um dos aspectos importantes da instrumentação proposta é a possibilidade de mapear uma área de interesse no calcâneo de modo a calcular uma atenuação média para toda a região e não somente em um único ponto como o que se faz com os equipamentos disponíveis atualmente no mercado. Para que se possa coletar dados de fon11a a obter os parâmetros desejados (atenuação e velocidade de propagação das ondas ultra-sônicas), foi desenvolvido um sistema que utiliza dois métodos básicos para realizar as medidas: o método pulso-eco e o transmissão-recepção. O sistema é formado por uma unidade de varredura X-Y com motores de passo para pos1c10namento dos transdutores controlados por microcomputador. Nesta unidade de varredura são acoplados transdutores cerâmicos comerciais ou os desenvolvidos no laboratório. O sistema ainda permite o uso de um hidrofone de larga área ativa para mapear a propagação de ondas ultra-sônicas na região do calcâneo com vistas a estudar atenuação e velocidade minimizando possíveis efeitos de difração.
Discussão e Conclusões
A aplicação de ultra-som na área médica tem crescido continuamente a despeito do aparecimento de novas modalidades de imagens de órgãos internos do corpo humano com impressionante qualidade e detalhes nunca vistos, como as proporcionadas com ressonância magnética. Isto se deve principalmente aos avanços no
56
desenvolvimento de transdutores, nos computadores (que utilizam multi-processadores e sub-sistemas independentes para cada tipo de exame requerido) e no processamento de sinais e imagens obtidas. As imagens com ultra-som têm atingido uma qualidade nunca antes imaginada, podendo-se estudar com relativa segurança problemas tão diversos quanto as estruturas vasculares de ovários e outros órgãos e sítios do corpo humano. As aplicações e desenvolvimento de equipamentos têm crescido e é muito variada [39].
Outra evidência do crescimento do uso de ultrasom na área é o número de pesquisas e criação de Centros de Pesquisa, como o da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que parecem voltados exclusivamente para o estudo e desenvolvimento de transdutores e técnicas de processamento de sinais e de imagens de ultra-som. Nota-se, ainda, que as grandes empresas têm investido pesadamente em novas tecnologias.
No Brasil, embora se note a existência de poucos grupos de pesquisa na área, geralmente em universidades, há muita atividade em empresas que utilizam os princípios de ultra-som para as mais diversas aplicações. A experiência dos grupos de pesquisa das universidades poderia ser melhor aproveitada pela indústria nacional, e aos poucos estas parcerias estão ocorrendo. Um exemplo deste tipo de parceria é a que ocorre entre o grupo de pesquisa em ultra-som do CEB e do DEB/FEEC da Unicamp com a empresa Braile Biomédica.
Agradecimentos
O autor agradece a colaboração da Profa. Dra. Vera L.S.N. Button, dos Engenheiros Joaquim M. Maia, Ricardo G. Dantas e Hayram Nicacio pelas figuras e discussões sobre os diversos aspectos da instrumentação e do desenvolvimento de transdutores de ultra-som, e à Engenheira Cristiane Moreira, da A TL Ultrasound pelas discussões e imagens que constam deste artigo.
Referências
[l] W. N. McDicken, "Diagnostic ultrasonics: Principles and use of instruments", 2. Ed. New York, John Wiley & Sons, 1981.
[2] R. T. Hekkenberg, R. Reibold, B. Zeqiri, "Development of standard measurement methods for essential properties of ultrasound therapy equipment'', Ultrasound in Med. & Biol., 20(1): pp. 83-98, 1994.
[3] E. T. Costa, Development and application of a largeaperture PVDF hydrophone for measurement of linear and non-linear ultrasound jields, London, [Ph.D. Dissertation - University ofLondon], 1989.
[4] J. F. Greenleaf, K. Chandrasekaran, H. A. McCann, "Advanced tissue analysis and display with ultrasound", RBE, Caderno de Eng. Biomédica, 4(2), pp. 49-60, 1987.
[5] F.R. Pereira, J.C. Machado, "Um equipamento de imagens ultra-sônicas em tempo-real baseado em
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
computador pessoal", RBE, Caderno de Eng. Biomédica, 11 (1 ), pp. 7-15, 1995.
[6] J. M. Maia, E.T. Costa, "Sistema pulso-eco microcontrolado para geração e medição de campos ultrasônicos", RBE, Caderno de Eng. Biomédica, 11(2), pp. 25-53, 1995.
[7] R. Moraes, D.H. Evans, D.P. Debono, "Sistema para processamento de sinais Doppler amostrados em artérias coronárias", RBE, Caderno de Eng. Biomédica, 12(1), pp. 7-21, 1996.
[8] C.D. Maciel, W.C.A. Pereira, J.C. Machado, "Modelagem e processamento de speckle em imagem ultra-sônica: uma revisão", RBE, Caderno de Eng. Biomédica, 13(1),pp. 71-89, 1997.
[9] V. L. S. Nantes Button, E. T. Costa and J. M. Maia, "Apodization of piezoelectric ceramics for ultrasound transducers ", in Medical Imaging 1999: Ultrasound Transducer Engineering, K. K. Shung, Ed., Proc. SPIE, vol. 3664, pp. 108-118, 1999.
[10] P. R. Stepanishen, "Transient radiation from pistons in an infinite baffle", J. Acoust. Soe. Am., vol. 49, pp. 1629-1638, 1971.
[11] J. P. Weigth, "Ultrasonic beam stmctures in fluid media'', J. Acoust. Soe. Am., vol. 76. pp. 1184-1191, 1984.
[12] V. L. S. Nantes Button e E. T. Costa, "Simulação por elementos finitos da polarização de cerâmicas piezoelétricas", RBE - Caderno de Engenharia Biomédica, 12(3), pp. 31-43, 1997.
[13] D. R. Dietz, "Apodized conical focusing for ultrasound imaging" , IEEE Trans. Sonics and Ultrasonics, vol. 29, pp. 128-138, 1982.
[14] R. H. Brittain e J. P. Weigth, "Fabrication of nonuniformly excited wide-band ultrasonic transducers", Ultrasonics, vol. 25, pp. 100-106, 1987.
[15] D. K. Hsu, F. J. Margetan, M. D. Hasselbuch, S. J. Wonnley, M. S. Hughes e D. O Thompson, "Technique of non-uniform poling of piezoelectric element and fabrication of gaussian transducers", IEEE Trans. UFCC, vol. 37, pp. 404-410, 1990.
[16] J.R. Crowe, B.M. Shapo, D.N.Stephens, M.J. Eberle, E.J. Céspedes, C.C. Wu, D.W.M. Muller, J.A. Kovach, R.J. Lederman, M O'Donnell, "Blood speed imaging with an intraluminal array", IEEE Trans. UFCC, 47(3), pp. 672-681, 2000.
[17] R.H. Silvennan, F.L. Lizzi, A. Kaliscz, D.J. Coleman, "Three dimensional high-resolution ultrasonic imaging of the eye", ", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 37-46, 2000.
[18] T. Ritter, K.K. Shung, R. Tutuiler, T. Shrout, " High frequency transducer arrays for medical imaging", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp.208-216, 2000.
[19] K. ltsumi, S. Saitoh, M. Izumi, T. Kobayashi, K. Harada, Y. Yamashita, "A phased array probe using Pb(Znl/3Nb213)03-PbTi 0 3 Single-Crystal -polymer composites", in Medical Imaging 2000:
Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 217-224, 2000.
[20] J.T. Yen, J.P. Steinberg, S.W. Smith, "Sparse 2-D arwy design for real time rectilinear volumetric imaging", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982,pp.93-110,2000.
[21] M.A. Hussain, W. Rigby, B. Noble, "Synthesis of three-dimensional wideband ultrasound transducer sparse arrays'', in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE,vol.3982,pp. 167-179,2000.
[22] E.D. Light, J.O. Fiering, W. Lee, P.D. Wolf, S.W. Smith, "Two-dimensional catheter arrays for the real-time intracardiac volumetric imaging", in Medical lmaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 76-93, 2000.
[23] J.C. Lacefield, O.T. von Ramm, "Design and characterization of a real-time angular scatter ultrasound imaging system", IEEE Trans. UFCC, 47(1), pp. 223-232, 2000.
[24] G.M. Treece, R.W. Prager, A.H. Gee, L. Berman, "Volume measurement of large organs with 3D ultrasound", in Medical lmaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982,pp.2-13,2000.
[25] D.M. Muratore, J.L. Hen-ing, B.M. Dawant, R.L. Galloway Jr., "Registration of 3D tracked ultrasonic signal images to segmented CT images for technology-guided therapy'', in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 2000.
[26] A.V.D. Greco, W.C.A. Coelho, J.C. Machado, "Modelo misto de propagação ultra-sônica para estimação simultânea da espessura e velocidade da onda em meios multicamadas", RBE Caderno de Engenharia Biomédica, 13(3), pp. 7-17, 1997.
[27] W.C.A. Coelho, A.V.D. Greco, D.M. Simpson, J.C. Machado, "Método de mínimos quadrados baseado em acústica geométrica para a estimação do ponto focal de feixes ultra-sônicos'', RBE - Caderno de Engenharia Biomédica, 11(2), pp. 55-73, 1995.
[28] C.H.F. Alves, K.A. Snook, T.A. Ritter, K.K. Shung., "High-frequency single-element and annular an-ay transducers incorporating PVDF", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 116-121, 2000.
[29] V.L.S.N. Button, E.T. Costa, J.M. Maia, R.G. Dantas, "Diffractive limited acoustic field of an apodised ultrasound transducer", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 132-141, 2000.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
[30] J-Yu Lu, J. F. Greenleaf, "Ultrasonic nondiffracting transducer for medical imaging", IEEE Trans. UFFC, vol. 37, pp. 438-447, 1990.
[31] K. Kawabe, Y. Hara, K. Watanabe, T. Shimura, "An ultrasonic transducer apodized by polarization'', in: IEEE Ultrasonic Symposiwn, 1990.
[32] C.H.F. Alves, Investigação da dinâmica de partículas esféricas, agitadas por ultra-som, em meio com variação temporal da viscosidade, Rio de Janeiro, [Tese - Doutorado - Universidade Federal do Rio de Janeiro - PEB/COPPE - Brasil] , 1997.
[33] L.A.H. Medina, Projeto e construção de transdutor ultra-sônico multicamada para o regime pulsátil, Rio de Janeiro, [Tese - Mestrado - Universidade Federal do Rio de Janeiro - PEB/COPPE - Brasil] , 1989.
[34] J. M. Alves, Caracterização de tecido ósseo por ultra-som para diagnóstico de osteoporose, São Carlos, [Tese Doutorado Universidade de São Paulo - USP - Brasil] , 1996.
[35] J.M. Maia, E.T. Costa, V.L.S.N. Button, R.G. Dantas, "Evaluation of osteoporosis using ultrasound", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982,pp.278-284,2000.
[36] R.G. Dantas, E.T. Costa, "Ultrasonic pulsed Doppler blood flowmeter for use in extracorporeal circulation", Artificial Organs, 44(3), pp. 198-201, 2000.
[37] R.G. Dantas, Sistema ultra-sônico Doppler pulsátil para medição de fluxo sangüíneo em circulação extracmpórea, Campinas, [Tese - Mestrado -Universidade Estadual de Campinas DEB/FEEC -Brasil] , 1999.
[38] M.L. Lopes, Sistema de apoio à circulaçào extracmpórea, Campinas, [Tese - Mestrado Universidade Estadual de Campinas - DEB/FEEC -Brasil] , 1998.
[39] J.J. Hwang, J. Quistgaard, "A handheld ultrasound array imaging <levice", in Medical Imaging 2000: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, K. Kirk. Shung and Michael F. Insana, Eds., Proc. SPIE, vol. 3982, pp. 194-201, 2000.
58
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Inteligência Artificial e Engenharia Biomédica: Casamento Perfeito ou Amantes Eternos?
Jorge Muniz Ban-eto
Laboratório de Conexionismo e Ciências Cognitivas (L3C), Depto. de Informática e de Estatística (INE) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil, 88040-900
Fone (OXX48)33 l-7515, Fax (OXX48)331-9770 barreto@inf. ufsc. br
Resumo - Este artigo descreve um caso de simbiose entre Engenharia Biomédica e a Inteligência Artificial (IA). Iniciase com um curto histórico da IA, ressaltando sua evolução no Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica (GPEB) da UFSC. Mostra como a inteligência artificial foi progressivamente entrando na biomédica, inicialmente com os sistemas especialistas, para depois utilizar redes neurais e a matemática nebulosa. Ao longo da apresentação, algumas vezes informal, apresenta dificuldades e sucessos que ajudam a responder a pergunta "Casamento perfeito ou amantes eternos?" O trabalho conclui com conjecturas sobre futuras aplicações, tais como bases de dados inteligentes.
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Engenharia Biomédica, Sistemas Especialistas, Redes Neurais.
Abstract - This paper describes the symbiosis between Biomedical Engineering and Artificial Intelligence (AI). It starts by a short historical account of IA with emphasis on its evolution inside the Research Group on Biomedical Engineering of UFSC. It is shown how AI was progressively being more used in Biomedical Engineering, where it begun with Expert Systems and after neural networks and fuzzy mathematics. The presentation, sometimes informal, mentions difficulties and success, to answer the question: "Perfect Marriage or Eternal Lovers?" The work ends with conjectures about future applications, such as intelligent data bases.
Key-words: Artificial Intelligence, Biomedical Engineering, Expert Systems, Neural Networks.
Introdução
O título do trabalho contém dois domínios de estudo de natureza bem distintas. O primeiro, Inteligência Artificial (IA) pode ser considerado como uma metodologia de resolver problemas. O segundo como um campo de onde podem ser extraídos os mais variados problemas envolvendo a vida e a medicina.
Esta diferença foi a base da complementaridade destes domínios e o fundamento para um passível casamento, em que a IA encontra um campo de aplicação motivador, provocando novas pesquisas metodológicas e a EB recebe soluções capazes de melhorar a qualidade dos conhecimentos sobre a vida e do tratmento das moléstias.
O estudo do passado das IA serve para fazer a projeção de um futuro em que ela melhor se adapte ao problema de suma importância que é o da compreensão e manutenção da vida.
Histórico da IA
Será o interesse em IA recente? Não! O desejo de criar artefatos capazes de reproduzir um compmtamento inteligente encontra suas origens nas brumas do passado. Exemplos vão desde o distribuidor de água em Delfos, na Grécia antiga, passando por dispositivos mecânicos de tempos remotos aos quais se atribuía inteligência; (alguns ainda podem ser vistos nos dias de hoje, tais como alguns antigos relógios dentre os quais o da catedral de Estrasburgo, encerram um
59
complicado mecanismo responsável pelo movimento de mumeras peças: galo que canta, personagens encarnando as estações do ano, dias da semana, etc.). Estas peças se movem cada uma a seu devido momento, com seu ritmo próprio, de modo perfeitamente coordenado dando a real impressão de serem totalmente autônomas. Mais recentemente, o mito do Dr. Frankenstein que criou, usando peças de cadáveres, um ser inteligente, ajudou a formar toda uma mentalidade dos perigos de ter objetos artificiais munidos de inteligência. Não mereceria o o homem desejasse se igualar a ÊÊEle, criando uma ciatura munida de inteligência? A mãe de Leibnitz não havia sido presa pela Inquisição por haver seu filho construído uma máquina capaz de efetuar as quatro operações e converter dinheiro em moedas européias de diferentes países (para ajudar seu pai que era contador) umas nas outras?
Isaac Asimov [ 1 ], conhecido escritor de ficção científica, com suas leis da robótica (1-Preservar, proteger os humanos; 2-obedecer aos humanos; 3-preservar sua própria integridade) ajudou a apagar o medo dos artefatos inteligentes.
Pode-se dizer que a história da IA passou pelas seguintes épocas [2]:
1. Época pré-histórica (antes de 1875). Nada se conhecia sobre os mecanismos da mente, nem sob o prisma fisiológico nem psicológico e por esta razão seu término é em 1875, quando Camillo Golgi [2] fisiologista italiano, usando processo que em um
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
tecido constituído por muitos neurônios apenas uma pequena percentagem ficava opaca, conseguiu visualizar o neurônio. Objetivo: Criar seres e mecanismos apresentando comportamento inteligente. Metodologia e Conquistas: Mecanismos usando mecânica de precisão desenvolvida nos autômatos, mecanismos baseados em teares, etc. Apelo ao sobrenatural. Limitações: Complexidade dos mecanismos, dificuldades de construção. Insucesso dos apelos ao sobrenatural.
2. Época Antiga (1875-1943). Época em que a Lógica formal apareceu (Russel, Gõdel, etc) bem como se passou a reconhecer o cérebro como órgão responsável pela inteligência. É nesta época que, são colocadas as bases da IA, terminando com a publicação do trabalho de McCulloch e Pitts [3] modelando o neurônio. Objetivo: Entender e reproduzir a inteligência humana. Acredita-se ser possível tudo formalizar e que exista o Paraíso de Hilbert. Metodologia e Conquistas: Estudos de psicologia e de neurofisiologia. Nascimento da psicanálise. Desenvolvimento da Lógica formal. Limitações: Grande distância entre as conquistas da psicologia e da neurofisiologia. Teorema de Gõdel mostrando limites à formalização.
3. Época Romântica (1943-1956). É o otimismo desordenado, em que se crê tudo possível. Acaba com a reunião no Darthmouth College [4] onde nasce a denominação IA. Ela se apresenta com trabalhos que hoje se classificam como pertencentes à IA simbólica (IAS), e a IA conexionista (IAC) (com redes neurais). Objetivo: Simular a inteligência humana em situações pré-determinadas. Acredita-se ser possível construir um Resolvedor Universal de Problemas. Com efeito, o programa GPS "General Problem Solver" é um esforço nesta direção. Metodologia e Conquistas: Inspiração na Natureza. Nascimento da Cibernética. Primeiros mecanismos imitando funcionamento de redes de neurônios. Primeiros programas imitando comportamento inteligente. Limitações: Limitação dos computadores.
4. Época Barroca ( 1956-1969). IA se retrai nos laboratórios esperando o futuro quando tudo será fácil será conseguido. O livro Perceptrons [5] mostra que nem tudo é possível. Objetivo: Encontrar aplicações da IA tanto usando a abordagem simbólica quanto a conexionista. Metodologia e Conquistas: Perceptron. Primeiros sistemas especialistas usando a abordagem simbólica. Grandes esperanças da IAS. Nasce a IA evolutiva [6]. Limitações: Limitação dos computadores. Dificuldades em técnicas de aprendizado das redes neurais mais complexas.
60
5. Época das Trevas ( 1969-1981) Retraimento dos pesquisadores em IA. Acabou quando, em outubro de 1981, os japoneses anunciaram seus planos para a Quinta Geração [7] de Computadores Objetivo: Encontrar para a IA aplicações práticas. Metodologia e Conquistas: Primeiro sistema especialista de diagnóstico médico MYCIN [8], preparando o renascimento. Limitações: Interesses econômicos. Grandes firmas procurando desmistificar os computadores, apresentando-os como máquinas capazes de executar ordens com grande velocidade, mas isentas de raciocínio, atacam a IA. Convém notar, que na época a mídia apresentava a criação de entes inteligentes como algo ruim, por exemplo em filmes com computadores dominando o mundo, etc. Assim o termo cérebro eletrônico é substituído por "ignorância atrevida" para, levando ao ridículo, afastar o público da idéia de máquinas inteligentes.
6. Renascimento ( 1981-1987). Começou a corrida para IA. Os resultados obtidos nas épocas anteriores atingem o público em geral. Sistemas especialistas se popularizaram. Primeira conferência internacional em Redes Neurais marca o final do período. Objetivo: Renascimento da IA com aplicações. Metodologia e Conquistas: Popularidade da linguagem Prolog adotada pelos japoneses. Cresce a importância da Lógica. Proliferação de máquinas suportando ferramentas para IA. Limitações: IAS e IAC evoluindo separadamente.
7. Época Contemporânea (1987 - atual). A IA penetra nos mais diversos campos de aplicação, perde suas características imc1ais de manipular pequenos problemas de interesse limitado e se esconde sob o nome da aplicação. Por exemplo, nas redes de computadores, na manipulação simbólica em matemática, etc. Objetivo: Alargamento das aplicações da IA. Uso em tomografia, pesquisas em campos de petróleo, e bases de dados inteligentes. Metodologia e Conquistas: Redes diretas como aproximador universal. Lógica nebulosa usada largamente em indústrias para controle inteligente. Sistemas especialistas se torna tecnologia dominada. Bons resultados em problemas mal definidos com sistemas usando hibridismo neural-nebuloso. Aplicações: Quem sabe???. Uma possibilidade é uma grande expansão das bases de dados inteligentes.
Inteligência Artificial na Biomédica
Foi exatamente durante os anos em que redes neurais ficaram com seu estudo congelado, e a IA era chamada ignorância atrevida que apareceram as primeiras aplicações de IA na medicina, com a tese doutoral de Shortliffe, em 1974 [8]. Foi o início de uma ligação que dura até os dias de hoje, em que a medicina ajudou a IA a sair do anonimato.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Tal como em um frutífero casamento, vanos outros programas, cada um com uma inovação, se seguiram; muitos na área médica.
MYCIN ficou famoso por ter introduzido duas idéias em IA: l.separação de base de conhecimentos e modo de manipular estes conhecimentos (motor de inferência); 2.introdução dos fatores de certeza, para tratar imprecisão. Esvaziando-se MYCIN de sua base de conhecimentos nasceu EMYCIN ou "Empty Mycin", que pode ser considerado como um precursor dos atuais "shells" para construção de sistemas especialistas. Colocou-se uma base de conhecimentos relativa a problemas respiratórios e nasceu PUFF, sistema especialista de diagnóstico de problemas respiratórios. Mantendo a base de conhecimentos de MYCIN, mas alterando seu motor de inferência, Clancey [9] criou GUIDON, com a finalidade de ensinar o conteúdo da base de conhecimentos de MYCIN. Acreditando na importância do computador se adaptar ao aluno, personalizando o ensino, foram criados os ITS ("lntelligent Tutorial Systems"), incluindo um modelo dos conceitos do aluno sobre a matéria a aprender.
Juntamente com estes programas, vários outros nasceram na mesma época e aí cabe a pergunta: foram utilizados? Era o casamento da IA e Biomédica sólido? Quem responde é o próprio Shortliffe [9]. Ele conta ter encontrado, em uma visita ao Japão, pela primeira vez, um sistema especialista de diagnóstico médico sendo usado de modo rotineiro. Curioso, pediu para ver o código do programa. Mais curioso diz ter ficado quando constatou que o sistema seguia exatamente as idéias do seu MYCIN. Por que usavam este programa e não os outros que conhecia? A resposta veio da recepcionista e era evidente: "o diretor do hospital tinha feito o sistema e quem não o usasse seria despedido ... " Era prova que o casamento da IA com a EB estava em crise! Razões? As de sempre, e principalmente a falta de diálogo:
• Como em todo casamento que vai mal, a culpa pode ser atribuída a ambos.
•Os médicos não pediram ajuda de um programa para fazer exatamente o que sabem fazer tão bem: diagnosticar.
• Os especialistas de IA não perguntaram o que os médicos queriam. \leio o divórcio!
Passou-se algum tempo; os programas de "diagnóstico" passaram a ser de ajuda à decisão, de avaliação de risco, de suporte à pesquisa. Os médicos começaram a se interessar. E que maravilha reconstituir um casamento em outras bases, ·sem obrigações, procurando conhecer novas possibilidades, até não casando ...
Esta é a abordagem atual. A EB impulsionou os sistemas especialistas. Fez germinar os ITS, e agora novos horizontes se abrem. Novos encontros voluntários e emocionantes. Tanto o profissional da computação quanto o médico que acreditem que o problema da saúde é por demais complexo para ser abordado por pessoas com um único tipo de formação.
A interdisciplinaridade se faz mister!
61
IA no GPEB
O início da IA no GPEB, pode ser traçada em uma mudança de atitude da IBM quanto à IA, após o grande movimento da imprensa em torno da quinta geração anunciada pelos japoneses. Assim é que a IA, de ignorância atrevida passou a ser considerada prioritária. Desta forma, em 1984 a IBM patrocinou uma Escola de IA (com cerca de 450 horas) para os países europeus, fornecendo recursos para trazer professores de várias partes do mundo (Escócia, Inglaterra, USA, Japão, etc.) Esta escola funcionou nas cidades de Namur e Mons, ambas na Bélgica, sendo editado livro dos cursos [10] com ajuda de assistentes de ambas entidades.
Ainda ocupado com esta tarefa, recebi a visita do então Coordenador do GPEB em 1985, Professor Walter Celso de Lima, ao término de uma viagem a países do então bloco comunista. Tínhamos um passado de colaboração frutífera, mas restrito ao domínio da molelagem de sistemas fisiológicos. Este encontro abriu novas perspectivas. Como, segundo ele, pouco havia de IA aplicada à Biomédica, no Brasil no momento, resolvemos escrever um trabalho conjunto. Deveria seer um trabalho de divulgacão e motivação científica de alto nível, a ser publicado em revista de larga difusão nacional. Ciência Hoje estava perfeita. Foi o primeiro trabalho publicado pelo GPEB no assunto [11].
No ano seguinte publicamos mais 4 trabalhos, em Cuba, Brasil, Chile e Itália, começando a atrair alunos no GPEB para o assunto. De mesma forma estabelecendo bases sólidas para um Projeto de Cooperação Científica, no convênio Brasil-Bélgica, que durou 4 anos financiado pelo CNPq no Brasil e seu correspondente na Bélgica, o FNRS ("Fond National de la Recherche Scientifique") que teve o Prof. Lima como Diretor do lado brasileiro e o autor do presente trabalho pelo lado belga. Este projeto foi continuado por outro, desta vez no âmbitro da CAPES e Ministério da Educação do lado belga, cuja última atividade foi minicurso sobre redes neurais, em 1993 ministrado pelo autor deste trabalho no GPEB. Durante estes 7 anos foram publlicados perto de 30 trabalhos em parceria e em nível internacional. Foi ainda em 1993 que o atual Coordenador do GPEB [12] e presidente do presente Congresso defendeu seu doutorado na Bélgica fruto desta colaboração de tantos anos.
Tabela 1 :Produção Científica de IA no GPEB nos 1 O primeiros anos
Ano Publicações Teses e disertações 1987 1 -1988 5 -1989 7 -1990 16 -1991 11 -1992 3 1 1993 44 -1995 15 4 1996 19 1 1997 23 4
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
A primeira tese de doutorado desenvolvida no GPEB foi de IA, apresentada pelo atual Professor Renato Garcia sobre um sistema usando redes neurais [13]. Seguiu-se uma fase na qual os sistemas especialistas foram assunto do mais alto interesse.
Em sistemas especialistas abordaram-se vários aspectos encadeados, em que uma tese se baseou em conhecimentos que o grupo ia progressivamente obtendo com as anteriores. Houve dissertação sobre diagnóstico de epilepsia quase em paralelo com outra, sobre metodologia de extração do conhecimento de um especialista médico. Outros trabalhos abordaram traumatismos cranianos, dores toráxicas, etc. Nestes pode-se notar uma característica importante: não são meros sistemas especialistas em que se fez uma excelente extração de conhecimento dos especialistas, mas têm por trás, algo metodológico e que pode ter usado em IA. Por exemplo, na tese sobre traumatismos cranianos foi desenvolvido módulo de ensino com computador em que o estudante de medicina pode, por exploração do programa, aprender a atender futuros pacientes [14]
Sistemas de Informação Inteligentes
No passado, por volta dos anos 60, era comum se acreditar que as memórias enormes dos computadores da época os tomassem verdadeiras enciclopédias ambulantes, e houve mesmo programa de televisão em que a demostração das capacidades de um computador foram testadas com perguntas do tipo "quem é o presidente do Brasil?". Foi nesta época que se desenvolveram os primeiros conceitos de bases de dados e suas visões de dados, de usuários e de gerência. Falava-se de modelos de redes e modelos hierárquico e muito se fez com estes conceitos. Naqueles dias também se firmou a certeza que:
De uma base de dados só se pode extrair o que se introduziu e a qualidade das respostas depende apenas
da qualidade dos dados de entrada. O computador serve para memorizar e extrair dados e com estes dados
vêm as informações que estc'io associadas.
Imaginem o que se pensaria daquele que dissesse ser possível introduzir dados em um computador e modos de combinar estes dados para gerar outros novos, segundo as necessidades e estes novos dados poderiam ser usados! O computador teria deixado de ser um instrumento que passivamente fazia o que lhe era comandado para se tornar um colaborador do usuário, ou seja, seria inteligente! Imaginação fecunda de quem nisso acreditasse ... Pois é exatamente para isto que se caminha nos dias de hoje, se bem que as bases do que se pode chamar de um Sistema de Informação Inteligente foram lançadas em On conceptual modeling [15]. Neste livro se procurava estabelecer pontes entre bases de dados, inteligência artificial e linguagens de programação, e para isto havia, além dos trabalhos submetidos, tais como em um congresso (não presencial) uma abordagem destes três tópicos por especialista de outra área.
62
Definições e conceitos básicos
Frequentemente muitas das dúvidas que se tem ao estudar um assunto novo são devidas a problemas de vocabulário. Assim, para facilitar o leitor serão apresentados alguns conceitos básicos.
A palavra dados deve ser familiar a todo profissional de computação, por ter estudado no início de seu curso um assunto denominado Estrutura de dados, no qual as arrumações principais de dados são apresentadas (árvores, pilhas, filas, etc), e se aprende a manipular dados. Estas manipulações são essencialmente de caráter sintático, modificando-se a estrutura dos dados. Pode-se portanto considerar que a palavra dados se refere a um objeto sujeito a manipulações sintáticas.
Definição (Sistema de Informação:) Um sistema de informação é o objeto 3:
3 = <D,A,F,M,R,TJ,V> onde: D: conjunto de dados A: atributos considerados relevantes e disponíveis F: dados provindos de uma fonte de dados M: memória de dados R: regras de combinação de dados TJ : função que fornece as visões dos dados annazenados V: conjunto de visões sobre dados manipulados. Sendo:
R: FxM--7M T):M--7V
e: M, F ç; D
Exemplo (Pesquisa em arquivo): Seja a lista de pessoas conhecidas e seus telefones. A fonte de dados são cartões de visita, telefones ditados, etc. Estes dados são geralmente colocados em um livro de endereços e telefones e raras vêzes sofrem modificações. A visão é única, a própria lista de nomes e telefones.
Exemplo (Base de dados relacional): Sejam os dados referentes a alunos, professores e salas de aula de um curso e deseja-se um sistema de informações capaz de, tendo a grade curricular, fazer atribuição de disciplinas a professores com suas preferências de horários e alunos matriculados em cada turma, fornecer: lista de alunos por disciplina, etc.
Neste caso os dados são representados por relações. Definindo operações entre relações, evidenciase fatos que não estavam explícitos.
Definição (Informação explícita): é a que se encontra em informação associada aos dados contidos na fonte de dados F.
Note-se existir distinção entre dados e informação contida nestes dados, entretanto tal nível de detalhamento não é útil para a presente exposição. os dados transmitindo muita informação.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Definição (Informação implícita): é a gerada pela aplicação das regras sobre os dados na memória e entrada, não está contida na entrada.
Definição (Informação de entrada supérflua): Uma informação de entrada é dita supérflua se ela pode ser obtida a partir dos dados de entrada e do uso das regras.
Definição (Sistema de Informações Inteligente): Um SI é dito ser inteligente se ele é capaz de gerar informações implícitas.
Níveis de Inteligência de um SI
O que se chama nível de inteligência de um SI colTesponde ao nível de novidade que se obtém na saída do SI, em comparação com a entrada.
Em um SI onde só se podem obter na saída dados que foram introduzidos na entrada, tem-se o que pode ser chamado um sistema sem inteligência. Um sistema de pesquisa em arquivo, como o do exemplo da lista telefônica, é um sistema sem característica de inteligência. Este sistema não entra na classificação a ser apresentada.
Seja agora um SI baseado em um banco de dados relacional, como o do segundo exemplo, em que se tenham as tabelas das relações de atribuição de disciplinas a professores e alunos matriculados em cada disciplina. Pode-se facilmente responder a perguntas do tipo "quais professores o aluno X terá?". Ora este dado não está explícito nas fontes de dados, mas pode ser obtido por regras. No caso estas regras são aplicadas manualmente, usando conectivos entre as relações conhecidas para obter novas relações, onde se deseja. De acordo com a definição vista acima, este é um sistema SI inteligente, entretanto esta inteligência é fornecida pelo usuário do sistema sob a forma da linguagem de manipulação de dados. Diz-se que o sistema é de Nível-O.
Nível~O corresponde à Lógica de Proposições, por não trabalhar com variáveis. O uso de variáveis permitiria colocar regras como dados e ter uma base de dados dedutiva ou Lógica, trabalhando com a Lógica dos Predicados ou Lógica de primeira ordem, tendo-se então um SI de Nível-1. Nestes dá-se como entradas dados F e regras de manipulação destes dados R. Estas regras permitem deduzir fatos implícitos e, de uma certa forma, tem estrutura bastante semelhante a de um sistema especialista. Descobrem-se fatos.
Tanto no caso do nível-O como nível-!, os dados de saída são obtidos por manipulações sintáticas. É possível também que se deseje extrair conhecimento de uma base de dados e aí as regras serão tratadas como objetos que podem ser nossa incógnita (aquilo que se deseja descobrir), memorizadas na base de regras e quantizadas. Trata-se de Lógica de segunda ordem e o nível de inteligência passa a ser dois. Isto oc01re no caso das técnicas de descobrimento de conhecimento em bases de dados, incluindo KDD ("Knowledge in Data Discovery") sendo o "Datamining" uma de suas fases. Descobrem-se regras.
Base de Dados Dedutivas
No caso dos sistemas trabalhando com o nível-1 de inteligência, as entradas do sistema são: dados F constituindo a Base de Fatos e regras de manipulação destes dados, R constituindo a Base de Regras. Neste caso, a Base de dados é construída e explorada usando feITamentas da Programação em Lógica, e tudo é feito de modo sintático, considerando-se geralmente apenas dois valores verdade.
Programação em Lógica está sujeita a uma limitação de caráter teórico bastante interessante, como consequência de um teorema devido à Gõdel. Informalmente, este teorema diz o seguinte: Todo sistema formal consistente não é completo e todo sistema completo não é consistente. Um sistema não é consistente se existe alguma contradição nos seus axiomas, tal como existir um axioma a1 e sua negação. Um sistema formal é completo se todo teorema pode ser provado pertencer ou não à teoria. Como normalmente se trabalha com um conjunto de axiomas consistente pode-se ter certeza que haverá teoremas que não se pode provar pertencer ou não ao sistema formal.
Programação em Lógica tem sido pouco usada em bases de dados, guardando ainda hoje muito de sua potencialidade. Trata-se portanto de um assunto convidativo para pesquisa. Pode-se atribuir este fato aos seguintes pontos:
Conhecimento limitado dos profissionais em computação de IA, e um certo preconceito de seu uso na solução de problemas práticos.
• Quase como conseqüência do item anterior, existe um número muito limitado de felTamentas permitindo integração das facilidades de um programa de apoio a bancos de dados relacionais (por exemplo), e regras. O mais comum são interfaces entre os dois tipos de programas.
Extração de Conhecimento em Bases Dados
A Extração de Conhecimento em Bases de Dados consiste na seleção e processamento de dados com a finalidade de identificar novos padrões, dar maior precisão em padrões conhecidos e modelar o mundo real. "Data mining", em vernáculo Mineração de Dados, se refere ao exame de grandes quantidades de dados, procurando encontrar relações não explícitas entre dados que possam ser usadas em modelos do mundo com capacidade preditiva e explanatória.
Dados consolidados
Consolidação
Dados organizados
Q~ ~ Dados brutos
Data-Mining
Modelos
Conhecimento
Figura 1: Processo completo de descoberta de conhecimento em bases de dados
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Um ciclo completo está representado na Figura. l (inspirada em Fayyad, [14]). Toma-se como ponto de partida todos os dados que seja possível obter referentes a um assunto, o que está representado na figura pelos dados brutos. O passo seguinte é consolidar estes dados, procurando dar uma estrutura conveniente para serem explorados e para serem armazenados. Esta fase, de grande importância, é conhecida por "Data Warehouse", ou Armazenagem de Dados.
Neste momento é conveniente que se tenha alguma hipótese sobre o possível modelo que se vai obter, para que um Pré-processamento coloque os dados de modo conveniente à obtenção deste modelo. A obtenção do modelo, que se chama "data mining", o qual deve ser interpretado para se extrair o conhecimento desejado.
Em princípio espera-se que este conhecimento seja utilizado. Neste caso, seu uso dará frutos que poderão ou não interferir com novos dados a serem obtidos como mostra a Figura 1. Um exemplo real foi o de um programa de "data mining" que previu a subida de preços das memórias de computador, devido a um incêndio em uma fábrica de tintas no extremo oriente. Claro que as pessoas nos USA (onde se deu o fato) que souberam a previsão do programa, compraram todos os chips disponíveis, fazendo subir ainda mais os preços. Dois fatos aparentemente sem correlação, um incêndio e a subida do preço de memórias de computador, detetados por um programa, fazendo gente enriquecer. .. e a razão? A fábrica era quem produzia a tinta para pintar todos os chips fabricados na região!
Houve uma mudança no ambiente devido às ações tomadas. Cabe agora avaliar o efeito destas ações gerando novas estratégias para pesquisa de novas oportunidades e novos problemas. Nova coleta de dados, e o processo se repete.
Um outro exemplo* é o do estudo feito na PUC/RJ sobre alunos de vestibular. O programa de obtenção de conhecimento, depois de examinar milhares de alunos, forneceu a regra: se o candidato é do sexo feminino, trabalha e teve aprovação com boas notas, então não efetiva matrícula. Estranho, ninguem havia pensado nisso... mas uma reflexão justifica a regra oferecida pelo programa: de acordo com os costumes do Rio, uma mulher em idade de vestibular, se trabalha é porque precisa, e neste caso deve ter feito inscrição para ir para universidade pública gratuita. Se teve boas notas provavelmente foi aprovada na universidade pública onde efetivará matrícula. Claro que há excessões: pessoas que moram em frente à PUC, pessoas mais velhas, de alto poder aquisitivo e que voltaram a estudar por outras razões que ter uma profissão, etc. Mas a grande maioria obedece à regra enunciada!
As principais tecnologias usadas em KDD são: •Organização de dados ("data warehousing"). •Banco de dados distribuídos se fazem úteis pois
frequentemente se é obrigado a trabalhar com grande
* Comunicação pessoal do Prof. Emmanuel Piseses L. Passos em 1997
64
volume de dados que se encontram distribuídos em diferentes plataformas.
•Estatística. •Técnicas de agrupamento usando conceitos da
matemática nebulosa. •Técnicas gráficas com suas vantagens principalmente
no caso de um número de dimensões pequeno. •IA e sistemas especialistas, principalmente os
conceitos apresentados em seção anterior referentes à programação em lógica.
•Redes neurais e seus paradigmas de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Principalmente neste segundo caso estas redes se mostram úteis por suas características de mostrar agrupamentos de dados semelhantes, fato dificilmente detetável sem seu auxílio.
•Interfaces amigáveis incluindo realidade virtual.
Identif ic do Proble
Estratégia
Descoberta de Conhecimento em
Base de Dados
Ações
Uso do Conhecimento
Resultados
Figura 2: Ciclo iterativo de descoberta de conhecimento em bases de dados e seu uso.
Organizando os Dados
As primeiras etapas para descoberta de conhecimento em grande quantidade de dados envolve operações sobre estes dados e que muitas vezes são executadas de modo imperativo. Elas são: • Estudar o domínio da aplicação e tentar ter um
conhecimento prévio que julgue relevante. Tente identificar o objetivo do cliente sob o seu ponto de vista, mas atenção: muita cautela no uso de conhecimento prévio vindo do cliente. Com efeito, é necessano que o profissional de IA conheça perfeitamente os objetivos do cliente. Sem estes conhecimentos, ele não poderá selecionar dados de modo conveniente. Por outro lado, é necessário evitar ao máximo todo o conhecimento prévio oriundo do cliente pois este conhecimento poderá estar ocultando fatos ou dando interpretações apressadas que é o que se deseja encontrar. Quando o cliente sugerir soluções que possivelmente serão obtidas depois do processo de descoberta de conhecimentos "data mining", a melhor política seria fingir que prestou atenção e nem ouví-las para não ficar influenciado por elas. Cuidado especial deve-se ter com clientes que acreditam não precisar de inteligência artificial e que tentarão dar soluções por já terem ouvido falar da experiência de outros. Não os ouça.
• Criar um conjunto de dados alvo a partir de todos os dados disponíveis. Retirar atributos que são desnecessários, e verificar se os atributos do modelo
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
que se deseja criar estão presentes. Note-se que todos os atributos que possam ter alguma influência sobre o resultado final, devem ser incorporados. Se alguns destes atributos não forem relevantes, os algoritmos de "data mining" descobrirão e se terá certeza de modo científico e não intuitivo, que, aquele atribuído não é relevante.
• Finalmente deve-se fazer um pré-processamento. Neste passo os dados passam por uma "limpeza", na qual, pode-se eliminar registros incompletos ou inconsistentes e calcular alguns atributos (ex: médias, variâncias,. .. )
As Etapas da Descoberta de Conhecimentos
As etapas de "Data Mining" dependem fundamentalmente do método utilizado para tratamento dos dados.
Seja o caso de um gerente de banco [14] que deseja um auxílio à avaliação de seus clientes em vistas de empréstimo. Para isto ele dispõe das fichas de empréstimos passados, com vários dados sobre cada cliente: idade, renda mensal, dívida total, casa própria ou não, etc, e anotado na ficha se é ou não bom pagador.
Em uma primeira fase é conveniente eliminar atributos que não influenciem em ser ou não bom pagador. Para isto devem ser usadas técnicas estatísticas. Seja o atributo idade. Obtém-se a distribuição de número de clientes por faixa de idade para os dois casos e usa-se teste de hipóteses para saber se as duas distribuições são diferentes ou iguais. Se o teste estatístico indicar que as mesmas devem ser iguais, o atributo pode ser desprezado, caso contrário ele deverá ser levado em conta.
Suponha-se que foram considerados relevantes os atributos: renda mensal e dívida total (apenas dois para pemütir uma representação gráfica no plano; no caso real de n atributos relevantes se deveria trabalhar de modo análogo em n dimensões. A Figura 3 mostra o gráfico deste caso, onde os pontos marcac;los com uma crnz são representativos de clientes bom pagadores e os com um pequeno zero dos mau pagadores. Vários modelos podem ser tentados para separar os pontos marcados com "x" dos marcados com um "o" Mostra-se o melhor que pode ser obtido com um separador linear, tal como o Perceptron e a utilização de um separador não linear, como por exemplo uma rede direta multi camada.
Dívida total
" "' " "'
" :i: o
o o o
o o Renda mensal
Figura 3: Data mining efetuado graficamente.
Quando o número de dimensões envolvidas não é grande, métodos gráficos são de grande valia .
65
Aplicações de Data Mining
A descoberta de conhecimentos em grandes bases de dados já transpôs os muros dos laboratórios de pesquisa e está sendo largamente utilizada. Sem ir muito longe, a primeira tese de doutorado defendida na UFSC, em Ciência da Computação por Mirela S. M. A. Notare pode se enquadrar neste tópico e como um último exemplo, distinto de nosso assunto biomédica, será mencionado. Existe atualmente uma explosão no número de telefones celulares e com ela crimes, dentre os quais, a clonagem, se tornam correntes. Os telefonemas dados pelos possuidores de telefone são armazenados para fins de contabilidade podem ser organizados para detetar hábitos dos usuá1ios de celulares. Quando um telefonema for feito e que seja considerado pelo sistema como uma excessão, o programa faz uma chamada ao assinante do celular origem da chamada para confirmar se foi ou não uma fraude. Simples, não?
Presentemente existe ainda muito pouca penetração das técnicas de "data mining" em medicina. Um esforço neste sentido pode ser visto nos documentos [15], [16]. No momento, o ponto que está freando o uso de "data mining" em medicina é que "data mining", sendo uma nova concepção dirigida para pesquisa, ainda é quase completamente desconhecida da comunidade médica. Ora, se existem dados clínicos abundantes, estes dados são frequentemente inadequados a um estudo de "data mining" por não conterem dados, que apesar de aparentemente inúteis, são exatamente os que o pesquisador "data mining" procura.
Por exemplo, suponha-se que se deseje descobrir fatores de risco podendo acarretar malformações em recém-nascidos [17]. Precisa-se dispor dos prontuários de vários casos apresentando e não apresentando a máformação em estudo, e que nestes prontuários estejam informações sobre os pontos que se possa suspeitar: • Fatores genéticos? é necessário ter dados familiares. ª Sorologia de Lues (sífilis). • Compatibilidade de fatores RH dos • Testagem de Apgard feita no primeiro e quinto
minutos de vida ª Droga tomada durante gravidez? Tudo que a gestante
tomou deve estar no conjunto de dados disponível. • Alcoolismo? Tabagismo? Outras drogas socialmente
menos aceitas? Devem constar no prontuário. • Uso de F orceps •Tempo de anestesia, se Cesariana • Se houve permanência em incubadora. •Gravidez de alto risco. • Grau de parentesco dos pais.
Tudo que se possa causar a mínima desconfiança deve constar do prontuário, assim como devem estar disponíveis também prontuários de recém-nascidos sadios. Infonnações do tipo: nome do recém-nascido e de seus familiares, endereço, etc, enfim tudo que possa identificar o caso, por razões éticas, deve ser suprimido. Felizmente, geralmente estes dados suprimidos não são relevantes para o tipo de pesquisa que se deseja efetuar.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
De um modo geral as aplicações de data mining podem ser classificadas em dois grupos principais: exploração-descoberta, predição-class{ficação. O tipo de conhecimento a ser extraído, depende muito do tipo do objetivo que se tem em vista. Pode ser representado por um conjunto de classes, descrições e regras, árvores de decisão, etc. Uma aplicação de exploraçãodescoberta acabou de ser apresentada no exemplo das malformações. O caso de predição-classificaçào é típico do raciocínio complementar ao que foi feito. Aqui se deseja, em uma populacão de indivíduos, prever, por exemplo, o risco de se expor a determinado fator, por exemplo: produtos químicos, trabalhar em local com fumantes, etc.
Ainda considerando o exemplo dos clientes, seria possível utilizar uma rede neural tipo Kohonen e neste caso, não seria necessário identificar na tabela as duas classes de clientes (compram muito e compram pouco). A rede iria separar em classes de clientes semelhantes o que daria provavelmente muitas surpresas.
Surpresas e uso de "data mining" vem quase sempre juntos e por esta razão "data mining" é útil. Se assim não fosse, e o conhecimento extraido fosse óbvio, que se teria ganho?
Além disto, "data mining" serve para mostrar o quao complexo é o processo de informatizar um centro de saude [ 18]: restringir-se a bases de dados e redes locais seria como em um restaurante francês, pedir um "steak aux poivres" e esquecer do molho de pimenta!
Discussão e Conclusões
Passada a euforia dos primeiros tempos, pode-se dizer que as aplicações biomédicas da IA se consolidam progressivamente. Médicos usam sistemas inteligentes como ajuda à decisão. Alunos usam programas inteligentes de ensino, não somente aplicando o conceito de tutorial inteligente, como introduzido por Clancey, mas explorando as mais variadas facetas da IA. Mais recentemente aplicações de bases inteligentes de dados começaram a aparecer.
Casamento Pe1feito ou Amantes Eternos? E por que não pode haver amor num casamento
que completou suas "Bodas de Prata" ano passado, com os 25 anos de MYCIN? Como todo casamento, teve seus altos e baixos, mas continua sólido. O futuro? Vivamos o presente e com isto o construiremos ...
Agradecimentos
Inicialmente cabe agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de voltar a assunto que me é tão caro e deixar registrado fatos da minha carreira de pesquisador. A lista é longa, mas meu agradecimento a todos aqueles com quem pude aprender, principalmente meus alunos.
Referências
[1] I Asimov, 1. Robot, Dobson Books, Great Britain, 1967.
66
[2] J. M. Barreto, Inteligência Art{ficial no Limiar do Século XXI, 2a edição, Duplic, Florianópolis, 2000.
[3] W. McCulloch and W. Pitts, "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity", Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115--133, 1943.
[4] C. Shannon, and J. McCarty (edt.), Automata Studies, Princeton Univ. Press, New Jersey, 1956.
[5] M. L. Minsky and S. A. Papert, Perceptrons: an introduction to computational geometry, The MIT Press, Massachussets, 1969.
[6] E. A. Feigenbaum and P. McCorduck, The F{fih Generation, Addison-Wesley, 1983.
[7] L. J .. Fogel, A. J. Owens and M. J. Walsh, Artificial Intelligence Through Simulated Evolution, John Wiley, 1966.
[8] E. H. Shortliffe, "MYCIN: a rule-based computer program for advising physicians regarding antimicrobial therapy selection", Tese de Doutorado, Computer Science Department, Stanford University, California, 1974.
[9] W. Clancey, "Transfer of rule-based expertise through a tutorial dialog", Tese de Doutorado, Computer Science Department, Stanfàrd University, California, 1979.
[10] W. Clancey, "From GUIDON to NEOMYCIN and HERACLES in Twenty Short Lessons", in Current Issues in Expert Systems, A. van Lamsweerde and P. Dufour (editores), p. 79--124, 1987.
[11] W. C. de Lima and J. M. Barreto, "Inteligência Artificial", Ciência Hoje, v.7, 38, p. 50-56, 1987.
[12] F. M de Azevedo, "Contribution to the Study of Neural Networks in Dynamical Expert System", Tese de doutorado, Institut d'Infàrmatique, FUNDP, Namur, Bélgica, 1993.
[13] R. Garcia, "Técnicas de inteligência artificial aplicadas ao apoio à decisão médica na especialidade de anestesiologia", Tese de doutorado, Univ. Fed. de Santa Catarina, Dept. Eng. Elétrica, Florianópolis, 1992.
[14] J. M. BaITeto, J. Nievola and W. C. de Lima, "A student freedom of a tutor system". ln MELECON'96, 8th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conf, Bari, p.1097-1100, 1996.
[15] M. Brodie and J. Mylopoulos and J. Schmidt, On conceptual modeling, Springer, New York, 1984.
[16] U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro and P. Smyth, "From data mining to knowledge discovery: an overview", in Advances in knowledge discove1y and data mining, U. M. Fayyad, G. PiatetskyShapiro, P. Smyth and R. Uthurusamy (editores), Menlo Park, California, cap. l, P.1-34, 1996.
[17] K. S. Collazos and J. M. BaITeto, "KDD para o estudo epidemiológico das malformações", in 1 Cong. Peruano de Jng.a Biomedica, Pontificia Universidad Catolica dei Peru, p. 113-115, 1999.
[18] [17] G. F. Pellegrini, J. M. Barreto and W. C. de Lima, "Metodologia de construção de sistems de informação em centros de saude", in I Cong. Peruano de Ingenieria Biomedica, Pontificia Universidad Catolica dei Peru, p. 42-44, 1999.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva Através da Assistência Circulatória Mecânica
Adolfo A. Leimer1
1Centro de Tecnologia Biomédica, Instituto do Coração (InCor) HC-FMUSP, São Paulo Fone (OXXl 1)3069-5525, Fax (OXXl 1 )3069-5529
Resumo - São apresentadas as principais abordagens ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Entre elas detalha-se a assistência circulatória mecânica, seu desenvolvimento histórico e seu impacto sobre a cirurgia cardíaca e sobre o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva principalmente nas seguintes situações: ponte para transplante aguardando doação de órgão, ponte para recuperação aguardando melhora funcional do coração e implante para uso definitivo. São descritos os diversos dispositivos de fluxo pulsátil e contínuo, seu modo de atuação bem como as configurações série e paralelo e os acessos mais utilizados nas conexões ao paciente.
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca Congestiva, Circulação Assistida, Dispositivos de Assistência Circulatória, Coração Artificial.
Abstract - The main treatment strategies for congestive heart failure are described. Among them, we present in greater detail mechanical cardiac assistance as well as its impact upon cardiac surgery and the treatment of terminal heart failure, mainly as bridge to transplantation while waiting for organ donor, as bridge to recovery waiting for functional improvement, and finally as permanent implant. Severa! devices, both pulsatile and non-pulsatile are described, together with their operating principies, as well as severa! techniques of attaching them to the patient. Series and parallel operation are analyzed.
Key-words: Congestive Heart Failure, Assisted Circulation, Cardiac Assist Devices, Artificial Heart.
Introdução
A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) não é uma doença, mas uma síndrome clínica que se delineia a partir de uma disfunção ventricular, provocando quase sempre uma condição de baixo débito, que pela ativação do sistema neuro-humoral leva à retenção de sal e água, com acúmulo de volume (congestão) e aumento das pressões na pequena circulação e eventualmente no retorno venoso sistêmico.
Quando se inicia o processo de queda no débito cardíaco, uma série de compensações procura manter o paciente assintomático. Depois da ativação do sistema neuro-humoral, o miocárdio sofre uma série de transformações adaptativas denominadas remodelamento ventricular [ 1]. Esta inclui alterações nos miócitos e na matriz extracelular resultando em mudança da geometria do ventrículo esquerdo (VE) com dilatação, aumento da esfericidade, adelgaçamento das paredes e secundariamente, incompetência da válvula mitral.
O prognóstico dos pacientes com ICC é extremamente grave. O estudo de Framingham [2], realizado entre 1948 e 1988 encontrou uma mediana para sobrevida de 3,2 anos para homens e 5,4 anos para mulheres.
As principais causas da ICC são a doença isquêmica do miocárdio (secundária à doença aterosclerótica), as disfunções valvares, a doença miocárdica pnmana (idiopática, infiltrativa ou inflamatória), a hipertensão arterial, as infecções ( miocardites virais e chagásicas), malformações congênitas etc.
Apesar dos progressos da medicina, a incidência de ICC tem aumentado, possivelmente devido ao aumento da expectativa de vida da população e às terapias paliativas. Nos EUA atinge cerca de três milhões de pessoas, aumentando à razão anual de 400.000 com mortalidade de 200.000/ano [3]. Nos EUA gastam-se anualmente cerca de 30 bilhões de dólares no cuidado dos pacientes com ICC.
Estima-se que hoje nos EUA, 360.000 pacientes estariam necessitando de alguma solução para ICC. Pela magnitude sócio-econômica do problema, além da assistência circulatória mecânica (ACM), existem esforços em várias linhas para solucioná-lo. Vejamos algumas delas:
Terapêutica farmacológica: A introdução de novas drogas e estratégias de tratamento, visando reduzir o trabalho cardíaco e interromper a cadeia renina-angiotensina resultou, no curto prazo, melhorar substancialmente a qualidade de vida dos pacientes, mas
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
teve sucesso limitado no prolongamento da sobrevida [4],[5].
Transplante (Tx) Homólogo: A introdução da Ciclosporina [6], [7] nos anos 80 tornou o Tx cardíaco homólogo a melhor terapêutica para a ICC terminal. A sobrevida de 1 O anos pós-transplante aproxima-se de 50%, havendo sobreviventes com 20 anos [8]. Contudo, a obtenção do órgão constitui um obstáculo e cerca de 30% dos pacientes morrem enquanto aguardam a obtenção de doadores [9], [10]. O número de transplantes realizado anualmente no mundo permanece estável em cerca de 3.600 (2.400 nos EUA) não obstante os esforços realizados.
Cirurgia de Revascularizacão e Angioplastia: Um paciente com doença isquêmica do miocárdio e função miocárdica diminuída pode beneficiar-se de uma cirurgia de revascularização [ 11] ("ponte" de veia safena ou de artéria mamária).
A identificação de miocárdio hibernado mediante exame ecocardiográfico específico [12], pode sugerir uma revascularização seja cirúrgica ou por angioplastia propiciando condições funcionais ao músculo e melhora do desempenho sistólico.
Correcão de defeitos estruturais: Se o problema for originário de alguma anomalia estrutural pode-se corrigi-lo com melhora da função. Por exemplo, a correção cirúrgica (plastia ou prótese) da insuficiência mitral que freqüentemente acompanha a ICC com coração dilatado pode melhorar o desempenho do coração.
Estimulação biventricular com marcapasso [13], [14]: Certos grupos de pacientes com ICC dilatada podem se beneficiar da sincronização das câmaras cardíacas através da utilização de estimulação bicameral por marcapasso adequado a este fim.
Cardiomioplastia [15]: Neste procedimento cirúrgico, o músculo grande dorsal é removido de sua inserção dorsal, e mantida a do pedículo vásculonervoso junto à articulação escápulo-humeral. O músculo é então rodado para dentro da cavidade torácica e enrolado no coração (Fig. 1 ).
~~ECG
111111\ 11\111 <ÇESTfMULO
Figura 1 - Esquema da cirurgia de cardiomioplastia onde um músculo esquelético é utilizado para auxiliar a
função do miocárdio
Um marcapasso especial estimula este músculo esquelético sincronamente à sístole do coração, visando aumentar a função sistólica. Ao mesmo tempo o músculo efetua uma contenção do miocárdio resultando
68
em redução da tensão da parede do VE. A cardiomioplastia despertou grande entusiasmo inicial, com resultados animadores e centenas de pacientes submetidos a este procedimento em todo o mundo. Em ICC's não muito avançadas (Classe III) os resultados foram a melhoria da qualidade de vida e de parâmetros objetivos da função cardíaca [15], mas seus beneficios mostraram ser passageiros. Diante da avaliação global dos resultados, a técnica foi praticamente abandonada, havendo desinteresse dos fabricantes de marcapassos que vinham possibilitando os ensaios clínicos.
Cirurgia de Batista: Técnica cirúrgica com repercussão internacional desenvolvida no Brasil, consiste na remoção cirúrgica de parte do ventrículo dilatado com a finalidade de mudar a sua geometria. Esta mudança diminuiria a tensão na parede ventricular (de acordo com a Lei de Laplace). Freqüentemente a intervenção é acompanhada de reparo na válvula mitral. Os resultados mostraram que a função cardíaca melhora sensivelmente com a cirurgia, mas esta é acompanhada de uma mortalidade perioperatória nos seis primeiros meses de cerca de 50%. Os restantes têm boa sobrevida com melhora da função cardíaca. As vantagens do uso deste procedimento ainda não foram demonstradas objetivamente, havendo certo desencontro entre os resultados dos vários grupos [ 16], [ 17].
Xenotransplantes: O Tx de corações de outras espécies em humanos foi tentado 7 vezes e teve resultados negativos, sendo que no melhor caso, o órgão transplantado funcionou 20 dias. As tentativas foram suspensas em 1991. A perspectiva de um suprimento farto de órgãos animais tem estimulado a pesquisa na área [ 18]. A maior barreira para os xenotransplantes é a rejeição aguda e crônica [19], que estimula estudos no terreno da imunossupressão e da criação de animais geneticamente modificados. Um outro obstáculo para a caeitação dos xenotransplantes é o temor das zoonoses [20] que poderiam transmitir doenças do animal para o homem.
Outras técnicas em desenvolvimento: Os recentes avanços na biologia celular e molecular sugerem novas alternativas de intervenção terapêutica para recuperar o tecido cardíaco lesado ou em queda de desempenho. Tem sido tentada clinicamente com resultados promissores a angiogênese terapêutica, através da aplicação direta de mediadores biológicos ativos como o FGF e VEGF recombinante [21] ou através de terapia gênica [22] (onde se introduz novo material genético em células somáticas).
Para a recuperação da força contrátil do miocárdio nos quadros de insuficiência cardíaca, está sendo tentada a cardiomioplastia celular [23], onde se busca introduzir no miocárdio, células autólogas ou heterólogas com capacidade contrátil. Também tem se tentado alterar a programação celular, neste caso os miócitos, para recuperar sua capacidade contrátil e melhorar a função ventricular, através da transferência de material genético [24].
Assistência Circulatória Mecânica - Histórico
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
O auxílio mecamco à insuficiência cardíaca só foi possível graças à somatória de avanços científicos e tecnológicos do século XX .. As principais contribuições vieram da fisiologia cardiovascular, da cirurgia cardíaca, da hematologia, e das engenharias mecânica e de materiais.
Em 1934, DeBakey [25] usou a bomba de roletes (usada há anos para transfusões sangüíneas) para bombear grandes volumes de líquido contidos em tubos flexíveis. Em 1930, usando oxigenação autógena, Gibbs [26] ligou uma bomba mecânica aos grandes vasos de gatos e cães mantendo-os vivos. A idéia de agregar a uma bomba mecânica um dispositivo oxigenador, pennitindo uma intervenção cirúrgica sobre o coração parado foi posta em prática por Gibbon [27] em 1937. Em 1951, Dennis [28] usou esta técnica na correção cirúrgica de uma comunicação inter-atrial. Na década de 50, o conceito introduzido por Gibbon em 193 7 transformou radicalmente o panorama da cirurgia cardíaca. A bomba de roletes mostrou-se simples e confiável. Ocorreu o desenvolvimento dos oxigenadores (chamados então de pulmões artificiais) que passariam posterionnente a ser fabricados sob forma descartável. Com esta conjunção de fatores, a assistência à circulação e à oxigenação durante a cirurgia cardíaca tornou-se viável e rotineira, permitindo intervenções sobre um coração seco e parado. Em 1957, no Kings County Hospital, Stuckey et ai. [29] utilizaram, com êxito, uma máquina de circulação extracorpórea (CEC) para dar suporte circulatório a um paciente em choque por baixo débito cardíaco pós infarto agudo do miocárdio. Foi a primeira descrição do uso de bombas como ACM fora de suporte cirúrgico. Em 1965, Spencer et ai. [30] descreveram o uso da ACM para falência cardíaca pós CEC. No entanto, ficou claro que a máquina coração-pulmão tal qual usada em CEC era ineficiente e inconveniente no suporte de longa duração exigido nos casos de insuficiência cardíaca grave. Em 1957, Akutsu & Kolff [31] já haviam implantado em um cão, um coração artificial de acionamento pneumático, mantendo o animal vivo por 90 minutos. Em 1962, Molopoulous et ai. [32] desenvolveram o balão intraaórtico. Em 1968, Kantrowitz et ai. [33] descreveram a aplicação clínica deste.
O primeiro Tx homólogo foi realizado por Barnard [34] em 1968. Esta técnica de substituição do órgão reduziu a utilidade da aplicação direta de dispositivos mecânicos nos casos de insuficiência cardíaca tenninal, porém gerou uma nova aplicação: a "ponte" para Tx através da ACM. A "ponte" implica num suporte circulatório mecânico ao paciente terminal enquanto este aguarda um doador na fila do Tx. Em 1969, Cooley et ai. [35] utilizaram pela primeira vez um coração artificial mecânico como "ponte" para Tx cardíaco, procedimento que foi denominado inicialmente "substituição do coração em estágios". Com o uso da Ciclosporina [6], [7], e conseqüente aumento no número de Tx's, as "pontes" começaram a ser utilizadas em vários centros. Inicialmente muitas foram feitas com o balão intra-aórtico [36]. A primeira "ponte" para Tx bem sucedida, com uso de coração
69
artificial, foi realizada em 1987 por Emery et ai. [3 7]. Em 1982, De Vries et ai. [38] implantaram o primeiro coração artificial total (Jarvik-7) tendo o paciente sobrevivido 112 dias.
Os dispositivos de assistência ventricular (DA V) foram se tornando mais confiáveis e portáteis. A duração média das "pontes" tornou-se maior, pennitindo recuperação do paciente e um melhor resultado na cirurgia do Tx. Os pacientes passaram a deixar os hospitais com seus DA V's aguardando o Tx em casa [39]. Em casos onde a obtenção de doador era problemática, a duração das "pontes" para Tx podia ser extendida e chegou a ultrapassar 3 anos [40].
Com 15 anos de experiência em "pontes" para Tx os DA V's se mostraram muito confiáveis, e a idéia de mandar pacientes com DA V para casa por tempo indefinido pareceu viável. Isto provocou o estudo multicêntrico REMATCH [ 41] (Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure) ainda em curso. Escolheramse pacientes que necessitavam de Tx, porém não tinham condições de faze-lo. Far-se-á a comparação de dois grupos de pacientes escolhidos por sorteio: o primeiro com implante dos DAV's a longo prazo e outro com terapêutica farmacológica máxima.
Outro desdobramento interessante dos DA V's é a chamada "ponte" para recuperação da função miocárdica em pacientes com ICC. Estes dispositivos diminuem o trabalho do VE ao reduzirem a pressão interna e a tensão nas paredes. Este fato pode levar a uma diminuição considerável das dimensões cardíacas, um aumento da fração de ejeção, diminuição da pressão nos capilares pulmonares e queda da resistência vascular pulmonar. Muitas vezes ocorre reversão de padrões histológicos, bioquímicos e neuro-humorais. Estas alterações correspondem a uma reversão do processo de remodelamento ventricular. Vários grupos relatam instancias em que o DA V ser removido, alguns delas sem recorrência da ICC [43], porém as estatísticas e as observações clínicas sobre as características destes pacientes permanecem bastante heterogêneas.
Tipos de assistência circulatória
Apresentamos as classificações e exemplos de dispositivos para ACM:
1) Quanto ao modo de bombeamento: a) Não pulsáteis de fluxo radial (Centrífugas), b) Não pulsáteis de fluxo axial (Hemopump®, Jarvik2000®, Micromed DeBakey®), c) Pulsáteis (Ventrículos artificiais como Thoratec®, InCor, Heartmate®, Novacor®, Berlin Heart®, Medos® e Coração artificial total (CAT) como o CardioWest®).
II) Quanto à localização dos dispositivos: a) Implantável (Heartmate®, Novacor®, Jarvik2000®, Micromed DeBakey®, CardioWest®) e b) Paracorpórea (InCor, Thoratec®, Berlin Heart®).
III) Quanto ao tipo de acionamento: a) Pneumático (InCor, Thoratec®, Berlin Heart®,
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Medos®), b) Eletromecânico (Heartmate®, N ovacor®, Jarvik2000®, Micromed DeBakey®), c) Eletrohidráulico, d) Biomecânico.
IV) Quanto ao padrão de assistência: a) Assistência em série com contrapulsação (Balão intraaórtico ), b) Assistência em paralelo: Não pulsáteis (axiais e radiais), Ventrículo artificial, c) Substituição mecânica (Coração artificial total), d) Compressão extrínseca (Cardiomioplastia).
V) Quanto à finalidade da aplicação: a) "Ponte" para Tx (Assistência aguardando Tx) b) "Ponte" para recuperação (Assistência aguardando recuperação e retirada do dispositivo) c) Suporte temporário: Cirurgia cardíaca, Assistência respiratória por "Extracorporeal membrane oxygenation" (ECMO) d) Assistência definitiva com DAV's (ainda em avaliação).
A Tabela I sintetiza os principais dispositivos em uso atual, características e aplicações.
Assistência em série
Baseado no princípio da contrapulsação, o balão intra-aórtico é o dispositivo de assistência circulatória temporária mais usado na atualidade, tendo se tornado equipamento indispensável em toda UTI bem equipada. A contrapulsação, com o balão intra-aórtico, é obtida com o mesmo posicionado na aorta torácica descendente (Fig.2).
POPA
~ li
PSP \ PSPA l { \ " '\ i...
' \ 1 ,,. 1 \ !'.. I \ V \ \
J PI \ .... - J """"'-~ \ Dnr \l
PDFA
Figura 2 - Balão intra-aórtico posicionado na aorta. A: Inflado durante a diástole B: Vazio durante a sístole
PSP: Pressão sistólica de pico, PI: Pressão de Insuflamento, PDPA: Pressão diastólica de pico
assistida, PDF A: Pressão diastólica final assistida, PSPA: Pressão sistólica final assistida, PDF: Pressão
diastólica final sem assistência
Ele é rapidamente inflado na diástole, simultaneamente com o fechamento da válvula aórtica. Desta forma, um aumento na pressão diastólica de pico aórtica (PDPA) é obtido melhorando a perfusão
70
coronariana e sistêmica. No início da sístole, o balão é rapidamente esvaziado refletindo-se numa diminuição da pressão diastólica final na aorta (PDFA) e propiciando uma ejeção sistólica facilitada.. Assim, a ação do balão intra-aórtico é dupla. Primeiramente ao aumentar a pressão diastólica, o aporte de sangue e oxigênio às coronárias pode ser aumentado, melhorando a contratilidade das regiões isquêmicas. Melhora também a perfusão sistêmica. Em segundo lugar, o esvaziamento rápido do balão logo antes da sístole reduz o trabalho imposto ao ventrículo esquerdo (PDFA<PDF), facilitando seu esvaziamento e diminuindo o consumo de oxigênio. As alterações pressóricas introduzidas pelo balão intra-aórtico podem melhorar o fluxo coronariano em cerca de 60% e diminuir a sobrecarga miocárdica em até 25% [44].
Assistência em paralelo
Os DA V's em paralelo são instalados com o coração "in situ", recebendo sangue dos átrios ou dos ventrículos e retornando-o aos grandes vasos (aorta ou tronco pulmonar). A assistência pode ser dada à circulação sistêmica e pulmonar de forma individual ou simultânea. (Fig. 3)
A. Suporte Univentrícu!ar do VD (AD/AP)
B. Suporte Biiventricular do VD e C. Suporte Unlventricular VE (AD/AP e VE/Aorta) do VE (AE/Aorta)
Figura 3 - Algumas possibilidades de assistência uni e biventricular em paralelo
Todos os DA V's em paralelo compreendem basicamente a cânula de entrada, a de saída e a bomba propriamente dita. Uma exceção é o Jarvik2000® onde a bomba é colocada dentro do próprio VE (Fig.4 ). Examinemos as conexões mais habituais para as cânulas de entrada e saída.
Figura 4 - Bomba axial Jarvik 2000 instalada dentro do VE com cânula de saída na aorta
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Na assistência ao ventrículo direito (VD), a conexão mais comum do DA V é entre o átrio direito e o tronco da artéria pulmonar [45]. Na assistência ventricular esquerda, a disposição mais comum é a drenagem pelo ápice do ventrículo esquerdo ou pelo átrio esquerdo. Ao drenarmos o ápice [46], o local mais usado para a ejeção é a aorta torácica ascendente. Também, usa-se a ejeção na aorta torácica descendente. Na drenagem do átrio esquerdo costuma-se conectar a cânula de ejeção na a01ta ascendente. Na assistência biventricular usamos quaisquer das combinações acima.
Substituição mecânica
Nesta modalidade, os ventrículos do paciente são retirados e substituídos por um coração aitificial total que são dois dispositivos de assistência ventricular solidários em monobloco e com suas conexões de entrada sem cânulas (Fig.5), mas com flanges de tecido dispostas de tal maneira a pennitirem sutura direta aos átrios remanescentes do coração do paciente. Esta substituição implica no Tx obrigatório, já que o coração nativo é retirado.
Figura 5 - Coração artificial total. Na paite superior as flanges de fixação aos átrios. Vêem-se também as válvulas mecânicas e as cânulas de saída na parte
inferior
Compressão extrínseca
É realizada por dispositivos que aplicam pressão sobre o coração à maneira de uma massagem cardíaca interna. Na prática, a única modalidade de assistência que utiliza este princípio é a cardiomioplastia [15].
Bombas centrífugas
São dispositivos de fluxo contínuo onde o fluido se movimenta perpendicularmente ao eixo de rotação da bomba. O sangue é admitido no conector de entrada e é arrastado radialmente, pelo efeito centrífugo, em direção à base do cone onde deixa a bomba, já sob pressão, pelo conector de saída (Fig.6).
ENTRADA l
Figura 6 - Representação esquemática de bomba centrífuga
Estas bombas podem fornecer, um fluxo máximo da ordem de 8 L/min. sob pressão contínua de até 100 mmHg. Entre as vantagens das bombas de fluxo contínuo sobre as pulsáteis, destacamos o fluxo unidirecional sem o uso de válvulas, a possibilidade de tubulações mais finas para um mesmo débito (pela ausência de acelerações e desacelerações do sangue provocadas pelo pulso) e, finalmente, as menores complicações trombóticas e hemolíticas [ 4 7]. São usadas em paralelo ao coração podendo dar apoio ao VE. As cânulas podem ser as mesmas utilizadas na CEC. A bomba centrífuga foi inicialmente desenvolvida [ 48] para ser usada como coração artificial, mas não se adaptou bem a esta função. Porém, pela simplicidade e baixa hemólise, começou a ser usada em casos CEC prolongada e para suporte circulatório. Até o momento, problemas técnicos de infiltração de sangue no eixo da bomba [ 49] obrigam a troca das bombas com certa freqüência (cada 2 a 3 dias).
Bombas axiais de fluxo contínuo
São dispositivos nos quais o fluxo é paralelo ao eixo de rotação da bomba (Fig. São também chamadas bombas "em roca" pumps) [50]. Wampler et al. [51] criaram um de pequenas dimensões denominado Hemopump® acionado à distância por um cabo podendo ser inserida pela artéria femoral [52]. Apresentava a vantagem de poder ser inserida sem abertura do tórax. No entanto, apresentou dificuldades técnicas e hoje se encontra praticamente abandonada. Teve o mérito, no entanto de introduzir a idéia de bombas axiais de pequenas dimensões e alta rotação (chegava a 30.000 RPM) que se mostraram menos hemolíticas que as bombas axiais maiores.
Alguns modelos (Jarvik2000®, Micromed DeBakey®) de pequenas dimensões com motor e bomba solidários estão sendo usados clinicamente desde 1999 para suporte circulatório implantável [53], [54], [55], [56], [57]. O dispositivo pode ser colocado no trajeto de uma cânula que aspira o sangue do ápice do ventrículo esquerdo e o ejeta na aorta (Fig 7B) ou então posicionado do próprio VE (Fig.4).
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
ENROLAMENTO DO ESTATOR
ROTOR COM ÍMÃ PERMANENTE
Figura 7 Bomba axial com motor solidário em corte
Figura 7B - Bomba axial implantável para assistência em paralelo, com transformação de energia transtorácica
por transformador RF
Bombas de fluxo pulsátil
Os dispositivos de assistência ventricular pulsáteis são caracterizados por diafragmas que se movem por uma certa distância, ejetando sangue para fora de uma câmara de bombeamento e o aspirando ao voltar à posição inicial. Como exemplo, a Figura 8 mostra esquema de um dispositivo acionado por ar comprimido. O diafragma separa a bomba em duas câmaras: uma é a câmara de sangue com dutos de entrada e saída, cada um contendo uma válvula que permite a passagem do sangue num só sentido. A outra é a câmara de acionamento que possui os mecanismos necessários para acionar o diafragma, sejam eles pneumáticos (Thoratec®, InCor, Berlin Heart®, Medos®), ou eletromecânicos (Heartmate®, Novacor®).
Figura 8 Esquema do DA V pulsátil acionado por ar comprimido
Quanto ao fornecimento da energia propulsora, os dispositivos paracorpóreos, por serem externos, não apresentam nenhum problema (o Thoratec® já foi implantado por 515 dias), sendo os acionadores contidos em consoles sobre rodas ou mochilas. Nos dispositivos de assistência ventricular implantados, podemos transferir energia para dentro da cavidade por via percutânea, através de um tubo de ar comprimido (no caso de dispositivo pneumático) ou, então, por um cabo condutor (no caso de dispositivo eletromecânico). Os sistemas que não implicam em solução de continuidade da pele, utilizam a via transcutânea por meio de um transformador de radiofreqüência (Fig.7B e 9) com núcleo de ar, o primário sendo uma bobina externa sobre a pele, e o secundário implantado sob a denne.
Figura 9 - DAV eletromecânico totalmente implantável, com transformador RF sob forma de cinto para
transmissão transcutânea de energia
Os dispositivos de fluxo pulsátil podem ser ventrículos artificiais ou corações artificiais totais. Os primeiros possuem as seguintes vantagens: 1. O coração natural permanece no local com potencial
de se recuperar. 2. São adequados a inúmeros casos de falência isolada
do ventrículo esquerdo. 3. Podem ser usados em pacientes pequenos.
Já o coração artificial total apresenta as vantagens: 1. Sendo suturados diretamente aos átrios não possuem
cânulas de entrada e saída que são fatores limitantes do débito.
2. Os dispositivos de assistência ventricular são mais dificeis de operar em modo biventricular
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Viabilidade do fluxo contínuo prolongado
Se reduzirmos o papel dos dispositivos de assistência circulatória àquele de manter o sangue sob regime de pressão tal que um aporte sangüíneo adequado atinja os tecidos, optaríamos sem dúvida por uma bomba de fluxo contínuo; mais simples, mais barata, mais fácil de operar, sem válvulas, exigindo tubulação de menor calibre, a escolha parece óbvia.
No entanto, discute-se ainda hoje de forma nada conclusiva, a necessidade ou não do pulso arterial. O argumento de imitar a natureza não é científico e apela apenas ao bom senso.
Os resultados coletados e sintetizados apontam as seguintes desvantagens para fluxo não pulsátil: piora da perfusão em geral por aumento da resistência vascular sistêmica, aumento de lactato e acidose por queda do consumo de oxigênio, piora das funções orgânicas por queda do fluxo capilar, edema por diminuição do fluxo linfático e da pressão coloidosmótica, e diminuição da atividade endócrina incluindo aquelas múltiplas regidas pela adenohipófise [58].
Existe, no entanto um bom argumento a favor do fluxo contínuo: Na assistência circulatória onde o coração natural permanece, quase sempre este é capaz de gerar algum débito em paralelo com o dispositivo, sendo que o fluxo resultante da somatória toma-se pulsátil e a discussão dispensável. Com a recuperação gradual do coração em ponte é comum o fluxo tomar-se cada vez mais pulsátil.
Discussão
Enquanto a demanda de Tx's superar a oferta de órgãos o Tx homólogo continuará não sendo solução para o tratamento da ICC apesar da existência dos DA V's. Existem hoje nos EUA 62.000 pacientes em lista. De acordo com o Eurotransplant Database que congrega países com serviço de procura de órgãos muito aprimorado, cerca de 12% dos pacientes em fila morrem nos primeiros três meses, 17% nos seis meses. Por questões éticas, a colocação na fila do Tx não pode se alterar uma vez que o paciente é colocado em "ponte". Isto quer dizer que a ACM quando muito poderá aumentar a probabilidade de sobrevida dos pacientes que chegam à fila.
Enquanto não existirem soluções permitindo a reparação do miocárdio as possibilidades mais imediatas são os Xenotransplantes e a ACM definitiva. No tocante a esta última, fatos recentes foram muito significativos: a) O ensaio multicêntrico REMATCH, que representa
o primeiro passo no sentido de aceitarem-se oficialmente os DAV's como um implante
73
b) definitivo. Este fato reflete o reconhecimento por parte das agências reguladoras da experiência adquirida em mais de 4000 "pontes" até o momento.
c) Os primeiros ensaios clínicos com bombas axiais pequenas e mais simples. A bomba Micromed DeBakey® foi implantada em 33 pacientes (comunicação pessoal). A duração média de suporte foi de 78,5 dias e duração máxima de 123 dias [59]. A Jarvik2000® foi implantada em 3 pacientes (comunicação pessoal).
A relativa simplicidade das bombas axiais toma a solução economicamente mais viável. Como exemplo, a Jarvik2000® é controlada pelo próprio paciente. Persistem ainda problemas de controle para casos de RPM muito altas ( colabamento da cânula de entrada) e em casos de RPM' s baixas fluxo retrógrado na bomba.
Quanto aos resultados obtidos pela ACM [60], mais de 70% dos pacientes de "ponte" para Tx têm alta hospitalar. A ACM faz com que os pacientes que sobrevivem à "ponte" cheguem ao Tx em excelentes condições de condicionamento físico obtido enquanto portadores dos ventrículos artificiais e saiam da cirurgia com corações "novos". Já dos pacientes que simplesmente sofrem suporte circulatório por choque cardiogênico, sem Tx, apenas cerca de 20% têm alta pois mantêm seus corações lesados.
Sistema
BIA (Balão intra-aórtico)
BOMBAS ROTATIVAS
Axiais: - Jarvick 2000 - DeBackey Micromed
Centrífugas: - Biomedicus (Medtroníc)
- Delphin (Sarns 3M) - Lifestream (St. Jude) - Hiflow (Medos) -BC InCor
VENTRÍCULOS EXTERNOS HETEROTÓPICOS
- Abiomed BVS-500 - Nippon Zeon -Thoratec - Berlin Heart - Medos -DAVInCor
CORAÇÃO TOTAL ARTIFICIAL ORTOTÓPICO
- Cardiowest
VENTRÍCULOS INTERNOS HETEROTÓPICOS
- TCI Heartmate - Baxter Novacor
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Tabela 1 - Sistemas de Assistência Cardíaca Mecânica 2.000
Local de Implante Fonte de Energia Tipo de Fluxo Nível de Assistência
intra-aórtico pneumático pulsátil parcial
intra-cardíaco elétrico contínuo total intra corpóreo elétrico contínuo total
paracorpóreo/ elétrico contínuo parcial uni ou biventricular
para corpóreo pneumático pulsátil parcial ou total uni ou biventricular
intra corpóreo pneumático pulsátil total (biventricular)
intracorpóreo elétrico pulsátil total (univentrícular) elétrico
74
Ponte para:
recuperação
Tx (recuperação) Tx (recuperação)
recuperação (Tx)
recuperação (Tx) Tx (recuperação) Tx (recuperação) Tx (recuperação) Tx (recuperação) Tx(recuperação)
Tx
Tx/recuperação/ uso permanante(?)
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Referências
[l] D. L. Mann, "Mechanisms and models in heart failure: A combinatorial approach'', Circulation, vol.l 00(9), pp. 999-1008, 1999.
[2] K. K Ho, K. K. M. Anderson, W. B. Kannel, et al., "Survival after the onset of congestive heart failure in Framingham Heart Study subjects", Circulation vol. 88,pp. 107, 1993.
[3] J. B. O'Connel, M. R. Bristow, "Economic impact of heart failure in the United States: Time for different approach, J. Heart Lung Transplant", vol. 13, pp. Sl07-12, 1994.
[ 4] SOL VD Investigators, "Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure'', N. Eng!. J. Med., vol. 325, pp. 293, 1991.
[5] M. Metra, M. Nardi, R. Giubbini, et al., "Effects of short and long-term carvedilol administration on rest and exercise hemodynamic variables, exercise capacity and clinicai conditions in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy", J. Am. Coll. Cardiol, vol. 24, pp.1678, 1994.
[6] R. Y. Calne, K. Rolles, and D. J. G. White, "Cyclosporin-A initially as the only immunosuppressant in 34 recipients of cadaveric organs: Thirty-two kidneys, two pancreases, two livers", Lancet, vol. 2, pp. 1033, 1979.
[7] P. E. Oyer, E. B. Stinson, and S. W. Jamieson, "Cyclosporine in cardiac transplantation: A two and a half year follow-up", Transplant. Proc. vol. 15, pp. 2546, 1983.
[8] UNOS 1994 Annual Report of the U.S. Scientific Registry of Transplant Recipients and the Organ Procurement and Transplantation Network. Transplant Data: 1988-1993.
[9] L. W. Stevenson, S. L. Warner, A. E. Steimle, et al., "The impending crisis awaiting cardiac transplantation: Modeling a solution based on selection'', Circulation, vol. 89, pp. 450, 1994.
[10] R. P. McManus, D. P. O'Hair, J. M. Beitzinger, et al., "Patients who die awa1t111g heart transplantation", J. Heart Lung Transplant, vol. 12, pp. 159, 1993.
[11] D. A. Weiner, T. J. Ryan, C. H. McCabe, et al., "Value of exercise testing in detennining the risk classification and the response to coronary artery bypass grafting in three-vessel coronary artery disease: A report from the Coronary Artery Surgery Study (CASS) registry'', Am. J. Cardiol., vol. 60, pp. 262, 1987.
[12] F. Barilla, M. Gheorghiade, M. Alam, et ai., "Low-dose dobutamine in patients with acute myocardial infarction identifies viable but not contractile myocardium and predicts the magnitude of improvement in wall motion abnormalities in response to coronary revascularization", Am. Heart J., vol. 122, pp. 1522, 1991.
[13] M. Debrunner, B. Naegeli, O. Bertel, "The acute effects of transvenous biventricular pacing in a
75
patient with congestive heart failure", Chest, vol. 117(6), pp. 1798-800, 2000.
[14] W. F. Kerwin, E. H. Botvinick, J.W. O'Connell, S. H. Merrick, T. DeMarco, K. Chatte1jee, K. Scheibly, L. A. Saxon, "Ventricular contraction abnormalities in dilated cardiomyopathy: effect of biventricular pacing to correct interventricular dyssynchrony", J. Am. Coll. Cardiol., vol. 35(5), pp. 1221-7, 2000.
[15] A. A. Leirner, "Cardiomyoplasty: A Summing Up", Artificial Organs, vol. 19(3 ), pp. 199-203, 1995.
[16] N. A. Stolf, L. F. Moreira, E. A. Bocchi, M. L. Higuchi, F. Bacal, G. Bellotti, A. D. Jatene, "Detenninants of midterm outcome of partia! left ventriculectomy in dilated cardiomyopathy", Ann. Thorac. Surg., vol. 66(5), pp. 1585-91, 1998.
[17] W. Konertz, A. Khoynezhad, A. Sidiropoulos, V. Borak, G. Baumann, "Early and intermediate results of left ventricular reduction surgery'', Eur. J. Cardiothorac. Surg., vol. 15, Suppl. 1, pp. S26-30, Discussion, S39-43, 1999.
[18] G. Cowley, A. Underwood, G. Brownell, "A pig may someday save your life. Biotech: scientists are racing to tum oinkers into organ donors. The effort could bring huge benefits, but it carries huge risks'', Newsweek, vol. 134(26), pp. 87-9, 2000.
[19] J. L. Platt, "New directions for organ transplantation", Nature, vol. 392( 6679 Suppl. ), pp. 11-7, 1998.
[20] J. Julvez, P. Vannier, L. Wadham, "Microbiological hazards of xenotransplantation. 2. Facing the risk", Pathol. Biol., vol. 48(4), pp. 436-9, 2000.
[21] B. Schumacher, P. Pecher, B. U. Von Specht, & T. Stegmann, "Induction of neoangiogenesis in ischemic myocardium by human growth factors: first clinicai results of a treatment of coronary heart disease", Circulation. vol. 97, pp. 645-650, 1998.
[22] D. W. Losordo, P. R. Vale, J. Symes, C. H. Dunnington, D. D. Esakof, M. Maisky, A. B. Ashare, K. Lathi, & J. M. Isner, "Gene therapy for myocardial angiogenesis: initial clinicai results with direct myocardial injection of phVEGF165 as sole therapy for myocardial ischemia'', Circulation, vol. 98, pp. 2800-2804, 1998.
[23] P. D. Kessler, & B. J. Byrne, "Myoblast cell grafting into heait muscle: cellular biology and potential applications", Annu. Rev. Physiol. vol. 61, pp. 219-42, 1999.
[24] M. I. Miyamoto, F. Dei Monte, U. Schmidt, T. S. Disalvo, Z. B. Kang, T. Matsui, J. L. Guerrero, J. K. Gwathmey, A. Rosenzweig, & R. J. Hajjar, "Adenoviral gene transfer of SERCA2a improves left-ventricular function in aortic-banded rats in transition to heart failure", Proc. Natl. Acad. Sei. U.S.A. , vol. 97(2), pp. 793-8, 2000.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
[25] M. E. De Bakey, "A simple continuous flow blood transfusion instrument", New Orleans Med. Surg. J., vol. 87, pp. 386-389, 1934.
[26] O. S. Gibbs, "An mtificial heart", J. Pharmaeol. Exp. Ther., vol. 38, pp. 197-215, 1930.
[27] J. H. Gibbon, "Artificial maintenance of circulation during expe1imental occlusion of the pulmonary artery", Areh. Surg. vol. 34, pp. 1105-1131, 1937.
[28] C. Dennis, "Development of a pump oxygenator to replace the heait and lungs; an apparatus applicable to human patients and application to one man", Ann. Surg., vol. 134, pp. 709, 1951.
[29] J. H. Stuckey, M. M. Newman, C. Dennis, E. H. Burg, et ai, "The use of heart-lung machine in selected cases of acute massive myocardial infarction", Surg. Forum, vol. 3, pp. 342-344, 1957.
[30] F.C. Spencer, B. Eiseman, J. K. Trinkle, N. P. Rossi, "Assisted circulation for cardiac failure following intracardiac surgery with cardiopulmonary bypass", J. Thorae. Cardiovase. Surg., vol. 49, pp. 56, 1965.
[31] T. Akutsu, W. I. Kolff, "Pneumatic substitutes for vanes and hearts", Trans. Am. Soe. Artif. Intern. Organs, vol. 4, pp. 230-235, 1957.
[32] S. D. Moulopoulos, S. R. Topaz, W. J. Kolff, "Extracorporeal assistance to the circulation and intraaortic baloon pumping", Trans. Am. Soe. Artif Jntern. Organs, vol. 8, pp. 86-88, 1962.
[33] A. Kantrowitz, S. Tjonneland, P. S. Freed, S. J. Philips, A. N. Butner, J. L. Sherman, "Initial clinicai experience with intraaortic baloon pumping in cardiogenic shock", JAMA, vol. 203, pp. 113, 1968.
[34] C. N. Bamard, "Human cardiac transplantation", Am. J. Cardiol., vol. 22, pp. 584, 1968.
[35] D. A. Cooley, D. Liotta, G. L. Hallman, R. D. Bloodwell, R. D. Leachman, J. D. Millam, "Orthotopic cardiac prosthesis for two staged cardiac replacement", Am. J. Cardiol. vol. 24, pp. 723, 1969.
[36] K. Reemstsma, R. Drusin, R. Edie, D. Bregman, W. Dobelle, M. Hardy, "Cardiac transplantation for patients requiring mechanical circulatory support", N. Eng!. J. Med., vol. 298, pp. 670, 1978.
[37] R. W. Emery, M. M. Levinson, T. B. Icenogle, M. Carrier, R. A. Ott, J. Copeland, M. J. McAllerRhenman, S. M. Nicholson, "Selection of patients for cardiac transplantation", Cireulation, vol. 75, pp. 2, 1987.
[38] W. C. DeVries, J. L. Anderson, L. D. Joyce, F. L. Anderson, E. L. Hammond, R. K. Jarvik, W. J. Kolff, "Clinicai use ofthe total artificial heait", N. Eng!. J. Med. vol. 31 O, pp. 273-278, 1984.
[39] J. J. DeRose Jr., J. P. Umana, M. Argenziano, K. A. Catanese, M. T. Gardocki, M. Flannery, H. R. Levin, B. C. Sun, E. A. Rose, M. C. Oz, "Implantable left ventricular assist <levices provide an excellent outpatient bridge to
transplantation and recovery", J. Am. Coll. Cardiol. vol. 30(7), pp. 1773-7, 1997.
[40] P. M. Dohmen, H. Laube, K. de Jonge, G. Baumann, W. Konertz, "Mechanical circulatory support for one thousand days or more with the Nova cor N 100 left ventricular assist <levice", J. Thorae. Cardiovase. Surg., vol. 117(5), pp. 1029-30, 1999.
[41] E. A. Rose, A. J. Moskowitz, M. Packer, J. A. Sollano, D. L. Williams, A. R. Tierney, D. F. Heitjan, P. Meier, D. D. Ascheim, R. G. Levitan, A. D. Weinberg, L. W. Stevenson, P. A. Shapiro, R. M. Lazar, J. T. Watson, D. J. Goldstein, A. C. Gelijns, The REMATCH triai: rationale, design, and end points. Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure", Ann. Thorae. Surg., vol. 67(3), pp. 723-30, 1999.
[42] O. H. Frazier, T. J. Myers, "Left ventricular assist system as a bridge to myocardial recovery", Ann. Thorae. Surg., vol. 68, pp. 734-41, 1999.
[43] R. Hetzer, J. Muller, Y. Weng, G. Wallukat, S. Spiegelsberger, M. Loebe, "Cardiac recovery in dilated cardiomyopathy by unloading with a left ventricular assist <levice", Ann. Thorae. Surg., vol. 68(2), pp. 742-9, 1999.
[44] F. Unger, "Counterpulsation: stagnation or evolution in assisted circulation", in Assisted Cireulation 3, F. Unger, Ed., Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1989, pp. 49-51.
[45] M. J. O'Neill, W. S. Pierce, C. B. Wisman, M. D. Osbakken, G. V. S. Parr, J. A. Waldhausen, "Successful management of right ventricular failure with the ventricular assist pump following aortic valve replacement and coronary bypass grafting", J. Thorae. Cardiovase. Surg., vol. 87, pp. 106-111, 1984.
[46] K. Taguchi, J. Murashita, M. Nakagaki, T. Mochizuki, "Transapical left ventricular bypass with local heparinization for prolonged circulatory support", World J. Surg., vol. 4, pp. 251, 1980.
[47] O. H .. Frazier, B. Radovancevic, "Ventricular assist <levices", in Cardiae Surge1y: State of the Art Reviews 4 (2), Philadelphia, Hanley & Belfus, Inc., 1990, pp. 335-347.
[48] H. D. Kletschka, E. H. Rafferty, D. A. Olsen, et al. "Artificial heait III. Development of efficient atraumatic blood pump. A review of the literature concerning in vitro testing of blood pumps for hemolysis", Minn. Med., vol. 58, pp. 757, 1975.
[49] J. R. Rowles, B. L. Mortimer, D. B. Olsen, "Ventricular assist and total artificial heart <levices for clinicai use in 1993", ASAJO J., vol. 39, pp. 840 -855, 1993.
[50] J. Hager, F. Brandstaetter, J. Koller, F. Unger, 'The Spindle pump - Development of a nonpulsatile blood pump for assisted circulation", Proeeedings of the International Workshop on Rotmy Blood Pumps, pp. 17-22, 1988.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
[51] R. K. Wampler, I. C. Moise, O. H. Frazier, D. B. Olsen, "ln-vivo evaluation of a peripheral vascular access axial flow blood pump", ASAIO Transactions, vol. 34, pp. 450-454, 1988.
[52] J. M. Duncan, C. M. Burnett, J. D. Vega, et ai, "Rapid replacement of the Hemopump and hemofiltration cannula'', Ann. Thorac. Surg., vol. 50,pp.667-669, 1990.
[53] Y. Nose, T. Tsutsui, K. C. Butler, R. Jarvik, Y. Takami, C. Nojiri, P. Allaire, O. Von Ramm, J. Dow, "Rotary pumps: new developments and future perspectives", ASAIO J., vol. 44(3), pp. 234-7, 1998.
[54] S. Westaby, T. Katsumata, R. Houel, R. Evans, D. Pigott, O. H. Frazier, R. Jarvik, "Jarvik 2000 heart: potential for bridge to myocyte recovery", Circulation, vol. 98(15), pp. 1568-74, 1998.
[55] G. M. Wieselthaler, H. Schima, M. Hiesmayr, R. Pacher, G. Laufer, G. P. Noon, M. DeBakey, E. Wolner, "First clinical experience with the DeBakey VAD continuous-axial-flow pump for bridge to transplantation", "Circulation, vol. 101(4), pp. 356-9, 2000.
[56] M. E. DeBakey, "A miniature implantable axial flow ventricular assist device", Ann. Thorac. Surg., vol. 68(2), pp. 63 7-40, 1999.
[57] R: H. Bartlett, Invited letter concerning: "nonpulsatile flow - a noncontroversy" [Letter], J. Thorac. Cardiovasc. Surg., vol. 107, pp. 644-6, 1994.
[58] R. Yozu, L. Golding, I. Yada, et al., "Do we really need pulse? Chronic nonpulsatile and pulsatile blood flow: from the exercise response viewpoints", Artif. Organs, vol. 18, pp. 638-42, 1994.
[59] D. Morley, B. Benkovsky, B. Lynch, S. Abdelsayed, R. Hetzer, E. Wolner, J. N. Fabiani, M. Turina, M. Vigano, R. Korfer, G. P. Noon, M. E. DeBakey, "Clinical experience with the continuous flow Micromed DeBakey® V AD", ASAJO J., vol. 46,(2), pp. 184, 2000.
[60] A. A. Leirner, L. F. P. Moreira, N. A. G. Stolf, "Assistência circulatória mecânica: Aspectos atuais", Rev. Soe. Cardiol. Estado de São Paulo, vol. 3, pp. 464-75, 1998
ANAIS DO CBEB'2000
Modelización y Simulación de la Pared Arterial: De la experimentación a la clínica
Armentano RL, Graf S, Pessana FM
Proyecto Dinámica de la Pared Arterial y de la Sangre. Universidad Favaloro, Belgrano 1723 (Cl093AAS) Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54 11 4378 1150 Fax: +54 11 4384 0782
Grupo de Investigación en Procesamiento de Sefiales Biológicas, Cooperación con Universidad Tecnológica Nacional [email protected]
Resumen- La dinámica dei sistema arterial comprende la tisica de los componentes dei sistema circulatorio tales como el continente (la pared de las arterias), e! contenido (la sangre) y la interrelación entre ambos. Las leyes tisicas aplicadas a los materiales de uso común en las ciencias de las ingeniería pueden ser también utilizadas para un mejor conocimiento dei comportamiento dinámico dei sistema arterial. Tanto la pared de las arterias como la sangre llevan información esencial sobre e! estado fisiológico de todo el sistema circulatorio, y la interrelación entre ambos componentes puede estar relacionada con complejos procesos que pueden ser e! origen de la fonnación de placas de ateroma. Los cambios morfológicos inducidos en la pared arterial por procesos patológicos puede ser utilizados como marcadores precoces de futuras alteraciones circulatorias. La utilización de la modelización matemática de la pared arterial debe realizarse a través de modelos cuyos coeficientes tengan un significado tisico preciso para lo cual se hace indispensable su validación en la experimentación animal por medio de aniinales conscientes. Para tal fin debe recurrirse a modelos de conocimiento para que luego sea factible e! abordaje clínico y puedan ser de gran utilidad en la evaluación dei envejecimiento y procesos patológicos tales como la hipertensión y la aterosclerosis.
Palabras clave: Hipertensión arterial, Ateroesclerosis, Elasticidad arterial.
Abstract - The arterial system dynamics understands the physics of the circulatory system components such as the continent (the wall ofthe arteries), the content (the blood) and the interrelation between both. The physical laws applied to the materiais of conunon use in the engineering sciences can also be used for a better knowledge of the arterial system dynamic behavior. Both, arterial wall and blood take essential infonnation about the whole circulatory system physiologic state. The interrelation between both components can be related to complex processes that could be the origin of the atheroma plaques formation. Arterial wall morphologics changes induced by pathological processes can be used as precocious markers of future circulatory alterations. The use of arterial wall mathematical modelization should be carry out through models having coefficients with a precise physical meaning, and should be validated in conscious animais experimentation. For such goal, models of knowledge should be applied, allowing a clinicai approach that can be of great utility in the evaluation of aging and pathological processes such as hypertension and atherosclerosis.
Key-words: Hypertension, Atherosclerosis, Arterial Elasticity
Introducción
Se puede clasificar los modelos en dos grandes categorías. Los modelos de representación y los modelos de conocimiento. En los primeros el sistema estudiado es abordado como una caja negra donde solamente el comportamiento entrada salida se considera interesante. Por el contrario los modelos de conocimiento son elaborados a partir de consideraciones tisicas donde se hacen intervenir las leyes de la tisica y donde los parámetros dei modelo tienen ahora un significado tisico preciso. Los modelos matemáticos así elaborados pueden ser utilizados por el clínico como apoyo al diagnóstico y para prever las reacciones dei paciente a ciertos estímulos.
E! presente trabajo tiene como objetivo presentar los últimos pasos en la modelización de la pared de las arterias a partir de datos obtenidos en animales conscientes. E! modelo utilizado será un modelo de conocimiento donde e! comportamiento reológico de los parámetros dei modelo serán simulados en e! dominio temporal. Seguidamente se presentarán las bases para trasladar esta modelización al abordaje clínico utilizando métodos enteramente no invasivos.
lllvestigación básica experimental
La carga hidráulica presentada por e! sistema circulatorio al ventrículo izquierdo está compuesta por tres componentes principales: la resistencia vascular sistémica, la elasticidad y la onda re:flejada [1]. Aunque la carga arterial ejerce el mayor efecto sobre la eyección
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
ventricular, un incremento de la elasticidad arterial podría resultar en una pérdida en e! acoplamiento óptimo del corazón a las arterias concomitante con una utilización menos eficiente de la energía entregada por el ventrículo izquierdo [2]. En particular una disminución en la capacitancia del sistema arterial podría incrementar la presión sistólica y crear una carga extra al corazón [3,4,5].
Tanto la resistencia periférica, la elasticidad y la onda reflejada presentes en la circulación están gobernadas por complejos procesos reológicos en el cual la física de la pared de las arterias, de la sangre y de los fenómenos hemodinámicos que tienen lugar en la interfase entre continente y contenido juegan un rol primordial.
La aorta y las grandes arterias constituyen un filtro hidráulico pasabajos cuya función principal es amortiguar las oscilaciones del flujo sanguíneo a fin de nutrir con un régimen estacionario a los tejidos. Las propiedades mecánicas de la pared arterial son preponderantemente viscoelásticas, siendo la inercia de la pared un factor generalmente despreciable en e! análisis de la dinámica circulatoria. La elasticidad arterial total es ejercida por componentes pasivos (fibras de elastina y colágeno) y componentes activos (células de músculo liso vascular). La función de las fibras de elastina y colágeno es mantener una tensión estable contra la presión transmural presente en e! vaso [6]. La contribución individual de las fibras de elastina y colágeno a la elasticidad total ha sido completamente caracterizada en animales conscientes normales y en diversas arteriopatías en trabajos recientes En estos estudios e! módulo elástico de la pared arterial fue descompuesto en el correspondiente a las fibras de elastina (EE), el módulo elástico de las fibras de colágeno (Ec) y el reclutamiento de fibras de colágeno (fc) que soportan la tensión parietal a un dado nivel de presión transmural basado en el modelo de dos resortes en paralelo7
• La contribución elástica del músculo liso vascular a la elasticidad de las arterias de animales conscientes, fue modelizada usando un modelo de Maxwell modificado de tres elementos, quien además toma en cuenta a la elastina y a! colágeno (figura 1 ). Consiste de un elemento contráctil (CE) que se comporta como un simple elemento viscoso que en reposo no ofrece resistencia al estiramiento, un resorte puramente elástico (SEC) acoplado en serie con e! CE y un resorte en paralelo (PEC) el cual representa la conducta elástica de la pared arterial cuando el músculo liso está relajado o bajo tono vasomotor normal donde su conducta elástica es despreciable [9]. Este enfoque ha permitido una completa evaluación del aporte elástico de los principales componentes estrncturales de la pared aórtica.
Sin embargo, las contribuciones viscosas e inerciales a la mecánica de la pared aórtica, evidenciada por la histéresis presente en la relación tensión-defonnación todavía no han sido estudiadas extensamente [11 Por otro lado una de la tareas más
79
importantes en la bioreología es el establecimiento de las relaciones matemáticas entre las tensiones (y esfuerzos de corte) y las variables dinámicas involucradas en los cambios de las dimensiones espaciales de una sustancia sometida a defonnaciones, lo cual recibe el nombre de ecuación constitutiva
En los últimos anos se nota la necesidad de desarrollar la ecuación constitutiva dei músculo liso, debido a la importancia que conlleva tal propuesta para analizar la función de diferentes órganos y a que poco se conoce ai respecto en condiciones de fisiología integrativa, es decir algo más allá del preparado in vitro
elastina
CE
SEC
Figura 1: Representación esquemática de un modelo de Maxwell modificado. SEC: Componente elástico serie. PEC: Componente elástico paralelo. CE: Elemento contráctil. El reclutamiento de fibras de colágeno en fimción de! estiramiento queda explicitado utili::ando el modelo de resortes desconectados de Wiederhielm La fibras de colágeno están representadas por el número de resortes que se enganchan a diferentes gradas de extensión y así simular la conducta elástica de las fibras de representadas por el producto Ecxfc· M representa e! elemento inercial mientras que TJ la viscosidad parietal.
Para ir aproximándose al desarrollo de la ecuación constitutiva se debe completar el primer paso ya evidenciado anterionnente como lo la detenninación de la relación tensión( cr)-deformación(e) elástica pura. La tensión total generada por la pared para oponerse al estiramiento se atribuye comúnmente a los efectos combinados de la elasticidad, la viscosidad y la inercia de la pared arterial. Bauer [12, 13] ha desarrollado un procedimiento que subdivide la tensión parietal en tres términos, el primero que depende de e, el segundo dependiendo de la primera derivada de e (velocidad), y el tercero de la segunda derivada de E (aceleración):
de d 2e cr= E ·ê+TJ ·-+ M-, = crclastico +crviscoso +críncrcíal ( l)
dt dr '
donde E, 11 y M son los módulos elástico, viscoso e inercial respectivamente.
El primer ténnino es la tensión elástica, e! segundo la viscosa y el tercero la inercial. Por definición la relación tensión-deformación elástica pura se desarrolla siguiendo el mismo lugar geométrico ya sea para aumentos en la defonnación como para la disminución
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
por lo tanto en este diagrama e! !azo de histéresis no aparece. Bajo tales bases hemos desarrollado un algoritmo para encontrar la relación elástica pura, sustrayendo las tensiones viscosas e inerciales hasta bailar un valor óptimo utilizando e! criterio de la desaparición dei lazo dei histéresis y se desarrolla a partir de la Eq. 1. En un primer paso, M fue considerado nulo y se incrementó los valores de TJ desde cero hasta un valor en el cual la superficie de la relación tensióndeformación encuentra un mínimo sin alterar e! sentido horario de circulación. Se fija ese valor de viscosidad y se comienza a incrementar M hasta lograr la desaparición total dei lazo de histéresis. El procedimiento anteriormente descripto se ha graficado en la figura 2.
Se ha formulado la ecuación constitutiva de la pared arterial en animales conscientes y crónicamente instrumentados para la caracterización total de la mecánica parietal utilizando e! modelo descripto en la figura 1 y los coeficientes de la dinámica parietal que surgen de aplicar el procedimiento para obtener la relación elástica pura. Esta ecuación tomará en cuenta la respuesta elástica de las fibras de elastina ( crc), del colágeno ( O"c) y dei músculo liso ( O"sM), y la conducta viscosa (cr11) e inercial (crM) de la pared aórtica. Dicho modelo asume que la tensión total desarrollada por la pared para resistir e! estiramiento está gobernado por la ecuación siguiente [17]:
O" = O E + O C + O SM + O 1J + O M
de d2e cr= ·e+ Ec · fc ·e+ EsM · fA · e+T] ·-+ M ·-
dt dt2
El primer ténnino caracteriza la conducta elástica de las fibras de elastina, mientras que el segundo representa la conducta no lineal de las fibras de colágeno. Dichos términos toman en cuenta la conducta pasiva parietal (PEC). El tercero existe sólo bajo activación dei músculo liso y toma una forma similar ai dei colágeno pero en este caso EsM es el módulo dei músculo liso en máxima activación y fA es una función no lineal representada por la morfología típica de la curva de activación dei músculo liso. Los ténninos restantes (TJ y M) confonnan la conducta dinámica de la pared arterial y son responsables dei !azo de histéresis.
2 O Tensión (10 6 Dyntcm2)
20 Tensión (10 6 Dyn/cm~)
16
12 12
08 08 -+---~---~-~ 1 08 U2 1 16 120 1.24 1 08 1 12 UG 1.20 1 24
Deformac1én Deformac1én
Figura 2. Determinación de la relación tensión-deformación elástica pura. La relación tensión-deformación aórtica (línea fina) involucra las propiedades elásticas, viscosas e inerciales conformando un !azo de histéresis. I:::quierda: Mínimo valor de supe1jicie encontrada mediante la sustracción viscosa
80
(línea gruesa). Obsérvese el área remanente correspondiente a! comien:::o dei ruia. Derecha: Incrementas ulteriores de! módulo inercial produce la desaparición total dei la:::o de histéresis. La relación elástica pura (línea gruesa) es coincidente con la relación tensión-deformación diastólica
Como se desprende de la figuras 3 y 4 la conducta mecánica de la pared arterial es esencialmente viscoelástica. Es interesante destacar que bajo activación dei músculo liso por fenilefrina (5µg/kg/min) además de aumentar la rigidez de la pared arterial, la viscosidad de la pared se incrementa notoriamente (figuras 5 y 6) sugiriendo que la conducta viscosa refleja e! estado de actividad de las células de músculo liso, material viscoso por excelencia [17]. Lo más destacado de esta conducta es que el aumento en viscosidad podría estar relacionado con e! aumento en presión (propio de un estado generalizado de vasoconstricción mediado por la activación del músculo liso) como cualquier material de uso industrial. Pero se ha demostrado que la viscosidad es independiente de los cambios en presión y sólo aumenta por cambios en las fibras de músculo liso [1 Si esto también tenía lugar en los animales hipertensos podríamos estar frente a uno de los métodos de diagnóstico más poderosos y suti!es para la discriminación de las alteraciones musculares propias de la hipertensión, como lo son la hiperplasia y la hipertrofia. Esto ha sido publicado recientemente por nuestro grupo en un estudio sobre las alteraciones de la viscosidad parietal en animales con hipertensión renovascular y su reversión con distintas terapias antihipertensivas [18]. También se demuestra que dichas alteraciones no presentan dependencia en presión y son propias dei comportamiento intrínseco dei músculo liso [19]. El siguiente paso fue el desaiTOllo de las herramientas de diagnóstico no-invasivo para que estos conceptos puedan ser llevados ai estudio de humanos como se verá en los próximos párrafos.
ELASTICIDAD
1 6l Tens~n (10 'Dyn/cm')
::~ 04
00 ------
1 G Tensión (10 6 0yn/cm2)
08 colágeno
04
00 _____.,
1 10 1 15 1 20 1.25 1 30 1 35 110 1.15 1,20 1.25 130 135
Deformaclón Deformación
VISCOSIDAD INERCIA
Tensión (10 6 Dyntcm1}
jQ; 110 115 120 125 130 135 110 115 120 125 130 135
Oeformación Oeformación
Figura 3. Contribución individual de las propiedades elásticas, viscosas e inerciales a la conducta mecánica de la pared arterial en un latido cardíaco, simulada a partir de la ecuación constitutiva de la pared y tomando como entrada la deformación medida en un animal en situación control (sin e! músculo liso activado).
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Figura 4. lzquierda: Comparación entre la relación tensióndeformación medida (tra:::o fino) y simulada (tra:::o grueso) en un animal en situación control. Derecha: Curvas temporales de la tensión parietal medida (tra:::o fino) y simulada (traza grueso)
En resumen, lo expuesto hasta este punto sería sólo uno de los grandes temas de la dinámica arterial, pero de gran trascendencia teórica, experimental y como vamos a ver, clínica. Pero además del comportamiento funcional de la pared, nos encontraremos con alteraciones morfológicas de gran ayuda al diagnóstico.
Sin embargo antes de pasar a dichos procedimientos no debe pasarse por alto otros dos grandes componentes de la dinámica del sistema arterial: la sangre y su interrelación con la pared. La sangre porque al ser un líquido heterogéneo y no newtoniano es de difícil abordaje, pero como contrapartida conlleva información de inmensa utilidad. La viscosidad sanguínea depende de las condiciones de la velocidad del flujo sanguíneo la cual va a depender fundamentalmente de la ubicación dei eritrocitro dentro dei eje transversal dei vaso. E! conjunto de las velocidades de desplazamiento da un lugar geométrico definido como perfil de velocidades. Este perfil presenta tensiones y defonnaciones por cizallamiento contra la pared.
ELASTICIDAD Tensión (10 6 Dyn/cm2
) 1.6 Tensión (10 6Dyn/cm
2)
1 /. .. 12
elast1na o 08
1.2
colágeno 0.8
1 ~Tensión (10 'D~ 1 6
04 04 ~ 0.4
o 00 ..--~~-~~ o.o ..-------
Músculo liso
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.15 1.20 L25 1.30 1.35 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Oeformación Defoílllación Defonnación
VISCOSIDAD INERCIA 0.3 Tensión (10 'Dyn/cm') 0.3 Tensión (10 'Dyntcm')
0.2
~ 0.2
0.1 0.1
o.o o.o 'tiltobclo~ ··~· -0.1 -0.1
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
Defonnación Defonnación
Figura 5. Contribución individual de las propiedades elásticas, viscosas e inerciales a la conducta mecánica de la pared arterial en un latido cardíaco, simulada a partir de la ecuación constitutiva de la pareci y tomando como entrada la deformación medida en un animal bajo administración de fenilefrina (músculo liso activado).
81
Figura 6. I:::quierda: Comparación entre la relación tensióndeformación medida (tra:::o fino) y simulada (tra:::o grueso) en un animal bajo administración de fenileji-ina. Derecha: Curvas temporales de la tensión parietal medida (tra:::o fino) y simulada (tra:::o grueso).
La deformación de tal perfil en las bifurcaciones arteriales suele asignarse como una de las causas principales de desarrollo de las placas de ateroma. De igual forma la tensión de cizallamiento contra la pared arterial actuaría sobre e! endotelio e! cual a través de mediadores químicos enviaría la información sobre e! contenido al continente; esto cerraría un proceso de contrai interno en ambos componentes. La viscosidad sanguínea, altamente dependiente del hematocrito, juega un papel preponderante en la relación entre las tensiones y las deformaciones por cizallamiento en la interfase pared fluido y dentro del vaso. Para ver la influencia del endotelio sobre las propiedades mecánicas de la pared arterial, se ha realizado un estudio en 7 arterias subclavias con y sin endotelio, en condiciones idênticas de frecuencia (80 latidos por minuto), viscosidad sanguínea (3 mPa.s) y presión (80 mmHg). Bajo estas condiciones, se demuestra que la ausencia de endotelio genera un aumento significativo (p<0.05) de la elasticidad arterial (3.2 ± 0.4 a 4.6 0.6 105 Dyn cm-2
) y de la viscosidad parietal (72 ± 22 a 90 ± 20 105 Dyn.s cm-2
). Este comportamiento de rigidificación de la pared arterial se observa en la figura 7.
2.7 Tensión [10 5 Dyn/cm2]
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
1.02 1.04 1.08
Oeformaclón
Figura 7. Diagrama Tensión-Deformación elastica pura de una arteria subclavia en presencia (CE) y ausencia (SE) de endotelio
Finalmente, puede establecerse que la presencia de endotelio produce una disminución de la viscosidad y elasticidad arterial, mediadas posiblemente por la liberación de sustancias vasoactivas presentes en el endotelio
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Abordaje clínico
Análisis morfológico no invasivo de la pared arterial
a) Determinación de! espesor intima media (IMT) y dei diámetro luminal
Recientes hallazgos de la progresión de la aterosclerosis en arterias humanas, sugieren que cambias en el espesor dei complejo íntima-media de la pared arterial podrían preceder al desarrollo de lesiones ateroscleróticas [21].
Para la evaluación no-invasiva del espesor íntimamedia, se utilizan las imágenes ecográficas en modo B de las arterias a estudiar. Para ello se examinan las arterias con un transductor de 7.5 MHz hasta visualizar dos líneas paralelas en la pared posterior, correspondientes a las interfases lumen-íntima y mediaadventicia (figura 8).
Adventlc/a
Pared anterior ,!!!!Media ii Intima . l '""""
...................... IMT
iiiiii Intima Media
Adventlcla
Pared posterior ········+
Figura 8. Imagen ecográfica de una arteria carótida. Obsérvese la doble línea en la pared posterior y su correlato anatómico.
Una vez que dichas líneas paralelas son claramente visibles a lo largo de por lo menos 1 cm, se congela la imagen de fin de diástole (Onda R del electrocardiograma) y se la transfiere mediante una placa de adquisición de video, a una computadora (Apple Macintosh, PowerPC 7100, Cupertino, Calif), donde es almacenada y posterionnente analizada.
El análisis es realizado en forma automática por un software basado en el análisis de la densidad de los niveles de gris y en algoritmos específicos de reconocimiento tisular. A modo de ejemplo, la figura 9 muestra una línea vertical de la imagen digital de la figura 8, en la que puede observarse el perfil de los tonos de gris ( en una escala de O a 255) y su derivada. Ubicando los máximos de la derivada es posible localizar las interfases íntima-lumen (I-L), lumen-íntima (L-1) y media-adventícia (M-A). De esta manera, e! diámetro luminal queda definido como la distancia entre 1-L y L-1, mientras que e! lMT como la distancia que separa a L-1 de M-A. Extendiendo e! cálculo anterior a toda la imagen, se obtiene un valor promedio dei espesor y del diámetro.
82
25
20 -Perfil de Hnea ······Derivada
Diámetro
- -IMT
Figura 9.: Pe1jil y derivada de una línea vertical de la imagen digital de la arteria carótida, utili:::ada para la identijicación automática de las inte1fases íntima-lumen, lumen-íntima y media-advemicia.
Recientes estudios de lMT en arterias carótidas y femorales fueron realizados en presencia y ausencia de placas a fin de detectar cambias estructurales precoces en hipertensos asintomáticos. Los estudios fueron realizados en 53 sujetos hipertensos nunca tratados (HTA) y en 133 normotensos (NTA) de similar edad, nível de colesterol e historia de fumador [22]. E! valor dei lMT en la arteria carótida fue de 0.60±0.1 O mm (HTA) vs 0.53±0.08 nun (NTA, p<0.01) y en la arteria femoral 0.64±0.18 mm (HTA) vs 0.56±0.13 nun (NTA, p<0.01). E! aumento del lMT en los pacientes hipertensos constituye un cambio estructural difuso e! cual afecta la parte superior como la parte inferior dei cuerpo siendo este proceso más homogéneo que la presencia de placas. Edad y presión sistólica podrían ser los determinantes dei aumento en lMT, mientras que múltiples factores de riesgo detenninarían la placa. Un mayor lMT estaría asociado ai crecimiento vascular durante e! proceso hipertensivo
Análisis funcional de la pared arterial: Relación presión diámetro
a) Determinación de la seiial temporal de diámetro arterial de un latido promedio
Para determinar el diámetro instantáneo intraluminal de las arterias, mediante el ecógrafo se visualiza la arteria a estudiar, y simultáneamente se digitalizan las imágenes con una computadora. Una vez digitalizada una secuencia de imágenes, e! software, utilizando un algoritmo de reconocimiento de bordes análogo al dei lMT, calcula la curva de diámetro de un latido promedio, y lo almacena en un archivo de texto (figura 10).
aame1ro (Fixa)
: IA i~l !\I /\I 510 p \{) ]J 1J \ : 1 1 1 1 .
Tierroo
Figura 10. Determinación de la seiial temporal de diámetro. A partir de una secuencia de imágenes ecográficas, e! software determina e! movimiento de la pareci anterior y
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
posterior, así como la curva de diá111etro resultante, a lo largo de varias ciclos cardíacos.
b) Determinación de la seFial temporal de presión
La sefial temporal de presión se mide utilizando un sensor tonómetro de tipo lápiz (Millar Instrnments Inc), el cual posee un transductor de presión en uno de sus extremos. Para registrar la sefial de presión, se apoya el tonómetro sobre una arteria superficial y se presiona hasta lograr un aplanamiento de la arteria. En ese momento, la presión medida será aproximadamente la intraarterial. Dicha sefial es luego amplificada y digitalizada mediante una PC. Para calibraria, en el momento de la digitalización se registran también mediante un esfigmomanómetro semiautomático (Dinamap Critikon), la presión braquial media y diastólica dei paciente. Estos valores se le asignan ai valor mínimo y medio de la sefial respectivamente. A partir de la sefial tonométrica digitalizada se interpolan y se promedian los valores correspondientes a cada latido, de manera de obtener la curva de presión de 1111 latido promedio.
c) Determinación de la viscosidad parietal y de la relación elástica pura
Como paso previo a la obtención de la relación presión-diámetro, la sena! de diámetro promedio obtenida con la Macintosh (PowerPC 7100, Cupertino, Calif) es ingresada a la PC. Luego es interpolada, de manera tal de contar con la misma cantidad de puntos en ambas sefiales. Finalmente ambas sefiales se grafican en un gráfico X-Y, y se construye el rulo presión-diámetro.
El cálculo de la relación diámetro-presión elástica pura se obtiene mediante e! método de extracción de la parte viscosa, es decir eliminando la parte de la presión que es proporcional a la derivada primera dei diámetro respecto del tiempo:
P elast = P total -TJ dD
dt
Para ello se va incrementando la variable TJ en la ecuación anterior, hasta obtener un sólo camino de ida y de vuelta en el mio. El valor final de TJ será un índice de la viscosidad parietal. Una vez obtenida tal relación los datos son ajustados a una función logarítmica de la fonna:
D = ex + ~ · ln P
La compliance arterial se puede calcular derivando el diámetro respecto de la presión a través de la relación presión-diámetro anterionnente modelizada. La compliance resultante a un nivel correspondiente a la presión media es la denominada compliance efectiva (Cere) que es efectivamente la que participa en la oposición al flujo ventricular. Sin embargo a menos que la presión sanguínea sea mantenida en un mismo nivel, es imposible conocer si los cambios desarrollados en la compliance son consecuencia directa de la elevación de la presión o de los efectos intrínsecos de la hipertensión sobre la pared arterial [23,24]. Es por ello que para poder discriminar si las alteraciones son específicamente parietales o presión dependiente, las comparaciones
entre grupos hipertensos (HT A) y normotensos (NT A), deben llevarse a cabo evaluando la compliance isobáricamente. Si se asume una presión isobárica (Pí)
como el promedio de los valores medios de presiones en los grupos hipertensos y nonnal, es decir:
p. = pmHTA + pmNTA
1 2
la compliance isobárica (Ciso) será la compliance c01Tespondiente a P; (figura 11). Las alteraciones encontradas en dicha compliance inducidas por la hipertensión actuarían a modo de un indicador de los cambios intrínsecos parietales.
30 Compliance arterial (10-4 cm/mmHg)
20 NTA Compliance isobárica
/ Compliance efectiva 10
HTA o
50 75 100 Pi 125 150 175
Presión (mmHg)
Figura 11. Curvas de compliance vs presión extrapoladas a niveles de presión entre 50 y 175 mmHg en HTA. y NTA.
T.4BLA 1: COMPARACIÓN DE PARÂMETROS VJSCOELÁSTICOS
ENTRE NORMOTENSOS (NTA) E HIPERTENSOS (HTA)
Carótida C0 rc, 10-4 cm/mmHg C;,0 , 10-4 cm/mmHg
TJ, 103 mmHg·s/mm
Fe111oral
NTA (n=l6)
10.49 ± 2.28 9.16 ± 1.94
1.95 ± 1.65
Ccrc, 10-4 cm/!11111Hg 12.03 ± 2.38d C;50, 10-4 cm/mmHg 10.49 ± l.98d
TJ, 103 mmHg·s/mm, 1.97 ± 0.80
HTA(n=l4)
8.24 ± 3.47" 9.23 ± 3.79
3.40 ± l.66b
6.24 ± l.54b, e
7.02 ± l.80b,c
3.64 ± l.51b
Valores en media± DS; ªp<0.05, b p<0.001, prneba t no apareada entre los grnpos Normotenso e Hipertenso; e p<0.05, d p<O.O 1, prneba t apareada entre las mediciones de carótida y femoral.
Recientemente fueron estudiadas arterias carótidas y femorales de 16 pacientes hipertensos y 14 no1111otensos con el fin de evaluar sus propiedades viscoelásticas [25]. Los resultados obtenidos son presentados en la tabla 1. El aumento en la viscosidad parietal observada en ambas arterias de sujetos hipertensos puede deberse a la hipertrofia o hiperplasia muscular inducida por la hipertensión, teniendo en cuenta que e! músculo liso es el principal responsable del comportamiento viscoso de la pared. La compliance efectiva presentada por el sistema arterial a la presión prevalente está disminuida en la hipertensión en los dos tipos de aiterias. Obviamente ai estar sometidas a mayores niveles de presión ambas arterias presentan una rigidez aumentada.
ANAIS DO CBEB'2000
Pero ahora la pregunta radica en que si tales cambios son debidos en exclusividad al efecto presivo o existen además alteraciones parietales asociadas. Éstos solamente son encontrados en arterias femorales indicando que dichas arterias son blanco de la hipertensión mientras que las alteraciones elásticas carotídeas serían fácilmente reversibles dado que ai bajar la presión podrían revertirse tales alteraciones.
Discusión
Los modelos matemáticos son útiles en la formalización de conceptos y para evaluar los datos y pueden ser muy útiles en la predicción de la respuesta de un sistema biológico a un agente externo o droga. Por otro lado los modelos animales son absolutamente esenciales y no pueden ser despreciados puesto que ellos son la más completa analogía y lo más reproducible en lo que respecta al humano. Entre las ventajas que presenta los modelos animales puede destacarse a) que sirven para confirmar o rechazar hipótesis sobre sistemas complejos, b) que revelan contradicciones o parcialidad en los da tos obtenidos, c) que pem1iten la predicción de la performance de un sistema no probado en la práctica, d) que pueden predecir o suministrar valores inaccesibles en la experimentación y e) que pueden sugerir la existencia de un nuevo fenómeno
Entre las desventajas pueden considerarse las siguientes: a) la selección dei modelo puede no ser la adecuada, b) modelos incorrectos pueden ajustar a datos limitados, llevando a conclusiones erróneas, c) modelos simples son fáciles de manejar, pero tal vez se requiera un modelo más complejo y d) simulaciones realísticas, necesitan de un gran número de variables las cuales pueden ser dificiles de determinar.
En resumen, los modelos son indispensables en la investigación biomédica. El progreso en la guerra contra las enfennedades depende no solo de un flujo estable de hallazgos provenientes de modelos, sino además de investigaciones basadas en una variedad y más frecuentemente en una combinación de modelos
Las bases teóricas que sustentan la dinámica del sistema arterial penniten desarrollar una serie de herramientas de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, debidamente fundamentadas y de fácil acceso al médico especialista. Estas han sido y están siendo extensamente utilizadas en nuestro país y en varios centros de Europa. El nexo más importante entre la teoría física y la aplicación clínica ha sido sin duda la experimentación animal como un banco de pruebas viviente de los procedimientos anteriormente desarrollados.
Se ha realizado la validación experimental de la ecuación constitutiva [17] y su contraste en tubos de látex con módulo de elasticidad patrón en la cual se demostró que las ecuaciones proveniente de la fisica podrían detenninar con sorprendente aproximación los valores de elasticidad detenninada en el proceso de fabricación [26l Asimismo, se ha realizado la validación de distintos modelos matemáticos para la
relación presión-diámetro, por ejemplo el logarítmico utilizado en humanos en arterias carótidas y femorales, previo paso por arterias similares de animales crónicamente instrumentados Por último, se validaron los algoritmos de tratamiento de imágenes para la determinación del espesor íntima-media y dei diámetro instantáneo utilizando el contraste con un «fantasma» de lucite y con arterias medidas por sonomicrometría en animales conscientes
Quedan aún varias incógnitas a resolver en la cuales nos encontramos abocados en este momento. La viscosidad parietal podría llevar información mucho más compleja que la asignada hasta entonces. El músculo liso es el material viscoso por excelencia pero es probable que los procesos tales como la proliferación de células musculares y su aumento en dimensión, sean mejor explicados por el módulo de inercia de la pared que va a tomar en cuenta procesos de tal naturaleza. Acaba de sugerirse que existe una muy buena correlación entre el espesor del complejo íntima-media y la viscosidad parietal en la arteria carótida, relacionando por primera vez parámetros morfológicos con funcionales de gran impacto en estudios clínicos [29]. En esa dirección debe además, llevarse a la clínica para saber si las terapias antihipe1tensivas que producen la reversión de tales fenómenos también reducen el módulo de viscosidad o en su defecto el de inercia, como ya ha sido evidenciado en animales [18].
Por último, posteriores estudios serán necesarios para caracterizar el contenido y sus componentes tales como plasma, eritrocitos, fibrinógeno y los perfiles de velocidad asociados, para ver si pueden desarrollarse métodos de identificación de procesos incipientes de ateroesclerosis. La relación entre estos procesos y las propiedades mecánicas parietales traerá abundante infonnación sobre la dinámica de las células endoteliales en un entorno integrativo como lo son los animales crónicamente instrumentados y posterionnente en pacientes hipertensos, hipercolesterolémicos, diabéticos y en todos aquellos que presenten factores de riesgo cardiovasculares.
Agradecimientos
Este trabajo fue parcialmente subsidiado por proyecto SeCyT-ECOS (A97S03)
Referencias [l] Nichols WW, O'Rourke MF, Avolio AP, Yaginuma
T, Murgo JP, Pepine CJ, Conti CR. Age-related Changes in Left Ventricular Arterial Coupling. ln: Yin FCP (Ed), Ventricular Vascular Coupling: Clinica!, Physiological, and Engineering Aspects. New York: Springer-Verlag; 1987: pp 79-114.
[2] Fitchett DH. L V-arterial coupling: interactive model to predict effect of wave reflections on L V energetics. Am J Physiol 1991, 261: Hl026-H1033.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
[3] Simon A, Levenson J. Overview on atherosclerotic systolic hypertension. Int J Cardiol 1987, 16: 1-18.
[4] Cohn JN. Blood pressure and cardiac performance. Am J Med 1973, 55: 351-361.
[5] Randall OS. Effect of arterial compliance on systolic blood pressure and cardiac fünction. Clin Exper Hypertens [A] (Proc Symp on Systolic Hypertension) 1982; A4: 1045-1057.
[6] Burton AC. Physiology and Biophysics of the Circulation. Chicago: Year Book, 1972, pp 63-75.
[7] Annentano RL, Levenson J, Barra JG, Cabrera Fischer EI, Breitbart GJ, Pichel RH, Simon A. Assessment of elastin and collagen contribution to aortic elasticity in conscious dogs. Am J Physiol 1991, 260: Hl870-H1877.
[8] Cabrera Fischer EI, Annentano RL, Levenson J, Barra JG, Morales MC, Breitbart GJ, Pichel RH, Simon AC. Paradoxically decreased aortic wall stiffness in response to vitamin D3-induced calcinosis: a biphasic analyisis of segmentai elastic properties in conscious dogs. Circ Res 1991, 68: 1549-1559.
[9] Barra JG, Annentano RL, Levenson J, Cabrera Fischer EI, Pichei RH, Simon A. Assessment of smooth muscle contribution to descending thoracic aortic elastic mechanics in conscious dogs. Circ Res 1993, 73: 1040-1050.
[10] Wiederhielm CA. Distensibility characteristics of small blood vessels. Fed Proc 1965, 24: 1075-1084.
[11] Milnor WK. Hemodynamics. Baltimore: Williams & Wilkins, 1982: pp 56-96.
[12] Bauer RD, Busse R, Schabert A, Sununa Y, W etterer E. Separa te determination of the pulsa til e elastic and viscous forces developed in the arterial wall in vivo. Pjliigers Arch 1979, 380: 221-226.
[13] Bauer RD. Rheological Approaches of Arteries. Biorheology 1984, Suppl I: 159-167.
[14] Lundholm L, Mohme-Lundholm E. Length at inactivated contractile elements, length-tension diagram, active state and tone of vascular smooth muscle. Acta Physiol Scand 1966, 68: 347-359.
[15] Fung YC. A First Course in Continuum Mechanics. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1977.
[16] Fung YC. Biomechanics. New York: SpringerVerlag, 1981.
[17] Armentano RL, Barra JG., Levenson J, Simon A, Pichei RH. Arterial wall mechanics in conscious dogs: assessment of viscous, inertial, and elastic moduli to characterize the aortic wall behavior. Circ Res 1995, 76: 468-478.
[18] Barra JG, Levenson J,Armentano RL, Cabrera Fischer EI, Pichei RH, Simon ACh. ln vivo effects of angiotensin-II receptor blockade and converting enzyme inhibition on the aortic canine viscoelasticity. Am J Physiol 1997, 272: H859-H868.
[19] Armentano RL, Barra JG, Simon A, Pichei RH, Levenson J. Pressure dependent-elasticity and
pressure independent-wall viscosity induced by renovascular hypertension in the canine aorta. l 6th Scientific Meeting of the lnternational Society of Hypertension. Glasgow, UK. 1996.
[20] Megnien JL. Evaluation in vivo des contraintes de cisaillement et des andes propagatives en hémodynamique artérielle. Université de Paris VII, Denis Diderot. Doctorat de Biomécanique: Mécanique des Systemes Biologiques. Director: Dr. Patrice Flaud. Laboratoire de Biorheologie et Hydrodynamique Physicochimique. CNRS. URA 343. Paris, Francia. 1998.
[21] Salonen J, Salonen R .. Ultrasound B-mode imaging in observational studies of atherosclerosis progression. Circulation 1993, [supl II]: II-56-II-65
[22] Gariepy J, Simon A, Massonneau M, Linhart A, Segond P, Levenson. Echographic assesment of carotid and femoral arterial structure in men with essential hypertension. Am J Hypertens 1996, 9:126-136
[23] Liu Ting CT, Zhu S, Yin FCP. Aortic compliance in human hypeitension. Hypertension 1989, 14: 129-136.
[24] Simon A, Levenson J. Use of arterial compliance for evaluation of hypertension. Am J Hypertens 1991, 4: 97-105.
[25] Armentano RL, Megnien LJ, Simon A, Bellenfant F, Barra JG, Levenson J. Effects ofhypertension on viscoelasticity of carotid and femoral arteries in humans. Hypertension 1995, 26: 48-54.
[26] Armentano RL. Détermination in vivo des caractéristiques hémodynamiques artérielles, application à l'hypertension. Université de Paris VII, Denis Diderot. Doctorat de Biomécanique: Mécanique des Systemes Biologiques. Director: Dr. Patrice Flaud. Laboratoire de Biorheologie et Hydrodynamique Physicochimique. CNRS. URA 343. Paris, Francia. 1999.
[27] Armentano RL, Simon A, Levenson J, Chau NP, Megien JL, Pichei RH. Mechanical pressure vs intrinsic effects of hypertension on large arteries in human. Hypertension. 1991; 18: 657-664.
[28] Graf S, Gariepy J, Massoneau Armentano RL, Mansour S, Barra JG, Simon A, Levenson J. Experimental And Clinicai Validation Of Arterial Diameter Waveform And Intimai Media Thickness Obtained From B-Mode Ultrasound Images Processing. Ultrasound in Medicine and Biology. 1999 Nov;25(9):1353-63
[29] Annentano RL, Graf S, Barra JG, Gerardo Velikovsky G, Baglivo H, Sanchez R, Simon A, Pichei RH, Levenson J. Carotid Wall Viscosity Increase Is Related To Intima-Media Thickening ln Hypertensive Patients. Hypertension 31 (part 2): 534-539. 1998
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
Ética e Pesquisa Científica: Fronteiras e Dilemas.
Prof. Dr. Orlando Tambosi e Prof. Dr. Bonifácio Bertoldi
Prof. de Filosofia e Ética do Departamento de Comunicação Prof. de Ética e Bioética do Departamento de Filosofia
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil, 88040-900 [email protected]. br, boni@cfh. ufsc. br
Resumo - Este artigo trata das fronteiras e dilemas entre ciência e ética, cuja separação marcou o início da modernidade e ainda hoje causa mal-estar. Nascem daí os ressentimentos e suspeitas em relação ao conhecimento científico, considerado perigoso por muitas vertentes culturais e ideológicas contemporâneas que confundem ciência e tecnologia e procuram submeter a pesquisa não a normas éticas, mas à censura.
Palavras-chave: Ciência e Ética; Fatos e Valores; Anticiência; Bioética.
1. As feridas da modernidade e a anticiência
O traço mais profundo e mais perturbador de nossa época é a dissociação de fato e valor, ser e dever ser, ou física e ética, conhecimento da realidade e atribuição de sentido à vida. As ciências descrevem e conhecem o mundo tal qual é, mas calam sobre as angústias humanas, tornando o homem praticamente um acidente no cosmo. Despertando de seu sonho milenar, como diz o biólogo Monod, o ser humano agora "sabe que, como um cigano, está à margem do universo onde deve viver. Um universo surdo à sua música, indiferente às suas esperanças, como a seus sofrimentos ou a seus crimes". Ele sabe que "está sozinho na imensidão indiferente do Universo, de onde emergiu por acaso. Não mais do que seu destino, seu dever não está escrito em lugar algum" (Monod: 1989, p. 190-8).
Através da ciência, a modernidade desfez a "aliança animística" entre homem e Natureza, calcada exatamente na identificação de fato e valor - fundamento da visão antropocêntrica do mundo. A cosmologia medieval (aristotélico-cristã) realizava a coincidência plena disso que, para nós, é dividido: conhecimento da realidade e compreensão do "sentido" da nossa vida - sua destinação ou valor - eram uma só coisa. Por mais de dois mil anos, a metafisica (o nome remete, como se sabe, ao conhecimento do transcendente ou do suprasensível) sustentou a separação entre mundo terrestre e mundo celeste: embaixo, o reino do efêmero, do nascer e do perecer; no alto, com suas esferas perfeitas, o reino do divino, do incorruptível, do eterno, do verdadeiro Ser. Os níveis de realidade exprimem ao mesmo tempo uma hierarquia de valores. A Terra, no centro, é o palco em que se desenrola o drama humano, em vista do qual o próprio cosmo foi criado.
A modernidade rompe essa imagem. A revolução astronômica explode esse cosmo finito e
86
fechado, revelando um universo de proporções ilimitadas. A Terra já não é mais o centro de nada. "É um ponto infinitesimal, uma minúscula ilha perdida num oceano sem praias, onde se contam bilhões de galáxias, cada uma delas com centenas de bilhões de sóis. Explicar essa realidade em função do homem, ou dela extrair um significado para a nossa existência, é simplesmente impossível" (Colletti: 1989, p. III-IV, e 1996, p.15).
Depois que Copérnico arrancou o homem do centro do universo, Darwin obrigou-o a reconhecer que não passa de um ser entre outros no reino animal (competindo com as outras espécies e, freqüentemente, perdendo a luta para as mais microscópicas). São duas feridas insanáveis que corroem o narcisismo humano, como definiu Freud, e que produzem mal-estar ainda hoje. Daí a hostilidade em relação às ciências e às tecnologias, comum a algumas vertentes filosóficas e tendências culturais contemporâneas, particularmente as que se autodenominam "pós-modernas". A anticiência, por sinal, encontra confortável abrigo nas ciências sociais e humanidades, minadas pelo relativismo cognitivo e cultural; e, junto com as pseudociências, conta com generoso espaço na mídia.
Muito do que se produz nessas áreas é hostil a conceitos como "realidade", "objetividade'', "verdade", fundamentais tanto à ciência quanto à filosofia. Para a cultura "pós-moderna", o "real", os "fatos" que as ciências buscam conhecer, não passam de "constrnções intelectuais". Mero discurso ou "narrativa", a ciência é ideológica, isto é, instrumento de dominação de uma civilização "branca", "eurocêntrica", "opressora", "machista'', "heterossexual" etc. (ver, a respeito, Gross e Levitt: 1998 - livro que inspirou Alan Sokal e Jean Bricmont a escreverem seu Imposturas intelectuais, Rio de Janeiro, Record, 1999, outra consistente denúncia do relativismo e da falta de rigor nas humanidades).
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Sob essa bandeira campeiam os multiculturalismos, o social-construtivismo, o ecofeminismo, os estudos culturais, as leituras de "gênero", o ressentimento contra as ciências. Privilegiam-se o intuitivo, o mágico, o místico, o irracional, o marginal, abrindo-se as portas da academia para a New Age, as bruxas, o tarô, o ocultismo, a astrologia temas freqüentes junto a ce1tos comunicólogos, notadamente os de formação antropológica.
Diante disso, não espanta a condenação, dentro das próprias universidades, não só da ciência e da tecnologia, mas também da racionalidade e da secularização, "desencantadoras do mundo": não por acaso, fenômenos produzidos pela modernidade. Não é o "pós-modernismo" justamente esse conjunto de atitudes estilísticas e julgamentos contrários ao que se supõe ser ou ter sido a modernidade (em especial, ao que ela herdou do Iluminismo)? Não espanta, igualmente, que universidades de prestígio tragam ao Brasil, às custas do dinheiro público, sociólogos delirantes como Jean Baudrillard, que, a cada três meses, vem nos advertir que a realidade não existe.
Afinal, não nos garante essa filosofia de salão chamada relativismo cultural que a ciência não têm mais direito em afirmar a verdade do que o mito tribal?; ou que a ciência é apenas a mitologia adotada por nossa tribo ocidental moderna? Vale lembrar, a propósito, um curioso relato do biólogo Richard Dawkins, hoje professor da cátedra de Compreensão Pública da Ciência em Oxford. Conta ele que, certa vez, respondendo a uma provocação de um colega antropólogo, colocou-lhe a seguinte questão: "Suponha que existe uma tribo que acredita que a Lua é uma cabaça velha lançada aos céus, pendurada fora de alcance um pouco acima do topo das árvores. Você afirma realmente que nossa verdade científica - que afirma que a Lua está a 382 mil quilômetros afastada e tem um quaito do diâmetro da Terra não é mais verdadeira do que a cabaça da tribo?" A resposta do antropólogo foi direta: "Sim. Nós apenas fomos criados em uma cultura que vê o mundo de um modo científico. Eles foram criados para ver o mundo de outro modo. Nenhum desses modos é mais verdadeiro do que o outro".
Conclui Dawkins: "aponte-me um relativista cultural a 1 O quilômetros de distância e lhe mostrarei um hipócrita. A viões construídos de acordo com princípios científicos funcionam. Eles mantêm-se no ar e o levam ao seu destino escolhido. A viões construídos de acordo com especificações tribais ou mitológicas, tais como os aviões de imitação dos cultos de carregamento nas clareiras das selvas ( ... ), não funcionam. Se você estiver voando para um congresso internacional de antropólogos ou de críticos literários, a razão pela qual você provavelmente chegará lá ( ... ) é que uma multidão de engenheiros ocidentais cientificamente treinados realizou
os cálculos corretamente. A ciência ocidental, com base na evidência confiável de que a Lua orbita em torno da Terra a uma distância de 382 mil quilômetros, conseguiu colocar pessoas em sua superfície. A ciência tribal, acreditando que a Lua estava um pouco acima do topo das árvores, nunca chegará a tocá-la, exceto em sonhos" (Dawkins: 1996, p. 39-40).
2. O conhecimento é perigoso?
A julgar pelas ve1tentes e tendências aqui apontadas, o conhecimento é perigoso e algumas portas não deveriam ser abe1tas pelas ciências. Na verdade, a idéia de periculosidade do conhecimento está arraigada em nossa cultura. Já Adão e Eva, segundo a Bíblia, foram proibidos de alimentar-se dos frutos da Árvore do Conhecimento. Prometeu foi punido por ter dado o saber ao mundo. Na literatura, o Dr. Frankenstein é a imagem do cientista, pintado como um arrogante desalmado que de tudo é capaz para atingir seus objetivos, quaisquer que sejam as conseqüências. No cinema, é o gênio louco que produz monstros e catástrofes.
Imoral manipulador da Natureza, o cientista também foi responsabilizado pela construção da bomba atômica e, agora, é visto com suspeita em virtude da engenharia genética. Jornais e revistas publicam com freqüência textos alarmistas que advertem sobre os "perigos" da pesquisa genética (lembre-se a histeria sobre a clonagem), do projeto do genoma humano e dos transgênicos ("comida-Frankenstein"). Nos títulos, invariavelmente, a insinuação de que o cientista "brinca de ser Deus". O horror, porém, convive com o fascínio, já que se espera da ciência a solução para a cura do câncer e da Aids, entre outras doenças.
A análise desse problema nos remete diretamente à separação moderna de fatos e valores, ou seja, de ciência e ética. Como processo de conhecimento racional e objetivo, a ciência não é por valores. Ela apenas nos mostra como o mundo é. A ciência descreve, a ética prescreve; a ciência explica, a ética avalia. Ciência, portanto, não produz ética. Das proposições descritivas não é possível deduzir asserções prescritivas, como bem viu o filósofo Hume (1711-1776). A separação de fatos e valores - conhecida justamente como Lei de Hume (e também referida como falácia naturalística) - impede que do "é "derive o "deve", que do "ser" derive o "dever ser"
Em oposição às mencionadas tendências ideológicas e culturais, e considerando o patrimônio humano já alcançado, podemos afirmar que o conhecimento científico não é perigoso. O conhecimento é um bem em si mesmo. Para o ser humano, conhecer é tão vital quanto alimentar-se, defender-se ou amar. Já a tecnologia, contrariamente, pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. Há processos tecnológicos intrinsecamente perversos, como a fabricação de
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
instrumentos de tortura, annas bacteriológicas, etc. Como resume Bunge, "não se trata do mau uso imprevisto de um setor de conhecimento, como seria o mau uso de uma tesoura ou de um fósforo. A tecnologia da maldade é maldosa" (Bunge: 1980, p. 202).
Quando a pesquisa científica é colocada em prática - por exemplo, em experimentos que envolvam seres humanos ou outros animais -, ou quando a ciência é aplicada à tecnologia, problemas éticos relevantes podem e devem ser levantados. Mas aqui é importante distinguir ciencia de tecnologia, pois suas motivações são diferentes. Em poucas palavras, ciência produz idéias, teorias; tecnologia produz objetos, bens. Uma visa simplesmente conhecer; outra é voltada a fins práticos.
Convém observar que a tecnologia (tomada aqui na ampla acepção anglo-saxônica) é muito mais antiga que a ciência e possui uma história própria. Todos os povos produziram tecnologias, mas só o povo grego criou a ciência de que somos herdeiros. Num belo livro, o historiador da tecnologia George Basalla demonstra que, até o século XIX, a ciência exerceu pouco impacto sobre a tecnologia. Sem auxílio da ciência, a tecnologia gerou a agricultura, os artefatos de metais, as conquistas da engenharia chinesa e até mesmo as catedrais do Renascimento. Essas imponentes construções foram erguidas por engenheiros que se baseavam na experiência prática, aprendendo diariamente com os erros, e não em teorias científicas. Prevalecia então, como sugere outro autor, "o teorema dos cinco minutos" se uma estrutura permanecesse de pé por cinco minutos depois de tirados os suportes, presumia-se que se manteria de pé para sempre ( cf. Basalla: 1999; e Wolpert: 1996).
A esta altura, impõe-se indagar quais são, afinal, as responsabilidades e obrigações morais dos cientistas. Não há dúvida de que eles possuem deveres distintos das obrigações dos demais cidadãos. Posto que os cientistas detêm conhecimento especializado sobre como é e como funciona o mundo, e isto nem sempre é acessível aos outros, é obrigação deles tomar públicas as implicações sociais de seu trabalho e suas aplicações tecnológicas ( cf. aiiigo de W olpert na revista Nature, 398 (1999), p. 281-82; e Wolpert: 1996, p. 185 e segs. ).
Se ciência e ética, como vimos, são distintas, nem por isso o cientista está isento de deveres éticos. O biólogo inglês Lewis Wolpert aponta, a propósito, um exemplo de comportamento imoral por paiie dos cientistas no movimento da eugenia, iniciado na Inglaterra no final do século XIX, estendendo-se depois aos EUA. O movimento, cuja pretensão era "melhorar as raças", envolveu inicialmente nomes ilustres como Galton (criador do próprio conceito), Fisher, Haldane, Huxley, Morgan, Davenport, Havelock Ellis e até o literato Bernard Shaw. Não demorou para que se passasse a considerar hereditário não só o talento, mas a pobreza; que se considerasse os negros "biologicamente
inferiores"; e que algumas "raças" possuíssem "tendência à debilidade mental".
A Sociedade Eugenética Americana chegou a promover concursos para "famílias geneticamente sãs'', qualificando, em seu "catecismo eugenético", o "plasma germinal humano" como "a coisa mais preciosa do mundo". Para impedir a "contaminação" dos plasmas, a receita era a esterilização em massa. Estima-se que, entre 1907 e 1928, nove mil pessoas foram submetidas a tal tratamento, sob a genérica etiqueta de "debilidade mental". E pense-se no horror nazista: a lei sobre esterilização eu genética, que Hitler decretou em 193 3, foi o primeiro passo para as atrocidades cometidas pelos médicos nos campos de concentração (ver Wolpert: 1996, p. 194-98). Em relação à eugenia, portanto, está claro que os cientistas não assumiram suas obrigações éticas.
Diverso foi o comportamento dos pesquisadores envolvidos na construção da bomba atômica, um empreendimento tecnológico baseado em conhecimento científico. Aqui podemos perceber claramente como a confusão entre ciência e tecnologia conduziu a uma visão errônea sobre o papel da ciência. As aplicações desta não são, necessariamente, responsabilidade dos cientistas: as decisões cabem, muito mais, a governantes e políticos. No caso da bomba atômica, a responsabilidade foi assumida exclusivamente pelo presidente Roosevelt, como demonstra Richard Rhodes num livro admirável, ao qual remetemos: The making of the atomic bomb ( 1988). Em outras palavras, a decisão foi política, não científica.
Quem primeiro teve a idéia de uma possível reação em cadeia de nêutrons foi o tisico húngaro Leo Szilard, então residente na Inglaterra. Através de Einstein, ele comunicou essa possibilidade a Roosevelt, que autorizou a montagem de um gigantesco projeto (secreto), envolvendo cientistas e engenheiros. Antes mesmo do primeiro teste nuclear ( 15 de julho de 1945), porém, Szilard demonstrou-se preocupado com uma operação sobre a qual, em realidade, os cientistas tinham pouco ou nenhum controle. Chegou a pensar, inclusive, num controle internacional que evitasse o monopólio norte-americano da bomba. Com a II Guerra chegando ao final, pensava ele, não havia razões para a utilização dessa arma. Szilard fez então circular uma petição, firmada por 66 cientistas que trabalhavam no projeto, a ser enviada ao presidente Truman, sucessor de Roosevelt (falecido em maio de 45).
Argumentam os subscritores que "uma nação que estabelece o precedente de usar as forças da natureza recentemente desencadeadas com fins destrutivos, poderá ter que assumir também a responsabilidade de ter aberto as portas a uma era de devastação em dimensões inimagináveis." Por isso, pediam eles que o presidente usasse suas prerrogativas para impedir que os Estados Unidos recorressem ao emprego de bombas atômicas,
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
salvo no caso de o Japão rejeitar as condições de rendição que lhe fossem impostas, e depois que tais condições fossem de amplo domínio público (Rhodes: 1988, p. 749 e segs.).
O fato é que a carta jamais chegou à mãos do presidente. No dia 6 de agosto de 1945, como se sabe, a bomba destruiu Hiroshima. Quanto a Szilard, depois da gueITa dedicou-se a divulgar ao público as implicações do conhecimento científico. Jamais se cansou de ressaltar a necessidade de o público ser informado tanto sobre a ciência quanto sobre suas aplicações. Cumpriu à risca, portanto, o dever ético de todo cientista.
3. Bioética, a "ponte" da salvação?
Retomando o fio do raciocínio esboçado no m1c10 deste texto, temos que reconhecer que não há "cura" para as feridas abertas pela modernidade com a separação de fatos e valores. As ciências eITadicaram muitas certezas, sem deixar, em troca, nenhuma consolação. É o preço que pagamos para conhecer a realidade tal como é, não mais antropocêntrica nem teocêntrica. Trata-se de uma posição realista, que não projeta o mundo somente na medida e em função dos nossos desejos ou valores, embora não negue sua imp011ância. A respeito, Max Weber foi definitivo: "a ciência não é produto de revelações, nem é graça que um profeta ou um visionário houvesse recebido para assegurar a salvação das almas; não é também porção integrante da meditação de sábios e filósofos que se dedicam a refletir sobre o sentido do mundo. Tal é o dado inelutável da nossa situação histórica, a que não poderemos escapar, se desejarmos permanecer fiéis a nós mesmos" (M. Weber: s/d, p. 47).
Com a revolução da biologia, e levando-se em conta, mais uma vez, que a separação de ética e ciência não implica que o pesquisador/cientista seja irresponsável por seus atos e decisões, surgiram tentativas de estabelecer uma ponte entre esses dois mundos, sem mesclá-los, já que isto incoITeria na falácia naturalística. É o caso da bioética, mas também da ética evolucionária, hoje bastante desenvolvidas na tradição anglo-saxônica. Se o conseguiram, é algo ainda muito discutível.
Nesta exposição, restringimo-nos ao movimento bioético, . surgido formalmente em 1970, nos Estados Unidos, por obra de Van Rensselaer Potter. À época, já se presenciava a crise do idealizado Estado de BemEstar, com o conseqüente colapso dos sistemas de saúde dos países, assim como os sinais inequívocos de esgotamento da ética ocidental tradicional, que durante cerca de dois mil anos norteou ações, decisões e pensamentos humanos. Constituía, tal movimento, uma tentativa de pactuar um novo referencial ou paradigma cultural, capaz de ser universalizável, para responder às graves questões que se colocam diante da humanidade.
Segundo a literatura, além dos elementos mencionados, outras circunstâncias históricas concoITeram ou encontram-se na raiz da bioética. Entre elas, a própria revolução nas ciências biológicas e suas possibilidades em termos de manipulação da vida; a catástrofe ecológica e a conseqüente consciência de que há limites; o progresso das tecnologias médicas, que permite a intervenção em processos antes pertencentes exclusivamente à natureza; a crescente medicalização da vida humana e os interesses econômicos correlatos; as mudanças na sociedade, onde a tolerância às diferenças passa a ser considerada valor ético; os abusos cometidos contra a dignidade humana em tempo de paz, sob a vigência do Código de Nuremberg, em nome da ciência e do poder que sua instrumentalização proporciona; a redução do debate filosófico a questões metaéticas, a ponto de se sugerir que a medicina salvou a ética (Stephen Toulmin: 1997). Por último, como reação à negligência dos problemas concretos por parte da filosofia, surgiram nos últimos anos publicações dedicadas a "éticas práticas" ou "aplicadas".
A este quadro de circunstâncias pode-se acrescentar a conhecida mensagem de Einstein sobre as aplicações da física, dirigida ao Congresso dos Intelectuais para a Paz (Wroclav, 1948): "Através de uma penosa experiência, aprendemos que o pensamento racional não é suficiente para resolver os problemas de nossa vida social. A pesquisa perspicaz e o acurado trabalho científico tiveram, com freqüência, conseqüências trágicas para o gênero humano, trazendo por um lado invenções que livram o homem das mais extenuantes fadigas físicas, tornando sua vida mais fácil e rica. Por outro lado, causa nela uma inquietação grave por torná-lo escravo de seu mundo técnico e, o mais catastrófico, cria os meios para sua destruição em massa. Uma tragédia realmente assustadora" por Berlinguer: 1993, p. 9). Além da discrepância entre ética e ciência, a mensagem sugere que o dilema entre libertação e destruição aumentou em todas as áreas do conhecimento. Mas, se há perigo, reside ele, como na aplicação do conhecimento científico, que atormentou tanto Einstein quanto Szilard a propósito da bomba atômica e do poder da física.
Voltemos a Potter. Embora o tenno cunhado, bioética, seja, em rigor, inadequado, sua idéia foi de que, para salvar o "futuro da humanidade" e a própria vida ameaçada, seria necessano um novo paradigma intelectual e cultural consistente na aproximação entre fatos e valores, isto é, os fatos de que tratam as ciências, especialmente as ciências da vida, e os valores da humanidade. Assim se expressou Potter: "Escolhi bios para representar o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas vivos; e escolhi ética para representar o conhecimento dos sistemas de valores humanos" ( cit. por Gracia: 1989, p. 30). O autor do neologismo, que era biólogo e pesquisador em Oncologia experimental
ANAIS DO CBEB'2000
(tumores), considerava imprescindível esta "ponte" entre os fatos biológicos e os valores humanos.
Posterionnente surgmam inúmeras outras versões para designar o movimento bioético, entre elas a que propõe uma relação entre o conhecimento científico e a sabedoria ética, tendo como imperativo comum a tutela da vida humana e suas manifestações e sua interdependência em relação a outros sistemas vitais. Tem prevalecido o entendimento de que o novo referencial, para que possa ser universalizável e atender a demandas e desafios sem precedentes na História, além de repousar na ética e na ciência, deve ser multidisciplinar, para incluir outros elementos, além dos estritamente científicos e éticos. Significa contemplar todas as perspectivas.
Em resumo, a bioética não pode ser considerada como uma moda a deslumbrar paladinos da moralidade, geralmente adeptos de valores religiosos fundamentalistas ou sectários, mas como um novo modo, plural, crítico, tolerante e racional de analisar e debater temas relacionados à ética e à pesquisa científica. Por exemplo, depois que a medicina revelou-se capaz de prever doenças incuráveis devidas ao patrimônio genético, tornou-se mais dificil considerar o sofrimento humano como um fardo divino que deve ser aceito.
Mais do que discutir valores, cabe à bioética analisar, sem preconceitos, os métodos e procedimentos, particularmente os relacionados às pesquisas com seres humanos. A exemplo do que ocorre em outras esferas, em bioética os procedimentos também são mais importantes do que os conteúdos ou valores. Disso se depreende que uma bioética não conservadora procurará manter-se aberia às novidades da ciência e da tecnologia, eximindo-se de invocar condenações morais definitivas e férreas medidas legislativas, mas propondo nonnas prudentes para não subtrair ao indivíduo a decisão de apropriar-se ou defender-se das inovações técnicas ( cf. Viano: 1997). A bioética confronta, precisamente, o indivíduo com os avanços científicos e tecnológicos que incidem diretamente sobre sua vida e, ao mesmo tempo, sobre as gerações futuras, não como humanidade abstrata, mas como seres reais que nós próprios geramos.
O grande risco é que as questões da bioética se tornem, pouco a pouco, patrimônio de setores jurídicos e religiosos. Estaremos então sob ameaça de censura e de proibição das pesquisas científicas, em nome de tradições morais e ideológicas que ressaltam o temor em detrimento da esperança. E todos sabemos que existe uma assimetria entre a esperança, que conduz a ações que testam suas bases, e o temor, que conduz a restrições (ver A. Kantrowitz: 1994). Muitas esperanças não resistem ao teste da experiência e são refutadas, ao passo que os temores, subtraindo-se à possibilidade de refutação, tendem a se acumular, impedindo o avanço do conhecimento .
Referências
[l] J. Monod. O acaso e a necessidade. Ensaio sobre a filosofia natural da biologia moderna. Petrópolis, Vozes, 4" ed., 1989. [2] L. Colletti. Pagine di filosofia e política. Milão, Rizzoli, 1989. __ . Fine della filosofia e altri saggi. Roma, Ideazione, 1996. [3] P. Gross e N. Levitt. Higher superstition. The academic left and its quarrels with science. Baltimore, John Hopkins University Press, i ed., 1998. Sobre as tendências anticientíficas contemporâneas, ver também, de N. Levitt, Prometheus bedeviled. Science anel the contradictions of contempormy culture, New Jersey, Rutgers University Press; e, de G. Holton, Science anel anti-science, Cambridge, Harvard University Press, i ed., 1994. [4] R. Dawkins. O rio que saía do Éden. Rio de Janeiro, Rocco, 1996. [5] M. Bunge. Epistemologia. São Paulo, T. A. Queiroz, i, 1987. ___ . La ciencia. Su método e su filosofia. Buenos Aires, Sudamericana, 3", 1998. [6] G. Basalla. The histo1y of tecnology. Cambridge, Cambridge University Press, 8" ed., 1999. [7] L. Wolpert. La natura innaturale della scienza. Bari, Edizioni Dedalo, 1996. [8] R. Rhodes. The making of atomic bomb. Nova York, Simon & Schuster, 1988. [9] M. Weber, "A ciência como vocação". ln Ciência e política. Duas vocações. São Paulo, Cultrix, 3" ed., s/d. [10] S. Toulmin. "De qué manera la medicina le salvó la vida a la ética". Revista Análisis filosófico, vol. XVII, 2/novembro 1997. [11] G. Berlinguer. Questões de voda: ética, ciência e saúde. São Paulo, Apce/Hucitec/Cebes, 1993. [12] C. A. Viano. "La bioetica tra passato e futuro". Ri vista di filosofia, Roma, dezembro/1997 (disponível em www.symbolic.parma.it/bertolin/bioetic.htm). [12] D. Gracia. Fundamentos de bioética. Madri, Eudema, 1989. ___ . Fundamentación y enseFíanza de la bioética. Santa Fede Bogotá, El Búho, 1989, vol. I. [13] O artigo do engenheiro A. Kantrowitz, "The separation of facts and values" ( outubro-1994 ), está disponível na homepage do Franklin Pierce Law Center.
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Quarenta Anos de Processamento de Sinais em Eletrocardiografia: Da Cardioversão à Estratificação de Risco da Morte Súbita
Jurandir Nadal
Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68510, 21945-970 Rio de Janeiro, Brasil,
Fone (Oxx2 l )560-5108, Fax (Oxx2 l )280-7098 [email protected]
Resumo - A eletrocardiografia representa um exemplo singular de contribuição da engenharia biomédica à medicina. Neste ensaio é apresentado um retrospecto da história da eletrocardiologia, com ênfase na incorporação de métodos quantitativos de processamento digital de sinais ao longo dos últimos 40 anos e na identificação precoce dos pacientes que apresentam maior risco de arritmias severas e morte súbita cardíaca Particular destaque é conferido ao papel histórico e futuro do engenheiro biomédico brasileiro nesta área do conhecimento.
Palavras-chave: Eletrocardiografia quantitativa, Eletrocardiografia ambulatorial, ECG de alta-resolução, Variabilidade do ritmo cardíaco, Repolarização ventricular, Estratificação de risco.
Abstract - Electrocardiography represents a singular example of the contribution of biomedical engineering to medicine. ln this essay a historical perspective of electrocardiology is presented, with emphasis on the development of quantitative methods of digital signal processing along the last four decades, and on the early identification of patients that are prone to malignant arrhythmias and sudden cardiac death. Particular emphasis is conferred to the historical and future role ofthe Brazilian biomedical engineer in this area ofthe knowledge.
Key-words: Quantitative Electrocardiography, Ambulatorial Monitoring, High-resolution ECG, Heart rate variability, Ventricular repolarization, Risk stratification.
Introdução
A expectativa de vida da população vem aumentando de forma lenta e progressiva, não somente no Brasil, mas na humanidade em geral. Nos países em desenvolvimento, este indicador é normalmente afetado por questões de cunho soc10-econom1co, como desnutrição e falta de acesso a saneamento básico e atenção primária em saúde, sendo significativamente inferior ao observado no primeiro mundo. Mesmo assim, várias doenças, anteriormente associadas a índices elevados de mortalidade, tornaram-se controláveis ou evitáveis, tais como varíola, tétano e sarampo. O conseqüente aumento da expectativa de vida conduziu a um acréscimo na importância relativa de outras causas de óbito. As doenças degenerativas ganharam ênfase, destacando-se as neoplasias e as doenças isquêmicas cardiovasculares. O conjunto de doenças do aparelho circulatório passou a constituir a principal causa de óbito no Brasil, há mais de 1 O anos, principalmente devido às doenças cerebrovasculares e à doença isquêmica do coração, precursora do infarto agudo do miocárdio e de arritmias letais. Estas doenças são agravadas pelo estilo de vida da sociedade moderna, com o acúmulo de fatores de risco, tais como tabagismo, sedentarismo e trabalho sob estresse [l].
A manifestação da mo1te súbita cardíaca é crítica e fulminante. A maioria dos óbitos ocorre na primeira hora após os primeiros sintomas, portanto antes
da vítima ter acesso ao atendimento de urgência, tornado pouco eficazes os recursos desenvolvidos pela medicina. No entanto, este aspecto não deve desestimular iniciativas de combate à morte súbita, principalmente devido a fatores preditores de sua ocorrência. Ainda em 1976, Julian observou que mais de 60% dos pacientes atendidos em hospital com infarto agudo do miocárdio apresentavam história pregressa de angina, recente ou antiga. Além disso, 38% das vítimas de morte súbita, em um estudo epidemiológico, haviam contatado seus médicos nas duas semanas anteriores ao óbito e 70% apresentaram queixas prévia de fadiga. Embora a relação inversa não seja válida, posto que uma parcela muito pequena de pacientes com histórico de angina e fadiga está exposta, de fato, ao risco de morte súbita, há evidências de que medidas preventivas podem ser tomadas para evitar ou ao menos retardar a ocorrência do óbito [2]. A principal causa da morte súbita é a fibrilação ventricular, uma arritmia que torna a atividade elétrica cardíaca caótica e assíncrona. As vítimas mais prováveis da fibrilação são os portadores de insuficiência coronariana, em particular aqueles que recentemente sofreram um infarto do miocárdio. Muitas vezes essa insuficiência não chega a comprometer a integridade mecânica do coração, mas a isquemia metabólica concomitante pode provocar uma instabilidade na atividade elétrica do miocárdio, levando à fibrilação. Nesta condição, deixa de haver
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
bombeamento sangumeo e o prognóstico é o óbito, a menos que se reverta a fibrilação em tempo hábil [3].
Este ensaio procura analisar o processo evolutivo do emprego da eletrocardiografia, uma tecnologia não invasiva, no diagnóstico da doença cardíaca. O papel da engenharia biomédica, através da instrumentação e do processamento digital de sinais, é enfatizando como um dos principais fatores na mudança do procedimento clínico ante a morte súbita cardíaca, evoluindo do "ressuscitamento" à adoção de medidas preventivas.
Uma breve história da eletrocardiografia
A história da eletrocardiografia constitui um exemplo singular do emprego de tecnologia na medicina. Embora a relação entre contração cardíaca e a geração de potenciais elétricos tenha sido descoberta em 1856 (Kolliker e Mueller), o primeiro eletrocardiograma (não-invasivo) em humanos somente foi obtido em 1887, por Waller, utilizando um eletrômetro capilar como eletrocardiógrafo. Porém, foi Einthoven quem tornou-se o verdadeiro pai da eletrocardiografia quando aperfeiçoou o galvanômetro de filamento ( 1903 ), originalmente desenvolvido por Ader (1897) e o aplicou no registro da atividade elétrica cardíaca captada de forma não-invasiva (1913) [4]. O conjunto de sua obra lhe conferiu o prêmio No bel em Medicina (1924 ), e isto não se deve ao acaso. A possibilidade de avaliar o estado funcional cardíaco através de um sinal de interpretação relativamente fácil proporcionou a difusão do método, a ponto de ser raro, em países industrializados, encontrar um indivíduo com mais de 50 anos de idade que não tenha ainda se submetido a uma eletrocardiografia.
Um segundo salto tecnológico ocorreu ao final dos anos 50, com a introdução de novas tecnologias de grande impacto sobre a morte súbita: a massagem cardíaca e o desfibrilador. Ao procedimento de cardioversão, sucedeu a concentração de pacientes de risco em unidades especiais - as Unidades de Cuidados Coronarianos (UCCs) - voltadas para a cardioversão. A queda da mortalidade em ambiente hospitalar foi tal que estimulou o desenvolvimento das modernas Unidades de Terapia Intensiva, especializadas no atendimento a pacientes com características específicas, tais como recém-nascidos de alto risco, queimados e vítimas de traumas e acidentes. Nas UCCs, osciloscópios especiais foram adotados para a monitoração contínua do ECG dos pacientes de risco, pennitindo constatar a ocorrência da fibrilação e a conseqüente necessidade de cardioversão [5]. Além disso, o procedimento de monitoração do ECG pennitiu constatar que a fibrilação é comumente precedida de outras arritmias, não fatais, as quais passaram a ser controladas com drogas específicas, conferindo às UCCs um caráter eminentemente preventivo.
Paralelamente, em 1957, Holter introduziu um sistema radio-telemétrico para a gravação do sinal eletrocardiográfico de pacientes em atividade, tornandose o pai da eletrocardiografia ambulatorial. Seu incômodo equipamento logo deu lugar a um gravador analógico, baseado em fitas, e a um complicado sistema
92
de análise. Subseqüentemente, procedeu-se a miniaturização do gravador e o aperfeiçoamento do sistema de análise, que tornou-se semi-automático, com numma dependência de interação técnica. A contribuição de Holter à eletrocardiografia abriu um canal completamente novo para seu desenvolvimento, ao pennitir a gravação do sinal em condições dinâmicas e por longos períodos. As palavras de Holter, baseadas em sua experiência acumulada com o ECG ambulatorial, foram proféticas. Em seus artigos na Science (1961) e na Nature (1962 ), ele anteviu o emprego de longos e contínuos registros de ECG para o estudo de "influências externas que perturbam a aparente estabilidade do coração isolado", para a condução de "novas pesquisas farmacológicas'', para a exploração da "microestrutura dos batimentos" e para a melhor compreensão da natureza das mudanças que podem ocorrer durante a atividade diária normal de um indivíduo clinicamente normal [6].
A adoção dos marcapassos implantáveis estabeleceu-se na mesma época, quando Parsonnet et ai. ( 1962) combinaram o emprego do marca passo de Greatbatch e Chardack ( 1959) com o eletrodo-catéter ventricular de Funnan et a!. (1959), possibilitando o emprego desta tecnologia, conhecida há quase um século, sem a abertura cirúrgica do tórax [7]. A este protótipo, foram incorporados vários aperfeiçoamentos ao logo do tempo, desenvolvendo-se baterias mais duráveis e compactas, marcapassos de demanda e sensíveis à atividade metabólica, e os cardioversores implantáveis.
Nos anos 70, destacam-se duas novas tecnologias: a eletrocardiografia de alta-resolução, onde aplica-se a média coerente ao ECG para reduzir o ruído aleatório e enfatizar atividades elétricas cardíacas de muito baixa amplitude ( ~ 1 µV) e alta-freqüência ( ~50 a 250 Hz), em particular nas regiões isoelétricas do sinal (segmentos PR e ST) [8]; e os primeiros estudos objetivos sobre a variabilidade do ritmo cardíaco [9].
O papel do processamento digital de sinais
O advento dos computadores digitais e sua explosiva evolução, em paralelo, propiciou o ritmo e qualidade dos avanços tecnológicos de tais invenções. A monitoração à beira de leito,, por exemplo, deu lugar às estações centrais de monitoração, graças ao proibitivo custo de se empregar um minicomputador, dispendiosa novidade dos anos 60, para a atenção a um único paciente.
O emprego de técnicas de processamento digital foi incorporado em várias linhas distintas, em paralelo, algumas das quais serão desenvolvidas a seguir, em termos de trabalhos pioneiros e de estado da arte, em particular no Brasil: 1) análise (segmentação) do eletrocardiograma convencional, para fins de diagnóstico automático de diferentes doenças; 2) monitoração automática de arritmias, para auxiliar (e eventualmente substituir) o homem na monótona e ineficiente tarefa de acompanhamento contínuo do ECG em monitores centrais e de beira de leito; 3) análise semi-automática do eletrocardiograma ambulatorial,
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
com vistas a viabilizar a rápida avaliação do ECG de 24 horas; 4) emprego da média coerente em eletrocardiografia de alta-resolução (alta-freqüência), com vistas à visualização de distúrbios da condução do sinal mioelétrico cardíaco em sítios especializados ou em áreas localizadas de lesão do miocárdio; 5) o estudo da variabilidade do ritmo cardíaco, com vistas a diagnosticar distúrbios da regulação fisiológica cardíaca; 6) dispositivos implantáveis, para cardioversão, monitoração e controle do ritmo cardíaco.
Dada a importância das doenças cardíacas, em cada área específica o trabalho pioneiro de uns poucos, normalmente baseado em procedimentos empíricos e simplificados mas que, mesmo assim, exploravam os recursos computacionais de sua época até seu limite, deu origem a uma infinidade de trabalhos, em todo o mundo, utilizando-se técnicas cada vez mais sofisticadas de processamento, proporcionais à evolução da micro-informática.
Análise automática do eletrocardiograma em repouso
A interpretação computadorizada do ECG constituiu uma das primeiras aplicações de computadores na medicina, sendo também um dos primeiros sistemas de apoio à decisão na área médica. Fundamentalmente, a interpretação é efetuada a partir de um trecho de eletrocardiograma de curta duração (5 a 1 O segundos de sinal é suficiente), em 12 derivações simultâneas ou tomadas em montagens de três em três, ou ainda nas derivações ortogonais de Frank (XYZ). Diferentes doenças podem ser diagnosticadas, tais como bloqueios de ramo e átrio-ventriculares, infarto do miocárdio, doenças valvares etc. Em alguns sistemas, trechos um pouco maiores de sinal (por exemplo, um minuto) são utilizados para avaliação de alterações seriais do sinal e determinação do ritmo cardíaco.
Os trabalhos pioneiros, em computadores de "grande porte'', foram desenvolvidos por Pipberger (George Washington University, Washington DC, 1956), utilizando as três derivações ortogonais de Frank e por Cáceres (US Public Health Service, também de Washington DC, 1962), com o ECG convencional em 12 derivações consecutivas [9]. Na década seguinte, a análise do ECG em derivações tomadas três a três (MacFarlane, 1971; Bonner, 1972) chegou à indústria (Siemens-Elema e IBM, respectivamente) [10]. A Siemens-Elema e a Marquette Electronics foram as pioneiras na análise de 12 derivações simultâneas, e juntamente com a HP (que sucedeu a IBM) dominaram o mercado ocidental, chegando a 100 milhões de exames por ano nos Estados Unidos, no início dos anos 90 [11]. A este número deve-se somar 3 milhões de ECGs interpretados anualmente no Japão, com 30.000 sistemas instalados na época, e cerca de 8 milhões por ano na Europa [10-12]. No entanto, a difusão dessa tecnologia mostrou-se não uniforme. No Brasil, por exemplo, foi menosprezada.
Ao contrário de outros exemplos, como a tomografia computadorizada e a automação laboratorial, em que a indústria tem o completo domínio tecnológico,
a interpretação automática pennanece como área de investigação acadêmica. Algumas razões para tal são ( 1) a manutenção de alguns desafios científicos, como a definição de (novos) critérios de diagnóstico e a relação entre ECG e outros dados fisiológicos; (2) a dificuldade de padronizar estes sistemas baseados em conhecimento; e (3) a busca de métodos para avaliação de qualidade e proteção ao consumidor.
Nos anos 80, havia mais de 15 diferentes sistemas de interpretação de ECG, cada qual com seu próprio método, desenvolvido e avaliado com sinais também próprios, sem haver nenhum critério objetivo para comparação de qualidade e desempenho. Cientes desse fato, 13 grupos uniram-se no projeto de colaboração internacional Common Standards for Quantitative Electrocardiography (CSE), sup01iado pela Comunidade Européia [13]. O projeto CSE procurou estimular o estabelecimento de critérios padronizados para a obtenção de medições básicas e prover meios para se estabelecer e aferir um desempenho mínimo para qualquer sistema. Para tal objetivo, foi desenvolvido o CSE Database, contendo um extenso conjunto de eletrocardiogramas validados que passou a ser usado para todos os sistemas de interpretação. Mesmo após 20 anos do estabelecimento deste projeto internacional, os sistemas existentes continuam apresentando diferenças consideráveis, tanto em qualidade do "software" para análise como nos critérios de diagnóstico incorporados, em parie para atender a diferentes aplicações, tais como triagem de pacientes, atenção primária, cardiologia, pediatria, etc. Para uma visão mais abrangente da dimensão deste projeto e dos grupos envolvidos, pode-se recorrer à edição especial da revista Methods lnformation in Medicine (v. 29, n. 4, 1990), quase totalmente dedicada ao projeto CSE.
No Brasil, dois grupos desenvolveram trabalhos na área. No Programa de Engenharia Biomédica da COPPE, uma tese de mestrado foi focada no desenvolvimento de um sistema de diagnóstico baseado na linguagem ARITY/PROLOG [14]. Mestrado de Engenharia Biomédica da UFPB, Carvalho liderou o desenvolvimento de métodos para a segmentação completa do ECG, com aplicações em vectorcardiografia, ECG de esforço e de 12 derivações, baseado no CSE Database, os quais estão sendo transferidos para a indústria [15-17]. Certamente, estas poucas contribuições não esgotam este campo de investigação. O Brasil está longe de deter o domínio tecnológico, e o potencial mercado permanece inexplorado.
Monitores automáticos de arritmias
Em virtualmente todas as unidades de cuidados especiais o ECG de cada paciente é monitorado com vistas à determinação da freqüência cardíaca. Os sistemas convencionais de monitoração de pacientes exibem, à beira de cada leito, o ECG e outras variáveis fisiológicas, tais como pressão sangüínea e respiração. Tais sinais podem ser transmitidos para estações centrais de monitoração, onde um operador observa os
ANAIS DO CBEB'2000
sinais de vanos pacientes, de modo contínuo ou intermitente. O ECG é observado com vistas à detecção de arritmias, podendo ser analisado por algoritmos de detecção automática. Há monitores exclusivamente dedicados à análise de ECG, e vários monitores fisiológicos gerais apresentam módulo de monitoração de arritmias. Os sistemas para uso em UCC geralmente dispõem de vários módulos de saída, para exibir séries de tendências (trend plots) com a taxa de ocorrência de extrassístoles e valores de freqüência cardíaca, registrar trechos de sinal e gerar alarmes sempre que determinados eventos ocorram [5]. Todos os sistemas modernos dispõem de conversores analógico-digitais, para a aquisição do sinal. A maioria dos sistemas converte o sinal com taxas de amostragem superiores a 200 amostras por segundo, respeitando as normas da American Heart Association, que estabelecem o valor de 100 Hz para freqüência de corte superior para preservar o conteúdo de informação do ECG adequado para diagnóstico. Todos os sistemas tem por base a detecção automática de cada batimento (onda R). A seguir, o monitor automático isola e classifica os complexos QRS, calcula a freqüência cardíaca e identifica o ritmo.
Dentre os trabalhos pioneiros da área, dois monitores automáticos merecem destaque, sendo ambos resultantes de teses de doutorado, desenvolvidas por Nolle (Washington University, Saint Louis. MO) e Schluter (Harvard University/MIT, Cambridge, MA) [18,19]. O primeiro deles, denominado ARGUS (ARrhythmia GUard System) passou por sucessivas versões, inclusive para aplicação em analisadores de ECG Holter. Ambos basearam-se na detecção de complexos QRS usando compressão do ECG e efetuavam a classificação com base em parâmetros extraídos de cada complexo. Como subproduto dos projetos envolvendo tais teses, dois bancos de dados completamente anotados foram produzidos e internacionalmente difundidos - o AHA Database (Americal Heart Association) e o MITIBIH Arrhythmia Database, respectivamente estimulando o desenvolvimento de métodos em todo o mundo.
No Brasil, a COPPE/UFRJ investiu um considerável esforço no desenvolvimento de tais sistemas. A detecção dos complexos QRS é baseada na técnica proposta por Engelse e Zeelenberg [20-22], a mesma que inspirou o conhecido algoritmo de Pan e Thompkins [23]. A partir da detecção de cada batimento, efetua-se a classificação, utilizando-se várias abordagens de reconhecimento de padrões, incluindo: combinação de análise paramétrica e correlação [24], Análise de Componentes Principais (ACP) [25-26], árvores binárias de decisão e validação cruzada [25-27] e redes neurais artificiais (RNA) [26-28]. A identificação de vários ritmos baseia-se nesta classificação [29], porém alguns casos, como a fibrilação atrial, requerem um algoritmo específico [30]. A concentração dos trabalhos em um único grupo de pesquisa deixa espaço para novas investigações, em particular no estudo de arritmias atriais e ventriculares específicas.
94
Eletrocardiografia ambulatorial
Com a rápida evolução da informática, em particular com o desenvolvimento de estações de trabalho e microcomputadores pessoais com elevada capacidade de processamento, os sofisticados métodos de análise de arritmias, por exemplo usando redes neurais artificiais [31 ], vem se tornando aplicáveis também para a análise rápida do ECG ambulatorial. Porém, mais importante ainda é a possibilidade de detecção da ocorrência de episódios isquem1cos cardíacos, mesmo sem a manifestação de dor precordial (angina pectoris), a qual ocorre em menos de 20% dos casos [32]. A isquemia manifesta-se no ECG através de desvios no segmento ST e na forma da onda T. A detecção de eventos isquêmicos no ECG ambulatorial foi alavancada nos anos 90 com a criação de um banco de dados completamente documentado, o European STT Database [33], o qual possibilitou que pesquisadores de todo o mundo pudessem desenvolver seus métodos e efetuar comparações de desempenho [34-36]. Na UFRJ, foram desenvolvidos quatro métodos de detecção de eventos isquem1cos, destacando-se aqueles que combinam ACP e RNA [37-38]. Como a isquemia precede o infarto e algumas arritmias severas, o ECG Holter se estabeleceu como um método atual de estratificar o risco da morte súbita cardíaca de pacientes não confinados em ambiente hospitalar, complementando os achados da eletrocardiografia de esforço. A linha de investigação é recente, os resultados até agora divulgados são limitados e há vários desafios não considerados aqui por falta de espaço.
ECG de alta-resolução e potenciais tardios
A partir do trabalho pioneiro de Berbari et ai. [8], que inspirou inúmeros trabalhos miginais, inclusive no Brasil [39], tornou-se viável o estudo não invasivo dos potenciais bioelétricos do ECG não visíveis na eletrocardiografia convencional. Em particular, o trabalho de Simson [40] forneceu o método padrão para a detecção de micropotenciais na região terminal do complexo QRS, relacionados à condução fragmentada da onda de despolarização no ventrículo, e, portanto, indicadores de risco da ocorrência de arritmias ventriculares causada por mecanismos de reentrada. O método envolvendo a análise do vetor magnitude, resultante da composição das médias coerentes do ECG nas derivações ortogonais de Frank, após uma filtragem passa-altas (filtro Butterworth bidirecional de Simson) tornou-se uma padrão de referência [41], sendo incorporado a sistemas comerciais de uso clínico. Não obstante, o método ainda é objeto de estudos acadêmicos, envolvendo novas abordagens de processamento de sinais com vistas a seu aperfeiçoamento, inclusive no Brasil [42-50]. Assim, vêm sendo desenvolvidos métodos para otimizar o processo de média coerente [ 44-48] e alternativas para o filtro de Simson [ 49], enquanto estende-se a aplicação clínica a doenças ainda não exploradas, tais como a cardiopatia Chagásica crônica [ 45] e a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) [47,48]. Um sistema
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
desenvolvido pela UFRJ foi merecedor do último prêmio conferido pela Academia Nacional de Medicina, em 1999 [ 50]. Uma possibilidade ainda pouco explorada é a detecção de potenciais fragmentados intra-QRS, onde métodos baseados em análise multivariada, espectral e tempo-freqüência [43] são promissores.
Variabilidade do ritmo cardíaco
A quase-periodicidade dos batimentos cardíacos forma uma série temporal que tem despertado o interesse de pesquisadores por décadas, e o advento de computadores digitais incrementou o enfoque analítico nesta área de estudo. Os intervalos de tempo entre complexos QRS consecutivos - seqüências de intervalos RR - constituem a mais simples e fácil série para análise, a qual reflete a modulação autonômica da freqüência Cardíaca. O trabalho mais antigo da área, conforme revisão de LeBlanc [ 51 ], data de 1955 (Langedorf et a!., Circulation, v. 11) e discorre sobre o uso de histogramas para estudar a relação entre intensidade de ocorrência de extrassístoles e duração do ciclo cardíaco. Porém, foi Sayers um dos pioneiros a inferir sobre a significância fisiológica da variabilidade, usando análise espectral [9]. Atualmente, a técnica é amplamente difundida, estando estabelecida como método de diagnóstico da desautonomia diabética e para a estratificação de risco de morte súbita em pacientes pós-infarto [52]. No Brasil, no âmbito de engenharia biomédica, pouco tem sido feito nessa área. Duas teses de doutorado recentes desenvolveram métodos no tema, porém para estudo com animais ou sinais simulados, na UFMG [53] e na UNICAMP [54]. Na UFRJ, uma tese de mestrado abordou o problema de estacionariedade e da normalidade dos tacogramas, séries de intervalos RR [55]. Atualmente, os métodos clássicos de análise vem sendo usados em estudos clínicos, associados à análise do processo de repolarização ventricular em eletrocardiografia de alta-resolução e [56-58]. O emprego concomitante de manobras autonômicas vem ampliar a potencialidade de aplicações de métodos de processamento digital para sinais não-estacionários.
Tendências atuais em eletrocardiografia quantitativa
O advento de dispositivos implantáveis inteligentes, incluindo marcapassos sensíveis à demanda metabólica e cardioversores, mantém vivo o interesse em métodos robustos de processamento de sinais, identificação de sistemas e reconhecimento de padrões. Nesta área, é interessante o trabalho que vem sendo desenvolvido na PUCPR, onde são analisados sinais de eletrogramas ventriculares captados por meio de marcapasso telemétrico para a detecção de sinais de rejeição ou infecção em transplante cardíaco (vide artigo sobre o tema nos anais deste congresso). A necessidade de economia de memória nos dispositivos implantáveis, bem como a grande massa de dados gerada nos estudos envolvendo eletrocardiografia ambulatorial, renovam o interesse em métodos de compressão de ECG, os quais vem sendo investigados
no Brasil, usando a transformada do co-seno [59], análise de componentes principais [60] e wavelets [61 ].
Uma contribuição relevante da engenharia biomédica na eletrocardiografia é a busca de parâmetros que permitam a estratificação do risco da morte súbita cardíaca em doenças de diferente etiologia, através de exames não invasivos aplicáveis em avaliações clínicas de rotina. Para este fim, o fato de não haver um único indicador que seja patognomônico da doença tem conduzido ao desenvolvimento combinado de diferentes exames, onde se inclui a eletrocardiografia convencional, de alta-resolução, ambulatorial e de esforço. Também a variabilidade do ritmo cardíaco e o fenômeno da repolarização ventricular [56-58], associados a manobras autonômicas, têm sido ainda pouco explorados e representam um vasto campo de investigação interdisciplinar. Em suma, a eletrofisiologia cardíaca não invasiva está ainda em sua infância [62], sendo a maioria dos métodos ora investigados restritos a sinais estacionários e invariantes no tempo. Nesse sentido, são promissores os métodos baseados em análise tempo-freqüência e em modelos dinâmicos, no sentido de melhor compreender e diagnosticar distúrbios no complexo sistema de controle cardíaco. Este último aspecto vem sendo investigado por pelo menos um grupo de pesquisa brasileiro, na UFMG [63].
Como considerações finais, deve-se enfatizar que as poucas áreas de atuação enfocadas são ainda receptivas à contribuição do engenheiro biomédico. Dos vários exemplos de produtos brasileiros enfocados, poucos são os que resultaram em publicações em periódicos indexados. Em algumas áreas, observa-se uma clara falta de domínio tecnológico, onde pode-se vislumbrar possibilidades concretas de interação entre universidade e empresa. Na pesquisa básica, há um universo a ser explorado. Finalmente, a cooperação interdisciplinar entre engenharia biomédica e pesquisa clínica oferece a oportunidade de se obter resultados de impacto imediato na saúde da população, como no exemplo explorado da prevenção da morte súbita. O não reconhecimento da necessidade premente de interação entre o engenheiro e o médico representa o risco de se investir, ou continuar investindo, recursos e esforços vultuosos na busca de respostas a questões mal formuladas, e irrelevantes para a área da saúde.
Referências
[l] J. Nadai, Class!ficação de Arritmias Cardíacas Baseada em Análise de Componentes Principais e Árvores de Decisão. Tese de Doutorado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991.
[2] D.G. Julian, "Toward Preventing Coronary Death from Ventricular Fibrillation", Circulation, vol. 54, n.3,pp.360-364, 1976
[3] B. Lown, M. Wolf, "Approaches to Sudden Death from Coronary Heart Disease", Circulation, vol. 44, July, pp. 130-142, 1971.
[4] LA. Geddes, "Historical Perspectives 2: The Electrocardiograph", ln: The Biomedical
ANAIS DO CBEl3'2000 Convidados
Engineering Handbook (Ed.: J.D. Bronzino), Boca Raton: CRC & IEEE, p. 788-798, 1995.
[5] ECRI "Arrhythmia Monitoring Systems", Health Devices, Emergency Care Research Institute, vol. 14, n. 10, pp. 287-327, 1985.
[6] S. Stern, "Prologue". ln: Noninvasive Electrocardiology (Eds.: A.J. Moss, S. Stern), London: W.B. Saunders, p. 1-2, 1996.
[7] L.A. Geddes, "Historical Perspectives 2: The Electrocardiograph", ln: The Biomedical Engineering Handbook (Ed.: J.D. Bronzino), Boca Raton: CRC & IEEE, p. 87-97, 1995.
[8] E.J. Berbari, R. Lazzara, P. Samet, B.J. Scherlag, "Noninvasive Technique for Detection of Electrical Activity During the PR Segment. Circulation, vol. 48, pp. 1006-, 1973.
[9] B.McA. Sayers, "Analysis of Heari Rate Variability", Ergonomics, vol. 16, p. 17-32, 1973.
[10] P.W. MacFarlane, "A Brief History of ComputerAssisted Electrocardiography", Methods of Information in Medicine, vol. 29, n. 4, pp. 272-281, 1990.
[11] E. Drazen, N. Mann, R. Borun, M. Laks, A. Bersen, "Survey of Computer-Assisted Electrocardiography in the United States", Journal of Electrocardiology, Supplemental Issue, pp. S98-S l 04, 1988.
[12] M. Okagima, N. Okamoto, M. Yokoi, T. Iwatsuka, N. Ohsawa, "Methodology of ECG Interpretation in the Nagoya Program", Methods of Information in Medicine, vol. 29, n. 4, pp. 341-345, 1990.
[13] J.L. Willems, P. Arnaud, J.H. van Bemmel, R. Degani, P.W. MacFarlane, C. Zywietz, "Common Standards for Quantitative Electrocardiography: Goals and Main Results", Methods oflnformation in Medicine, vol. 29, n. 4, pp. 263-271, 1990.
[14] S.I.J. Gieseler, N.W. Wiederhecker, "ECGxpert: Sistema Especialista para Interpretação de Eletrocardiogramas", Revista Brasileira de Engenharia - Caderno de Engenharia Biomédica, vol. 6, n. 2, pp. 197-204, 1989.
[15] R.H Torres, Sistema de Aquisição, Processamento e Apresentação Gr4fica do Vectorcardiograma, Tese de Mestrado, Mestrado em Engenharia Biomédica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1992.
[16] G.H.M.B. Motta, Especificações formais Orientadas a Objetos: Aplicação no Desenvolvimento de um Sistema para Processamento do Eletrocardiograma de Esforço, Tese de Mestrado, Mestrado em Engenharia Biomédica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1992.
[17] M.L. Varani, Sistema de Aquisição, Processamento Automático e Apresentação Gr4fica do Eletrocardiograma de 12 Derivações, Tese de Mestrado, Mestrado em Engenharia Biomédica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1994.
[18] F.M. Nolle, ARGUS. A Clinicai Computer System for Monitoring Electrocardiographic Rhythms,
D.Se. Disseriation, Sever Institute of Technology, Washington University, Saint Louis, MO, 1972.
[ 19] P. S. Schluter, The Design and Evaluation of a Bedside Cardiac Arrhythmia Monitor, Ph.D. Dissertation, Department of Electrical Engineering, Massachussets Institute of Technology, Cambridge, MA, 1981.
[20] W.A.H. Engelse, C. Zeelenberg, "A Single Scan Algorithm for QRS-Detection and Feature Extraction", Computers in Cardiology, vol. 6, pp. 37-42, 1979.
[21] C.E.G. Lima, S.T. Gandra, A. Caprihan, F. Nobre, F. SCHLINDWEIN, "Algoritmo para Detecção de QRS em Microcomputadores", Revista Brasileira de Engenharia Caderno de Engenharia Biomédica, vol. 1, n. 2, pp. 5-16, 1983.
[22] A.C.S. Abrantes, J. Nadal, "Algoritmos para Detecção de Complexos QRS em Microcomputadores PC-AT", Anais do J Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, XII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, pp. 228-231, Caxambu, MG, 1992.
[23] J. Pan, W.J. Thompkins, "A Real-Time QRS Detection Algorithm", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 32, n. 3, pp. 230-236, 1985.
[24] J.O.C. Flosi, Sistema de Classificação Automática dos Complexos QRS do Eletrocardiograma, Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988.
[25] J. Nadal, Classificação de Arritmias Cardíacas Baseada em Análise de Componentes Principais e Árvores de Decisão. Tese de Doutorado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991.
[26] J. Nadal, M.C. Bossan, "Classification of Cardiac Arrhythmias Based on Principal Component Analysis and Feedforward Neural Networks", Computers in Cardiology, vol. 20, pp. 341-344, 1993.
[27] W.A. Valentim, J. Nadal, "Algoritmo para Classificação de Complexos QRS em Múltiplas Classes", Anais do I Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, XII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, p. 232-234, Caxambu, MG, 1992.
[28] S.L. Melo, L.P. Calôba, J. Nadal, "Classificação de Batimentos Cardíacos Utilizando Rede Neural com Treinamento Competitivo Supervisionado", Anais do XIX Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Computação /II Encontro Nacional de Inteligência Art!ficial, vol. 4, pp. 1-12, Rio de Janeiro, 1999.
[29] A.T. Kauati, J. Nadal, "Integração de Detector e Classificador de Complexos QRS", Anais do III Forum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde - XV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, vol. 1, pp. 137-138, Campos do Jordão, SP, 1996.
[30] V.R. Zurro, A.L. Stelle, J. Nadal, "Detection of Atrial Persistent Rhythm Based on P-Wave
ANAIS DO CBEB'2000 Convidados
Recognition and R-R Intervals Variability", Conzputers in Cardiology, vol. 22, pp. 185-188, 1995.
[31] A.V. Chagas, M.C. Bossan, J. Nadal, "Agrupamento de Batimentos Cardíacos do Eletrocardiograma Utilizando uma Camada de Kohonen'', Anais do III Congresso Brasileiro de Redes Neurais, pp. 185-189, Florianópolis, 1997.
[32] P.C. Deewania, "lschemia Detected by Holter Monitoring in Coronary Artery Disease", ln: Noninvasive Electrocardiology (Ed. A.J. Moss, S. Stern), London: W.B. Saunders, 1996.
[33] A. Taddei, G. Distante, M. Emdin, P. Pisani, G.B. Moody, C. Zeelenberg, C. Marchesi, "The European ST-T Database: Standard for Evaluating Systems for the Analysis of ST-T Changes in Ambulatory Electrocardiography", European Heart Journal. vol. 13, pp. 1164-1172, 1992
[34] P. Laguna, G.B. Moody, R.G. Mark, "Analysis of the Cardiac Repolarization Period Using the KL Transform: Applications on the ST-T Database", Computers in Cardiology, vol. 21, pp. 233-236, 1994
[35] R. Silipo, P. Laguna, C. Marchesi, R.G. Mark, "ST-T Segment Change Recognition using Artificial Neural Networks and Principal Component Analysis", Computers in Cardiology, vol. 22, pp. 213-216, 1995
[36] N. Maglaveras, T. Stamkopoulos, C. Pappas, M.G. Strintzis. "An adaptive backpropagation neural network for real-time ischemia episodes detection: development and performance analysis using the European ST-T Database". IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 45, n. 7, pp. 805-813, 1998.
[37] P.P.S. Soares, J. Nadai, "Aplicação de uma Rede Neural Feedforward com Algoritmo de LevenbergMarquardt para Classificação de Alterações no Segmento ST do Eletrocardiograma", Anais do IV Congresso Brasileiro de Redes Neurais, pp. 384-3 89, São José dos Campos, SP, 1999
[38] D. Frenkel, J. Nadai, "Isquemic Episode Detection using an Artificial Neural Network Trained with Isolated ST-T Segments", Computers in Cardiology, vol. 26, pp. 53-56, 1999.
[39] N.G. Wiederhecker, Detecção de Padrões Elétricos no Segmento PR de Eletrocardiogramas Captados na UFRJ. Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1975.
[40] M.B. Simson, "Use of Signals in the Terminal QRS Complex to ldentify Patients with Ventricular Tachycardia After Myocardial Infarction". Circulation. vol. 64, n. 2, pp. 235-242, 1981
[41] G. Breithardt, M.E. Cain, N. El-Sherif, N.C. Flowers, V. Hombach, M. Janse, M.B. Simson, G. Steinbeck, "Standards for Analysis of Ventricular Late Potentials Using High-Resolution or SignalA veraged Electrocardiography: A Statement by a Task Force Committee of the European Society of Cardiology, the American Hear1 Association, and
the American College of Cardiology". Circulation. vol. 83, n. 4, pp. 1481-1488, 1991.
[42] P.R. Alcocer, C. Pinho, J.W.M. Bassani, "Sistema para Extração e Análise Não Invasiva de Potenciais Tardios Ventriculares". Revista Brasileira de Engenharia. Caderno de Engenharia Biomédica. vol. 7, n. 1, pp. 27-36, 1990.
[43] B.N. Huallpa, Obtenção e Processamento de Sinais de Eletrocardiografia de Alta Resolução. Tese Mestrado. Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1992
[44] L.R. Dopico, J. Nadai, A.F.C. Infantosi, "Sistema Experimental para Análise de Potenciais Tardios Ventriculares do Eletrocardiograma", Memorias dei 1 er Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, p. 575-579, Mazatlán, Sinaloa, México, 1998.
[45] P.R.B. Barbosa, J. Barbosa Filho, C.A.M. de Sá, J. Nadai, "A New Method for Reduction of the Muscular Respiratmy Noise in Signal-Averaging Based on the Spectral Analysis ofthe Heart Beat", Computers in Cardiology, vol. pp. 323-326, 1999.
[46] Barbosa, P.R.B., Ginefra, P., Barbosa, E.C. Nadai, J., "Signal-Averaging System for Ventricular Late Potentials Using Spectral Analysis of the Heart Beat", Journal of the Anzerican College of Cardiology, vol. 31, n. 5 (Suppl. C), pp. 426C, 1998.
[47] P.R.B. Barbosa, J. Barbosa Filho, C.A.M. de Sá, J. Nadai, "Assessment of Ventricular Late Potentials in HIV Positive Patients Based on the RR Interval Histogram", Conzputers in Cardiology, vol. 26, pp. 327-330, 1999.
[48] Barbosa, P.R.B., Sá, C.A.M., Barbosa Filho, J. Nadai, J., "Analysis of the Ventricular Late Potentials Based on the RR Interval Histogram in HIV Positive Patients". Journal the American College of Cardiology, vol. 31, n. (Suppl. C), pp. 426C, 1998.
[49] P.R.B. Barbosa, E.C. Barbosa, P. Ginefra, J. Nadai, "Butterworth Bi-directional and BiSpec TH
Filters in the Assessment of Ventricular Late Potentials: A Comparative Study", Computers in Cardiology, vol. 26, pp. 579-582, 1999.
[50] Barbosa, P.R.B., C.A.M. de Sá, E.C. Barbosa e Nadai, J., Prêmio "Cuidados pela Vida", conferido ao trabalho "Sistema não invasivo para identificação de potenciais arritmogênicos'', pela Academia Nacional de Medicina na Jornada Comemorativa do seu 1700 Aniversário.
[51] A.-R. LeBlanc, "Quantitative Analysis of Cardiac Arrhythmias", CRC Criticai Reviews in Biomedical Engineering, vol. 14, Issue 1, pp. 1-43, 1986.
[52] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. "Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinicai Use", Circulation, vol. 93, n. 5, pp. 1043-1065, 1996.
ANAIS DO CBEB'2000 Artigos Convidados
[53] H.N. Guimarães, R.A.S.A. Santos, "Comparative Analysis of Preprocessing Teclmiques of Cardiac Event Series for the Study of Heart Rhythm Variability using Simulated Signals'', Brazilian Journal of Medical a11d Biological Researclz, vol. 31, n. 3, pp. 421-430, 1998.
[54] M.R. Ushizima, Desenvolvimento de Ferramentas para Análise de Sinais Biológicos nos Domínios Tempo, Freqüência e Tempo-Freqüência: Aplicação ao Estudo da Regulação da Pressão Arterial. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.
[55] L.T. Pereira, Estudo das Características de Séries Temporais de Intervalos R-R do Eletrocardiograma, Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1994.
[56] P.R.B., Barbosa, J. Barbosa-Filho, A.B. Medeiros, J. Nadai, "Phase Response of the Spectral Coherence Function Between Heart Rate Variability and Ventricular Repolarization Duration in Normal Subjects", Aceito para o Computers in Cardiology, 2000.
[57] P.R.B. Barbosa, J. Barbosa-Filho, J. Nadai, "The Effect of the Instantaneous RR Interval on the Dynamic Properties of the Hea1t Rate and the Ventricular Repolarization Duration Variability", Aceito para o Computers in Cardiology, 2000.
[58] P.R.B., Barbosa, J. Barbosa-Filho, J. Nadai, "Analysis of the Correlation Between Ventricular Depolarization Events and Heart Rate in Normal Subjects Using Signal-Averaged ECG", Aceito para o Computers in Cardiology, 2000.
[59] J. van der Poel, Compressão de Sinais de Eletrocardiograma, Tese de Mestrado, Mestrado em Engenharia Biomédica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1999.
[60] D.E.e. Nicolosi, Compressão de Sinais de Eletrocardiograma: Uma Contribuição ao Seu Estudo, Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999.
[61] A.V. Chagas, Compressão de sinais de eletrocardiogramas utilizando "wavelets ". Tese de Mestrado [em desenvolvimento, material não publicado], Programa de Engenharia Biomédica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.
[62] A. Moss, "Epilogue: Future Considerations", ln: Noninvasive Electrocardiology (Ed.: A.J. Moss, S. Stern), London: W. B. Saunders, 1996.
[63] M.E.D. Gomes, A.V.P. Souza, H.N. Guimarães, LA. Aguirre, "Investigation of Determinism in Heart Rate Variability", Chaos, vol. 10, n. 2, pp. 398-410, 2000.
98
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
Estimation of Ca2+ Recirculating Fraction in Rat V entricle: Influence of the
Methodological Approach
Rosana A. Bassani, Sandro A. Ferraz and José W.M. Bassani
Centro de Engenharia Biomédica and Dep. de Engenharia Biomédica/FEEC/Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Caixa Postal 6040, 13083-970 Campinas, SP,Brazil.
Rosana@ceb. unicamp. br
Abstract - Ca2+ recirculating fraction (RF) has been determined in isolated myocardium as an estimate ofthe fraction of
activator Ca2+ which circulates between cytoplasm and sarcoplasmic reticulum (SR) during activity. RF is represented
by the slope of the linear relationship between the amplitude of sucessive contractions (Bl, B2 ... Bn) during decay of twitch potentiation. ln this study, we induced potentiation by rest (the most frequently employed method) and by rapid pacing, in isolated ventricular muscle from adult and developing rats. Measurements were taken at 0.5 Hz stimulation rate. ln adults, the relationship Bn vs. Bn+ 1 was significantly linear and RF values were similar (-0.92) with both methods. ln young hearts, this relationship showed poor linearity only when rest-potentiation was used. RF increased with development (P<0.001 ), which is in agreement with post-natal maturation of cardiac SR. However, RF values were much lower (P<0.001) with the rest approach (-0.1-0.4 over the first three post-natal weeks), compared with rapid pacing (-0.6-0.8). Our results suggest that rapid pacing appears to be an adequate method to induce twitch potentiation, but care should be taken when using the rest approach to detennine RF in conditions which affect interval-force relationship, such as development and cardiovascular disease.
Key-words: myocardium, sarcoplasmic reticulum, twitch-potentiation, post-natal development, cell cycling
Introduction
The sarcoplasmic reticulum (SR) is the main source of contraction-activating Ca2
+ in the mammalian heart. At each beat, Ca2
+ entering the cell during the action potential via sarcolemmal Ca2
+ channels triggers SR Ca2
+ release, which causes cytoplasmic Ca2+
concentration to increase and, thus, contraction to develop (Bers, 1991 ). During relaxation, Ca2
+ is removed from the cytoplasm mainly by the SR Ca2
+ -
pump (thus, restoring SR stores to be released at the next beat), while a lesser amount of Ca2+ is extruded via the Na+ -Ca2
+ exchange (Bassani et ai., 1992, 1994 ). Thus, during rhythmic contractile activity, Ca2
+ cycles predominantly in the intracellular environment (i.e., recirculates between cytoplasm and SR). The fraction of Ca2
+ that undergoes intracellular recirculation during subsequent beats (Ca2
+ recirculating fraction, RF) has been empirically estimated in isolated cardiac preparations from the decline of the amplitude of successive contractions during potentiation dissipation ( e.g., Mõrner and Wohlfart , 1992; Vornanen, 1992). That is, the amplitude of the contraction after a potentiated beat ( during which SR Ca2
+ release is considered to be massive) will depend on the amount of previously released Ca2
+ which returned to the SR during relaxation, and is available for further release (i.e., how much Ca2
+ recirculated between the two beats).
The heart of newborn mammals exhibits signs of SR immaturiry, in the morphological, biochemical and functional aspects (see Mahony, 1996). Thus, it has been proposed that, in neonates, Ca2
+ cycling between 101
intra- and extracellular media is more prominent than in adults, and that the proportion of activator Ca2
+ that cycles between cytoplasm and SR increases as the SR matures.
ln this study, we estimated RF in ventricular muscle from adult and developing rats, using two different methods to produce potentiation of electrically-evoked contractions (twitches). We observed that the RF values obtained in the developing muscle strongly depended on the method employed in RF determination.
Methods
Papillary muscles and ventricular strips were obtained from Wistar rats with ages ranging between 1 day and 3 months (adults). The muscle was perfused with Krebs-Henseleit solution (129.3 mM NaCl, 4.6 mM KCl, 1.5 mM CaCh, 1.2 mM KH2P04, 1O.7 mM NaHC03, 1.2 mM MgS04 and 11.1 mM glucose) at 36.5 ºC, continuously gassed with 95% 0 2 - 5% C02,
and electrically stimulated at 0.5 Hz (bipolar voltage pulses of amplitude l.2x threshold and 2 ms duration). Active tension was measured with an isometric force transducer (Narco Biosystems, mod. F60). After 40 min equilibration at the optimal muscle length, RF was detennined. Experiments were conducted on 5-8 preparations of each age. Two methods were used to achieve twitch potentiation:
a) rest: rat ventricle responds to prolonged diastole with potentiation of the first post-rest twitch (B 1 ). ln this approach, different rest periods were applied to
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
each preparation (30-600 s), after which 0.5 Hz stimulation was resumed. For each rest duration, the amplitude of the second post-rest twitch (B2) was plotted as a function of the amplitude of the preceding twitch (B 1, i.e., the first twitch evoked after rest). The amplitude of all post-rest twitches was converted to the percentage of that of steady-state twitches at 0.5 Hz (SS-TW, i.e., the average twitch amplitude before each rest interval was applied). A straight line was then fitted to the experimental points and RF was estimated as the resulting slope.
b) rapid pacing: the muscle was stimulated at 1 O Hz for 20 s, after which stimulation rate was switched to l Hz and then back to 0.5 Hz. Decrease in stimulation rate caused a transient increase in twitch amplitude, which waned out after a few beats. Considering only the negative staircase phase at 0.5 Hz, after decreasing stimulation rate, the amplitude of successive beats was plotted as a function of that of the preceding beat (B2 vs. Bl, B3 vs. B2, and so on) over a range of 4-6 beats. Again, amplitude was normalized to that of the SS-TW at 0.5 Hz, and the slope of the linear relationship was considered to be RF.
Data, expressed as means ± SEM, were compared by two-way analysis of variance and posthoc t-test. A P value :::; 0.05 was taken as indicative of statistical significance.
Results
Fig. l shows the relationship between the amplitude of a given twitch and that of the preceding contraction using rest (panel A) and rapid pacing (panel B) approaches.
RF values determined with the post-rest potentiation method were 0.1 O± 0.08, 0.21 ± 0.03, 0.39 ± 0.05 and 0.92 0.03 in muscles from rats aged 1-6, 7-14, 15-22 and 90 days-old, respectively. Using the rapid pacing potentiation method in the same preparations, RF values were 0.60 ± 0.04, 0.69 ± 0.04, 0.85 ± 0.07 and 0.93 ± 0.06 for the same age groups, respectively. Analysis of variance revealed significant age-dependence of RF values (P< 0.001). However, absolute RF values were also strongly dependent on the method used to induce twitch potentiation (P< 0.001 ). With the rest method, values obtained from all ages of developing rats were different from that in adults (i.e., 90 days-old, P< 0.05), whereas with the rapid pacing method, RF was significantly smaller than in adults until the end of the second post-natal week, attaining mature values at the third week.
ln adult muscle, both methods yielded similar RF values, and the relationship of twitch amplitudes were significantly linear (r2 > 0.95). However, in preparations from developing animais, the relationship between B2 and B 1 amplitudes, determined with the rest approach, showed poor linearity, especially in younger preparations (r2 of 0.07, 0.74 and 0.76 in 1-,
102
2- and 3-week old rats, respectively). On the other hand, using the rapid-pacing approach, the relationship between Bn+ 1 and Bn was significantly linear at all ages (r2 > 0.87, P< 0.05). These results indicate that, whereas in adult ventricle, both methods seem comparable, in ventricle fom immature rats the postrest approach does not seem adequate for RF determination.
A 300
~ l 200 (/)
(/)
õ ::$2 o
100 N co
o o
B 300
~ l
(/) (/)
õ 200 ::$2 o ~
~
+ e co
100
100
Post-Rest Potentiation
~ /:,. 1-6 d.o. Ili 7-14 d.o. o 15-22 d.o.
• Adult
100 200 300 400 500 600
B1 (% of SS-TW)
Rapid-Pacing Potentiation
1:,. 1-6 d.o. 111 7-14 d.o. o 15-22 d.o. • Adult
200 300
Bn (% of SS-TW)
Fig. l Recirculating Ca2+ fraction in ventricular
muscle of adult and developing rats, determined by the rest and the rapid pacing approaches (A and B, respectively).
Discussion
The recirculating fraction of Ca2+ (RF)
determined in isolated cardiac nrnscle is thought to represent an estimate of the fraction of contractionactivating Ca2
+ that recirculates in the intracellular environment between succesive beats. At steady-state, it is assumed that the total amount of cell Ca2
+ is constant. Thus, the same amount of Ca2
+ released by the SR during a given beat should be taken up back to this organelle during relaxation. Likewise, Ca2
+ influx during the action potential should equal Ca2
+ efflux during relaxation. This assumption has received compelling experimental evidence (Delbridge et ai., 1996; Yuan et ai., 1996).
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
ln adult rat ventricular myocytes, we have estimated that the SR Ca2
+ -pump is responsible for -90% of the Ca2
+ fluxes associated with relaxation (Bassani et al., 1994 ). Pharmacological suppression of SR function has also shown to depress contraction amplitude by 90% in this preparation (Bers, 1985), which gives support to the proposal that 90% of the activator Ca2
+ recycles inside the cell during repeated activity. Accordingly, the total amount of Ca2
+ entering the cell during an action potential-like depolarization waveform matches the amount of Ca2
+ extrusion estimated during relaxation of the sarne cell type (- 7% of total Ca2
+ fluxes, Bassani et al., 1994; Yuan et al., 1996). Interestingly, the RF determination in multicellular preparations from adult rats yielded a quite similar value, -92%. This suggests that, although using mechanical activity as the measured variable (the amplitude of which shows a non-linear relationship with cytoplasmic Ca2
+ concentration), RF detennination may be useful to estimate the contribution ofthe SR Ca2
+ pool to contraction. Vornanen (1992) has also determined RF in
ventricles from adult and developing rats, using rest to induce twitch potentiation. His estimates were mostly comparable to ours, obtained with the sarne experimental approach (from O.II to 0.65 over the 3 first post-natal weeks, and 0.97 in adults). However, we have observed that the decay of twitch amplitude after rest potentiation was not linear in developing myocardium. This non-linearity precludes the use of rest-induced potentiation in the determination of RF in ümnature hearts, although this method appeared to be adequate for adult preparations.
Using an alternative approach, namely rapid pacing, significant linearity was observed in ali types of preparation. This might be due to the fact that, with the rest approach, the intervals preceding B 1 and B2 are markedly different: while the latter was always 2 s, the former varied between 30 and 600 s. Ontogenetic differences in the influence ofthe preceding interval on SR Ca2
+ release might give rise to 11011-linearity of the B2-B 1 relationship. These changes might occur in rat ventricle (S.A. Ferraz, J.W.M. Bassani and R.A. Bassani, unpublished results), which makes immature preparations not amenable to the use of restpotentiation for RF determination. This might also be the case of other preparations which show altered force-interval relationship, such as ventricular myocardium from individuais with cardiac hypertrophy and arterial hypertension (Baudet et al., 1992; Perez et al., 1993). With the rapid pacing approach, however, these differences are not expected to affect the Bn+ 1 vs. Bn relationship, since all considered contractions are evoked after a 2-s stimulatory interval. Although none of the approaches allow measurement under steady-state conditions, rapid pacing-potentiation probably yields more reliable RF estimates. Interestingly, the RF values here reported in developing and adult rat myocardium are comparable to the relative contribution of the SR to relaxationassociated Ca2
+ fluxes (0.6-0.85), detennined in
isolated myocytes of rats at the same ages (Bassani and Bassani, 2000).
Acknowledgements
S.A.F. received a CAPES scholarship (Master Degree). We are grateful to Ms. Rubia Francchi and Mr. Gilson B. Maia Jr. for the technical support. This work was supported by FAPESP (Proc. No. 95/0355-3).
References [ 1] Bassani RA, Bassani JWM and Bers DM. I 992.
MitochondriaI and sarcolemmal Ca2+ transport
reduce [Ca2+]i during caffeine contractures in rabbit cardiac myocytes. J. Physiol. Lond., 453: 59I-608.
[2] Bassani JWM, Bassani RA and Bers DM. 1994. Relaxation in rabbit and rat cardiac cells: speciesdependent differences in cellular mechanisms. J. Physiol. Lond., 476: 279-293.
[3] Bassani RA and Bassani JWM. 2000. Ontogenetic changes in the participation of Ca transporters in relaxation of rat cardiac myocytes. Biophys. J., 78: 374A.
[ 4] Baudet S, Noireaud J and Leóty C. I 992. Effect of hemodynamic pressure overload of the adult ferret right ventricle on inotropic responsiveness to externai calcium and rest periods. Pfliigers Arch., 42: 603-6IO.
[5] Bers DM. 1985. Ca influx and sarcoplasmic reticulum Ca release in cardiac muscle activation during post-rest recovery. Am J. Physiol., 248: H366-H381.
[6] Bers DM, 1991. Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force. Kluwer Academic Press, Dordrecht, Netherlands.
[7] Delbridge LA, Bassani JWM and Bers DM. 1996. Steady-state twitch Ca2
+ buffering in rabbit ventricular myocytes. Am. J. Physiol., 2 70: C 192-C l 99.
[8] Mahony L. 1996. Regulation intracellular calcium concentration in the developing heart. Cardiovasc. Res., 31: E61-E67.
[9] Mõrner SEJN and Wohlfart B. 1992. Myocardial force-interval relationships: influence of externai sodium and calcium, muscle length, muscle diameter and stimulation frequency. Acta Physiol. Scand., 145: 323-332.
[10] Pérez GN, Petroff MV and Mattiazzi A. 1993. Rested-state contractions and rest potentiation in spontaneously hypertensive rats. Hypertension, 22: 306-314.
[11] Vornanen M. 1992. Force-frequency relationship, contraction duration and recirculating fraction of calcium in post-natally developing rat heaii ventricles: correlation with heart rate. Acta Physiol. Scand., 145: 311-321.
[12] Yuan W-L, Ginsburg KS and Bers DM. 1996. Comparison of sarcole1mnal calcium channel current in rabbit and rat ventricular myocytes. J. Physiol. Lond., 493: 733-746.
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
Citotoxicidade do Corante Fotossensibilizável Alumínio Ftalocianina Cloreto ( alpccl) em Cultura de Celulas K562 e V ero
Marcelo de Castro Pazos1•2
, Graziela de Sousa1'2
, Maria Angélica Gargione Cardoso2,
Cristina Pacheco-Soares2, Newton Soares da Silva1
1Laboratório de Biologia Celular e Tecidual - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 2Laboratório de Cultura de Células - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), Brasil Fone (OXX12)347-l 143, Fax (OXX12)347-l 149
[email protected] [email protected] [email protected]
Resumo - A Terapia Fotodinâmica (TFD) ("Photodynamic Therapy" - PDT) é uma nova modalidade no tratamento do câncer. As ftalocianinas são potentes fotossensibilizadores de 2ª geração utilizados na TFD, devido a suas características físico-químicas e também pela sua conjugação com uma variedade de metais (ex: alumínio e zinco), os quais prolongam o seu período de vida no estado tripleto, promovendo uma melhor toxicidade fotodinâmica. Neste trabalho realizou-se testes de citotoxicidade em cultura de células K562 (linhagem neoplásica) e Vero (linhagem normal) frente a administração do corante alumínio ftalocianina cloreto (AlPcCl). Os resultados demonstram que na utilização de AlPcCl 20µM, tanto as células normais quanto as neoplásicas apresentaram alta percentagem de sobrevivência (80% em ambas linhagens). Sugerimos com isso a utilização de AlPcCl IOµM, a qual não apresenta toxicidade no escuro.
Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica, Ftalocianina, Citotoxicidade, Cultura de Células.
Abstract - Photodynamic Therapy (PDT) is a new modality of cancer treatment. Phthalocyanines are efficient photosensitizers of 2°<l generation used in PDT, because of its physicochemical properties and also by its conjugation with metals (e.g. aluminum and zinc) that lengthen the triplet state lifetime, becoming more toxic in the photodynamic process. In this work, in vitro citotoxicity tests were made using photosensitizer dye aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl) and the cell lines K562 (neoplastic) and Vero (normal). The results show that using AlPcCl at 20µM both normal and neoplastic cells presents a high percentage of survival (80%). This suggest the utilization of AlPcCl at JOµM, i.e., the second highest concentration used that does not show toxicity in the dark.
Key-words: Photodynamic Therapy, Phthalocyanine, Cytotoxicity, Cell Culture.
Introdução
Nos últimos anos tem sido investigado a potencialidade do uso de corantes fotossensibilizáveis como agentes no tratamento fotoquimio-terápico de tecidos tumorais [11;8], definindo-se uma nova linha de ação nesta área, denominada Terapia Foto-Dinâmica (TFD). Esta técnica se baseia na fotooxidação induzida dos materiais biológicos presentes nesses tecidos por ação desses corantes fotossensibilizáveis [10;6]. Após absorção da luz pelo corante na presença de oxigênio (usualmente presente no meio), vários processos fotoquímicos envolvendo espécies reativas excitadas, induzem a produção de espécies reativas de oxigênio definidas como EROs (1 0 2• 0 2*- ,*OH , H20 2) danosos às funções celulares, resultando em uma eventual destruição tecidual.
Uma das grandes linhas de estudo na área de TFD se concentra nos estudos relacionados à administração e biodistribuição dos corantes fotossensibilizadores nos diferentes sistemas biológicos [ 11 ;8;5]. Estudos farmaco-cinéticos utilizando sensibilizadores marcados [ 11] comprovam que tanto os tecidos normais como os tecidos neoplásicos
apresentam propriedades para reter os corantes. Este fato justifica o grande número de estudos sintéticos para desenvolver novos compostos na tentativa de tomá-los mais específicos na retenção e distribuição pelos tecidos carcinogênicos. Além das características supra citadas, estes compostos devem apresentar uma alta eficiência fotodinâmica o que garante uma rápida e seletiva destruição dos tecidos tumorais. [7;9].
A estrutura das ftalocianinas são muito similares às configurações das porfirinas, mas possuem diferenças que fazem com que absorvam em comprimento de onda na faixa do vermelho distante ( 650-700nm) [ 12] tendo sido descrito na literatura, bandas de absorção tão altas como 800nm [4;2;3]. Com estas características, as ftalocianinas são potentes fotossensibilizadores de 2ª geração utilizados na TFD devido ao seu alto coeficiente de extinção, e também pela sua conjugação com uma variedade de metais (ex: alumínio e zinco), os quais prolongam o seu período de vida no estado tripleto, promovendo uma melhor toxicidade fotodinâmica [ 12]. Elas também possuem boa estabilidade química e fotoquímica e, apresentam uma toxicidade relativamente baixa [18].
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
Neste trabalho realizou-se testes de citotoxicidade em cultura de células com a linhagem neoplásica K562 e a linhagem normal Vero, frente a administração do corante alumínio ftalocianina cloreto (AIPcCI) em diversas concentrações e também frente ao DMSO (Dimetil Sulfóxido ), o veículo do fotossensibilizador, afim de obter a dosagem ideal de corante para a realização de experimentos de TFD in vitro.
Metodologia Linhagens celulares Os tipos celulares, linhagem K562 - células isoladas através de efusão pleural de paciente humano com leucemia mielógena crônica [13] gentilmente cedida pelo Prof. Dr. João Santana da Silva USP - Ribeirão Preto e, linhagem Vero - células isoladas do rim de macaco verde africano adulto normal [17], gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Wanderley de Souza UFRJ, estão sendo mantidas no Laboratório de Cultura de Células UNIVAP, são cultivadas em garrafas plásticas Falcon 25cm2
, contendo meio MEM Eagle's (Gibco.BRL - células Vero) e meio RPMI-1640 (Gibco BRL - células K562) adicionados de soro fetal bovino (SFB) a 10%.
Preparo da AlPcCl Uma solução estoque do fotossensibilizante AlPcCl (Aldrich Chemical Co.) a lmg/ml foi preparado em DMSO. A dissolução completa foi obtida após incubação "over-night" a 37°C. A partir desta solução foram retirados alíquotas correspondentes ao volume final de 1, 5, 10 e 20µM na cultura de células. Devido a toxicidade do veículo DMSO volumes (0,1 , 0,5 , 1,0 e 2,0%) correspondentes às concentrações da AlPcCl também foram utilizados.
Incubacão das células K562 com a AlPcCl Neste experimento foram utilizados 5 x 104 células mi -i em RPMI-1640 (sem SFB) incubadas com as concentrações de AlPcCl !, 5, 10 e 20µM, e 0,1 , 0,5 , 1,0 e 2,0% para o veículo (DMSO) somente. As amostras foram incubadas por 90 minutos no escuro a 37ºC em atmosfera de 5% C02 .
Citotoxicidade Após a incubação, o precipitado celular obtido a 1 OOOrpm ! 8min/ 4ºC, foi lavado 2x com meio de cultura sem soro. Ressuspendeu-se as células em meio de cultura com soro, as quais foram distribuídas em placas de cultura de células de 24 poços (Nunc, Denmark), e incubadas "over-night" a 37ºC com 5% C02• A viabilidade celular foi determinada pelo teste de exclusão com azul de Trypan e contadas em câmara de Neubauer.
Incubacão das células Vero com a A!PcCl Com esta linhagem celular, foram utilizadas 2xl 04
células mr1 em cada poço com meio de cultura MEM (com 10% de SFB). As células foram tripsinizadas e
plaqueadas em uma placa de 24 poços (Nunc, Denmark) e deixadas "over-night" para a adesão. No dia seguinte, retirou-se o meio de cultura dos poços e adicionou-se em cada um a mesma quantidade de meio sem soro juntamente com as diversas concentrações de A!PcCI ou DMSO além do controle, como descrito anteriormente para a linhagem K562. Incubou-se por 90 minutos a 37ºC em uma atmosfera de 5% de C02.
Citotoxicidade Após a incubação, lavou-se as células 2x com meio sem soro e por final, adicionou-se meio com soro na mesma quantidade. As células foram novamente incubadas "over-night", na mesma atmosfera da incubação e em seguida foi realizado o teste de exclusão com azul de Trypan.
Os experimentos foram todos realizados em düplicata.
Resultados Nossos resultados (gráfico 02), demonstram que a linhagem celular utilizada (K562 5 104 células mr1
)
é resistente a este tipo de tratamento, permanecendo em acima de 80% a viabilidade, mesmo em concentrações muito acima (20µM da AIPcCl) da recomendada na literatura (1 OµM ou menos do fotossensibilizante ). A presença de concentrações superiores a 1 % de DMSO demonstrou uma queda na viabilidade (cerca de 70% -gráfico O 1 ). Em análises com a outra linhagem celular (Vero - 2 X 104 células mr1), observamos também a resistência das células a este fotossensibilizante (gráfico 04) pen11anecendo também em cerca de 80% a viabilidade. A presença de concentrações superiores a 1 % de DMSO demonstrou uma queda na viabilidade (cerca de 60% - gráfico 03).
100 90 80 70 60 50 40 30 +--J:<'ifl----t
20 +--lZ±'Ad----t
10 o
DMSO O, 1 % DMSO 0,5% DM.so 1,0% DMSO 2,0o/o CQ\ITRUE
D Percentagem de Células Vivas Ili Percentagem de Células Mortas
Gráfico 01 -Análise da viabilidade celular (linhagem K562) frente ao veículo DMSO (Dimetil Sulfóxido ). A linhagem K562 apresenta resistência ao DMSO, tendo uma viabilidade de cerca de 80% nos tratamentos de O, 1 - 1,0%, sendo que com 2,0% do veículo, há uma queda para aproximadamente 70%.
ANAIS DO CBEB'2000
100
80
60
40
20
o AJPc 1uM AJPc 5uM AIPc 10uM AIPc 20uM CONTROLE
D Percentagem de Células Vivas li Percentagem de Células Mortas
Gráfico 02 Análise da viabilidade celular (Linhagem K562) frente ao fotossensibilizante AlPcCl A linhagem K562 apresenta resistência ao fotossensibilizante AlPcCl em concentrações de 1 - 20µM, tendo uma viabilidade de cerca de 80% em todos os tratamentos.
100
80
60
40
20
o .+-J~--~ CMS00,1% CMS00,5% CMS01,0% D\1502,0'fü ~E
[]Percentagem de Células Vivas li Percentagem de Células fvbrtas
Gráfico 03 - Análise da viabilidade celular (Linhagem Vero) frente ao veículo DMSO (Dimetil Sulfóxido). A linhagem Vero apresenta resistência ao veículo DMSO, tendo uma viabilidade de cerca de 80% na maioria dos tratamentos, caindo para 60% com 2,0% de DMSO.
Discussão e Conclusões A importância de se estudar dosagens administradas às células que não apresentem citotoxicidade no escuro, é que este tipo de estudo serve de base para futuros testes relacionados com a sua captação celular, à medida que parece haver uma tendência de similaridade entre os dados de morte celular e de captação dos corantes pelas células. A quantidade de morte celular que ocorre, parece ser dependente da concentração de sensibilizador dentro da célula [16]. Desta fo1111a, este trabalho ajuda a traçar uma metodologia para estudos na área de Terapia F otodinâmica.
100
AIPc 1uM AIPc 5uM AIPc 10uM AIPc 20uM CONTROLE
D Percentagem de Células Vivas lill Percentagem de Células Mortas
Gráfico 04 - Análise da viabilidade celular (Linhagem Vero) frente ao fotossensibilizante AlPcCI. A linhagem Vero apresenta resistência ao fotossensibilizante AlPcCl, tendo uma viabilidade de cerca de 80% nas concentrações de 1 20 µM.
O aaente alumínio ftalocianina foi utilizado por se tratar b •
de um corante fotossensibilizável com reconhecida eficácia em cultura de células, pois pennite breve intervalos de in-adiação, o que minimiza a sua relocalização durante a terapia [ 14]. Dos resultados obtidos, a concentração de até 1 OµM do fotossensibilizante parece estar de acordo com outros estudos realizados in vitro, onde esta concentração foi também utilizada para a zinco ftalocianina (ZnPc) chegando a ser utilizado uma concentração de até 20µM [ 1; 16] por não apresentar toxicidade na ausência de luz [l], apesar do veículo deste corante não ser o DMSO. Por outro lado, Morgan et a!., 1997 [15] utilizando somente o DMSO a uma concentração menor que 0,2% para teste de toxicidade, não observou efeito deste solvente na sobrevivência de células da linhagem FaDu. Em nossos experimento optamos por testar concentrações de 0,1 % a 2,0% , onde a última demonstrou ser bastante prejudicial. Na concentração de 1 % as células resistiram bem ao veículo DMSO, pem1anecendo viáveis em 80%. Podemos notar também que o período de incubação utilizado sendo de 2h para teste de localização subcelular e relocalização do fotossensibilizador, realizado com a linhagem RIF-1 [l], e de 4 h para o estudo de captação do corante por células da mesma linhagem [ 16] está muito próximo do realizado no presente trabalho (90 minutos) o que nos sugere a realização de novos teste com períodos maiores de incubação. Outros testes deverão ser feitos a fim de melhor compreender os parâmetros de controle e eficiência dos corantes e os veículos utilizados, sempre levando em consideração o grau de toxicidade dos mesmos. Outras linhagens celulares também deverão ser utilizadas com o objetivo de caracterizar a especificidade dos fotossensibilizadores em relação às células neoplásicas.
ANAIS DO CBEB'2000
Apoio
- F APESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba
Agradecimentos
-Profa. Msc. Maria Angélica Gargione Cardoso, pelos auxílio na metodologia empregada.
Referências
[1] D.J. Ball, et al., "A Comparative Study of the Cellular Uptake and Photodynamic Efficacy of Tlu·ee Novel Zinc Phthalocyanines of Differing Charge", Photochemistry and Photobiology, vol. 69(3), pp. 390-396, 1999.
[2] H. Barr, et al., "Photodynamic Therapy in the Nonnal Rat Colon with Phthalocyanine Sensitization", Br. J. Cancer, vol. 56, pp. 111-118, 1987.
[3] R. Bonnett, "Photosensitizers of the Porphyrin and Phthalocyanine Series for Photodynamic Therapy", Chem. Soe. Rev., vol. 24, pp. 19-33, 1995.
[4] S. G. Bown, et a!., "Photodynamic Therapy with Porphyrin and Phthalocyanine Sensitization in Nonnal Rat Liver", Br. J. Cancer, vol. 54, pp. 43-52, 1986.
[5] N. Brasseur, et al., Photochem. Photobiol., vol. 42, pp. 515-521, 1985.
[6] D.B. Chalpin & A.M. Kleinfeld, Biochimica et Biophisica Acta, vol. 731, pp. 465-474, 1983.
[7] T. Dougherty, in P01phyrin photosensitization (Kessel, D. & Dougherty, T eds.), Photoirradiation therapy - clinicai and drug advances, pp. 15-21, Plenum, New York 1983
[8] T.J. Dougherty & W.R. Potter, Journal Of Photochemistry & Photobiology B: Bio/og;1, vol. 8, pp. 223-225, 1991.
[9] C. Emiliani & M. Delmelle, Photoclzemistry & Photobiolog;1, vol. 37, pp. 487-490, 1983.
[10] C.S. Foote, Photochemisfly & Photobiology, vol. 54, pp. 659, 1991.
[11] B. Henderson & T.J. Dougherty, Journal of Photochemistly, vol. 55, pp. 145, 1992.
[12] D. Kessel. & T.J. Doughe11y, "Agents Used in Photodynamic Therapy'', Rev. Contemp. Pharmacother., vol. 1 O, pp. 19-24, 1999.
[13] Lozzio & Lozzio, Blood, vol.45, pp.321-334, 1975. [14] Y. Luo & D. Kessel, "Initiation of Apoptosis
Versus Necrosis by Photodynamic Therapy with Chloroaluminum Phthalocyanine", Photochemist1y and Photobiology, vol. 66 (4), pp. 479-483, 1997.
[15] J. Morgan, et al., " GRP78 Induction by Calcium Ionophore Potentiates Photodynamic Therapy Using the Mitochondrial Targeting Dye Victoria
107
Blue BO'', Photochem. Photobiol., vol. 67, PP· 155-164, 1997.
[16] S.R. Wood, et a!., "The Subcellular Localization of Zn (II) Phthalocyanines and Their Redistribution on Exposure to Light", Photochemist1y and Photobiology, vol. 65 (3), pp. 397-402, 1997.
[17] Y. Yasumura & Y. Kawakita, Nippon Rinsho, vol. 21, pp. 1209, 1963.
[ 18] L. V. Zhorina, et.al., " Phthalocyanines as Second Generation Photosensitizers for the Photodynamic Therapy of Cancer: Fluorescence and Absorption Spectroscopy'', SPIE Cel! and Biotissue Optics, vol. 2100, pp. 159-166, 1994.
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
Características da Amostragem Visual na Manutenção Postural em um Indivíduo Portador de Neuropatia Periférica
Antônio A. F. Quevedo1, Aftab E. Patla2
, Francisco Sepulveda3, Mark A. Hollands4
, Kristen L. Sorensen5
1Departamento de Engenharia Biomédica - Faculdade de Engenharia Elétrica e Centro de Engenharia Biomédica, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Caixa Postal 6101, 13083-970, Campinas - SP, Brasil
Fone (OXXl 9)788-7895, Fax (OXXl 9)289-3346. 2.4
5 Dept. ofKinesiology, Faculty of Applied Health Sciences, University of Waterloo, 200 University Ave. West, Waterloo, ON, Canadá.
3 Center for Sensory-Motor Interaction, Aalborg University, Fredrik Bajers, Vej 7 D-3, DK-9220, Aalborg, Dinamarca, email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumo - Este artigo apresenta conclusões importantes, baseadas em dados quantitativos, sobre a participação da visão na manutenção da postura. Um indivíduo portador de uma neuropatia que impede o uso da propriocepção e afeta severamente o sistema vestibular (neuropatia hipertrófica de Dejerine Sottas) foi estudado em tarefas de manutenção postural. O indivíduo era obrigado a pennanecer com a visão obstruída enquanto permanecia de pé sobre platafonnas de força. A visão era obstruída através de óculos especiais, que permitiam a realização de "amostragens" visuais quando recebiam comando voluntário do indivíduo em teste. Este só podia realizar amostragens visuais quando estritamente necessário para a manutenção postural. Os deslocamentos dos centros de pressão dos pés e bengala, as variações na área de suporte e o tempo acumulado na qual a amostragem visual ocorreu foram analisados. Os resultados mostram uma alta demanda sobre o sistema visual para compensar a perda de informação dos outros sistemas sensoriais.
Palavras-chave: Controle Postural, Processamento Visual, Neuropatia Periférica.
Abstract - This paper present important trends and conclusions, based on quantitative data, related to the role of vision on postural maintenance and contrai. An young adult with a peripheral neuropathy that prevents him from using the proprioceptive information and affects severely the vestibular system (hypertrophyc neuropathy of Dejerine Sottas type) was studied while executing postural maintenance tasks. The individual was forced to keep his vision blocked while standing on force plates for 2 minutes. Vision was obstructed with the use of special liquid crystal goggles, which allowed visual sampling when a voluntary command from a hand switch commanded by the individual was issued. Shifts in center of pressure for both feet and cane, changes in the stance area of support, and cunmlative time of visual sampling were collected and analyzed. Results indicate a very high demand on the visual system to compensate for the loss of information from other sensory modalities.
Key-words: Postural Control, Visual Processing, Peripheral Neuropathy.
Introdução
Muitos estudos na área de processamento visual no controle motor vêm sendo realizados nos últimos anos [l], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Pouco se sabe, entretanto, sobe o papel da visão na manutenção postural. Uma das maneiras de se entender melhor a participação da visão na postura é bloqueando os demais sistemas sensoriais, deixando apenas a visão como canal de entrada, e avaliando o comportamento postural do indivíduo. Como é impossível bloquear os sistemas proprioceptivo e vestibular em um indivíduo normal sem causar lesão permanente, estes estudos são realizados com indivíduos portadores de patologias as quais afetem estes sistemas sensoriais.
Metodologia
O voluntário para os testes (sexo masculino, 33
108
anos) é portador de uma rara neuropatia, denominada Neuropatia Hipertrófica do tipo Dejerine Sottas. Esta neuropatia provoca a hipermielinização dos nervos aferentes, reduzindo a disponibilidade de nutrientes para os neurônios, e prejudicando a condução nervosa. Este indivíduo especificamente apresenta a seguinte condição clínica: desenvolvimento lento de habilidades motoras (começou a andar após os 3 anos de idade); problemas sensonais severos; condução nervosa periférica significativamente mais lenta que o normal, piorando nas regiões distais; arreflexia de braços e pernas, incluindo ausência total de reflexo patelar; perda progressiva de audição e equilíbrio; fraqueza distal, em especial nos membros inferiores. O indivíduo vem usando bengala nos últimos dois anos, não toma nenhuma medicação para tratar a doença, e faz fisioterapia.
O indivíduo foi posicionado em um conjunto de três plataformas de força, de maneira que cada pé e a
ANAIS DO CBEB'2000
bengala ficassem posicionados em uma plataforma diferente. A figura 1 mostra um esquema do posicionamento do indivíduo, visto de cima.
Figura 1 - Posicionamento do indivíduo sobre as plataformas de força.
O indivíduo permaneceu de pé sobre as plataformas de força por 120 segundos em cada coleta realizada, usando óculos especiais. Estes óculos possuem lentes de LCD (cristal líquido) opacas, obstruindo a visão. Quando desejado, o indivíduo pressionava um botão mantido na palma da mão, o que fazia com que as lentes se tomassem transparentes enquanto o botão permanecesse pressionado.
As informações das plataformas de força foram coletadas por um sistema de conversão A/D (freqüência de amostragem de 32Hz). O sinal de comando para os óculos foi coletado (freqüência de amostragem de 256Hz) juntamente com os sinais das plataformas. O indivíduo foi instruído para usar o controle, e, portanto, a visão, se e quando necessário.
O indivíduo executou quatro coletas de controle (sem obstrução da visão) e seis coletas com amostragem visual, sendo duas com os pés alinhados, duas em "half tandem" e duas em "full tandem". A seqüência das coletas foi aleatória, e o indivíduo descansava sentado por alguns minutos entre coletas sucessivas. Apenas os dados referentes às coletas com amostragem visual foram utilizados.
Um programa específico foi utilizado para ler os arquivos com as informações sobre o uso do controle dos óculos e determinar, dentro dos 120 segundos de cada coleta, os instantes nos quais a visão foi utilizada, bem como a duração de cada amostra visual. Para cada coleta, os tempos de cada amostra foram somados, e assim o tempo total de amostragem (dentro dos 120 s de coleta) foi detenninado.
Outro programa específico foi utilizado para converter as informações vindas dos seis canais de cada uma das plataformas de força nas seguintes informações: coordenadas x-z do centro de pressão (ponto de origem da força de reação do solo, abreviado CP) de cada platafom1a; e componentes x, y e z da força de reação do solo em cada plataforma. Assim, para cada quadro de 1132 s, temos as coordenadas do CP e as
componentes da força de reação do solo de cada plataforma. A figura 2 mostra o sistema de coordenadas adotado neste arranjo experimental.
Figura 2 - Sistema de coordenadas.
Como o CP de cada plataforma usa um sistema de coordenadas com origem no centro da plataforma, um software de planilha foi utilizado para converter as coordenadas dos CP das plataformas dos pés de modo que todos os CP tenham coordenadas com origem no centro da plataforma da bengala. O mesmo software foi utilizado para determinar o CP geral, através das médias (ponderadas pelos módulos das forças de reação) das coordenadas dos CPs de cada plataforma. As coordenadas do CP geral médio foram calculadas fazendo-se a média temporal das coordenadas do CP médio, e o erro RMS (nos eixos x e z, bem como o módulo) do CP geral foi calculado. Este eno RMS quantifica o grau de oscilação do CP geral durante a coleta.
A área de suporte, para cada quadro de 1/32 s, foi calculada através do cálculo da área do triângulo formado pelos CPs de cada uma das três plataformas. A seguir, a área média de suporte foi calculada fazendo-se a média das áreas de suporte nos 120 de cada coleta. Esta área de suporte média foi diferente para cada coleta, devido às diferenças de posicionamento dos pés e bengala.
Como a intenção era achar relações entre área média de sup01te, erro RMS do CP geral e tempo total de amostragem visual, três gráficos, relacionando as variáveis acima citadas duas a duas, foram traçados e ajustes de curvas foram experimentados, buscando-se a melhor correlação. As curvas experimentadas foram: linear, logarítmica, polinomial (até ordem 2), potência e exponencial.
Resultados
A figura 3 mostra a duração total de amostragem visual comparada com a área de suporte média. Pode-se perceber que o melhor ajuste de curva foi obtido com uma potência negativa (R=0,809), o que mostra uma duração de amostragem visual decrescente com o aumento da área de suporte média.
ANAIS DO CBEB'2000
A figura 4 mostra a duração total de amostragem visual comparada com o erro RMS do CP geral. Pode-se notar o melhor ajuste de curva, a qual é uma reta com coeficiente angular positivo (R=0,775), o que mostra uma duração de amostragem visual crescente com o aumento da oscilação do CP geral.
65,00 ..,.--------------------,
~ 55,00 +-------->,------------; E "' Cl ~ 'lií o Jt 45,00 -+------------+------___,
y = 4092,8x·0•6381
R2 = 0,655 35,00 +-----,------r----,-----l
0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 Área de Suporte (cm* cm)
Figura 3 - Duração total de amostragem visual x área de suporte média.
E Q) Ol 55,00 -!----------_..,.~-------<
~ 'lií o ~ 45,00 +-------.------------l .§ y = 11,5x + 24,426 o R2 = 0,6004 ·~ 35,00 +----"----------'-----l ~ ::s e
25,00 +---------.------,.----l o 2 3 4
RMS (Módulo do vetor)
Figura 4 - Duração total de amostragem visual x RMS do CP geral.
-;::-2 "' >
•
.g 2 +--------"<------------..;
.2 ::l 'O •O
.§.. ~ 1,5 a::
500,00
.. y = 4E-06x2
- 0,0098x + 8,1438
R2 = 0,2778
900,00 1300,00 Área de suporte (cm* cm)
1700,00
Figura 5 - Área de supo1ie média x RMS do CP geral.
110
A figura 5 mostra o erro RMS do CP geral comparada com a área de suporte média. Pode-se perceber que o melhor ajuste de curva foi obtido com uma polinomial de ordem 2. Entretanto, a correlação foi muito baixa (R=0,527), o que mostra que não há correlação significativa entre estas duas variáveis.
A figura 6 mostra um gráfico nos eixos x-z dos deslocamentos dos CPs de cada plataforma e do CP geral, em uma das coletas. Pode-se ver que aparentemente o CP geral se desloca ao longo de uma linha que conecta o CP geral médio ao CP médio da bengala.
-3,00 ·~1 Benala
-18,00 Pé E --.... Geral I~ ..
-33,00
~ -48,00 ~1 Pé D
1 -63,00 +---------------------'
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Figura 6 - Gráfico x-z dos deslocamentos dos CPs (visto por baixo das plataformas)
Para comprovar se realmente o CP geral se desloca ao longo da linha entre o CP geral médio e o CP médio da bengala, calculou-se a equação da reta entre estes dois pontos, bem como a regressão linear entre os valores obtidos para os CPs gerais. A tabela 1 mostra os valores dos coeficientes angulares obtidos para a reta entre bengala e CP e para a regressão linear do CP para cada uma das 6 coletas. Pode-se ver que não há relação entre as inclinações das retas.
Tabela 1 - Coeficientes angulares (CA) obtidos para cada coleta.
Coleta CA geral-bengala CA geral
1 -2,09788 0,2136
2 -1,86784 -0,5356
3 -2,72676 -1,6865
4 -2,35114 -1,1265
5 -1,87664 -1,2045
6 -1,7047 -1,2181
Discussão e Conclusões
A figura 3 mostra que há uma forte correlação entre a duração total da amostragem visual com a área de suporte média. Os dados parecem indicar que quanto maior a área de suporte média, menor a necessidade de
ANAIS DO CBEB'2000
utilização da visão para a manutenção postural, o que é um resultado esperado. Para áreas de suporte maiores, mesmo a pouca informação que o indivíduo recebe dos sistemas proprioceptivo e vestibular é suficiente para manter o equilíbrio mais facilmente, reduzindo drasticamente a necessidade de amostragem.
A figura 4 mostra a relação linear entre a duração da amostragem visual e a oscilação do CP geral. Dois fenômenos podem ser responsáveis por este comportamento. No primeiro, o indivíduo, ao perceber que sua oscilação do CP aumentou, utiliza-se mais da amostragem visual para manter o equilíbrio com segurança. No segundo, a oscilação do CP seria conseqüência de uma área de suporte menor, ou seja, menores áreas de suporte implicariam em maior instabilidade e maior oscilação do CP, implicando paralelamente em uma maior amostragem visual. Assim, teríamos não duas variáveis dependentes uma da outra, mas sim ambas variáveis dependentes (inversamente) da área de suporte média.
Para determinar qual dos dois fenômenos está ocorrendo, a figura 5 mostra que não há correlação significativa entre o grau de oscilação do CP e a área de suporte média, o que é um resultado inesperado. Assim, aparentemente o primeiro fenômeno acima citado é o que realmente ocorre neste caso.
A figura 6 mostra uma aparente relação entre o deslocamento do CP geral e a posição da bengala. Entretanto, a tabela 1 mostra que o CP geral não se desloca ao longo da linha que liga o CP geral médio com o CP médio da bengala. Se isto ocorresse, a conclusão mais provável seria que o indivíduo utilizaria primariamente a bengala para manter o equilíbrio. Na realidade, apesar de visualmente parecer que o CP geral se move em direção ao CP da bengala, quantitativamente isto não é visto. Conclui-se que, apesar de a bengala exercer papel importante na manutenção da postura deste indivíduo, não se pode desprezar o papel do deslocamento do peso do indivíduo de um pé para outro.
Todos estes resultados sugerem que a perda de informação de uma ou mais modalidades sensoriais pode ser compensada. Entretanto tal compensação coloca uma altíssima demanda sobre o sistema visual para controlar a postura.
Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer ao PROAPCAPES, à FAPESP e ao FAEP-UNICAMP no Brasil, bem como ao NSERC no Canadá e ao Wellcome Trust, no Reino Unido, pelo apoio financeiro.
Alguns dados aqui apresentados fazem parte de um trabalho a ser apresentado no IFESS2000 (Conferência Anual da International Functional Electrical Stimulation Society), em Aalborg, Dinamarca, de 18 a 20 de Junho de 2000.
Referências
[l] A. E. Patla, et al., "Visual control of locomotion: Strategies for changing direction and for going over
111
obstacles", J Exp. Psychol. Hum. Percept. Pe1form., vol. 17, pp. 603-634, 1991.
[2] A. E. Patla and S. Rietdyk, "Visual control of limb trajectory over obstacles during locomotion: effect of obstacle height and width", Gait & Posture, vol. 1, pp. 45-60, 1993.
[3] A. E. Patla and M. A. Goodale, "Obstacle avoidance during locomotion is unaffected in a patient with visual form agnosia'', Neuroreport, vol. 8, pp. 165-168, 1996.
[ 4] A. E. Patla, et al., "Characteristics of voluntary visual sampling of the environment for safe locomotion over different terrains", Exp. Brain Res., vol. 112, pp. 513-522, 1996.
[ 5] A. E. Patla, "Understanding the roles of vision in the control of human locomotion", Gait & Posture, vol. 5, pp. 54-69, 1997.
[6] A. A. F. Quevedo, A. E. Patla, and A. Cliquet Jr., "A methodology for definition of neuromuscular electrical stimulation sequences: Na application toward overcoming small obstacles", IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 5, pp. 30-39, 1997.
[7] A. E. Patla and J. N. Vickers, "Where and when do we look as we approach and step over an obstacle in the travel path?", Neuroreport, vol. 8, pp. 3661-3365, 1997.
ANAIS DO CBEB'2000
Determinação do Comprimento de Sarcômeros de Miócitos Isolados Utilizando Análise Espectral
Maria Ruth C. R. Leite1, Ismar N. Cestari2
, Mara D. Pires2, Idágene A.Cestari2
1-Laboratório de Engenharia Biomédica, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo 2Centro de Tecnologia Biomédica, InCor, Instituto do Coração, HCFMUSP
Telefone: (OXXI 1) 3069-5225 [email protected], [email protected]
Resumo - Este estudo apresenta a utilização de análise espectral para medição do comprimento de sarcômeros de miócitos cardíacos isolados do coração do rato. O método utilizado baseia-se na existência de um padrão de estriamento bem definido no miócito, onde há a alternância de bandas com intensidades luminosas distintas, conespondentes às bandas anisotrópicas (A) e isotrópicas (I) dos sarcômeros. O espectro de potência das intensidades das bandas A e 1 foi determinado através da Transformada Rápida de Fourier (TRF, Matlab 5.0). O método foi aplicado em imagens de miócitos dissociados obtidas por uma câmara digital. Foram analisados miócitos em repouso e durante contração induzida por estímulo elétrico. O comprimento médio dos sarcômeros das células em repouso foi de 1,8 ± 0,01 µm. Durante o pico da contração os sarcômeros sofreram um encurtamento de 8,6 %.
Palavras-chave: sarcômeros, miócitos cardíacos, análise espectral, estimulação elétrica.
Abstract - This study presents the use of spectrum analysis to measure the length of sarcomeres in isolated cardiac myocytes from rat hearts. The method used is based upon the existence of a well defined striation pattern in myocytes, due to the alternating nature of the sarcomeres anisotropic (A) and isotropic (1) bands, which present distinct light intensities. The power spectrum ofthe light intensity profile ofthe A and 1 bands was detennined using the Fast Fourier Transform (FFT, Matlab 5.0). The method was applied to images of isolated myocytes captured with a digital camera. Both resting and contracting myocytes during electrical stimulation were studied. The mean sarcomere length among the quiescent cells studied was 1,8 ± 0,01 µm. At the peak of contraction, the sarcomeres were shortened by 8,6 %.
Key-words: sarcomeres, cardiac myocytes, spectrum analysis, electrical stimulation.
Introdução
A contratilidade cardíaca é um parâmetro que reflete a condição do coração como bomba. A contratilidade pode ser avaliada de fonna indireta, através da taxa de variação da pressão dentro das câmaras cardíacas ou, experimentalmente, pela medição direta da força de contração de um feixe de fibras ou da fibra isolada. A determinação da força de contração do miócito isolado só é possível com a utilização de transdutores muito sensíveis. A força gerada pelo miócito depende da interação entre as proteínas contráteis, e esta interação está intrisicamente relacionada ao comprimento dos sarcômeros (CS), o que torna necessário o conhecimento deste comprimento quando da análise da força gerada. O CS pode ser medido por difração à laser [ 1, 2], varredura de imagens píxel a píxel [3, 4], transmissão da luz e detecção por fotodiodos [5] e aplicação de TRF a imagens de células [6, 7, 8].
Em células isoladas, a Transformada Rápida de Fourier fornece um espectro relacionado com a distribuição de CS ao longo da célula. Isso é possível graças à periodicidade do estriamento das bandas I e A (respectivamente claras ou escuras, quando observadas ao microscópio). A frequência fundamental do espectro
é inversamente proporcional ao valor médio de CS, enquanto que a distribuição das frequências em torno da fundamental revela a homogeneidade de CS ao longo da célula.
O objetivo deste trabalho cons1stm no desenvolvimento e aplicação do método da TRF para medição de CS durante o repouso e durante contrações induzidas por estimulação elétrica.
Metodologia
Células isoladas: foram utilizados miócitos isolados do coração do rato, obtidos por dissociacao enzimática por retro-perfusão coronariana através de um sistema do tipo Langendorff [9]. Estimulação elétrica: a contração celular foi obtida por estimulação elétrica do meio utilizando-se um par de eletrodos de platina posicionados nas imediações da célula de interesse. Foram utilizados estímulos de 5 ms de duração, frequência de 0,5 Hz e intensidade supramáxima (aproximadamente 50% acima do limiar de estimulação). Visualização das células, aquisição e análise das imagens: as lélulas foram visualizadas com o auxílio de um microscópio invertido (Nikon TE-300). Imagens de células quiescentes e durante a contração foram
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
obtidas por uma câmara digital com conversor A/D de 12 bits (MicroMAX 5 Mhz, Princenton Instruments, USA) juntamente com o software AIW 2.1 (Axon Instruments, USA). Posteriormente, as imagens foram analisadas pelo software de domínio público Image J/1,06a, onde segmentos das células de interesse foram selecionados para se obter o perfil de intensidade luminosa das bandas A e I dos sarcômeros (Fig.2a). Os picos representam as bandas I (maior intensidade luminosa) e os vales representam as bandas A (menor intensidade luminosa). Inicialmente foi utilizado uma escala (micrômetro, O-lmm/100). Ao todo foram analisadas 50 células. Medição de CS: foi desenvolvido um programa em Matlab 5.0 para calcular o espectro de potência do perfil de intensidade das bandas A e 1. Para tanto, foi utilizado o algorítmo para Transformada Rápida de Fourier (TRF). O primeiro componente do vetor espectro de potência foi descartado por representar a somatória de todos os demais pontos do espectro [10]. Em seguida foi traçado um periodograma para determinação da frequência fundamental correspondente ao pico do espectro de potência. No programa foi também implementado um filtro passa-faixas que permite selecionar a faixa do espectro de interesse e que compreende os valores de CS obtidos em células cardíacas de mamíferos ( 1,3 2,3 µm)[6]. Para calibração foram utilizadas imagens obtidas a partir de uma régua padrão.
Resultados
A Figura 1 ilustra um cardiomiócito isolado representativo das 50 células quiescentes estudadas.
Figura 1 - Imagem de miócito cardíaco isolado com indicação do segmento selecionado (linha tracejada)
para análise.
A linha tracejada branca representa o segmento escolhido para se obter o perfil de intensidade luminosa das bandas A e 1. O perfil correspondente à região demarcada pela linha tracejada encontra-se ilustrado na porção superior da Figura 2, onde cada ciclo representa um sarcômero. Nas Figuras 2a e 2b encontram-se os espectros de potência do perfil de intensidade luminosa. O primeiro espectro (Fig.2b) está representado na base
sarcômero/micrômetros, sendo que CS é dado na base micrômetros/sarcômeros; portanto tornou-se necessário inverter o eixo das ordenadas conforme está ilustrado na Figura 2c.
j:;~~ o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
j r· :i : : , .. :.~ .. ~ : : : i o ' 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
j l" · · · r~··-·~- : · : i o 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
(e) CS (micró metros/sarcõ mero}
Figura 2 - (a) Perfil de intensidade luminosa das bandas A e I. (b) e ( c) Espectros de potência, onde U.A.
significa unidade arbitrária.
A média dos CSs médios nas 50 células estudadas durante o repouso foi de 1,8 ± 0,01 µm. A Figura 3 apresenta a imagem de um cardiomiócito isolado durante aplicação de estímulo elétrico. Neste caso o CS médio diminuiu de 1,82 para 1,67, representando um encurtamento de
Figura 3 - Cardiomiócito isolado durante a contração
R0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
o. 1.5 2 2.5 micrômetro
Figura 4- Resolução do método da TRF onde R significa resolução.
3
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
A Figura 4 ilustra o gráfico da resolução do método utilizado. Como pode ser visto, na faixa de interesse deste trabalho ( 1,3 - 2,3 µm) o método em questão apresenta uma resolução< 0,06.
Discussão e Conclusões
O método apresentado permitiu a determinação do CS durante condições quiescentes e durante a contração induzida por estimulação elétrica. O pico do sinal no domínio da freqúencia obtido pela TRF representa o ciclo de repetibilidade dos sarcômeros.
Um dos aspectos positivos do método é a sua facilidade de aplicação; no entanto, outros estudos comparativos ainda precisam ser .realizados para sua validação.
Agradecimentos
A primeira autora agradece o auxílio financeiro concedido pela Fapesp como bolsa de doutorado.
Referência
[I] J. Krueger, et ai., "Unifonn sarcomere shortening behavior in isolated cardiac muscle cells'', J. Gen. Physiol., vol. 76, pp. 587-607, 1980.
[2] R. Haworth, et ai., "Contractile function of isolated young and adult rat heart cells'', Am. J. Physiol., vol. 253, pp. Hl484-Hl491, 1987.
[3] T. Sato, et al., "Microcomputer- based image processing system for measuring sarcomere motion of single cardiac cells", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 35, n. 5, pp. 397-400, 1988.
[4) R. Murkherjee, et ai., "Cell and sarcomere contractile performance from the same cardiocyte using video microscopy", J. Appl. Physiol., vol. 74, pp.2023-2033, 1993.
[5] K. Roos and A Brady, "Stiffness and shortening changes in myofilament-extracted rat cardiac myocytes", Am. J. Physiol., vol. 256, pp. H539-H55 l, 1989.
[6] F. Gannier, et ai., "Measurements of sarcomere dynamics simultaneously with auxotonic force in isolated cardiac cells'', IEEE Transactions 011
Biomedical Engineering, vol. 40, n. 12, pp. 1226-1231, 1993.
[7] D. Fan, et ai., "Decreased myocyte tension development and calcium responsiveness in rat right ventricular pressure overload", Circulation, vol. 256, pp. 2312-2317, 1997.
[8] J. Velden, "Force production in mechanically isolated cardiac myocytes from human ventricular muscle tissue", Cardiovascular Research, vol. 38, pp. 414-423, 1998.
[9) D. Spector, et ai., Cells : A Laboratory Manual -culture and biochemical analysis of cells, v.1, Cold CSHL Press, U.S., 1997.
114
[10] Using Matlab® 5 - The language of teclmical computing, The Math Works Inc., U.S., 1997.
ANAIS DO CBEB'2000
Metabolic Changes Induced in Yeast Saccharomyces Cerevisiae by 110, 220 and 310 mT Steady Magnetic Fields
Mauricy A. Motta 1, Eduardo J.N. Montenegro2
, Tânia L.M. Stanford3
1Departamento de Biofisica e Radiobiologia da Universidade Federal de Pernambuco Av. Prof. Moraes Rego 25 Cidade Universitária - Eng. do Meio
CEP 50960-870- RECIFE PE - E-mail - [email protected] 2Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco
3Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco
Resumo - Foram estudadas alterações metabólicas induzidas na levedura Saccharomyces cerevisiae, cepa DAUFPE-1012 durante a ação de campos magnéticos estáticos com densidade de fluxo de l lOmT 220mT e 310mT durante 24 horas. O teor de glicose no meio foi avaliado a cada duas horas pelo método enzimático e a pressão do gás carbônico produzido, foi monitorada em sistema fechado. Foi medido ainda o pH das culturas observada, no início e no fim do experimento. Pequenas alterações foram induzidas pelo campo magnético de 11 OmT e 31 OmT, mas o de 220 mT apresentou as maiores alterações. A relação C02/ glicose do grupo 220 mT foi 93,34 % superior aos demais grupos. O pH do meio ficou 38,7% mais ácido no campo de 110 mT, 24,8% no campo de 310 mT e 99,9% no campo de 220 mT, comparado ao do grupo controle.
Palavras-chave: Levedura, Campo Magnético, Metabolismo.
Abstract - Metabolic alterations induced in the yeast Saccharomyces cerevisiae, strain DAUFPE-1012 were studied during a 24 hours exposure in steady magnetic fields (SMF) with flow densities 11 OmT 220mT and 31 OmT. The medium glucose level was measured each 2 hours and the pressure of the produced carbonic gas, was monitored in a close system. The culture medi um pH at the beginning and at the end of the experiment. Mild alterations were induced by the magnetic fiel d of 11 OmT and 31 OmT, but at 220 mT fiel d the effect was more marked. The relationship C02 / glucose in the 1 lOmT, 3 lOmT and control groups were similar but the group 220 MT showed a rate 93,34% superior to the above mentioned groups. The medium became 38, 7% more acid in 11 O mT group, 24,8% in the 31 O mT group and in 99,9% in the 220 mT, as compared to the ofthe group it controls.
Key-words: Y east - Magnetic fields - Metabolism.
Introduction Magnetic fields stimulates cell growth and
improves enzymatic reactions. Magnetic stimulation using high flow density field was applied successfully in the treatment of muscular hypotrophy inducing a hyperplasia in the muscle cells (Chang,1994). Following l,3T steady magnetic fields, Malko & cols.( 1984) observed a rise in S.cerevisiae cell number, after the seventh cell division. Fibroblasts cultures obtained from tendons exposed to steady magnetic fields (SMF) and presented cellular mitosis augmented and increased DNA synthesis ( Kula & Drozdz, 1996).
ln order to evaluate metabolic magnetically induced alterations in yeast Saccharomyces cerevisiae, cultures of strain D A UFPE-1O12 were observed during a 24 hours exposure to SMF with 11 OmT 220mT and 31 OmT flow densities, generated by NdFeBr magnets with B = 350mT. The observed parameters were pH, glucose levei and carbon dioxide produced by the cultures.
115
Materiais & Methods The SMF was obtained by 1 O (2nu11 diameter
and 0,8mm thickness) round shaped permanent 350mT flow density NdFeB magnets, from Magnet Sales and Manufacturing Inc. Culver City, CA. The 111agnets were inserted into slits carved in a 65 x 20 111m ISOPOR, 3 111m thick plate, in each side of five 6 cm diameter holes previously drilled for tjle deployment of the culture flasks. So, the magnêts were placed exactly six centimeters one each other, avoiding self interference of SMF. The mean measured magnetic density flow in the middle of the flasks was of 220mT. Using 3 111agnets inserted at O, 60 e 120 degrees around the flasks, a 31 OmT SMF was obtained and with one only magnet -under the flask - the 11 OmTflow density was attained in the inner center of the flask. Another plate without magnets was used for the control group. A DAUFPE-1O12 strain of Saccharomyces cerevisiae, isolated by the Department of Antibiotics ofUFPE, was maintained in SABOURAUD-glucose 2% medium from (MERCK) and conserved in mineral oil in ambient temperature (28ºC±2°C), as "stock culture" for replication.
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
The variation in the medium glucose level was measured, each two hours in aliquots withdrawn from the control and test cultures, using the enzymatic method
The metabolic activity was mainly estimated based on C02 liberation and a mercury manometer hermetically connected by a polyethylene tube to the culture flask, forming a closed system, monitored the carbon dioxide pressure. The gas pressure is proportional to the produced volume, maintained the temperature of the system, thus a thermometer bound to the flasks, measured continuously the temperature in the outer glass wall. No significant variation between test and control cultures was noted.
The culture pH was measured in the beginning and at end of the experiments, by a potentiometer (DIGIMED-2). It is known that grater is the metabolic cell activity lower is the pH, caused by accumulation of acid catabolites from the yeast metabolites.
Results As a result, small alterations induced by the magnetic field of 11 OmT and 31 OmT were noted, but the 220 mT field provoked significant increase in C02 pressure (Table 1).
Table 2 - C02 pressure produced by S. cerevi:;iae, exposed and nan exposed to a SMF.
ti.me cord:rol llOmT 220mT* 310mT
o 2 2 6 4 4
4 16 14 18 15 6 44 42 38 43 8 77 72 80 74.5
10 77 112 135 94.5 12 80 122 194 101 24 282 302 384 292
* Student Test compared to cantrol: p<0.001
The glucose concentration of culture medium exposed to 220mT was continuously reduced after 4 hours from incubation, showing a significant difference between this and the other cultures studied, 24 hours after the inoculation (Figure 1 ).
Culture medium glucose levei (24 h)
10 12 14 16 18 20 22 24
time {h)
Figure 1 - Levels of glucose in culture media
The relationship C02 /glucose at llOmT, 310mT SMF and in control cultures were similar but the culture exposed to 220 MT showed a rate 93,34% superior to the mentioned groups (Figure 2).
The medium pH (Table 3) became 38,7% more acid in the 11 O mT group, 24,8% in the 31 O mT group and in 99,9% in the 220 mT, as compared to the of the group it controls.
Q)
"'
50
40
8 30 ::l
~ 20 o
Medium C02/Glucose rate
- • - • controle
---110mT
--220mT
· · · · · ·310mT
u 10+-~~--~------~~·--~
Time(h)
Figure 2 - Relationship between carbon dioxide and the glucose level existing in S cerevisiae cultures.
Discussion The glucose concentration oscillated in the
cultures, in part, for the neoglucogenesis generated from dead cells and due to the cell consumption, as well.
Neurath (1984) affirms that, for a catalytic reaction to happen the atoms should be in correct orientation. Blanchard (1994) demonstrated that magnetic fields change confonnation of proteins, as enzymes, through specific ions as Mg., Mn., Ca. and iron, as specific cofactors, increasing its potentiality. Bialek et al ( 1989), stated that these transitional changes generate electromagnetic fields which will suffer influence of the continuous magnetic field, causing a change inside of the enzymatic process inducing an improvement of enzymatic activity. Koshland ( 1987) stated that NADH-dehydrogenase carry electrons using an iron-sulphur proteins. Exposed to a magnetic field the iron molecule orientates its atomic spins optimizing the flux o energy in this system (Chiabrera et ai, 1991).
The 11 OmT and 31 O mT SMF did no changed the glucose level in cultures, being similar to control cultures. Conversely, when exposed to a 220 mT SMF , culture media showed a constant and intense reduction on glucose levei, after the first cellular division (Figure 1 ). A mild increment on C02 seen in cultures exposed to 11 OmT and 31 O mT SMF was in contraposition to a 93,34 % rise measured in the cultures exposed do 220mT, compared to non exposed yeast.
The rate glucose/C02 defines well the metabolic activity. Figure 2 shows clearly the superior effect induced by 220 mT SMF exposition starting after 12 hours or in the 3 rd cell division, when C02 ./glicose
ANAIS DO CBEB'2000
rate was 75% superior compared to other exposition and non exposed yeast. This effect can be due to a resonance by a window of energy since higher and lower intensities showed smaller effects. As suggested by Bialek and by Chiabrera, this magnetic flow density helps the energy flow speeding up enzymatic processes and improving the metabolism. Notwithstanding, a genetic mutation explains the changes observed in Figure 2 after the 3r<l generation exposed 220 mT SMF yeast cells.
The increase in metabolical activity is confirmed by a 99.9% reduction of pH in the culture exposed to 220 mT SMF, whereas 11 O mT and 31 O mT reduced 38,7% and 24,8% respectively, related to non exposed cultures.
Conclusions A very significant improvement was
demonstrated in S. cerevisiae metabolical activity when exposed to 220 mT magnetic fields, as related to the other tested intensities.
References [l] Bialek, W.; Bruno, W. J.; Joseph, J.; Onuchic, J. N.
(1989).Quantum and classical dynamics in biochemical reactions. Photosynthesis. Res. 22: 15-27.
[2]Blanchard, J. Blackman, P. C. .(1994). Clarification and aplicationa of an ion parametric resonance model for magnetic field interations with biological systems. Bioelectromagnetics. 15(3).217-38
[3] Chang, C.; Lient, I. N. (1994). Tardy effect of neurogenic muscular atrophy by magnetic stimulation. Am J. Phys. Med. Rehabil. 73(4) 275-9.
[4] Chiabrera, A.; Bianco, B. (1991). Quantum dynamics of ions in molecular crevices under electromagnetic exposure. ln Brighton, CT, Pollack, SR ( eds): "Electromagnetics in Biology and Medicine." San Francisco: San Francisco Press. 21-26.
[5] Koshland, D. E., Switches Jr. F. (1987). Thresholds and ultrasensitivity. Trends Biochem. Sei. 12: 225-229.
[6] Kula B, Drozdz M. (1996) Study ofmagnetic field effects on fibroblast cultures .1. The evaluation of the effects of static and extremely low frequency (ELF) magnetic fields on vital functions of fibroblasts. Bioelectrochemistry and Bioenergetics.39: (1) 21-26
[7]Liburdy, R. P .( 1992 ). Calei um signaling in limphocytes and elf fields evidence for 011 electric field metric and a site of interaction involving the calcium ion channel. Febs. Lett. 301(1): 53-9.
[8] Malko J.A., Constantinidis I., Dillehay D., Fajman W.A. (1994). Search for Influence of 1.5-Tesla Magnetic-Field on Growth of Yeast-Cells. Bioelectromagnetics 15: (6) 495-501
[9]Neurath, H. (1984). Evolution ofproteolytic enzymes. Science 224, 350-357.
ANAIS DO CBEB'2000
Determinação do Tempo de Recuperação do Nódulo Sinusal em Átrio Direito Isolado de Ratos Infantes e Adultos
Daniela Machado Faria & Carlos Marcelo Gurjão de Godoy Núcleo de Pesquisas Tecnológicas, Universidade de Mogi das Cruzes
Avenida Dr. Cândido de Almeida e Souza, 200; Mogi das Cruzes - São Paulo; 08780-911 mgodoy@npt. umc. br
Resumo: O tempo de recuperação do nódulo sinusal (TRNS) é o intervalo que o nódulo sinusal leva para retomar sua atividade elétrica espontânea após ter sido submetido a estimulação elétrica. Neste trabalho apresentamos os resultados dos testes realizados para determinação do TRNS em átrio direito isolado de ratos infantes e adultos. O átrio direito isolado foi colocado no centro de uma cuba de perfusão, com temperatura controlada em 36,5 ºC, a qual continha dois eletrodos de platina para estimulação e dois eletrodos de Ag-AgCl para captação do eletrograma atrial. O método de estimulação usado para detenninar o TRNS foi o de estimulação com trem de pulsos. O intervalo entre pulsos foram expressos como porcentagem do intervalo espontâneo exibido pelo átrio. Os resultados indicam que o TRNS de ratos infantes, obtido com pulsos cujo intervalo é 30% do intervalo espontâneo, é muito maior (aproximadamente 70 vezes) que o obtido em ratos adultos. Isto indica haver importante modificação no automatismo cardíaco de rato durante seu desenvolvimento pós-natal.
Palavras-chaves: Tempo de Recuperação do Nódulo Sinusal; Desenvolvimento pós-natal; estimulação elétrica
Abstract: The sinus node recovery time (SNRT) is the time interval that the sinus node takes to resume its natural beating immediately after an electrical stinrnlation interruption. ln this work we present the results of tests performed for SNRT detennination in both infant and adult rat isolated right atria. The adult or infant isolated right atrium was positioned on the center of a temperature controlled perfusion chamber (36,5 ºC) in which it was placed two platinum electrodes for electric stimulation and two Ag-AgCl electrodes for atrium electrogram measurements. The SNRT determination method was the continuous pacing by pulse traiu. The pulse intervals were expressed as a percentage of the natural beating interval. The results show that the SNRT, obtained with pulses which interval was 30% of the natural beating interval, was much higher (approximately 70 times) for infant right atria comparing to the one obtained with adult right atria. This indicates that there is an important modification on the rat cardiac automatism during its post-natal development.
Key-words: Sinus Node Recovery Time; Post-Natal Development
Introdução
A atividade mecânica de bombeamento de sangue do coração é disparada pela atividade elétrica gerada pelas próprias células cardíacas. Esta atividade elétrica inicia-se nas células do chamado nódulo sinusal ou marcapasso natural do coração. De acordo com a idade e tipo de atividade física realizada pelo animal, o nódulo sinusal pode aumentar ou diminuir a taxa de disparo desta atividade elétrica, controlando o ritmo cardíaco. O tempo de recuperação do nódulo sinusal (TRNS) é o intervalo que este leva para recomeçar sua atividade elétrica espontânea após ter sido submetido a estimulação elétrica artificial. Alterações no TRNS podem estar associadas à síndrome da doença do nódulo sinusal, que muitas vezes sugere o implante de marcapasso artificial (Bergfeldt et ai, 1995). A variabilidade na freqüência cardíaca, que é um dos mais importantes índices prognósticos para morte súbita e arritmias, está associada ao automatismo do nódulo sinusal (Horner et ai, 1996). Sabendo-se que as propriedades eletrofisiológicas básicas, a forma,
118
tamanho e estrutura interna das células cardíacas sofrem modificações durante seu desenvolvimento (Olivetti et ai., 1980), nos propusemos a determinar o TRNS em ratos infantes e adultos para verificar possíveis modificações, devido à idade, no automatismo cardíaco.
, 'f•
Metodologia
Utilizamos átrios direitos isolados de ratos (Wistar macho). Inicialmente os testes foram realizados em ratos adultos ( 4-6 meses) e posteriormente em ratos infantes ( 14-16 dias), utilizando o mesmo protocolo para determinar o TRNS. O rato foi sacrificado por concussão cervical, seu coração foi retirado e colocado sobre uma placa petri contendo solução de KrebsHenseleit (em mM: NaCl 126.4, KCl 4.6, KH2PO 1.2, MgS04 1.2, NaHC03 13.6, CaCli 1.0, glicose 11.11). Em seguida o átrio direito foi removido do coração e colocado na cuba de perfusão previamente preenchida com solução de Krebs-Henseleit. O pH de 7.4 da solução foi mantido por meio de seu borbulhamento com carbogênio (95% 0 2 + 5% C02). Fizemos a troca
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
da solução a cada 60 minutos por meio de um sistema de sucção à vácuo e a reposição desta com um becker. Aguardamos 40 minutos para que o átrio direito se estabilizasse. Pelo fato do nódulo sinusal estar presente no átrio direito, este exibia atividade elétrica espontânea, produzindo contração mecânica. Neste teste, o TRNS foi determinado pelo método de trem de pulsos. O trem de pulsos utilizado foi constituído de pulsos bipolares de tensão com duração de 5 ms. Os intervalos entre os pulsos de estimulação foram definidos como porcentagem do intervalo espontâneo (IE) exibido pelo átrio. Assim, três intervalos de pulsos foram estipulados: 30% do IE, 50% do IE e 80% do IE. Cada trem de pulsos foi aplicado por 30s a 60s antes da determinação do TRNS. O TRNS foi determinado como sendo o intervalo de tempo entre o último pico do artefato de estímulo do trem e o pico da próxima atividade espontânea exibida pelo átrio. Para minimizar o efeito da variação da freqüência espontânea do átrio, o TRNS foi convertido em TRNS corrigido, que é calculado como sendo: TRNSc = TRNS - IE.
Montagem Experimental
A figura 1 ilustra a montagem experimental utilizada nos experimentos.
solução de pe!fusão
sistema de circulação
e controle de -j. temperatura
r' L.
sistetpa • e sucça a vacuo
esr
CUBA DE
PERFUSÃO
osciloscópio
sistema de ,D
estimulação ~ e
ca ta ·o
sistema digital de aquisição de dados
(software e hardware)
impressora
Figura 1 - Ilustração da montagem experimental (detalhes no texto).
Ao centro da ilustração temos representada a cuba de perfusão na qual o átrio direito foi colocado. A temperatura da solução na cuba foi mantida à 36.5ºC por um sistema de circulação e controle de temperatura. Estimulamos o átrio direito e captamos sua atividade elétrica ( eletrograma) por meio de um sistema de estimulação e captação, desenvolvido no Laboratório de Eletrofisiologia Cardíaca do Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) da UMC. Este sistema foi alimentado por uma fonte especialmente desenvolvida para este fim, no Laboratório de Instrumentação Biomédica do NPT/UMC. O sinal da atividade elétrica ( eletrograma atrial) foi monitorado na tela de um osciloscópio (Tektronics, modelo TDS 220). O eletrograma atrial também foi digitalizado e armazenado em computador para análise a posteriori.
Para isto utilizamos um sistema de aquisição de dados comercial (conversor analógico/digital CAD 1236; software de aquisição Aqdados4, Lynx Tecnologia e Eletronica Ltda, São Paulo, Brasil). A cuba de perfusão foi colocada sobre uma pedra de mármore. Os eletrodos de estimulação foram feitos de platina e soldados a um cabo coaxial de 50 ohm, que serviu de conexão entre a cuba de perfusão e o sistema de estimulação e captação. Para captação foram utilizados eletrodos de prata, soldados a um cabo de áudio-blindado estéreo. A malha de terra deste cabo também foi soldada a um fio de Ag. Os fios de Ag foram cloretados formando eletrodo de Ag-AgCI. Para minimizar artefatos de estímulos, os eletrodos de estimulação foram posicionados na câmara de perfusão de modo que o eixo formado entre eles ficasse na direção ortogonal ao eixo dos eletrodos de captação.
Resultados
Na figura 2 ilustra-se o eletrograma de átrio direito isolado de rato infante, submetido a protocolo de estimulação pelo método do trem de pulsos. Neste caso, o IE foi de 250 ms, o intervalo entre pulsos foi de 200 ms (0,8.IE) e o TRNS foi de 280 ms, configurando um TRNSc de 30ms.
1V
0,25s f---i
ARTEFATO DE ESTÍMULO
Figura 2 - Traçado de eletrograma ilustrando o TRNS de rato infante, obtido com trem de à 80% do IE (TRNSc = 30 ms). Ganho do amplificador: 104
Na figura 3 ilustra-se outro eletrograma de átrio direito isolado de rato infante obtido com protocolo similar ao ao da figura 2. Neste caso, para um intervalo entre pulsos igual a 30% do IE, o TRNSc foi de 6000 ms.
TRNS
Figura 3 - Traçado de eletrograma ilustrando o TRNS de rato infante obtido com trem de pulsos à 30% do IE (TRNSc ""6000 ms). Ganho do amplificador: 104
ANAIS DO CBEB'2000 Bioengenharia
Na tabela I, ilustra-se os valores do TRNSc de ratos infantes e de adultos
Tabela I - Tempo de Recuperação do Nódulo Sinusal ColTigido (TRNSc) obtido de átrios ratos infantes e adultos. Valores expressos como Média ± Desvio Padrão
TRNSc (ms)
1 Infante (n=5) Adulto ( .. :,~
30% IE 1 5440 ± 1.150 82 ±9
50%IE 74± 13 50±5
80%IE 50 ± 16 30±8
Para trens de pulsos com intervalos entre pulsos iguais a 50% do IE e 80% do IE, os TRNSc de ratos infantes e adultos ficaram entre 30 ms e 74 ms. Para trens com intervalo entre pulsos igual a 30% do IE, o TRNSc de rato infante foi aproximadamente 70 vezes maior que o de rato adulto.
Discussão e Conclusão
Neste trabalho mostramos, pela primeira vez, que apesar das dificuldades técnicas relacionadas ao diminuto tamanho do coração de ratos infantes, é possível detenninar in vitro seu TRNS. Para trens de pulsos com frequências iguais a 1,25 a 2 vezes a frequência espontânea do átrio (intervalo entre pulsos: 0,80.IE e 0,50.IE), obtivemos valores de TRNSc de ratos infantes que são compatíveis com os observados anteriormente, por nós e outros autores, em ratos adultos (Bassani et ai, 1999; Marques et ai, 1988). Contudo, encontramos uma grande diferença entre os TRNSc de ratos infantes ("" 5.500 ms) e adultos ("" 80 ms) quando o trem de pulsos utilizado no método de medição possuía frequência igual a 3,3 vezes a frequência espontânea exibida pelo átrio. Embora ainda não possamos explicar esta grande diferença, é razoável supor que este aumento do TRNSc de rato infante possa ser, pelo menos em parte, devido ao aumento do chamado efeito de "overdrive suppression", anteriormente observado em átrios isolados de ratos adultos (Marques et ai, 1988). Neste trabalho, o aumento do TRNSc devido ao "overdrive suppression" pode ser notado em átrios de ratos adultos quando os intervalos entre pulsos do trem diminuem de 80% para 30% do IE (vide tabela I). A diferença encontrada entre os TRNS de ratos adultos e infantes à 30% do IE confirma que parâmetros eletrofisiológicos podem se modificar, e muito, com a idade e sugere que cuidados especiais devam ser considerados na hora da
análise eletrofisiológica do coração em animais de diferentes idades.
Agradecimentos
Agradecemos ao Sr. Adriano Mendanha (estagiário/mecânica) que desenvolveu adaptadores para a bomba e cuba de perfusão e ao Sr. Kleber de Magalhães Galvão (Biólogo e técnico ?o Laboratório de Eletrofisiologia Cardíaca/NPT). A F APESP e F AEP/UMC pelo apoio financeiro.
Referências Bibliográficas
[l]Bassani, J.W.M., Godoy, C.M.G. & Bassani, R.A. Brazilian J. Med. Biol. Res. Effect of Ryanodine on the ln Vitro Sinus Node Recovery Time. 32 (8): 1039-1044, 1999.
[2]Bergfeldt, L.; Rosenqvist, M.; Vallin, H.; Nordlander, R. & Astrõm, H. Screening for sinus node dysfunction by analysis of short-term sinus cycle variations on the surface electrocardiogram. Am. Heart J., 130:141-147.1995.
[3]Horner, S. M.; Murphy, C. F., Coen, B.; Dick, D. J.; Harrison, F. G.; Vespalcova, Z. & Lab, M. J. Contribuition of heart rate variability by mechanical feedback: Streatch of the sinoatrial node reduces heart rate variability. Circulation. 94: 1762-1967. 1996.
[4]Marques, J.L.B.; Ruiz, E.V.; Bassani, R.A. & Bassani, J.W.M., Influence of stimulatory parameters on sinus node recovery time: an in vitro study, Brazilian J. Med. Biol. Res., 21:1074-1082. 1988.
[5]0livetti, G., Anversa, P & Loud, A. V. Morphometric study of early post-natal development 111 right and left ventricular myocardium of the rat. III. Tissue composition, capillary growth and sarcoplasmic alteration. Circ. Res., 46:530 - 512, 1980.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Avaliação da Repetibilidade Intra-Individual de Variáveis Cinemáticas e Cinéticas Obtidas Durante Marcha
Liria Akie Okai 1, Cinthia Itiki2
1Faculdade de Fisioterapia Universidade de Santo Amaro (UNISA), Brasil, 04826-000 Fone (OXXl 1)520-9611ramal:105, Fax (OXXl 1)520-9160
2Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB), Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle (PTC) Escola Politécnica da Universidade São Paulo (EPUSP), Brasil, 05508-900
Fone (OXXl 1)3818-5150, Fax (OXXl 1)3818-5718 [email protected], [email protected]
Resumo - Este trabalho apresenta um estudo da repetibilidade de variáveis cinemáticas e cinéticas (ângulos, forças e momentos) do membro inferior direito que foram obtidas da marcha de quarenta indivíduos normais, através do sistema integrado Motion Analysis®. Os sinais adquiridos foram avaliados quanto à repetibilidade intra-individual, através do Coeficiente de Variação (CV). Os resultados encontrados demonstram que o sistema utilizado neste trabalho apresenta uma repetibilidade comparável com a literatura quanto às forças de reação do solo e aos ângulos articulares do joelho e do quadril. O ângulo articular e o momento de flexão do tornozelo não apresentaram os mesmos resultados, em função do posicionamento inadequado das câmeras de vídeo do sistema. No entanto, os momentos de flexão do joelho e quadril indicam que a integração do sistema de análise de movimento propiciou uma melhora significativa na confiabilidade dessas variáveis.
Palavras-chave: Repetibilidade, análise de marcha e coeficiente de variação.
Abstract - This work presents a study of the repeatability of kinematic and kinetic variables (angles, forces and moments) of the right inferior limb, which were obtained through the gait analysis of forty normal subjects, by the integrated system Motíon Analysis®. The acquired signals were evaluated by the coefficient ofvariation (CV), regarding the intra-individual repeatability. The obtained results show that the system used in this work presents a similar repeatability with the literature, regarding the ground reaction forces, knee and hip angles. The ankle flexion moment and angle did not show the sarne results, due to the inadequate positioning of the system's vídeo cameras. However, the knee and hip flexion moments showed that the integration of the gait analysis system provided a significant improvement in the reliability of these variables.
Key-words: Repeatability, gait analysis, coefficient ofvariation.
Introdução
A análise quantitativa do movimento tem sido realizada através de sistemas que integram vários tipos de equipamentos. Existem basicamente duas categorias deste tipo de sistema comercial [ 1], os equipamentos que fornecem registros visuais das posições dos segmentos do corpo e os equipamentos que utilizam sensores magnéticos para determinar a posição e a orientação desses segmentos no espaço laboratorial.
Dentro da primeira categoria, a utilização conjunta de câmeras de vídeo, plataformas de força e eletromiógrafos vêm se tornando cada vez mais freqüente, constituindo-se em um sistema para avaliações de alterações na marcha e evoluções de vários tipos de tratamentos. No entanto, este tipo de procedimento clínico ainda vem sendo pouco utilizado devido ao seu alto custo e pouca aceitação na área clínica. Essa reduzida aceitação deve-se principalmente a problemas na confiabilidade de medições complexas como as aquisições com os pacientes [2].
123
Entretanto, desde a década de 80 [3], um intenso interesse sobre a avaliação da repetibilidade dos sinais biológicos adquiridos vem sendo demonstrado. Atualmente, a análise da variabilidade está sendo utilizada em diversas áreas como: processamento e análise de imagens médicas [ 4-6], controle de variáveis metabólicas e hormonais [7-10] e controle e interpretação de dados biomecânicos do movimento humano [3, 11-23].
Neste trabalho, são estudados os membros inferiores de um grupo de quarenta indivíduos normais, sem alterações músculo-esqueléticas ou neurológicas. Para se validar e avaliar o sistema utilizado, a repetibilidade de variáveis cinéticas e cinemáticas é analisada através do coeficiente de variação. A repetibilidade das variáveis da marcha é avaliada pelo aspecto de confiabilidade [22], ou seja, são feitas comparações entre diferentes aquisições de um mesmo indivíduo, realizadas em um mesmo dia. Os resultados obtidos foram comparados com os
ANAIS DO CBEB'2000
resultados que Winter [3] obteve para um único indivíduo.
Metodologia
O sistema de aquisição utilizado neste trabalho é um sistema integrado de hardware e software desenvolvido pela Motion Analysis Corporation® (Santa Rosa - Califórnia - EUA) que integra seis câmeras de vídeo, duas plataformas de força e um eletromiógrafo de superficie. As plataformas de força possuem uma freqüência de amostragem de 1 kHz, enquanto que as câmeras de vídeo trabalham a 60 quadros por segundo.
Foram realizadas avaliações em quarenta indivíduos normais, que não apresentaram qualquer distúrbio ortopédico ou neurológico. A população foi de homens adultos e sadios com idades entre 20 e 40 anos (média de 27,3 anos e desvio-padrão de 6,4 anos). Os marcadores passivos, de aproximadamente 25,7 mm de diâmetro, foram colocados nos ombros ( acrômio ), epicôndilos laterais, articulações radiocárpicas, espinhas ilíacas ântero-superiores, coxas (terço médio), epicôndilos laterais dos fêmures, pernas (terço superior), maléolos laterais, calcanhares, pés (entre o I e II metatarso) e promontório, resultando em 21 marcadores. Os voluntários foram orientados a caminhar naturalmente na trilha de marcha de aproximadamente três metros de comprimento. O início e o fim de um ciclo de marcha foram definidos através dos padrões de contato do pé.
Apesar de serem realizadas as aquisições dos membros superiores conjuntamente com os inferiores, neste trabalho estão sendo consideradas somente as forças horizontal e vertical de reação do solo; os ângulos e os momentos articulares do quadril, joelho e tornozelo do membro inferior direito. Estas variáveis estão relacionadas somente ao plano sagital, ou seja, ao plano de progressão. Desta fornrn os resultados obtidos podem ser comparados aos resultados descritos ma literatura [3].
Foram realizadas quatro aquisições para cada indivíduo, com duração de quatro segundos cada uma. Cada aquisição foi salva em um arquivo de dados, no formato texto (ASCII).
Inicialmente, o programa de cálculo do coeficiente de variação, implementado em Matlab®, realiza a leitura dos parâmetros têmpora-espaciais, contidos nas 15 linhas iniciais dos arquivos, por meio do comandojgetl do MatLab®.
Em seguida, o programa lê os pontos inicial e final para cada trecho a ser analisado. Os trechos são determinados pelos dois primeiros toques do calcanhar direito, que estão guardados na linha 16 do arquivo.
O programa lê todos os valores das variáveis, que estão localizados nas linhas 23 em diante, e converte os caracteres em números. No caso de variáveis não adquiridas, a expressão "NaN" que preenche a coluna respectiva é substituída por "000", para se evitar erros na conversão de caracteres para números. A conversão de seqüências de caracteres
124
alfanuméricos em números é feita pelo comando sscanf do MatLab®.
O programa seleciona as variáveis (colunas) relevantes, e seleciona um ciclo para cada variável relevante, baseado no primeiro e segundo toques do calcanhar direito. As variáveis em estudo estão separadas nas colunas especificadas pela Tabela 1.
Coluna 3 6 9
49 51 66 69 72
Tabela 1 - Disposição das variáveis nas colunas dos arquivos de dados
Variável ângulo de flexão do quadril direito ângulo de flexão do joelho direito ângulo de flexão do tornozelo direito força horizontal de reação do solo força vertical de reação do solo momento de flexão do quadril direito momento de flexão do joelho direito momento de flexão do tornozelo direito
O número de amostras em cada aquisição não é necessariamente constante. Isso se deve ao fato de cada ciclo da marcha ter uma duração ligeiramente diferente. Para se fazer comparações entre os primeiros ciclos das diversas aquisições, é necessária a normalização, ou seja, cada ciclo de marcha deve ser representado pelo mesmo número de pontos. Para cada ciclo, é realizada uma reamostragem por meio de interpolação linear das amostras, obtendo-se 64 pontos eqüidistantes por ciclo [21].
Para um conjunto de quatro ciclos normalizados s1(i) de um indivíduo, o valor da curva média M(i) no ponto i é calculado pela média entre os valores dos ciclos normalizados no ponto i.
Semelhantemente, o valor da curva de desviopadrão a(i) pode ser calculado a cada ponto i, de acordo com o estimador não viciado do desvio-padrão entre os valores dos ciclos nonnalizados.
Uma vez obtidas as curvas de desvio-padrão e média, o coeficiente de variação intra-individual [3] é calculado pela equação (1 ).
CV= 100% · -1 f a\i)/-1 f jM(i)j (1)
64 i=I 64 i=I
onde M (i) é o valor da curva média no i-ésimo
ponto, e Cí (i) é o valor da curva de desvio-padrão no i-ésimo ponto. No programa de cálculo do coeficiente de variação, foi implementado um teste para se contornar o caso de um conjunto de ciclos cuja curva média seja constante e nula.
De acordo com a equação ( 1 ), o coeficiente de variação intra-individual fornece a relação percentual entre o valor eficaz da curva de desvio-padrão e a média dos valores absolutos da curva média dos ciclos normalizados de um único indivíduo. O valor eficaz da curva de desvio-padrão dá uma noção da variabilidade entre os ciclos, enquanto que a média dos valores
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
absolutos da curva média dá uma noção da magnitude da variável em estudo.
Neste trabalho, em função do grande número de indivíduos estudados, foi calculada a média dos coeficientes de variação intra-individuais, assim como a média dos valores eficazes das curvas de desviopadrão.
Resultados
A cadência da marcha dos quarenta indivíduos foi de 3,6 passos por minuto, com desvio-padrão de 1,6 passo por minuto. Os coeficientes de variação intraindividuais médios, referentes aos ângulos de flexão do quadril, joelho e tornozelo, são ilustrados na Tabela 2 e podem ser comparados com os valores obtidos por Winter [3]. Os valores eficazes médios das curvas de desvio-padrão individuais também são ilustrados na Tabela 2.
Variável
Quadril Joelho Tornozelo
Tabela 2- Resultados referentes aos ângulos articulares no plano sagital
Sistema Integrado Winter CV DP CV (%) (graus) (%) 12 2,2 19 13 2,5 10 27 1,7 9
DP (graus)
1,8 1,9 1,5
A média dos coeficientes de variação e a dos valores eficazes de desvio-padrão intra-individuais, referentes às forças de reação do solo, são ilustradas na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados referentes às forças de reação do solo
Sistema Integrado Winter Variável CV DP CV
(%) (mN) (%) Horizontal 18 10,2 20 Vertical 7 40,9 7
DP (mN) 10,6 30,8
A Tabela 4 mostra a média dos coeficientes de variação e a média dos valores eficazes de desviopadrão intra-individuais, referentes aos momentos de flexão. Para fins de comparação, os dados fornecidos por Winter [3] foram normalizados por 52,3 kg (a massa do indivíduo estudado em seu trabalho).
Tabela 4 - Resultados referentes aos momentos de flexão no plano sagital
Sistema Integrado Winter Variável CV DP CV DP
(%) (N.m/kg) (%) (N.m/kg) Quadril 31 0,1450 72 0,2524 Joelho 33 0,1241 67 0,1950 Tornozelo 27 0,1535 22 0,1568
Discussão e Conclusões
Ao se realizar uma comparação dos dados obtidos na Tabela 2, com os valores publicados por Winter [3], pode-se observar que os valores referentes aos ângulos articulares do quadril e joelho são da mesma ordem de grandeza que os da literatura. No entanto, pode-se observar uma diferença significativa nos valores referentes à articulação do tornozelo. Um importante aspecto observado a partir destes dados (e que foi constatado através de outros ensaios realizados no Laboratório) é que o posicionamento das câmeras de vídeo impede a aquisição adequada das imagens dos segmentos mais distais. Isso ocorTeu devido ao posicionamento de todas as seis câmeras a uma altura elevada, afetando a aquisição de pontos em posições próximas ao solo, especialmente as imagens da articulação do tornozelo.
A média dos coeficientes de variação intraindividuais referentes às forças de reação do solo (Tabela 3) mostra uma melhor repetibilidade dos valores obtidos a partir da força vertical. Isso pode ser compreendido se levarmos em consideração a ação da força de gravidade nesta direção. Os resultados obtidos são muito próximos aos da literatura.
A tabela 4 mostra que tanto os valores eficazes de desvio padrão quanto os coeficientes de variação do quadril e do joelho são muito menores no sistema testado do que na literatura, indicando uma vantagem significativa do sistema integrado. No entanto, para o tornozelo, os resultados não demonstram melhora. Isso se deve provavelmente ao posicionamento inadequado das câmeras, que resulta na imprecisão das medidas da posição do tornozelo e conseqüentemente dos cálculos do momento de flexão do tornozelo. Deve-se ressaltar que mesmo com essa imprecisão, o resultado obtido para o tornozelo é comparável ao de Winter. Além disso, a melhoria dos resultados pode obtida ao se alterar a altura de algumas das câmeras vídeo.
Pode-se observar que os valores obtidos através deste trabalho mostraram repetibilidades comparáveis às da literatura. Neste trabalho, as médias dos coeficientes de variação intra-individuais ficaram entre 7% a 33% para todos os parâmetros. No caso dos resultados de Winter, os coeficientes de variação de um indivíduo ficaram na faixa entre 7% e 72%.
Aparentemente, a combinação entre os valores de ângulos articulares e forças de reação do solo originou uma variabilidade muito maior nos momentos calculados por Winter. Uma provável causa seria o tipo de sistema utilizado. No caso do trabalho descrito em 1984 [3], o sistema não era integrado e a sincronização das medições de ângulos e forças provavelmente não foi tão precisa quanto no sistema integrado atual de análise de marcha, o que causaria erros e variabilidades maiores no cálculo dos momentos. Desta forma, os resultados refletem a evolução tecnológica que ocorreu na área de análise de marcha ao longo dos últimos anos.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Agradecimentos
As autoras agradecem ao Prof. Dr. José Carlos Teixeira de BaITos Moraes pelo apoio. As aquisições foram realizadas no Laboratório de Análise de Movimento da Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DMR/HCFMUSP).
Referências
[1] J. G. Richards, "The measurement of human motion: a comparison of connnercially available systems." Anais do Fifth International Symposium on the 3D Analysis of Human Movement, Herman Woltering Memorial Lecture, pp. 2-9, 3 de julho de 1998.
[2] R. A. Brand and R. D. Crowninshield, "C01mnent ou criteria for patient evaluation tools", J. Biomech., v. 14, pp. 655, 1981.
[3] D. A. Winter, "Kinematic and kinetic patterns in human gait: variability and compensating effects", Human Movement Science, n. 3, pp. 51-76, 1984.
[4] 1. Marshall, J. Wardlaw, J. Cannon, J. Slaterry and J. Sellar, "Reproducibility of metabolite peak areas in 1H MRS of Brain'', Magnetic Resonance Imaging, vol. 14, n. 3, pp. 281-292, 1996.
[5] P. D. Molyneux, P. S. Tofts, A. Fletcher, B. Gunn, P. Robinson, H. Gallagher, I. F. Moseley, G. J. Barker and D. H. Miller, "Precision and reliability for measurement of change in MRI lesion volume in multiple sclerosis: a comparison of two computer assisted techniques", J. of Neurology Neurosurge1y and Psychiat1y, vol. 65, pp. 42-47, 1998.
[6] T. K. Thomsen, V. J. Jensen, M. G. Henriksen, "ln vivo measurement of human body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)'', European J. Surge1y. vol. 164, pp. 133-137, 1998
[7] S. C. Bell, J. S. Elborn, L. E. Nixoon, I. A. Macdonald and D. J. Shale, "Repeatability and methodology of resting energy expenditure in patients with cystic fibrosis'', Respiration Physiology, n. 115, pp. 301-307, 1999.
[8] T. Yamazaki, 1. Komuro, I. Shiojima and Y. Yazaki, "Angiotensin II mediates mechanical stress-induced cardiac hypertrophy'', Diabetes Research and Clinicai Practice, vol. 30, pp. sl07-sll l, 1996.
[9] D. Ziegler, R. Piolot, K. Strassburger, H. Lambeck and K. Dannehl, "Normal ranges and reproducibility of statistical, geometric, frequency domain, and non-linear measures of 24-hour heart rate variability", Hormone and Metabolic Research, vol. 31, pp. 672-679, 1999.
[10] P. Vestergaard, H. C. Hoeck, P. E. Jakobsen and P. Laurberg, "Reproducibility of growth hormone and cortisol responses to the insulin tolerance test and the short ACTH test in nonnal adults", Hormone and Metabolic Research, vol. 29, pp. 106-110, 1997.
[11] A. Rainold, G. Galardi, L. Maderna, G. Comi, L. Lo Conte and R. Merletti, "Repeatability of surface EMG variables during voluntary isometric contractions of the biceps brachii muscle.", Journal of Electromyography and Kinesiology, vol. 9, pp. 105-119, 1999.
[12] U. Dinamico, M. Barra, P. Bertone, A. Granata, M. Matacchione, A. Rainoldi and R. Merletti, "Evaluation of repeatability of surface EMG variables on bíceps brachii'', Electroencephalography and Clinicai Neurophysiology, vol. 103, pp. 223, 1997.
[13] A. D. Taylor and R. Bronks, "Reproducibility and validity of the quadriceps muscle integrated electromyogram threshold during incremental cycle ergometry", European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, vol. 70, pp. 252-257' 1995.
[14] A. Goonetilleke, H. ModaITes-Sadeg and R. J. Guiloff, "Accuracy, reproducibility and variability of hand-held dynamometry in motor neuron disease'', Journal of Neurology, Neurosurge1J' and Psychiafly, vol. 57, pp. 326-332, 1994.
[15] A. A. M. L. Tijon-Tsien, H. H. P. J. Lemkes, A.J.C. Van der Kamp-Huytsand J. G. Van Dijk, "Large electrodes improve nerve conduction repeatability in controls as well as in patients with diabetic neuropathy", Muscle and Nerve, vol. 19, pp. 689-695, 1996.
[16] J. P. Holden, G. Chou, S. J. Stanhope, "Interpreting joint kinetic data: effects of walking speed and measurement variation'', Gait & Posture, vol. 4, pp. 168-169, 1996.
[17] G. E. Gorton, C. M. Stevens, P. D. Masso and W. M. Vannah, "Repeatability of the walking patterns of normal children'', Gait & Posture, vol. 5, pp. 155, 1997.
[18] B. O. Kim, K. H. Cho, H. S. Chung, "Repeatability of kinematic data in normal adult gait'', Gait &Posture, vol. 4, pp. 196, 1996.
[19] S. S. Rao, E. L. Bontrager, J. K. Gronley, C. J. Newsam and P. Jacquelin, "Three-dimensional kinematics of wheelchair propulsion", IEEE Trans. on Rehabilitation Eng., vol. 4, pp. 152-160, 1996.
[20] R. Moe-Nilssen, "A new method for evaluating motor control in gait under real-life environmental conditions. Part 1: The instrument", Clinicai Biomechanics, vol. 13, pp. 320-327, 1998.
[21] M. P. Kadaba, H. K. Ramakrishnan, M. E. Wootten, J. Gainey, G. Gorton and G. V. B. Cochran, "Repeatability of kinematic, kinetic, and electromyographic data in normal adult gait", J. of Orthopaedic Research, vol. 7, pp. 849-860, 1989.
[22] M. P. Kadaba, M.E.Wootten, J. Gainey, G.V. Cochron. "Repeatability of phasic muscle activity: performance of surface and intramuscular wire electrodes in gait analysis", Journal of Orthopaedic Research, vol. 3, pp. 350-359, 1985.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
[23] C. Itiki, L. A. Okai, J. C. T. B. Moraes. "Programas para avaliação da repetibilidade em um sistema de análise do movimento humano", Anais do VIII Congresso Brasileiro de Biomecânica. pp. 287-289, 1999.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Histerese em Fêmures de Ratas Jovens Submetidos a Ensaios de Flexão
Marcos M. Shimano1, José B. Volpon2
, José B. P. Paulin3, Antonio C. Shimano4
1Pós-Graduando Bioengenharia pela FMRP-USP, EESC-USP e IQSC-USP Av. Bandeirantes, 3900- 14049-902 Ribeirão Preto-SP
e-mail: [email protected] 2Professor Associado do Setor de Ortopedia e Traumatologia da FMRP-USP
e-mail: [email protected] 3Coordenador do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail: [email protected] 4Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail: [email protected]
Resumo - Uma das propriedades mecânicas que caracteriza o material viscoelástico é a histerese. Ao submeter um material viscoelástico a ciclos de carregamento e descarregamento, uma quantidade de energia será absorvida pelo material, que é a energia de histerese. O objetivo desta pesquisa é analisar o comportamento da histerese em dois níveis de carTegamento. O primeiro nível de carregamento foi de 40% do limite elástico, e o segundo de 60% do limite elástico. Ensaios de flexão em três pontos foram realizados em fêmures de ratas jovens com 25 dias de idade. Os resultados preliminares mostraram que a energia de carregamento, a energia de descarregamento e a energia de histerese aumentaram com o nível de carregamento. Este aumento foi de 151 % para o carregamento, 111 % para o descarregamento e 188% para a histerese. Este resultado poderá explicar os diferentes padrões de fraturas que ocorrem em ossos em diferentes níveis de aplicação de carga.
Palavras-chave: Histerese, Flexão, Viscoelasticidade, Ratas, Ossos
Abstract - One of the mechanical properties that characterize the viscoelastic material is the hysteresis. ln the submit a viscoelastic material in loading and unloading cycles, an energy quantity will be absorptive for the material, that is the hysteresis energy. The purpose of this research is to analyses the hysteresis behavior in two levels of loading. The first levei of loading was 40% of the elastic limit, and the second levei 60% of the elastic limit. The tree point bending test was perfonned in femurs of young 25 days old rats. The preliminary results showed which the loading energy, the unloading energy and the hysteresis energy increased with the level of loading. This increase was around 151 % for a loading, 111 % for an unloading and 188% for a hysteresis. This result may explain the different pattems of fracture that occur in bone in different load application levels.
Key-words: Hysteresis, Bending, Viscoelasticity, Rat, Bone
Introdução
Viscoelasticidade Materiais biológicos quando submetidos à
tensões podem apresentar um comportamento muito mais complexo do que vários outros tipos de materiais [ 1]. Quando o comportamento do material depende diretamente do tempo associado com o carregamento e descarregamento, o material é dito viscoelástico [2]. Para ilustrar este fenômeno BURSTEIN & WRIGHT [2] fizeram testes numa série de três corpos de prova de osso cortical, sendo cada um submetido a uma velocidade diferente de aplicação da carga (Figura 1).
Contrastando materiais metálicos e "plásticos" com relação ao comportamento viscoelástico, observase que os matenars plásticos são t1p1camente viscoelásticos, com propriedades mecânicas que variam com a taxa de aplicação de carga. Os materiais metálicos por outro lado não apresentam
128
comportamento viscoelástico, suas propriedades mecânicas não mudam significativamente com a taxa de carregamento [2].
Aumento da taxa de
can-egamento
Figura 1 - Três curvas tensão X deformação para osso cortical submetidos a três diferentes taxas de aplicação
de tensão [2].
Outra característica importante dos materiais viscoelásticos é a histerese.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Histerese Histerese é um fenômeno que acontece em
materiais viscoelásticos quando são submetidos a ciclos de carregamento e descarregamento a uma mesma velocidade. Na figura 2, observa-se que as curvas de carregamento e descarregamento não fazem o mesmo caminho, formando um ciclo fechado, o que representa um Ciclo de Histerese. A área inferior à curva de carregamento representa a energia de carregamento do material. A área inferior à curva de descarregamento representa a energia de descarregamento do material. A diferença destas áreas representa a energia absorvida pelo material ou energia de histerese.
Todos os ossos apresentam histerese, pois são viscoelásticos. Uma parte desta energia absorvida é dissipada em forma de calor devido ao atrito interno entre as cadeias longas e entrelaçadas de moléculas. A outra parte fica armazenada no material na forma de tensão interna, mas que pode ser aliviada com o tempo [3].
Defo1111açào
Figura 2 - Ciclo de Histerese [ 1]
A quantidade e o comportamento da histerese vai depender também do ponto máximo do carregamento (Figura 3).
e
Deformação
Figura 3 - Histerese em níveis diferentes de carregamento [2]
Quando o carregamento for até o ponto A, o osso retorna imediatamente ao comprimento original, apesar do descarregamento não seguir o mesmo caminho do processo de carregamento. Quando o carregamento for até o ponto B, o osso não adquire imediatamente as dimensões originais, mas à carga zero e após um tempo o osso retorna ao seu tamanho original. Quando o carregamento for até o ponto e (Região plástica), produz-se uma deformação permanente no osso [2] (Figura 3).
O objetivo desta pesquisa foi analisar o comportamento das energias viscoelásticas (energias de carregamento, descarregamento e histerese) em ossos de
129
indivíduos jovens quando submetidas a dois níveis de carregamento ( 40% e 60% do limite elástico).
Metodologia
Obtenção e preparação dos fêmures Foram selecionadas 05 ratas matrizes da raça
Wistar, prestes a parir. Os animais foram fornecidos pelo Biotério Central da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto USP. Após o nascimento foram mantidos 6 filhotes fêmeas para cada mãe.
Foi feito um controle da idade dos filhotes a partir do nascimento e, com os resultados da curva de crescimento obtidos por FONTOURA FILHO [4], as ratas foram sacrificadas aos 25 dias. Esta idade foi selecionada por melhor representar a etapa jovem do desenvolvimento do animal.
As ratas foram pesadas e depois os dois fêmures de cada uma foram retirados, dissecados, pesados, medidos, envolvidos em gase com soro fisiológico e armazenados dentro de recipientes para serem conservados em "ji·eezer" a -20ºC. Foram pesados numa balança digital com precisão de O,Olg, e medidos com um paquímetro digital com precisão de O,Olmm.
Durante os procedimentos de criação dos animais, numa fase preliminar, observou-se que: devido à concorrência por alimento, um número menor que 6 filhotes por mãe, causou um crescimento mais rápido dos animais. Em um dos grupos, uma das ratas não pariu um número suficiente de filhotes fêmeas, por isso foram deixados animais machos para completar os 6 filhotes por mãe. Os machos foram deixados até o desmame, que é de 21 dias após o nascimento.
Foram selecionados apenas os animais que tiveram seu peso próximo da média, que foi de 69,5g.
Grupos experimentais O fêmur esquerdo foi usado para realização do
ensaio de flexão em três pontos até ruptura para determinação do limite elástico e fêmur direito ( contralateral) foi usado para determinar energias de carregamento (Ec), descarregamento e de histerese (EH).
No primeiro grupo (G-IA), composto por 1 O animais, o ensaio de flexão foi realizado com aplicação de carga até 40% do limite elástico obtido no ensaio do fêmur esquerdo e no segundo grupo (G-IB), composto por 1 O animais, o ensaio foi com aplicação de carga até 60% do limite elástico.
O fêmur do rato apresenta praticamente a mesma resistência aos esforços de flexão aplicados em sua face côncava ou convexa [5]. Portanto, a aplicação da carga foi na face antero-posterior (face côncava), pois melhor se adaptou ao acessório de ensaio de flexão em três pontos.
Ensaios de Histerese Na busca por uma melhor compreensão do
comportamento da histese em ossos e uma quantificação deste comportamento, realizou-se os ensaios em dois diferentes níveis de carregamento.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Para o estudo, foram realizados ensaios de flexão em três pontos, os fêmures foram retirados do "jfrezer" 12 horas antes do ensaio e colocados em refrigerador comum com temperatura média de OºC. No dia do ensaio foram retirados do refrigerador 1 hora antes, para entrarem em equilíbrio tém1ico com o meio.
Todos os ensaios foram realizados na Máquina Universal de Ensaios do Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Rib. Preto USP.
Em cada par de fêmures, o esquerdo foi ensaiado até a ruptura total (ensaio destrutivo), obtendo um gráfico carga X deformação, que foi usado para detenninar o limite elástico e, no direito ( contralateral ), o ensaio foi para obter o gráfico do ciclo de histerese (ensaio não destrutivo), que consistiu em aplicar carga até 40% ou 60% do limite elástico, determinado no ensaio do fêmur esquerdo e, logo após a carga alcançar os 40% ou 60% realizou-se a retirada da carga, com inversão do motor, na mesma velocidade, até que a carga aplicada atingisse zero novamente.
A velocidade de aplicação da carga foi de O, 1 Omm/minuto. Os fêmures foram apoiados nas regiões metafisárias e a carga aplicada na região central de cada osso. Foi utilizada uma célula de carga com capacidade de até 50Kgf ligada a uma ponte de extensometria. As deformações foram medidas por um relógio comparador com precisão de O,Olmm. Em todos os ensaios foi utilizado uma pré-carga de 1 OOg com tempo de acomodação de 1 minuto.
Utilizou-se o programa SigmaPlot v.5.0 ®para calcular as áreas abaixo das curvas de carregamento (energia de carregamento) e descarregamento (energia de descarregamento) do ensaio de histerese. Foi utilizado este mesmo programa para o cálculo da tenacidade (energia absorvida na fase elástica do ensaio destrutivo). A energia de histerese foi obtida subtraindo a energia de descarregamento da energia de carregamento.
Resultados Preliminares
As figuras 4a e 5a mostram ensaios realizados até a ruptura total do fêmur. As figuras 4b e 5b mostram ensaios de histerese com carregamento até 40% e 60% do limite elástico, respectivamente.
Ensaio Destrutivo G·IA
/" - 1--.....
/"""' "r--.... J ,......._
/ /
Deflexão (x10"3 m)
Figura 4a Gráfico do ensaio destrutivo
Ensaio de Histerese G-IA 40%, do limite elástico
~ / /
,, ----Deflexão (x10·3 m}
Figura 4b - Gráfico do ensaio de histerese para carregamento até 40% da carga do limite elástico obtido
do gráfico do ensaio destrutivo
Ensaio Destrutivo G-18
/ ~ /'"" ' / "'-,.__
/ -.... -/ /
' o
Deflexão (x10·3 m)
Figura 5a Gráfico do ensaio destrutivo
Ensaio de Histerese G·IB 60% do limite elástico
Deflexão (x10"3 m)
Figura 5b - Gráfico do ensaio de histerese para carregamento até 60% da carga do limite elástico obtido
do gráfico do ensaio destrutivo
Dos ensaios destrutivos foram obtidos valores para as propriedades mecânicas (Tabela 1). E dos ensaios de histerese obteve-se valores para as energias de carregamento, de descarregamento e de histerese (Tabela 2).
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Tabela 1 Propriedades mecânicas obtidas dos ensaios destrutivos
Limites Elásticos Lirn
Resiliência (J)
Tenacidade (J)
Médias 6.384
l.635x 1 o· 11,573
8.056x!0.4
34686 4,587x10·4
l ,664xl0.4
7523 L520xl0·4
0.313xl0.4
Tabela 2- Valores das Energias de Carregamento (Ec), Descarregamento (En) e de Histereser""(_E,:.:H.;..). __ ""'I
Ec J)
G-IA Média
(40%) Desv. l.400xl0.5 Padrão
G-IB Média
(60%) Desv. 6,324xl0.5
Padrão
Ao aumentar o limite de carregamento de 40% (grupo G-IA) para 60% (grupo G-IB) do limite elástico, houve um aumento de 151 % na energia de carregamento, 111 % na energia de descarregamento e 188% na energia de histerese.
Para verificar estatisticamente esta diferença, foram realizados teste de normalidade e teste de igualdade de variância, entre os grupos G-IA e G-IB para as energias de carregamento, descarregamento e de histerese. A energia de carregamento passou nos dois testes, então foi aplicado o teste t de Student, obtendo p:s;0,001, significando que é estatisticamente diferente. As energias de descarregamento e histerese passaram no teste de normalidade, mas não passaram no teste da igualdade de variância, aplicou-se então o teste de Mann-Whitney Rank Sum, obtendo p:s;0,001 para a energia de descarregamento e p=0,005 para energia de histerese, significando que são estatisticamente diferentes. Para estes testes foi utilizado o programa SigmaStat v.2.03®.
Discussão
Os altos valores observados para o desvio padrão das propriedades mecânicas e das energias devem-se ao fato do osso constituir-se de material anisotrópico e também à não uniformidade geométrica.
O aumento das energias de carregamento, descarregamento e de histerese provavelmente significa que uma maior quantidade de energia fica retida internamente no osso. Uma parte desta energia é dissipada na forma de calor devido ao atrito interno entre as cadeias longas e entrelaçadas de moléculas, e a outra parte fica armazenada no material na forma de tensão interna [1].
Dos gráficos de histerese podemos observar que no local onde houve a inversão do motor, o gráfico faz uma extremidade arredondada, isto é comum mesmo nos ciclos de histerese obtidos nas melhores condições possíveis [ 6].
131
Sabe-se que existem diferenças com relação ao comportamento mecânico dos ossos de indivíduos em faixas etárias diferentes. A histerese é um fenômeno que ocorre no osso quando submetido a ciclos de carregamento e descarregamento, refletindo sua viscoelasticidade. Seu estudo poderá explicar os diferentes padrões de fraturas que ocorrem em várias faixas etárias e como a colocação de uma síntese ou prótese altera o padrão mecânico do osso. Esta alteração pode ser de tal ordem que comprometa o resultado do tratamento. Representa, também, um aprofundamento e refinamento no estudo das propriedades mecânicas que, uma vez estabelecido para um osso normal, pode ser usado em outras circunstâncias como, por exemplo, o quanto e como algumas drogas ou hormônios afetam as propriedades mecânicas dos ossos.
Agradecimento
Esta pesquisa está sendo financiada pela F APESP (Processo nº 99/03332-5 Bolsa de Mestrado)
Referências
[l] V. H. Frankel and A. H. Burstein, Orthopaedic Eiomechanics. Eds. Lea & Fediger: Philadelphia, 1970.
[2] A. H. Burstein and T. M. Wright, Fundamentais of Orthopaedic Eiomechanics. Eds. Willians & Willians: Baltimore, Maryland, 1994.
[3] F. Linde, I. Hvid and B. Pongsoipetch, "Energy absorptive properties of human trabecular bone specimens during axial compression", J orthop. Res., vol.7, pp. 432-439, 1989.
[4] C. Fontoura Filho, J. B. Volpon and C. Shimano, "Ensaio de cisalhamento sobre a cartilagem de crescimento: estudo comparativo entre duas idades diferentes, a fresco e após congelamento", Acta Ortop. Eras., vol.4, pp. 9-14, 1996.
[5] V. J. O. Pessan, J. B. Volpon and C. Shimano, "Ensaio mecânico de flexão nas côncava e convexa da diáfise do fêmur de ratas", Rev. Eras. Ortop., vol. 31, pp. 600-604, 1996.
[ 6] A. Ascenzi, A. Benvenuti, F. Mango and R. Simili, "Mechanical hysteresis loops from single osteons: technical devices and preliminary results'', J. Biomechanics, vol.18, pp. 391-398, 1985.
ANAIS DO CBEB'2000
Propriedades Mecânicas do Enxerto Córtico-Esponjoso Homógeno de Cães Esterilizado em Óxido de Etileno
Vitor A. Castania 1; José B. Volpon 2; José B. P. Paulin 3, Antonio C. Shimano4
1Pós-Graduando em Bioengenharia pela FMRP-USP e EESC-USP Av. Bandeirante, 3900-14049-902-Ribeirão Preto(SP)
e-mail:[email protected] 2Profesor Associado do Setor de Ortopedia e Traumatologia da FMRP-USP
e-mail:[email protected] 3Coordenador do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail:[email protected] 4Engº do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail:[email protected]
Resumo - A principal função dos enxertos ósseos é promover a osteogênese, porém algumas vezes é útil que apresentem outras propriedades tais como a possibilidade de ser estocados e resistência mecânica. Os métodos de preparação e esterilização do osso podem interferir no comportamento mecânico do enxerto ósseo. Neste estudo as propriedades mecânicas dos ossos caninos coletados de ambos os remures e preparados para serem utilizados como enxerto (tratamento químico e esterilização pelo óxido de etileno) foram estudados em ensaios de compressão e comparado com ossos frescos. Os resultados demonstraram uma maior resistência mecânica nos ossos a fresco em relação aos processados e esterilizados pelo óxido de etileno, porém estatisticamente, não houve diferença significativa para o limite elástico da deformação (p=0,243) e para a rigidez (p=0,054). O teste estatístico mostrou diferença significativa para o limite elástico (p=O,O 12) e também para a carga quando a deformação foi estipulada em 0,4mm (p=0,027).
Palavras-Chaves: Córtico-Esponjoso, Propriedades Mecânicas, Enxertos, Esterilização, Óxido de Etileno.
Abstract - The main function of the bone graft is to promote osteogenesis but, sometimes is desirable that the graft present other properties such possibility of storage and mechanical resistance. The methods of preparation and sterilization ofbone act as a graft may interfere with its mechanical behavior. In this study the mechanical properties of canine bones collected from femurs were prepared to be used as a graft ( chemical and ethilene oxide sterilization) and was studied in compression tests and compared with fresh bones. The results showed that fresh bone was stronger than processed bone. However there was no significative difference for the elastic limit of strength (p=0,243) and for stiffness (p=0,0054). The statistic test showed significative difference for the elastic limit of load (p=0,012) and for the load when the deformation of0,4 mm was established (p=0,027)
Key-Words: Cortical-Cancellous, Mechanical Properties, Grafts, Sterilization, Ethylene Oxide.
Introdução
A evolução da cirurgia ortopédica tem possibilitado a preservação de membros amplamente afetados pela destruição óssea mediante o uso de enxertos ósseos. Em suas formas e aplicações esses enxertos representam um dos mais duradouros métodos de abordagem reconstrutivas do sistema músculoesquelético, estando entre os mais comuns procedimentos de uso em ortopedia [ l]
Problemas tais como falhas na consolidação óssea, doenças osteometabólicas, pseudo-artroses, másformações congênitas e tumores ósseos requerem, muitas vezes, a enxertia óssea, vez que estas afecções podem resultar em falhas ou defeitos por perda de substâncias ou fraturas que não se consolidam.
Muito embora os enxertos ósseos tenham a função primordial de estimular a osteogênese é sempre
útil que eles apresentem outras características, como por exemplo a disponibilidade de serem estocados e utilizados em pequenos ou grandes blocos e principalmente, que tenham resistência mecânica. A resistência mecânica pode ser útil quando o enxerto atua como espaçador mecânico ou necessita ser fixado por placas ou parafusos. O enxerto de osso cortical apresenta melhor resistência mecânica que o enxerto de osso esponjoso. Em contrapartida este apresenta melhor capacidade osteogênica que o primeiro. O enxerto de osso córtico-esponjoso, uma forma híbrida desses dois tipos, apresenta uma associação das duas modalidades anteriores. LIND & SORENS [2] encontraram um aumento de 30% na rigidez e um decréscimo de 50% na energia de histerese como efeito do desengorduramento.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência mecânica do enxerto córtico-esponjoso homógeno obtido da porção distal de fêmures de cães e
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
esterilizado pelo óxido de etileno, através de ensaios de compressão.
Metodologia
Obtenção dos cmpos de prova Os ossos córtico-esponjosos de onde foram
retirados os corpos de prova utilizados nesses experimento, foram obtidos de 1 O caninos de ambos os sexos, com idades de 2 a 5 anos e pesos de 15 a 2lkg, sacrificados com dose letal de Tiopental. Os animais foram obtidos do Biotério Geral da Prefeitura do Campus da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Foram retirados da porção medial da metáfise distal dos fêmures, com o uso de uma trefina, corpos de prova de geometria cilíndrica com 1 cm de diâmetro por 1 cm de altura. A opção pela geometria cilíndrica foi em decorrência da maior facilidade de obtenção dos corpos de prova e pela melhor padronização dos mesmo[3]
Os corpos de prova retirados do membro esquerdo, foram embebidos em solução salina e estocados em ji-eezer a -20 ºC. Os corpos de prova retirados do membro direito foram processados como descrito a seguir.
Processamento do enxerto esterilizado em óxido de etileno
Os resquícios de partes moles aderidas ao osso foram removidos e os blocos fixados em álcool absoluto por 48 horas sendo em seguida, mantidos em água oxigenada (40 volumes) até o clareamento das peças. O desengorduramento foi realizado com éter etílico, com trocas sucessivas até o desengorduramento total do osso. Em seguida o osso foi desidratado em álcool 99,5% por 48 horas e depois levados à estufa para evaporação do álcool. Os corpos de provas foram pesados, embalados individualmente e esterilizados em óxido de etileno.
Ensaios de compressão Os ensaios mecânicos foram realizados aos
pares. Os corpos de prova frescos (com medula in si tu) foram retirados do ji-eezer 24 horas antes da realização dos ensaios mecânicos e mantidos sobre refrigeração a OºC. Foram levados à temperatura ambiente 1 hora antes dos ensaios, para entrar em equilíbrio térmico com o meio. Os corpos de provas preservados foram hidratados em solução fisiológica por um período de 3 horas antes dos ensaios mecânicos [3].
Para os ensaios mecânicos foi utilizada a Máquina Universal de Ensaio do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP. Foi utilizado uma célula de carga com capacidade de até 200 kg. As deformações foram medidas por um relógio comparador com precisão de O,Olmm.
A velocidade de aplicação da carga foi de O, 1 mm/min. Os corpos de prova foram posicionados na máquina de ensaio entre duas superficies planas, para o ensaio de compressão.
Resultados Preliminares
Foram analisadas como propriedades mecânicas, os limites elásticos (deformação relativa e tensão) e o módulo de elasticidade para ambos os tipos de corpos de provas (frescos e preservados) (Tabelas la e 1 b ). As propriedades mecânicas foram obtidas a partir da curva do gráfico Tensão X Deformação relativa como o exemplificado na figura 1.
Para as análises foram utilizados somente os resultados dos ensaios de sete pares de corpos de prova, uma vez que em um deles ocorreu fratura, e em outros dois os resultados obtidos foram incompatíveis com o padrão esperado para o tipo de ensaio.
Osso Fresco Média Desv. Padrão
Tabela la - Média e desvio padrão das propriedades mecânicas dos ossos fresco
Limite Elástico
ê 3.09xto·- 2.22
0.78xlO·' 0.85
Tabela lb- Média e desvio padrão das propriedades mecânicas dos ossos reservado
Limite Elástico
CT(M 2.56xl0._
0.83xlO·'
Ensaio Mecânico de compressào de enxertos ósseos
0,5 *"'=----+---+----1-----i o.,._----'----'----'-----"
0,05 0,1
e(%)
0,15
Figura 1 Gráfico comparativo entre osso fresco e preservado
Para o limite elástico, a média da defonnação relativa (e) do grupo dos enxertos frescos foi 20,7% maior que do grupo dos enxertos preservados, e a média da tensão (o) dos enxe1tos frescos, 89, 7% maior que a média da tensão dos enxertos preservados. As médias da deformação relativa e da tensão do limite elástico foram submetidos aos testes de normalidade e de igualdade de variância, e uma vez passados por estes testes realizouse o teste t de Student. Observou-se que não houve diferença significativa (p=0,243) para a deformação relativa, e para a tensão, o teste apresentou diferença significativa (p=O,O 12).
A média do módulo de elasticidade (E) dos enxertos frescos foi 62,7% maior que a dos enxertos preservados. Para verificar estatisticamente esta diferença, realizou-se o teste de normalidade e teste de igualdade de variância. Tendo sido passada pelos dois
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
testes, foi realizado o teste t de Student, obtendo p=0,036, significando que é estatisticamente diferente.
Para a realização dos testes estatísticos foi utilizado o programa SigmaStat v.2.03®.
Discussão
O fato de terem sido utilizados cães de diferentes idades, tamanhos e pesos, aliado a característica de anisotropia do osso, acaiTetou altos valores de desvio padrão obtidos para as propriedades mecânicas.
THORÉN e col. [4] não encontraram diferença significativa nas propriedades mecânicas entre amostras de ossos desengordurados e congelados. Eles realizaram testes de compressão em corpos de prova de osso trabecular com geometria cilíndrica obtidos de fêmures humano.
TOWNSEND e col. [5] afim1aram que a remoção da medula pelo desengorduramento químico tem efeito desidratante sobre o tecido trabecular, o qual muda as propriedades mecânicas do osso.
Nesse experimento foi encontrada diferença significativa para a tensão do limite elástico e para o módulo de elasticidade. Com base nestes resultados supõe-se que os enxertos frescos são mecanicamente melhores que os enxertos preservados.
Os métodos de preparação dos enxertos para serem estocados em bancos de tecidos podem além de comprometer o desempenho biológico do enxerto, afetar também a sua resistência mecânica. A análise das propriedades mecamcas dos enxertos córticosesponjosos é de muita importância, primeiro porque estes, uma vez implantados são submetidos a forças, principalmente as de compressão, e depois, porque em se tratando de um implante, as propriedades mecânicas dos enxertos corticos-esponjosos devem ser compatíveis com as do osso córtico esponjoso de maneira a garantir um sistema estável.
Agradecimento
Esta pesquisa está sendo financiada pela CAPES (Bolsa de Mestrado).
Referências
[l] G.E. Friedlaender, "Cunent concepts rewiew: bone grafft", J. Bane Joint Sug [AM}, vol 69 A, pp. 786-789, 1987.
[2] F. Lind and H. C. F. Sorensen, " The efect of diferent storage methods on the mechanical properties of trabecular bone", J. Biomechanics, vol. 26,pp. 1249-1252, 1993.
[3] F. Lind, I. Hvid and F. Madsen, " The effect of specimen geometry on the mechanical behaviour of trabecular bone specimens'', J. Biomechanics [BR}, vol. 25, pp. 359-368, 1992.
[4] K. Thorén and P. Aspenberg and K. G. Thomgren," Lipid extracted bank bone: bone condutive and mechanical properties", Clin. Orthop. Rel. Res, vol. 311, pp. 232-246, 1995.
[5] P. R. Townsend and R. M. Rose, "Buckling studies of single human trabeculae" J. Biomechanics[BR}, vol 8, pp. 199-201, 1995.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Biomecânica de um Sistema de Fixação Transpedicular com Hastes Transversais
Antônio C. Shimano 1, Helton L. A. Defino2
, Luis H. A. Pereira3, Francisco C. Mazzocato4
1Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP Av. Bandeirantes, 3900 - 14049-902 - Ribeirão Preto-SP
e-mail: ashimano@fmrp. usp. br 2Professor Associado do Setor de Ortopedia e Traumatologia da FMRP - USP
3.4Técnicos do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
Resumo - Foi realizado estudo biomecânico de um protótipo de sistema de fixação vertebral que utiliza o pedículo vertebral como ponto de ancoragem dos implantes, associado a hastes que conectam transversalmente os parafusos pediculares. De modo diferente dos sistemas convencionais, nos quais os parafusos são conectados no sentido longitudinal, no sistema desenvolvido as hastes são conectadas transversalmente aos parafusos. Foram realizados ensaios mecânicos ( flexo-compressão, flexão lateral e torção) utilizando-se corpos de prova de madeira em máquina universal de testes, com a finalidade de comparar a resistência desse sistema de fixação com o sistema convencionalmente utilizado. Os testes biomecânicos mostraram que o sistema desenvolvido apresentou menor resistência nos ensaios mecânicos realizados, quando comparado com o sistema de fixação convencional.
Palavras-chave: Fixação Vertebral, Biomecânica, Fixação Pedicular
Abstract - A mechanical study was performed to evaluate a new pedicular fixation system, in which the screws are connected by transversal rods. The study was based on the comparison of the mechanical resistance of the conventional fixation system with the new developed one. lt was observed that the new pedicular fixation system was weaker than the conventional one, regarding stability in bending-compression, lateral flexion and torsion, according to the perfonned mechanical tests.
Key-words: Spine Fixation, Biomechanics, Pedicular Fixation System
Introdução
Os sistemas de fixação da coluna vertebral, que utilizam o pedículo vertebral como ponto de ancoragem, por meio da implantação de parafusos no seu interior, tem sido largamente empregados no tratamento cirúrgico das patologias da coluna vertebral, e a crescente aceitação dessa modalidade de fixação tem ampliando as indicações para a sua utilização em diferentes patologias da coluna vertebral, [l] e [2].
A utilização dessa modalidade de fixação vertebral abrangendo várias vértebras, tem apresentado uma dificuldade técnica para a sua realização, no tocante ao alinhamento dos parafusos, pois não é fácil a implantação de mumeros parafusos pediculares alinhados no sentido crânio-caudal. O desalinhamento dos parafusos dificulta o acoplamento das hastes do sistema de fixação aos parafusos, e essa dificuldade aumenta à medida que hastes de maior rigidez são utilizadas, [3].
Essa dificuldade tem sido observada desde os primórdios do desenvolvimento dos sistemas de fixação que utilizam parafusos pediculares, e os parafusos poliaxiais foram desenvolvidos para contornar essa dificuldade.
Com o objetivo de contornar essa dificuldade durante a utilização dos sistemas de fixação pedicular,
135
desenvolvemos um sistema de fixação, cujo acoplamento das hastes não depende do alinhamento dos parafusos pediculares (Figuras la e lb), e o objetivo desse trabalho é apresentar o protótipo desse sistema de fixação vertebral e o resultado dos ensaios mecânicos realizados com esse sistema.
(a)
(b)
Figura 1 a - Foto grafia dos componentes do sistema de fixação. 1 b - Fotografia ilustra a montagem do sistema
de fixação. Observar a conexão transversal dos parafusos por meio das hastes.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Metodologia
O estudo foi realizado utilizando-se corpos de prova em madeira (mogmo), com o objetivo de simular a situação de uma corporectomia, e também eliminar algumas variáveis que seriam introduzidas no estudo com a utilização de um grupo heterogêneo de vé11ebras. Os corpos de prova eram constituídos de duas peças cilíndricas de madeira com 50 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, nos quais eram aplicados os parafusos do sistema de fixação. Os parafusos utilizados possuíam 35 1ru11 de comprimento e 6 1ru11 de diâmetro, tendo sido aplicados formando um ângulo de 60 graus entre si, e a uma distância de 1 Omm da borda do bloco de madeira. Os blocos de madeira eram fixados, mantendo uma distância de 40mm entre as suas bases (Figura 3), [4].
Figura 3 - Fotografia dos corpos de prova fixados com o sistema de barras transversais desenvolvido (esquerda)
e sistema convencional de fixação (direita).
A estabilidade mecânica do sistema de fixação desenvolvido foi avaliada por meio da sua comparação com a montagem rotineiramente utilizada nos sistemas convencionais de fixação vertebral, tendo formados dois grupos experimentais: grupo I (representado pela montagem do sistema convencional) e grupo II (representado pela montagem do sistema desenvolvido) (Figura 3 ).
No grupo I os parafusos dos blocos eram conectados por meio de banas de 6mm, aplicadas longitudinalmente, em analogia ao que ocone nas fixações rotineiramente utilizadas.
No grupo II os parafusos de cada bloco eram unidos transversalmente por meio de uma barra cilíndrica de 6mm de diâmetro, e essas banas eram conectadas entre si por meio de 2 banas longitudinais. No início da realização dos testes foi utilizada apenasl barra, tendo sido abandonada esse tipo de montagem devido à sua baixa resistência mecânica.
Os ensaios mecânicos foram realizados em máquina universal de teste, e os corpos de prova submetidos a testes de flexo-compressão, flexão lateral e torção.
A velocidade da aplicação de carga foi de 1 mm/ minuto no teste de flexão lateral e torção, e de 0,08mm/ minuto no teste de flexo- compressão.
O limite estabelecido para a realização dos ensaios mecânicos foram O, 16 radianos para o teste de torção; 1 mm de deformação para a flexo-compressão e 3 mm de deformação para a flexão lateral.
Foram realizados 3 ensaios mecânicos para cada tipo de montagem, tendo sido considerado os valores médios. Os resultados dos grupos I e II foram comparados por meio de análise estatística, tendo sido utilizado o teste t de Student com nível de significância de 5 %.
Os parâmetros utilizados para a avaliação de cada ensaio mecânico foram:a carga aplicada, a rigidez e a energia absorvida. A carga era expressada pelo último valor medido para a defon11ação determinada para cada teste (lnu11 para a flexo-compressão, 3mm para a flexão lateral e O, 16 radianos para a torção).
A rigidez foi calculada por meio da tangente do ângulo da curva (carga aplicada X deformação).
A resiliência representa a energia absorvida na fase elástica, e foi calculada pela área localizada abaixo da reta (carga aplicada X deformação).
Resultados
Os ensaios mecânicos (flexo-compressão, flexão lateral e torção) estão representados nas figuras 4, 5 e 6.
Figura 4 - Gráfico ilustrando o comportamento dos sistemas de fixação no ensaio de flexo-compressão.
Enulosdo flexilo lateral
'" Oolluh!•IG'm)
Figura 5 - Gráfico ilustrando o comportamento dos sistemas de fixação no ensaio de flexão lateral.
Eni>a!osde torção r::v l" . " l ::>='----------~
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
No ensaio de flexo-compressão foi observado que as montagens do grupo I apresentaram maior resistência mecânica. A média da carga necessária para a deformação de 1 mm foi de 207,83 N no grupo 1 e 78,24 N no grupo II. A média da rigidez no grupo 1 foi de 207 830 N/m e 78240 N/m no grupo II. A média da energia absorvida foi 0,104 J no grupo I e 0,039 J no grupo II (tabela 1 ).
Tabela 1 Valores médios dos parâmetros estudados nos ensaios de flexo-com ressão. -----
Grupo
II
Carga (N)
207,83
78,24
Rigidez (N/m)
207830
78240
Energia Absorvi (J)
0,104
0.039
Os valores do grupo I obtidos no ensaio de flexo-compressão foram em média 62% superiores aos do grupo II, tendo sido observado diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os dois grupos.
No ensaio de flexão lateral os valores observados no grupo 1 foram também superiores aos do grupo II em cerca de 52%, tendo sido observado diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os dois grupos. Os valores observados para o momento fletor foram de 2,69N.m no grupo I e 1,29 N.m no grupo II. A rigidez flexural foi de 897,67 J/m no grupo I e 429,675 J/m no grupo II. A energia absorvida foi de 4x10-3 J.m no grupo I 1,9xxl0-3 J.m no grupo II (tabela 2).
Tabela 2 Valores médios dos parâmetros estudados nos ensaios de flexão lateral.
Energia Torsor Absorvida (N.m) (J)
2.17 0,132
I.65 0.095
Nos ensaios de torção foi observado para o momento torsor os valores de 2, 17 N .m no grupo I e 1,65 N.m no grupo II. A rigidez torcional foi de 18,75 N.111/rad no grupo I e 12,50 N.m/rad no grupo II. A energia absorvida foi de 0,132J no grupo I e 0,095 J no grupo II (tabela 3). Os valores dos ensaios de torção foram também superiores no grupo 1, tendo sido observado diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os dois grupos. Os valores do momento torsor foram 24% superiores no grupo 1, os da rigidez torcional 33% e os da energia absorvida 28%, com relação aos do grupo II.
Tabela 3 - Valores médios dos parâmetros estudados
Grupo
nos ensaios de torção.
Momento Fletor (N.m)
2,69
l,29
Energia Absorvida
(J.m)
4x10·3
Discussão e Conclusões
Nessa última década foram desenvolvidos algumas centenas de diferentes sistemas de fixação para a coluna vertebral, nos quais o pedículo vertebral é utilizado como elemento de ancoragem dos implantes, e é interessante observarmos que em todos os sistemas, os parafusos pediculares são conectados no sentido longitudinal por hastes, [5] e [6]. Não observamos na literatura, com exceção de um sistema desenvolvido por Kluger (1999), nenhum sistema para a fixação da coluna vertebral baseado em parafusos transpediculares, que utilizasse esse conceito de conexão transversal dos parafusos aplicados nas vértebras,[3].
Até o presente momento não é conhecida a rigidez ideal do implante para ser utilizado na coluna vertebral, e as investigações clínicas e experimentais indicam que o aumento da estabilidade mecânica dos sistemas aceleram a consolidação óssea e diminuem a taxa de pseudartrose, e baseados nessas evidências os implantes vertebrais tem sido desenvolvidos.
A realização de ensaios biomecânicos multidirecionais, com a finalidade de testar e comparar sistemas de fixação vertebral, apresenta inúmeras limitações, relacionadas ao material utilizado para a realização dos testes, e o modelo que utilizamos, apesar das limitações que apresenta, simula uma situação de corporectomia, e na realidade estávamos interessados apenas em comparar o sistema que utiliza hastes transversais com aquele que utiliza as hastes no sentido longitudinal, [2] e [3].
Os resultados observados nos ensaios biomecânicos multidirecionais mostraram que o sistema que utiliza as hastes conectadas no sentido transversal apresenta menor resistência mecânica, mas não sabemos até que ponto esse fato seria relevante do ponto de vista clínico, pois ainda é desconhecida a rigidez ideal para os implantes da coluna vertebral. Essa menor resistência mecânica do sistema de haste transversal não foi observada por Egger et.al. em 1999, [5], acreditamos que o aperfeiçoamento da conexão da haste transversal com o parafuso poderia melhorar a estabilidade do sistema de fixação. Faltam dados até o momento para afirmarmos que o sistema de fixação seria inadequado do ponto de vista biomecânico, podendo apenas ser afirmado que ele é inferior do ponto de vista biomecânico ao sistema convencional .
O principal objetivo desse nosso relato foi divulgar a idéia dessa modalidade de fixação pedicular para que possa servir talvez, como ponto de partida para outros desenvolvimentos de sistema de fixação. Esse sistema não foi aplicado em pacientes, e os resultados desse estudo "in vitro" confinnam a importância da sua realização antes da aplicação clínica dos implantes, com a finalidade de detectannos os pontos fracos do sistema e termos a oportunidade de aperfeiçoa-lo antes da sua aplicação clínica. Apesar de não termos utilizado esse sistema em pacientes, concordamos com as desvantagens dessa modalidade de fixação apontadas por Egger et al. [ 4 ], que seriam o alto perfil e a
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
dificuldade de reaproximação da musculatura paravertebral após a sua aplicação.
Estamos ainda longe da solução cirúrgica ideal para os problemas da coluna vertebral, pois comparado com as cirurgias reconstrutivas das grandes at1iculações, como o quadril e o joelho, que pem1item a manutenção dos movimentos, estamos realizando ainda a at1rodese vertebral e eliminando os movimentos nas situações em que são instrumentados esse segmento do aparelho locomotor. Dentro das possibilidades dos atuais sistemas de fixação vertebral, existem nítidas evidências de que os parafusos poliaxiais podem contribuir de modo importante para solucionar os problemas relacionados ao alinhamentos dos parafusos, e a sua utilização com sistemas de barras com ajustes laterais pode auxiliar ainda mais na solução desse tipo de problema. Seria muito difícil no momento, abandonarmos a utilização dos sistemas que utilizam as haste longitudinais para a conexão dos implantes, mas acreditamos que seja válido a divulgação da idéia da utilização das hastes transversais, que talvez possa ser aperfeiçoada no futuro, ou auxiliar no desenvolvimento de sistemas alternativos para a fixação vertebral.
Agradecimentos
Trabalho realizado com o apoio do CNPq.
Referências
[l] S. Eggli, F. Schlãpfer, M. Angst, P. Witschger and M. Aebi, "Biomechanical testing of the three newly developed transpedicular multisegmental fíxation system", Eur. Spine J, vol. 1, pp. 109-116, 1992.
[2] Y. Shono, K. Kaneda and J. Yamamoto, "A biomechanical analysis of Zielke, Kaneda and Cotrel-Dubousset instrumentation in thoracolurnbar scoliosis. A calf spine model", Spine, vol. 16, pp. 1305-1311, 1991.
[3] M. M. Panjabi, "Biomechanical evaluation of spinal fixation <levices. A conceptual framework", Spine, vol. 13, pp. 1129-1134, 1988.
[4] A. C. Shimano, H. L. A . Defino and R.C.B. Souza, "Estabilidade Mecânica de um Sistema de Fixação Vertebral", Anais do IV Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, de 18 a 22 de outubro, Curitiba, pp. 25-26, 1998.
[5] W. Egger, P. Kluger, L. Claes and H. J. Wilke, "Characteristics of an extended internai fíxation system for polysegmental transpedicular reduction and stabilization of the thoracic, lumbar and lumbosacral spine", Eur. Spine J, vol. 8, pp. 61-69, 1999.
[6] K. Abumi, M. M. Panjabi and J. Duranceau, "Biomechanical evaluation of spinal fixation <levices", Spine, vol. 14, pp. 1249-1255, 1989.
138
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Ensaios Mecânicos com Espassadores Vertebrais "Cages"
Antônio C. Shimano1, Helton L. A. Defino2
1Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP Av. Bandeirantes, 3900 - 14049-902 - Ribeirão Preto-SP
e-mail: [email protected] 2Professor Associado do Setor de Ortopedia e Traumatologia da FMRP - USP
Resumo - Foi realizado ensaio mecânico de resistência à compressão axial, com a finalidade de estudar a resistência máxima de um tipo de espassador vertebral a essas forças, e a influência da utilização do anel interno na resistência mecânica desses espassadores. Foram realizados ensaios de compressão utilizando-se máquina universal de teste, tendo sido utilizado célula de carga Kratos® com capacidade de até 2000Kgf. A velocidade de aplicação de carga foi O,lmm/minuto, com uma pré-carga de 5Kgf e tempo de acomodação de 30 segundos. As medidas das deformações foram realizadas por meio de um relógio comparador Mitutoyo® com precisão de centésimos de milímetros. O tipo de espassador utilizado resistiu a cargas de compressão axial da ordem de 7000 N, e a utilização do anel interno aumentou a sua resistência às forças de compressão axial, tendo sido a diferença entre o grupo com e sem anel interno, estatisticamente significativa.
Palavras-chave: Espassador, Coluna Vertebral, Biomecânica
Abstract - A mechanical study was performed to evaluate the mechanical resistance and the influence of the inner ring on cages submitted to axial compressive forces. The cages withstood loads of 7000 N and it was observed that the use of inner ring increased the mechanical resistance of the cage to axial compressive loads.
Key-W ords: Cage, Spine Column, Biomechanics
Introdução
A tendência moderna da cirurgia da coluna vertebral tem sido baseada no princípio biomecânico que considera o corpo vertebral ou coluna anterior como a parte responsável pelo suporte de cerca de 80 a 85% das forças de compressão que atuam sobre o segmento vertebral, [1], [2], [3] e [4], de modo que a reconstrução dessa parte do segmento vertebral tem sido parte obrigatória dos procedimentos reconstrutivos do segmento vertebral, com o objetivo de promover uma situação biomecânica mais favorável para a artrodese e balanço da coluna vertebral, [1] e [2].
O enxerto tricortical oriundo do osso ilíaco possui as qualidades biomecânicas e biológicas idéiais para a reconstrução da coluna anterior do segmento vertebral, [5], mas a sua utilização está relacionada ao aparecimento de complicações relacionadas com a área doadora de enxerto, [6] e [7], não sendo portanto um procedimento isento de morbidade, além de apresentar limitações relacionadas ao tamanho e a quantidade de osso a ser retirado do osso ilíaco, [8].
Essas desvantagens da utilização do enxerto ósseo oriundo do ilíaco motivou o desenvolvimento de alternativas para a reconstrução da coluna anterior do segmento vertebral, e em 1986 Harms desenvolveu os espassadores cilíndricos e fenestrados de titânio "cages", que eram preenchidos com osso esponjoso oriundo do próprio corpo vertebral ressecado, ou do osso ilíaco, para a reconstrução da coluna anterior e resistência à aplicação de cargas axiais.
139
Esses espassadores vertebrais tem despertado nosso interesse para a sua utilização clínica. e o objetivo desse trabalho foi a realização de um estudo biomecânico de uma modalidade de espassador cilíndrico fenestrado de titânio, com ênfase na sua resistência à aplicação de cargas axiais ao papel da utilização do anel de reforço interno no aumento da sua resistência às cargas axiais.
Metodologia
Foram utilizados no estudo 1 O cages de titânio com 30mm de altura e 16mm de diâmetro, que foram divididos em 2 grupos experimentais para o estudo. O grupo I era fonnado pelos espassadores sem a utilização do anel interno de reforço, e o grupo II pelos espassadores com o anel de reforço interno colocado nas duas extremidades do espassador, (Figura 1 ). Os anéis de reforço apresentavam 4 tmn de altura e 14 mm de diâmetro, e eram fixados aos espassadores por meio de 3 parafusos, (Figura 2).
Foram realizados ensaios de compressão utilizando-se máquina universal de teste, tendo sido utilizado célula de carga Kratos® com capacidade de até 2000Kgf. A velocidade de aplicação de carga foi O, !mm/minuto, com uma pré-carga de 5Kgf e tempo de acomodação de 30 segundos.
As medidas das deformações foram realizadas por meio de um relógio comparador Mitutoyo® com precisão de centésimos de milímetros.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Figura 1 - À esquerda, fotografia do espassador com anel interno, e à direita sem anel interno.
Figura 2 - Fotografia do anel interno e seus parafusos de fixação. Observar o anel interno aplicado no
espassador (A) e isolado (B).
Os ensaios foram realizados em 2 etapas. Na primeira etapa os testes foram realizados dentro da fase elástica do material, como o objetivo de estudar a influência do anel interno e comparar a resistência axial dos espassadores com e sem anel interno. Esse teste foi realizado até uma deformação máxima de 0,2mm, que ainda encontrava-se na fase elástica do material. Na segunda etapa o ensaio mecânico foi realizado até atingir a capacidade máxima dos espassadores, e foi realizada somente nos cages sem o anel interno.
Resultados
Os resultados da primeira etapa dos ensaios mecânicos de compressão, que foram realizados dentro da fase elástica do material, e com a finalidade de observar os efeitos da utilização do anel interno, estão representados nas Figuras 3, 4 e 5. Foi observado um comportamento homogêneo dos espassadores durante a realização dos testes, que pode ser analisado nos gráficos ilustrando a carga versus a deformação (Figuras 3 e 4). A inclinação das curvas no grupo dos espassadores sem anel interno apresentou menor inclinação quando comparadas com as curvas do grupo dos espassadores com anel interno, significando maior deformação com a aplicação da mesma carga. Essa diferença da inclinação das curvas mostra a superioridade dos cages com anel interno para a resistência às forças de compressão axial.
140
2500 z -;;; 2000 ,, ·ª 1500 ~ 1000 ro ~ 500
(.) o º·ºº
ENSAIO DE COMPRESSÃO Sem anéis
0,05 0,10 0,15 0,20
Deformação (x10"3m)
-+-cage 1
-a-cage2 -ã-cage 3 -M-cage 4
-m-cage 5
0,25
Figura 3- Gráfico da aplicação de carga e defonnação nos espassadores sem anel interno.
2500 z -;;; 2000 ,, ·ª 1500 ~ 1000 ro ~ 500
(.)
º·ºº
ENSAIO DE COMPRESSÃO Com anéis
0,05 0,10 0,15 0,20
Deformação (x10'3m)
-+-cage 1
-lil-cage 2
--tr-cage 3
-w-cage4 _._cage 5
0,25
Figura 4 - Gráfico da aplicação de carga e deformação nos espassadores com anel interno.
Os valores da rigidez nos grupos I e II estão representados na Tabela 1 e Figura 5. A rigidez maior foi observada no grupo II ( espassadores com anel interno), tendo sido a diferença estatisticamente significativa (teste t de Student com p< 0,05).
Tabela 1 - Valores da rigidez (N/m) observadas nos espassa
Espassadores
1
2
3
4
5
Média
Desvio Padrão
14000000
12000000
Ê 10000000
~ 8000000
~ 6000000 '5' ii: 4000000
2000000
d l' ores com e sem o ane mterno. Rigidez (N/m)
Sem anéis
9433900
9259200
8333000
8794500
9342500
9032620
462211.81
ENSAIO DE COMPRESSÃO
Espassador
Com anéis
10638200
10869600
9259200
10064400
10753700
10317020
667456, 12
msem anéis
li com anéis
Figura 5 - Gráfico comparativo da rigidez dos espassadores sem e com o anel interno.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Os resultados da segunda etapa dos testes, realizado somente nos espassadores sem o anel interno, e no qual foi realizado o ensaio de compressão axial até a capacidade maxnna de suporte do material, ultrapassando a sua fase elástica, estão representados nas Figura 6 e 7 e na Tabela 2. Foi observado um valor de carga máxima que variou de 7133 a 7299 N (média 7217 N e desvio padrão 62 N). As curvas de deformação do teste da carga maxnna estão representadas na Figura 6, e elas apresentaram comportamento homogêneo nos espassadores utilizados no ensaio.
Figura 6 - Gráfico ilustrando o comportamento dos espassadores sem anel interno no teste de resistência
máxima.
Figura 7 - Fotografia dos cages sem o anel interno após o teste de aplicação da carga máxima
Tabela 2 - Valores da carga máxima (N) suportada pelos espassa d 1 . ores sem o ane mterno.
Espassadores Canrn Máxima (N) l 7190 2 7251 3 7299 4 7133 5 7212
Média 7217 Desvio Padrão 62
Discussão
Até o momento a utilização do enxerto autólogo continua sendo o padrão para a realização da artrodese vertebral anterior, e os resultados obtidos com as novas técnicas devem ser comparados com os obtidos com a utilização de osso autólogo, que apresenta as vantagens biológicas e o mesmo módulo de elasticidade do osso da vértebra, [9] e [7].
Os espassadores ou cages, que é a denominação universalmente utilizada para mencionar esses dispositivos, tem recebido grande atenção por parte dos cirurgiões de coluna, e diferentes tipos tem
sido desenvolvidos e implantados em pacientes. Esses dispositivos devem possuir rigidez primária para o suporte da carga axial, módulo de elasticidade próximo ao do osso para evitar a ocorrência do "stress shielding", e também deixar espaço livre para a placa vertebral, para que ocorra a integração do enxerto ósseo,[8] e [ 1 O].
Os resultados observado nos ensaios mecânicos mostraram que os espassadores verticais utilizados em nosso estudo suportaram cargas axiais de cerca de 7000 N, atendendo às solicitações de carga axial sobre o corpo vertebral, que variam de 2000 a 5000 N, dependendo da região da coluna vertebral, [10]. A utilização dos anéis de reforço aumentaram a resistência do espassador às forças de compressão axial, e essa diferença foi estatisticamente significativa nos ensaios mecânicos que realizamos.
Os anéis de reforço além de aumentar a resistência às forças de compressão axial, aumentam a área de contato entre o cage e a placa vertebral, reduzindo a probabilidade de penetração do cage no interior do corpo vertebral, que tem sido observado em algumas situações clínicas. Em ensaios mecânicos foi observado que a placa vertebral tenninal pode suportar cargas de até 2200 N através dos espassadores vertebrais, e a partir desse valor ocorre a penetração do espassador para o interior do corpo vertebral, [10].
Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram que a modalidade de cage estudada suportou cargas mecânicas, compatíveis com a solicitação mecânica da coluna ve1iebral em situações fisiológicas, e que os anéis de reforço aumentaram a sua resistência às forças de compressão axial, mas deve ser também analisado o fator biológico da utilização desses espassadores, relacionados à integração do enxe1io ósseo, e esperamos que estudos futuros possam esclarecer melhor os fenômenos básicos envolvidos na utilização desses espassadores vertebrais, que tem sido um foco de atenção recente no âmbito da cirurgia da coluna vertebral.
Agradecimentos
Trabalho realizado com o apoio do CNPq e da empresa GM Reis.
Referências
[l] P. Enker, A. Steffee, C. McMillin, L. Keppler, R. Biscup and S. Miller, "Artificial disc replacement: preliminary report with a three-year minimum follow-up", Spin e, vol. 18(8), pp.1061-1070, 1993.
[2] J. Hanns and D. Stoltze, "The indications and principies of correction of post-traumatic deformities", Eur. Spin e Journal, vol. 1, pp. 142-151, 1992.
[3] H. H. Matthias and J. Heine, "The surgical reduction of spondylolisthesis", Clin. Orthop., vol. 203 pp. 33-44, 1986.
[4] A. Nachemson, "The load on .lumbar discs in different positions of the body", Clin. Orthop., vol. 45, pp. 107, 1966.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
[5] J. A. Kozak, A. E. Heilman and J. P. O'Brien, "Anterior lumbar fusion options: operative technique and graft materiais", Clin. Orthop., vol. 300, pp. 45-51, 1994.
(6] L. T. Kurz, S. R. Garfin and R. E. Booth, "Haversting autogenous iliac crest bone grafts: a review of co111plications and techniques", Spin e, vol. 14, pp. 1324-1331, 1989.
[7] E. M. Younger and M. V. Chapman, "Morbidity at bone graft donor sites", J. Orthop. Trauma., vol. 3, pp. 192-195, 1989.
[8] W. T., Edwards and H. Yuan, "BiomechanicsGeneral consideration, evaluation and testing", in The Textbook ofSpinal Surgmy, K. Bridwell and R. DeWald,. 2ªed. Lippincott: Philadelphia, 1997, pp. 141-154.
[9] T. S. Whitecloud, J. E. Ricciardi, J. G. Werner, "Bone graft, hardware and halo fixator-related problems", in The cervical spin e, C. R. Clarke, ed. 3rct ed. Philadelphia: Lippincott, 1998, pp. 923-940.
[ l O] G. Lowery and J. Harms, "Titanium surgical mesh for vertebral defect replacement and intervertebral spacers", in Manual of interna! fixation of the spin e, J. Thalgott and M. Aebi, Lippincott-Ravers: Philadelphia, 1996, pp. 127-146.
142
ANAIS DO CBEB'2000
Experimental Control Of Mechanical Aging Due To Gravity
Djenane Pamplona1, Hans I. Weber2
, Paula Varela Calux 3 , Fabiana Leta4
1. 2
• 3Civil, Mechanical Engineering· and Mathematical Department Pontifical University Catholic ofRio de Janeiro (PUC-Rio)
Marquês de São Vicente 225, Brazil, 22453-900 4Mechanical Engineering Department Federal Fluminense University (UFF)
Rua Passo da Pátria 156 Niteroi, Brazil, 24210240 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Abstract - Facial aging is a biological phenomenon but the facial movement visible as the decay of the muscular mass during aging is also due to mechanics. Research toward a model of the aging process is fundamental for improving face-lifting techniques and possibly for finding a way to control the aging process mechanically. ln a previous research was possible to obtain a qualitative comparison of the effects of gravity on the face and the pattern of change of the aging parameters. ln the present one the aim is to propose a way to control facial aging. The first challenge was to define adequate parameters and ways of measuring them. Then, each parameter was defined individually, to analyze these data as a set. The sample for the research was restricted to a group of 40 white female patients, each patient being measured at two different ages. lnitially it was observed experimentally the effect of gravity on the muscular mass of a face done of a viscoelastic material, photographed and measured. Afterwards, using constraints on some points of the viscoelastic face, the sarne points measured in our previous research were photographed and measured, it was possible then to observe a delay in the effect of gravity.
Key-words: Aging, skin, biomembrane
Introduction
The human face changes with age, and some factors that are decisive to this process have been identified in the literature (Pitanguy, I. et ai, 1977). One main factor is that there is atrophy in osteocartilages, and another is that the skin loses elasticity and thins, causing the wrinkling process and decay of the skin, defined here as mechanical aging. The decay of the palpebral pouches, the lateral pouches of the face and of the eyelids, the narrowing of the lips, the formation of the Nasogenian fold and the enlargement of the ear are some consequences of aging. The literature on aging, however, lacks on an identification of the mechanical forces related to the aging process. Engineers and plastic surgeons has to work together to define the aging pattern: this is resulted in the selection of characteristic points that may be observed during the aging process. Distances between these points were defined as aging parameters, and will be discussed throughout this paper. The research to obtain an adequate model to study the process of aging is fundamental not only for improving the techniques used in face lifting, but also possibly for finding a way to control the aging process mechanically.
This paper is concerned with the comparison between the effects of gravity acting on viscoelastic face and on a constrained viscoelastic face. This comparison was made with an experimental model.
The first study that established the pattern of change was conducted on a group of 40 women, photographed at two different ages, at least five years
143
apart. These women were selected among two hundred middle class Caucasian women, consídering severa! aspects for the selection: general facial morphology; absence of trauma, both physical and psychological, in the period between photos; absence of extreme photoaging. All photographs were scanned, digitally processed, and nom1alised in size. Linear measurements of each patient were divided by the distance between the pupils. Curves starting at the age of 25 and ending at 65 describe the behaviour of the aging parameters through time. The choice of aging parameters based on facial changes that occur over a period of time, so that the preceding photograph of each patient was used as a pattern for the subsequent one. ln this way the looks of an aged person could be predicted. Results of this research (Pamplona et al, 1996, 1998) are used in the present one for comparison.
Research on the formulation of an adequate model to study the process of aging is fundamental for improvement in the techniques used in face lifting. Whereas some qualitative criterion [ 1] is available, there was a complete lack of quantitative information about this subject. [2] used composite images of different faces and computer graphic manipulation of shape and color information to provide an empirical definition of facial changes.
The previous study was first concerned with defining the aging parameters that can be measured [3] and secondly with measuring them in patients who have been photographically recorded during their lives, to find a pattern of change for those parameters.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Because of the lack of actual-sized information, ali photographs were scanned, digitally processed, and nonnalized in size, with ali linear measurements of each patient divided by the distance between her pupils. The study was conducted in a population of 40 women, photographed at two different ages, at least five years apart. The choice of aging parameters was based on [ 1] W e were looking for changes occurring in the same face, so that the preceding photograph of each patient was used as a pattern for the subsequent one. Not every parameter could be measured, because some women had earrings, hair on the forehead or a slight smile in the photographs. Histogram results show 7 to 1 O measurements in every 5-year range of the selected interval from 25 to 65 years of age.
Methodology
To understand the behavior of facial muscular mass, smass, due to gravity, a skull was covered with clay by a sculptor, using the thickness of muscular mass that covers a young female human skull. The measurements were obtained from the literature. See Table 1 and Figure 1.
Table 1 Thickness of muscular mass in white women
Supraglabela Upper lip margin Lower lip margin Mental eminence
Supraorbiata Suborbital
Frontal eminence
03.5 111111
09.0mm 10.0111111 10.0111111 07.0 mm 06.0 111111 03.5 nun
Figure 1. Clay sculpture covering a female skull with pins in the marked points to assure the thickness.
A mould of rubber-like material was made, Figure 2, in such a way that the clay sculpture could be reproduced with 270 grams of a viscous material. The viscous material used is silicon. Viscoelastic faces were molded in plain or constrained skull, Figure 3.
144
Figure2. Mold and plain skull.
Figure3. Constrained skull.
The following eight points were marked and measured on the viscous face:
* eyelids ( 2 points ) * tip of the nose * lower edge of the nose * vertical edges of the lips ( 2 points ) * chin * contour ofthe face in the sarne vertical as the center of
the pupil.
Both constrained and free viscous sculpture were photographed, every 100 seconds, so that the movement of the marked points could be measured employing the digitalized photographs. A sequence of these photographs can be seen in Figure 4.
The five vertical distances below were measured on both viscous sculpture and the comparison of the results are in Figure 5.
* from the pupil to the eyelid * from the lower edge of the nose to the upper extreme
of the mouth * between the vertical edges of the lips * from the pupil to the chin *from the pupil to a point in the contour of the face in the sarne vertical as the center of the pupil
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Figure 4 Sequence ofphotographs showing the movement ofthe free (upper one) and constrained viscous face over a period oftime, every 300 seconds.
s ~ 1 ~ -......... ... ~:::b ,j?0.8~
0.6 +----,-----,-----,-----,
e ;:
1.4
e o.s
o 200
o 200
o 200
400 600 800
Time
400 600 800
Time
400 600 800
Time
'l:: to ., :::t .& ·- li ······· ...l ......... ..
~ "; =·-- --: 0.6 .
o 200 400 600 800
Time
IA
e ~ 0,8 ...l
o 200 400 600 800
Time
Figure 5.Normalized displacements ofthe facial parameters in time for the free face (continuas line) and
constrained face (doted line), for the (a) eyelid; (b) upper lip, ( c) thickness of the lip, (d) central pouch and
(e) lateral pouch of the face.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Results
The experimental procedure was performed severa! times, giving ten sequences of data. The measurements were normalized twice. First ali the distances of each sequence were divided by the distance between pupils marked on the skull in such a way that there would be no error introduced by the fact that the photographs of the sequences could have been taken from different distances. Secondly each of the five vertical distances, in each sequence, was divided by the corresponding distance in the first photograph, in such a way that all the sizes would be one at the first moment.
ln our previous work was possible determined the correspondence between the movement of a face in 40 years of life, from 25 to 65 years of age, with the decay of the viscous face in 600 seconds when subjected to gravity.
Observation of the continuos and dotted curves of Figure 5 shows the decay of the eyelids (a), and of the contour of the face (d-e) through time. One very interesting finding is the enlargement of the upper lip and the narrowing of the lips, (b-c) through time. It is possible to observe in Figures 4 and 5 that on the constrained face there was a significant delay of the aged appearance. When we first observed the narrowing of the lips, we thought that this could be explained by the loss ofbones and teeth, with aging. But even though our skull does not lose bone mass, we observe the same phenomenon (even with the points not fitting so well in this case); we can therefore conclude that the great villain continues to be gravity.
Discussion
This research offers an initial quantification of the aging process of the face. It is concerned with physical measurements and a general law of time dependence. After measuring and normalizing a photograph of a person, we can predict, with a known amount of error, the looks of that person at another age. The technique served its purpose successfully, with a representative amount of patient data behaving sufficiently near the general aging curve of each parameter. As a consequence an automatic Computer Graphic manipulation, warping, of facial images was done.
To combine data from photographs with different magnifications in the same database, it was necessary to define a normalization and a proportional scaling system. The main point of this paper is to introduce the need for identification of the mechanical forces in the mechanics of facial aging. As far as we know, there lacks a complete study of the mechanics of aging. We understand that the knowledge of this process can lead to improvement in ways of reverting the effects of aging or even controlling it mechanically. This simulation is the first step for a füture work.
Results confirm the importance of gravity in the looks of an aged person. Our previous study [4]
presented photographic records of women through their lives. ln a previous study the qualitative comparison of the observed movement with the measured parameters shown and in the present one we suggest constraining the face to delay the appearance of aging. Some plastic surgeons have been using gold wires implanted in the face. As a future work we intend to optimize the constrained points
Acknowledgments
W e are grateful both to all doctors of the Postgraduate Course in Plastic Surgery, PUC-Rio, that kindly cooperated in defining the aging parameters and to CNPq, CAPES and FINEP for their financial support for this project. We are also grateful to Bayer for the viscous material, to Professors Eduardo Daruge and Paulo Roberto Souza Mendes for the support on providing some of the references and testing the viscous material.
References
[ 1] Pitanguy, I. et al., ( 1977) Anatomia do envelhecimento da face, Rev. Bras. Cir., vol. 67, pp.79-84.
[2] Duncant, R. and Perrett, D. (1995) Manipulating facial apperance through shape and color. IEEE Comp. Grap. Appl.,70-76
[3] Pamplona, D.et a! (1996)., Defining and measuring aging parameters, ln: Appl. Math. Comp, vol. 78/2,3, pp.217-227.,.
[4] Pitanguy, I. & Pamplona D. (1998). Numerical modelling of facial aging, Plast. and Rec. Surg. vol. 102, 1, pp 200-204
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Avaliação Dinâmica da Marcha Humana
Luiz Carlos de Queiroz 1, Mareio Augusto Martin2
, Tamotsu Hirata2
1Depto. de Engenharia Química (DEQUI), Faculdade de Engenharia Química de Lorena (F AENQUIL), Brasil, 12600-000
Fone/Fax (OXX12) 553-3224 2Depto. de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia (FEG), Campus de Guaratinguetá,
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil, 12500-000 Fone (OXX12)525-2800, ramal 142
[email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - A avaliação do deslocamento do centro de gravidade (CG) do corpo humano durante a caminhada é um
parâmetro fundamental para analisar o equilíbrio dinâmico de um paciente com problemas articulares, diabéticos ou com perna mecânica. Neste trabalho apresenta-se uma análise comparativa da força de reação do solo e do movimento
do centro de massa do corpo humano durante a marcha, de um voluntário normal, com o tornozelo sem e com
imobilização. Empregou-se um sistema de aquisição de dados de força de contato com o solo e realizou-se uma
filmagem de um ponto fixado no corpo do voluntário, que se movimentava sobre uma esteira elétrica.
Palavras-chave: Biomecânica, Análise postural, Marcha Humana, Tornozelo imobilizado
Abstract - The gait analysis of human walking motion is one of the important parameter for study of dynamic equilibrium of diabetic patient, person with mechanical legs or with articulation problems. ln this paper, behavior of the motion of a normal condition of the person and the ankle fusion condition were evaluated to study dynamic equilibrium problem. The force plate and image processing system were used to measure reaction force and displacement of the gravity center respectively. Some preliminary experimental results are presented to illustrate the effects of the ankle fusion on the gait motion.
Key-words: Biomechanic, Gait Analysis,Walking Motion, Ankle Fusion
Introdução
O controle do equilíbrio postural é uma tarefa
permanente na atividade humana, principalmente, para
as pessoas de terceira idade como maneira de prevenção
de acidentes. E também como um indicador do
desenvolvimento de padrões coordenados de movimento onde o controle do equilíbrio postural é
dependente do posicionamento do centro de massa do
corpo. Esta dependência provém da necessidade de
controlar os movimentos internos a fim de
contrabalançar o efeito gravitacional, [ 11].
O controle de equilíbrio dinâmico durante o
movimento de locomoção é realizado através da
variação angular dos eixos articulares, tais como,
tornozelos, joelhos, quadris, juntamente com as
articulações do membro superior do corpo, [12]. Há forte indício de que o principal regulador para manter o
controle de equilíbrio postural está relacionado com o posicionamento do centro de gravidade do corpo, [4].
Para avaliar o sistema motor humano em termos
de equilíbrio corporal, Kugler at ai [9] desenvolveram a
Teoria de Sistemas Dinâmicos (TSD), novas formas de
entender e abordar o desenvolvimento de abilidades
motoras. De acordo com a TSD complexidade de
analisar o sistema motor humano do fato de o
sistema variar com o tempo, possuir muitos graus de liberdade, de ser não conservativo durante o contato
com o solo e não linear devido às características
corporais, possuindo flexibilidade e amortecimento não
lineares. Além destes fatos citados, Michaels [ 1 O]
acrescenta a influência dos movimentos de segmentos
vizinhos. Quando o corpo realiza o movimento, um
determinado segmento vizinho interfere no movimento de outro segmento através da relação intra-articular,
amenizando o problema proveniente dos graus de
liberdade. Quanto ao registro dos movimentos do corpo
humano, uma análise cinemática da marcha consiste de
uma descrição do movimento do corpo como um todo
e/ou segmentos corporais com relação uns aos outros.
Na aplicação em clínica a cinemetria é utilizada para a
análise quantitativa da marcha. Este método requer
apenas pequena quantidade de equipamentos e um
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
dispêndio mínimo de tempo, avaliando as padrões de
movimento, desvios da normalidade, posturas corporais
e ângulos articulares em pontos específicos do ciclo da
marcha. A análise cinemática quantitativa da marcha é
usada na obtenção de informações sobre variáveis do
tempo e deslocameútos dos membros que são afetados
por uma série de fatores como idade, sexo, altura, peso,
nível de maturação e tipo de calçado, [l]. Ao registrar
os deslocamentos dos pontos específicos do corpo, em
geral, são utilizados duas ou três câmaras, filmando as
trajetórias dos pontos através de marcadores nos
membros. As trajetórias assim registradas são
calculadas posteriormente com relação à referência,
utilizando uma técnica denominada Direct Linear
Transformation (DLI), [3].
Por outro lado, as forças de contato entre a
superfície de apoio e os pés são fundamentais para a
análise das características do andar ou do correr, tanto
em termos das intensidades das forças quanto na
dependência da intensidade da força com o instante de
tempo, [7].
A análise das forças de contato podem servir,
também, para auxiliar a reabilitação de um paciente com
problemas no andar, [15], ou para corrigir a fonna de
corrida de um atleta, [2].
O estudo e a determinação das forças de reação
do solo sobre o aparelho locomotor humano durante o
andar e durante o correr, bem como o desenvolvimento
de platafonnas de forças para piso fixo e para esteiras
foram realizados por diversos pesquisadores da área de
biomecânica. Os levantamentos de dados experimentais
de forças de contato para um andar normal com
velocidade constante foram feitos por vários
pesquisadores, começando por Elfman [6] em 1939,
medindo as forças normais à superfície de contato. Para
um melhor acompanhamento da marcha humana em seu
aspecto dinâmico, o uso da placa de forças instalada em
uma esteira ergométrica foi ampliado, Kram [8],
Dingwell [5], Silveira [14] e Queiroz et al [13].
Neste trabalho, um sistema de medição foi usado
para detenninação do movimento do centro de massa
durante a marcha sobre a esteira elétrica e para
aquisição de forças de contato correspondentes.
Metodologia
Uma plataforma de força adaptada numa esteira
ergométrica elétrica comercial foi usada para
determinação da componente vertical da força de
contato durante a marcha humana. Essa plataforma de
força é composta por duas placas retangulares metálicas
148
e independentes fixadas numa estrutura metálica
apoiada por 4 vigas metálicas de seção transversal
retangular, onde são colados extensômetros nas faces
superior e inferior, com o objetivo de medir a força
exercida sobre a placa. Para este trabalho, foi
instrumentada apenas a placa do lado direito e somente
medidas as componentes verticais da força de reação da
superfície de apoio do pé direito. Visando à eliminação
de interferências devidas a sinais de vibrações, a esteira
e a plataforma de força foram fixadas no solo.
A obtenção do sinal elétrico correspondente à
variação de força foram feitos através de 8
extensômetros de 120 Q colados nas vigas de
sustentação da placa. O sinal de tensão elétrica
proveniente das deformações dos extensômetros foram
coletados através de uma ponte para extensiometria.
Antes do registro, o sinal obtido foi filtrado com um
filtro passa baixa, com freqüência de corte de 1 O Hz,
para eliminar as interferências indesejáveis tais como as
provenientes do motor elétrico da esteira. Na figura 1
mostra-se o esquema do sistema de coleta de dados. A
calibração da placa de força foi feita estaticamente
medindo as variações de tensão elétrica registradas nos
extensômetros correspondentes às forças aplicadas nos
diversos pontos da placa.
Os dados obtidos foram, posteriormente,
analisados em termos da variação de forças de reação
durante o período de contato do pé com a plataforma.
Placa de aquisição de dados ( Aqdados J
Placa de Força
o o o
Ponte para extensometria
/ ººº üiIZJ
Placa de distribuiçi'ío
Figura 1 - Esquema para medidas de forças de contato
Com o objetivo de estudar as posições do CG e penmtir que essas pos1çoes sejam avaliadas e determinadas, foi usado um sistema de aquisição de imagens conforme mostrado na figura 2. Este sistema foi adotado por ser baixo custo e com facilidade de manipulação na captura de imagens.
O sistema é composto de uma câmera tipo Webcam, fixa na posição posterior do indivíduo, que capta a luz emitida pelos Leds instalados nas posições pré-determinadas ao lado da esteira . As posições de Leds são utilizadas como referências das coordenadas
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
cartesianas durante o processamento de imagens capturadas. Um outro Led foi fixo na posição do CG através do cinto que se movimenta de acordo com a marcha do indivíduo.
L 1, ... , L4 - Led (emissores de luz)
OI - Câmara para captu-a de vídeo, tipo Webcam.
Est. Elét. - Esteira elétrica
PF - Placa de Força
Figura 2 - Esquema do sistema de captura de imagem
Um voluntário normal, de 76 kg, movimentou-se sobre uma esteira elétrica comercial, a uma velocidade controlada de 1,0 m/s, tendo um Led (L4) fixado às suas costas, na altura do CG de seu corpo.. Enquanto o voluntário se movimentava, a câmera capturou imagens do ponto luminoso L4. As posições de L4 no início e no fim do contato do pé direito com a placa são definidas pelo ponto luminoso L 1, que acendia quando o voluntário tocava a placa de força no início do contato e se apagava no instante em que o pé era retirado da placa. Durante um determinado intervalo de tempo imagens foram capturadas e registradas, sendo a seguir processadas por um software, especialmente desenvolvido, que, além de permitir uma análise qualitativa do movimento, detenninava as posições dos pontos luminosos L 1, L2, L3 e L4, registrando-as para análises posteriores. As posições do ponto luminoso L4 foram avaliadas em termos de coordenadas cartesianas, determinadas a partir de escalas de imagem tendo como referencial horizontal a distância de 0,685 m entre os pontos luminosos fixos L 1 e L2 e, como referencial vertical, a distância de 0,578 m entre os pontos luminosos fixos L2 e L3.
Os testes foram realizados com o voluntário movendo-se a 1,0 m/s sobre a esteira elétrica, normalmente e posteriormente com o tornozelo direito imobilizados com faixas.
Resultados
A figura 3 apresenta os resultados de dados experimentais da componente vertical da força de
contato medida durante 1 Os, utilizando o sistema de aquisição de dados esquematizado na figura 1. Cada curva representada na figura é a média de 1 O medidas, realizadas para um mesmo indivíduo, com velocidades iguais de marcha. Os ensaios foram realizados com um adulto, altura 1,78 m, massa 76 kg, sem qualquer histórico de problemas no aparelho locomotor.
Conforme a figura 3 os resulatdos comparativos da força de contato para o indivíduo sem e com imobilização não apresentou uma diferença significativa. Este fato implica a adoção da velocidade de marcha relativamente alta para este tipo de ensaio onde o indivíduo deve acompanhar a velocidade da esteira.
1000,0
800,0
Fo 600,0 rç -as( 400,0 N\ -
200,0
0,00+, ---,---,----,--~_.,
º·ººº 0,200 0,400 0,600 0,800
Tempo(s
contato
A figura 4 apresenta os resultados de cinemetria para avaliar o movimento do CG, mostrando exemplos de imagens capturadas dos pontos luminosos, LI, L2, L3 e L4, conforme disposição mostrada na figura 2. LI emite luz sincronizada com a aplicação da força na placa de força.
Figura 4. Exemplos de imagens capturadas
Após o processamento das imagens os pontos luminosos são localizados em termos de coordenadas cartesianas (X,Y) de acordo com a calibração do sistema de captura de imagens.
A análise minuciosa das curvas da figura de força de contato, figura 3, associada à figura de variação do CG, figura 4, serv1rao para avaliar os comportamentos dinâmicos do indivíduo durante a marcha, principalmente na fase de contato onde há a transmissão da força interna para a externa.
Os resultados de deslocamentos do CG em termos de máximos deslocamentos nas direções horizontal X e vertical Y encontram-se na tabela 1.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Tabela 1 Deslocamentos máximos do CG
AXmáx.(mm) Ll Ymáx.(mm) 82,6 ± 4,0 27,4± 3,9 59,1±4,0 29,4 ± 5,5
Foi detectada uma diferença no deslocamento apenas na direção X, na direção Y não foi detectado a diferença devido a prec1sao no sistema de processamento de imagem.
Discussão e Conclusões
O método de avaliação do comportamento dinâmico utilizado durante a marcha humana baseou-se no sistema de medição de forças de contato associado ao sistema de captura de imagens do deslocamento do CG do indivíduo.
O equipamento foi projetado para ser de baixo custo e de fácil manipulação, porém a precisão obtida principalmente dos deslocamentos do CG foi prejudicada com a baixa resolução de imagem utilizada. Outro fator que afeta a precisão é a qualidade da imagem adquirida que tem que ser feita em um ambiente o mais escuro possível, para que não haja pontos, não pertencentes ao ensaio.
A pequena diferença obtida na força de contato, pode ser aumentada com a diminuição da velocidade da marcha onde o indivíduo tenta um equilíbrio dinâmico. A diminuição da velocidade se faz necessária pois voluntários com problemas físicos, se deslocam a baixa velocidade.
Referências
[l] Alencar, J. F. El al, "Análise cinemática da marcha de pacientes artroplastizados versus indivíduos normais na mesma faixa etária", VII Congresso Brasileiro de Biomecânica, Campinas-SP, p. 331-336, 1996.
[2] Cavanagh, P. et ai, "An approach to Biomechanical
profiling of elite distance runners", Int. J. Sports
Biomech., v. 1, p. 36-62, 1985.
[3] Correa, S.C. et al, "Análise de variação na energia
mecânica do andar na esteira rolante e no piso fixo",
VII Congresso Brasileiro de Biomecânica, Campinas-SP, p. 234-239, 1996.
[4] Dietz, V. and Horstmann, G.A., "Afferent control of
posture", J. Stelmach, G.E., Tutorial in motor nervoscience, p 209-223, 1991.
[5] Dingwell, J. B., Davis, B. L, "A rehabilitation
treadmill with software for providing real-time gait
analysis and visual feadback", J. Biomechanical
Engineering, v. 118, p. 253-255, 1996.
[6] Elfman, H., "Forces and energy changes in the leg
during walking", American Journal of Physiology, v.
125, p.339-356, 1939.
[7] Gooda, S. and Kinoshita, G., Robot Engineering,
Crona Pub. Co., Tokyo, 1977.
[8] Kram, R., Powell, J., "A treadmill-mounted force
platfortr", J. Applied Physiology, v67, p. 1692-1698,
1989.
[9] Kugler, P.N. et al., "The development of movement
control and coordination", John Wiley, New York,
1982.
[10] Michaels, C.F. and Carello, C., "Direct
perception", Prentice-HaII, Englewood Clifts,
1981.
[11] Mochizuki, L. et al., "A avaliação de parâmetros
biomecânicos relacionados ao posturograma", VII
Congresso Brasileiro de Biomecânica., Campinas
SP, p. 93-96, 1997.
[12] Nashner, L.M. and McCollum, G., "The
organization of postural movements: a
basis and experimental synthesis",
formal
The 135-Biomechanical and Brain Science, vol. 8, p.
172, 1985.
[13] Queiroz, L.C., Martin, M.A. e Birata, T.,
"Avaliação comparativa da força de contato da
marcha humana" , VIII Congresso Brasileiro de
Biomecânica, Florianópolis-Se, p. 603-607,1999.
[14] Silveira, E.D. et al., "Plataforma de força montada
para instrumentação de esteira ergométrica para
avaliação de marcha humana", VII Congresso
Brasileiro de Biomecânica, Campinas, p. 216-221,
1997.
[15] Terashima, S. et al., "Three dimensional gait
analysis for ankle fusion", Proc. 73 th Annual
meeting JSME, Narashino, p. 548-549, 1996.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Efeitos da Imobilização e do Exercício Físico nas Propriedades Mecânicas do Músculo Gastrocnêmio de Ratas Submetidos a Ensaio de Tração
Claudia M. M. de Carvalho 1, José B. Volpon2
, Antônio C. Shimano3
1Professora do Curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Pós-Graduanda em Bioengenharia pela FMRP-USP, EESC-USP e IQSC-USP,
Av. Bandeirantes, 3900 14049-902 Ribeirão Preto-SP 2Professor Associado do Setor de Ortopedia e Traumatologia da FMRP-USP
3Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP [email protected], jbvolpon@fmrp. usp. br, [email protected]
Resumo - Foi analisada a influência da imobilização nas propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio de 28 ratas da raça Wistar. Uma Máquina Universal de Ensaio com célula de carga Kratos® acoplada foi utilizada para determinar a carga e deformação aplicadas em ensaio de tração do músculo gastrocnêmio. Os animais foram distribuídos em três grupos, a saber: 1 O animais para o grupo imobilizado e sacrificado logo após a retirada da imobilização, 9 animais para o grupo imobilizado e submetido a exercícios aeróbicos de natação, após a retirada da imobilização, e 9 animais para o grupo não submetido a exercícios após a retirada da imobilização. A imobilização foi realizada através de aplicação de atadura gessada, pen11anecendo por um período de três semanas. Os exercícios de natação foram realizados por um período de quatro semanas. Avaliadas e analisadas as curvas carga x deformação, foram obtidas a carga máxima, resiliência e rigidez. Os músculos submetidos ao exercício aeróbico apresentaram diferença significativa na carga máxima, resiliência e rigidez quando comparados aos outros grupos. Estes resultados sugerem que o exercício melhora a qualidade da recuperação do músculo após imobilização.
Palavras-chave: Músculo, Imobilização, Exercícios, Ratos, Propriedades Mecânicas.
Abstract - The influence of immobilization was analyzed as to mechanical properties of the gastrocnemius muscle of 28 Wistar female rats. A Universal-type Testing Machine with a Kratos® loading cell was used to determine the load and deformation applied in traction tests of the gastrocnemius muscle. The animais were distributed in three groups, namely: 1 O animais for the inu11obilized group which were killed after the remova! of the immobilization, 9 animais for the immobilized group, which underwent swinuning exercises, after the remova! of the immobilization, and 9 animais for the group not submitted to the exercises after the remova! of the immobilization. The inunobilization was accomplished through the application of cast, that was kept for a period of three weeks. The swimming exercises were accomplished by a period of four weeks. After the analyze and appraisal of the curves load deformation, the maximum load, resilience and stiffness were obtained. The muscles that were submitted to the aerobic exercise showed significant differences in maximum load, resilience and stiffness when compared to the other groups. These results suggest that the exercise improve the recovery quality of the muscle after immobilization.
Key-words: Muscle, Immobilization, Exercises, Rats, Mechanical Properties.
Introdução
O músculo é uma estrutura motora cuja função é baseada na propriedade de encurtar-se ou alongar-se, produzindo, assim, movimento articular.
Dentre os tecidos biológicos, é o mais plástico, sendo, portanto, mutável e respondendo a estímulos normais e patológicos, [l]. Lesões no esporte, fraturas e doenças degenerativas podem requerer cirurgia ou tratamento conservador, com subseqüente período de imobilização. Numerosos estudos mostram que os músculos esqueléticos podem alterar suas características morfológicas, bioquímicas e histoquímicas, segundo o tipo de demanda funcional ao qual eles são submetidos.
O músculo responde à remobilização mais prontamente que outras estruturas de tecido conjuntivo.
A regeneração do músculo começa dentro de 3 a 5 dias após o início de um programa de exercícios fisicos.
O ensaio mecânico de tração consiste em submeter um material a um esforço que tende a esticá-lo ou alongá-lo promovendo deformação, [2]. Durante as deformações, as forças exteriores que estão atuando no corpo produzem trabalho que é transformado em energia. O ensaio de tração permite medir satisfatoriamente a resistência do material.
A proposta deste trabalho foi determinar e analisar as principais propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio de ratas submetidas à imobilização e remobilização com exercícios aeróbicos em piscina, comparadas a um grupo não exercitado.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Metodologia
Foram utilizadas 28 ratas da raça Wistar, adultas jovem, com peso médio de 199 gramas (variação 170-250). Os animais foram distribuídos em 3 grupos experimentais: ISA-Imobilizado e Sacrificado Após a retirada da imobilização, IE-Imobilizado e Exercitado após a retirada da imobilização, e grupo INEImobilizado e Não Exercitado após a retirada da imobilização.
Para a coleta do material todos foram sacrificados por inalação de éter sulfúrico, tendo o músculo gastrocnêmio direito dissecado, mantendo-se sua origem e inserção, e , imediatamente colocado em solução de Ringer Lactato para manter o tecido hidratado até a realização do ensaio mecânico, e borrifado com a mesma solução durante o ensaio.
A imobilização com gesso foi aplicada no membro posterior direito, imobilizando quadril e joelho baseando-se no modelo proposto por Booth e Kelso [3]. Manutenção diária preventiva foi realizada com a finalidade de assegurar o mínimo movimento das articulações. As imobilizações foram mantidas por três semanas.
O grupo ISA foi sacrificado após a retirada do gesso. O grupo IE foi submetido a exercícios aeróbicos em piscina por um período de quatro semanas, [4]. Os animais do grupo INE, após a retirada da imobilização, permaneceram pelo mesmo período de quatro semanas, em suas gaiolas, com livre acesso à água e ração.
Para o ensaio de tração do músculo gastrocnêmio foi utilizada a Máquina Universal de Ensaio do Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Dois acessórios foram desenvolvidos para a fixação da peça. As deformações foram registradas por um relógio comparador com precisão de 0,0 !mm. Em todos os ensaios foi utilizada uma pré-carga de 200 gramas. O tempo de acomodação do sistema foi de 60 segundos. A velocidade estabelecida para o ensaio foi de 5mm/minuto.
Foram anotadas as cargas correspondentes a cada deformação medida até o rompimento do músculo e realizada uma inspeção visual do local de rompimento do mesmo.
Com os valores obtidos das cargas e deformações de cada ensaio, foram determinados os seguintes parâmetros: carga máxima, energia absorvida na fase elástica (Resiliência) e rigidez.
O teste utilizado na análise estatística foi o teste de Tukey. O nível de significância foi estabelecido em 5%. Para realização do teste foi utilizado o programa Sigma Stat v.2.03®
Resultados
Foram ensaiados 28 músculos, sendo que, destes, 24 foram aproveitados para análise dos resultados .. Os músculos foram excluídos por apresentarem grande variação da dispersão nas curvas obtidas no gráfico carga x deformação.
Curvas carga x deformação As curvas carga x deformação obtidas nos
ensaios para os grupos ISA, IE e INE são representadas nas figuras 1 a, 1 b e 1 c.
Figura la - Grupo imobilizado e sacrificado após a retirada da imobilização.
Grupo Imobilizado e Submetido a Exercícios (IE)
50 -+-R1
40
~ 30
"
-ii-R2
R3
~ 20 R4 ()
10 --R5
o --<0-R6
o 5 10 15 20 25 30 -:-R7
Deformação (x10"m) -RB
Figura 1 b Grupo imobilizado e submetido a exercícios após a retirada da imobilização.
Grupo Imobilizado e Não Exercitado {INE)
50 -+-Ri
40
~ 30
"
-ii-R2
R3
~ 20 R4 ()
10 --R5
o -G-R6
o 5 10 15 20 25 30 -+-R7
Deformação (x10"m) -R8
Figura 1 c - Grupo imobilizado e não exercitado após a retirada da imobilização.
Carga máxima O valor médio de carga maxuna para os
músculos ISA foi (l 9,09±2,48)N, para os músculos IE (33,67±2,46)N e para os músculos INE, (37,64±3,75)N. A carga máxima mostrou-se 43% maior para os músculos IE e 46% maior para INE em relação ao valor obtido para os músculos ISA. A comparação entre os resultados mostrou que houve diferença significativa entre eles com p<0,05.
Energia absorvida na fase elástica (Resiliência) O valor médio para a energia absorvida na fase
elástica foi (96,52±24,46).10-31 para o grupo ISA, (131,74±22,86).10-31 para o grupo IE e (203,98±30,11).10-31 para o grupo INE, ou seja, 27% e 53% maior para os grupos IE e INE respectivamente, quando relacionados ao valor obtido para o grupo ISA. A comparação entre os grupos mostrou que houve
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
diferença significativa entre ISA vs. INE e IE vs. INE com p<0,001. A comparação entre ISA e IE mostrou que não houve diferença significativa.
Rigidez O valor médio para a rigidez para os músculos ISA foi (l,68±0,17)N/m, para os músculos IE, (3,47±0,18)N/m e para os músculos INE, (3,00±0,48)N/m. A comparação entre os grupos mostrou que houve diferença significativa entre eles com p<0,05.
A rigidez mostrou-se 52% maior para o grupo IE quando comparada ao grupo ISA e 44% maior para o grupo INE quando comparada ao grupo ISA.
A tabela 1 apresenta as propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de tração.
Tabela 1. Propriedades mecânicas obtidas dos ensaios
Carga Máxima
(N)
Resiliência x10·3 (J)
Rigidez (N/m)
de tração. ISA IE
Desvio Padrão
2,48
24,46
0,17
Média
33,67
131,74
3,47
Discussão e Conclusões
Desvio Padrão
2,46
22,86
0.18
Média
37,64
203,98
3,00
Os músculos dos animais submetidos à imobilização e sacrificados logo após a retirada, macroscopicamente apresentavam atrofia e coloração esbranquiçada. Estes dados estão de acordo com dados repo1iados na literatura, [5]. Os músculos dos animais submetidos à imobilização e posteriormente aos exercícios e o grupo não exercitado, apresentavam-se com coloração rosada e volume muscular normal, porém os submetidos ao exercício de natação estavam melhor definidos.
Para avaliação dos dados utilizamos o gráfico carga x deformação, mas o ideal seria a correlação com a tensão. Entretanto, para este cálculo, necessitaríamos conhecer a área de secção transversal no local da lesão, o que foi impossível obter, pois o ensaio foi destrutivo. Com esta limitação não foi possível calcular o módulo de elasticidade, e o substituímos pela rigidez.
Analisando os parâmetros na fase plástica, obtivemos que a carga máxima foi menor para os músculos ISA em comparação aos músculos IE e INE. Estes resultados sugerem que a remobilização exerce um efeito positivo sobre o músculo, favorecendo o processo de reparação e também que o exercício melhora a qualidade da recuperação do músculo após a imobilização.
A fase elástica reflete uma etapa de defo1111ação reversível, mais próxima do funcionamento do músculo em condições normais. Nessa fase, o músculo submetido ao exercício apresentou uma rigidez maior, suportando uma carga maior com deformação proporcional. Entretanto, a energia absorvida para os
músculos exercitados foi 35% menor quando comparada ao grupo imobilizado e não exercitado após a retirada da imobilização. Considerando que o desvio padrão para os músculos exercitados foi 76% menor em relação aos músculos não exercitados, podemos inferir que o exercício aeróbico provocou uma melhora na capacidade funcional do músculo, deixando-os com comportamento mais homogêneo. Os grupos ISA e INE, mostraram maior variabilidade biológica em seu comportamento.
Referências
[l] S. J. Rose and J. M. Rthstein, "Muscle biology and physical therapy", Phys. Ther., vol. 62, pp. 1754-6, 1982.
[2] S. A. Souza, Ensaios mecânicos de materiais metálicos., 3ª ed., Edgard Blusher Ltda, São Paulo, 1970.
[3] F. W. Booth and J. R. Kelso, "Production of rat muscle atrophy by cast fixation", J Appl. Physiol., vol. 34(3), pp.404-406, 1973.
[4] R. Vieira, H. Haebisch, E. Rolubun, N. S. Hell and R. Curi, "Swimming system for physical exercise of rats", Arq. Biol. Tecnol., Curitiba, 31(3):387-394, Aug., 1988.
[5] H. J. Appell, "Muscular atrophy following immobilization. A review", Sports Medicine, vol. l O, n. l, pp. 42-58, 1990.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Estudo das Forças Atuantes na Coluna Vertebral durante o Levantamento de Carga
Adriana S.L.Santa Maria 1, Orivaldo L.Silva2, Alberto Cliquet Jr. 3
1,23 Escola de Engenharia de São Carlos, Curso de Pós-graduação Interunidades Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC,
R: Dr Carlos Botelho, 1465, CEP 13560-250, São Carlos, SP, Brasil Fone (OXX16)2739585, Fax (OXX16)2739586
aslsm@sc. usp. br, orivaldo@sc. usp. br, [email protected]. usp. br
Resumo - O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um modelo biomecânico simplificado para a avaliação das forças atuantes na coluna lombar durante atividades de levantamento impróprio de carga. Foi considerada a elevação de simétrica carga analisada segundo o plano sagital. A coluna vertebral foi modelada como um conjunto de três segmentos retilíneos rígidos articulados entre si. Utilizando o método da dinâmica inversa aplicado a um modelo de segmentos articulados simplificado foram estimadas as forças musculares médias e a força de contato articular na articulação vertebral L5-S 1 como função dos ângulos de inserção da musculatura extensora da coluna.
Palavras-chave: Biomecânica; Coluna; Levantamento de Carga; Modelo de Segmentos Articulados.
Abstract - The purpose of this study was to develop a simplified biomechanical model to evaluate the acting forces in the low back spine during load lifting tasks. It was considered the sagittal symmetric lifting. The spine was assumed as a rigid linear three segment system. Using the dynamic inverse method applied to a simplified link segment model the average muscular forces and bone-to-bone contact force in the L5-Sl vertebrae joint were evaluated as a function of back extensor muscles insertion angles.
Key-words: Biomechanics; Spine; Lifting; Linked segment model.
Introdução
A elevação de uma carga leva ao desenvolvimento da forças de contato na região lombar (L5-Sl) que podem atingir algumas vezes o valor do próprio peso do indivíduo, valor esse que depende da carga" elevada [3]. A análise dessas forças, considerando-se a coluna corno uma haste rígida, cuja extensão é feita unicamente pelo eretor espinhal, representa uma aproximação muito pobre para o sistema, uma vez que as diversas forças musculares envolvidas não são adequadamente analisadas e o movimento de retificação da coluna vertebral desprezado [ 1]. O objetivo do trabalho foi desenvolver um modelo simplificado da coluna vertebral para o cálculo do momento de força e da força durante a elevação imprópria de uma carga. Para o modelamento foram identificados os grupos musculares envolvidos, inserções musculares, eixos de rotação dos segmentos, centros de gravidade dos segmentos, forças atuantes, ângulos de inserções musculares e movimentos articulares. A coluna é representada por três segmentos retilíneos rígidos: cervical, torácico e lombar. O modelo matemático forneceu um sistema de equações que avaliam as forças que atuam na coluna vertebral durante o movimento de extensão, em função de dados anatômicos.
154
Metodologia
Para o desenvolvimento deste modelo biomecânico foram determinados os parâmetros antropométricos (centro de gravidade, origem e inserções musculares, grupos musculares, ângulos de cada inserção muscular e eixos articulares) e utilizado o método fotográfico para construção do modelo.
Centro de Gravidade
Para um indivíduo típico, em uma postura idealmente alinhada, o centro de gravidade é tido como estando ligeiramente anterior ao primeiro ou segundo segmento sacro [3]. Outros autores determinam que o centro de gravidade fica entre 55 e 57,99% da distância da sola dos pés até o topo da cabeça [12]. Na tabela 1 encontra-se o peso dos segmentos envolvidos em relação ao peso total do corpo (P) e na tabela 2 o comprimento percentual de cada segmento da coluna.
Tabela 1 - Peso segmentar em relação ao peso (P).
Cabeça 0,073 P.
Braço Superior 0,026 P.
Antebraço 0,016 P.
Tronco 0,507 P.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Tabela 2 - Porcentagem da coluna de cada segmento:
homem mulher*
cervical 19% 19%
torácica 36% 36%
lombar 23% 23%
*O sexo feminino tem em média uma coluna de56,2 cm e o masculino 60,5cm.
Forças Atuantes
Para o cálculo das forças, deve-se levar em conta que o corpo está constantemente sujeito a força da gravidade, forças musculares, forças articulares e cargas aplicadas, seja qual for a posição assumida [2]. Quando consideramos um segmento (qualquer) do corpo humano como um " todo" (corpo isolado) todas as forças internas do segmento não podem ser calculadas usando o tratamento mecânico convencional, que pennite somente o cálculo de forças externas. Isolandose três segmentos da coluna (cervical, torácica e lombar) é possível calcular as forças atuantes nos segmentos, durante a extensão da coluna.
Grupos Musculares
Grupo Flexor: situado à frente da coluna vertebral, provocando o movimento de flexão, e de fácil execução, bastando afrouxar a musculatura posterior visto que a própria gravidade tende a levar a coluna para a frente; provoca a formação de um arco único, elíptico, de convexidade posterior e, em conseqüência, o desaparecimento das curvas cervical e lombar, com acentuação dorsal.
Grupo Extensor: situado atrás da coluna vertebral, provocando o movimento de extensão; a coluna formará uma haste com duas extremidades recurvadas: cervical e lombar, reduzindo a curvatura dorsal; a grande massa lombar é que irá fornecer força para o levantamento de grandes cargas, sendo uma musculatura que está sempre em semicontração, devido à tendência de queda para frente do tronco; esta queda para frente também devida à posição oblíqua para baixo dos côndilos. A extensão não é dada pelo achatamento das curvaturas e sim pela separação dos corpos vertebrais.
Grupo Rotador: é o que fornece o movimento de pivotamento, sendo que na prática é impossível um pivotamento puro sem associação com uma inclinação; é mais acentuado ao nível da cabeça e do pescoço do que na região dorsal, sendo praticamente nulo na região lombar.
Grupo Inclinador: é aquele que faz a inclinação da coluna formando um arco único de concavidade dirigida para fora, sendo que a região dorsal é rígida apresentando dupla angulação nas junções cervical e lombar [2].
155
Origens e Inserções Musculares
Semi-espinhal torácico: origina-se nos processos transversos das 5 ou 6 vértebras torácicas inferiores. Insere-se nos processos espinhosos das 4-8 vértebras torácicas superiores (variável) e 2 vértebras cervicais inferiores.
Iliocostal-lombar: ongma-se a paitir da superfície de um tendão largo fixado na crista média do sacro, processos espinhosos das vértebras lombares e 11 e 12 torácicas, parte posterior do lábio medial da crista ilíaca, ligamento supra espinhoso e cristas laterais do sacro. Insere-se por tendões nas bordas inferiores dos ângulos das 6 ou 7 costelas inferiores.
Iliocostal-torácico: origina-se por tendões a partir das bordas superiores dos ângulos das 6 costelas inferiores. Insere-se nas bordas craniais dos ângulos das 6 costelas superiores e dorso do processo transverso da 7 vértebra cervical.
Longuíssimo torácico: ongma-se na regiao lombar ele está fundido com o iliocostal lombar, superfícies posteriores dos processos transverso e acessórios das vértebras lombares e camada anterior da fáscia toracolombar. Insere-se por tendões nas extremidades dos processos transversos de todas as vértebras torácicas, e por digitações musculares nas 9 ou 1 O vértebras inferiores.
Espinhal torácico: origina-se por tendões a partir dos processos espinhosos das 2 primeiras vértebras torácicas. Insere-se nos processos espinhosos das 4-8 vértebras torácicas superiores (variável).
Multifídus: originam-se na reg1ao sacro: superfície posterior do sacro, superfície medial da espinha ilíaca, póstero-superior, e ligamentos sacroilíacos posteriores, regiao lombar, torácica, cervical---processos transversos de L5 até C4. Insere-se nos processos espinhosos de todas vértebras, com exceção do Atlas [ 15].
Articulações
As articulações vertebrais incluem as articulações sinoviais bilaterais dos arcos vertebrais, onde as facetas inferiores de uma vértebra articulam-se com as facetas superiores da vértebra adjacente, e as articulações fibrosas entre corpos ve1tebrais sucessivos unidos pelos discos intervertebrais cartilaginosos. O movimento entre duas vértebras adjacentes é leve, e é determinado pela declividade das facetas articulares e a flexibilidade dos discos intervertebrais. A amplitude de movimentação da coluna como um todo, entretanto, é considerável e os movimentos permitidos são de flexão, extensão, flexão lateral e rotacão. No caso de elevacão de uma carga pela extensão da coluna, os segmeu'tos cervical, torácico e lombar mudam suas orientações relativas (ângulos) na medida em que ocolTe o passeio angular da coluna. Ainda, o segmento torácico é responsável pelo processo de retificação da posição da coluna como um todo, enquanto na região lombar, o movimento relativo do segmento L3-L5 responde pela flexão - extensão em si.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
No presente estudo, a coluna é abordada como composta de 3 segmentos distintos, cuja articulação entre si faz resultar no movimento de flexão - extensão da coluna. Assim, o movimento na articulação L5-Sl responde pela inclinação do tronco, enquanto o movimento do segmento torácico responde pela orientação da porção superior do tronco e cabeça. Embora as vértebras torácicas possam exibir um movimento angular relativo de amplitude considerável, o segmento torácico é aqui representado pela linha reta que une, para cada instante do movimento de flexão -extensão da coluna, os pontos articulares C7-Tl e Tl2-Ll. O trabalho apresenta a metodologia para a determinação das forças atuantes em qualquer posição do movimento. Para fins ilustrativos, considera-se a situação em que o segmento lombar encontra-se a 40 graus de inclinação em relação a linha horizontal. As orientações dos fusos musculares são indicadas por ângulos a, onde a representa, para cada grupo muscular, a inclinação média dos fusos musculares em relação ao segmento da coluna vertebral.
Método de imagens
A partir da aquisição de imagens de um indivíduo realizando elevação imprópria de carga, a partir de marcadores identificando os pontos de referência anatômicos, foi construído o modelo de seguimentos aiticulares e, com a inclusão dos dados antropomêtricos, a construção do modelo biomecânico
O cálculo das forças atuantes é feito com a aplicação do conceito de equilíbrio estático (rotacional e translacional) para o tronco em relação ao eixo sagital que passa pelo plano transversal à linha articular L5-Sl. Para fins de cálculo, considera-se o instante em que o indivíduo encontra-se elevando a carga, com uma inclinação do segmento lombar da coluna de 40 graus em relação à horizontal (fig.l ).
/'
Figura 1 Levantamento à 40°
P- peso do indivíduo Pc-peso da cabeça (0,07P) Pb-peso do braço(0,08P) P1-peso do tronco(0,51 P) W-carga (0,20P) F1-força longuíssimo T.
Friliocostal/multifidus R-força de reação Sl/L5 a.1-ângulo médio de inserção do longuíssimo T. arângulo médio de inserção do iliocostal/multifidus
Considerando-se as dimensões, sendo L o comprimento total da coluna vertebral, os comprimentos aproximados de cada segmento são: segmento cervical - 0,28 L , torácico - 0,46 L, lombar - 0,26 L.
Impondo a condição de translação e rotação de equilíbrio estático vem que no equilíbrio translacional o Somatório das Forças deve ser igual a zero:
Desmembrando as forças nas componentes segundo os eixos x e y, temos:
(2) Ry = 0,86 P F1 sen (a1 - 12°) F2 seu (a2 - 12°)
No equilíbrio rotacional o Somatório dos torques deve ser igual a zero:
As distâncias entre a linha de ação das forças e o centro de rotação são referidos em termos do comprimento da coluna L, medido segundo a direção do segmento lombar da coluna.
Tabela 3 - Distâncias entre linhas de ação de forças e centro de rotação em relação a coluna (L).
F1 0,39 L Fz 0,46 L Pi 0,75 L pb 0,98 L w 0,98 L Pc 1,34 L
A equação de equilíbrio rotacional fica: (3) 0,39 F1 sen (a1 + 28°) + 0,46 F2 sen (a2 + 28°) = =0,58 P.
A equação acima estabelece uma relação entre Fi, F2 e P. Uma vez determinados os ângulos a 1 e a 2, é possível resolver o sistema de equação constituído pelas equações 1, 2 e 3, e assim estabelecer os valores das forças musculares F1 e F2 e da força de contato R.
Resultados
Foi desenvolvida uma metodologia para a detem1inação das forças atuantes na coluna vertebral em qualquer posição do movimento, limitada pela determinação dos ângulos de inserção dos músculos envolvidos e da linha média dos segmentos torácicos e lombar.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
O cálculo das forças atuantes foi feito com a aplicação do conceito de equilíbrio estático (rotacional e translacional) do tronco em relação ao eixo sagital que passa pelo plano transversal à linha articular L5 - S 1. Desmembrando as forças nas componentes segundo os eixos x e y temos:
(l)R,=F 1 cos(a.1 12º)+F2 cos(a2 12º) (2) Ry= 0,86P- F1 sen (a 1 - 12º) F2 sen (a 2 - 12º)
As equações acima permitem o cálculo das componentes da força de contato R. Uma vez determinados os ângulos a.1 e a.2 e calculadas as forças F1 e F2.
(3) 0,39 F1 sen (a.1 + 28º) + 0,46 F2 sen (a 2 + 28º)= =0,58 p
A equação acima estabelece uma relação entre F1, F2 e P. Uma vez determinados os ângulos a.1 e a.2 é possível resolver o sistema de equação constituído pelas equações 1, 2 e 3 , e assim estabelecer os valores, das forças musculares F1 e F2 e da força de contato R. Tendo com isso um cálculo mais preciso das forças que realmente atuam em cada segmento da coluna vertebral.
Discussão e Conclusões
As doenças relacionadas às tarefas que envolvem elevação de cargas e a determinação dos valores de forças musculares e articulares associadas a estas tarefas apresentam grande interesse devido ao custo social que representam, seja pela reabilitação dos doentes, seja pela perda de força de trabalho. Nos Estados Unidos, incapacitam cerca de 5,4 milhões de americanos, com um custo de pelo menos$ 16 bilhões/ano [14].
Através da análise biomecânica é possível a correlação entre a carga elevada e as forças internas desenvolvidas.
Farfan, e Carlsoo [1,6], consideram que o segmento cervical e torácico contribuem muito pouco para a flexão na coluna, o modelo presente trás a coluna dividida em três segmentos (cervical, torácica, lombar e duas forças musculares). Isolando os três segmentos da coluna é possível um melhor delineamento das forças musculares.
Outros estudos estão sendo realizados com o intuito de aprofundar ainda mais as técnicas e obter um cálculo mais preciso das forças que realmente atuam em cada segmento da coluna vertebral, evitando traumas, problemas posturais e outros na coluna vertebral.
Agradecimentos
À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
157
Referências
[ 1] S.Carlsõõ, "The static muscle load in different work positions: an electromyographic study", Ergonomics, v.4, p.193, 1961.
[2] D.B.Chaffin, "Biomechanical modelling of the low back during load lifting'', Ergonomics, v.31, n. 5, p. 685 - 697' 1988.
[3] M.L.A. Daniels and C.Worthingham, "Provas de função muscular", Jnteramericana, 1981.
[ 4] M.L.A. Daniels and C. W orthingham, "Exercícios terapêuticos para alinhamento e função corporal", Mano/e, 1983.
[5] P.R. Davis, et ai., "Movements of the thoracic and lumbar spine when lifting a chronocyclophotografic study'', J. Anatomy, v. 99, p. 13-26.
[6] H.F. Farfan, "Muscular mechanism of the lumbar spine and the position of power and efficiency", Orthop. Clin. North Am, v.6, p. 1 1975.
[7] W.F. Floyd and P.H.S. Silver, 'The function of the erectores spinae muscles in certain movements and postures in man'', J.Physiol., v.129, p. 184, 1955.
[8] V.H. Frankel, et ai., "Basic biomechanics of the skeletal system", Philadelphia, 1980.
[9] J.G. Hay, "Biomecânica das técnicas desportivas. University of Iowa", Jnteramericana, 1981.
[10] L.D. Kehmkchl and L.K. Smith. "Cinesiologia clinica de Brunnstrom'', Mano/e, 1987.
[11] H. Meyer, "Das aufrechte stehen. Arch. F. Anat.", Phys. V Wissensch. Med.Jarhrg, v.9, p.45, 1853.
[12] S. Pvagenhoef, and F. G. E. Thomas, "Anatomical data for analyzing human motion", Research Quarterly for exercise and spon, v. 54, n.2, p.169-178, 1983.
[13] M.S. Sullivan, "Back support mechanisms during manual lifting", Physical Therapy, v. 69, n. 1, p. 38 - 45, 1989.v.
[14] WWW.eps.ufsc.br/disserta96/merino/capl/ [15] F.P. Kendall and E.K. "Músculos,
provas 71-144, 1986.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Projeto e Adaptação de uma Máquina de Ensaio de Impacto para Ossos Longos de Animais de Pequeno e Médio Porte
Ricardo M. Santos 1, José B. P. Paulin2
, Antônio C. Shimano3
1Mestre em Bioengenharia pela FMRP-USP, EESC-USP e IQSC-USP Av. Bandeirantes, 3900- 14049-902- Ribeirão Preto-SP
e-mail: [email protected] 2Coordenador do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail: [email protected] 3Engenheiro Mecânico do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP
e-mail: ashimano@fmrp. usp. br
Resumo - As fraturas dos ossos longos são geralmente provocadas por esforços dinâmicos de impacto. O esclarecimento do comportamento de ossos submetidos a testes controlados de impacto pode representar um aprofundamento no conhecimento geral sobre as questões que envolvem o acontecimento das fraturas. Os testes de impacto são, de modo geral, realizados por meio de uma máquina especificamente desenvolvida, provida de um martelo pendular que incide sobre corpos de prova do material testado. Porém, as máquinas de impacto disponíveis no mercado são projetadas para ensaiar materiais com dimensões definidas de acordo com a norma relativa ao tipo de material, que não são adaptadas para materiais biológicos. Os materiais biológicos são em geral anisotrópicos, o que impede a confecção de corpos de prova com formas e dimensões rigorosamente padronizadas. Foi o objetivo deste trabalho, projetar, construir e testar, comparativamente a outra máquina comercialmente disponível, uma máquina de ensaio de impacto especificamente destinada a materiais biológicos, com possibilidade de variação dos vãos entre os apoios dos corpos de prova, o que flexibiliza o ensaio de acordo com as características de cada material.
Palavras-chave: máquina de impacto, ossos longos, ensaio de impacto, ensaio dinâmico.
Abstract - Fractures of long bones are generally produced by dynamic impact loads (shock). Understanding the behaviour of bones submitted to controlled impact tests may contribute to deepen the general knowledge on the phenomena involving the event of fractures. The impact tests are usually carried out with a machine specially designed, provided with a pendulum hammer which strikes on specimens of the tested material. However, the commercially available impact testing machines have been designed for isotropic materiais, whose test pieces are of definite shape and dimensions, according to standards specific for each material, that are not adapted for biologic materiais. The biologic materiais are in general anisotropic by nature, what prevents the construction of test pieces with rigorously standardised shape and dimensions. It was the objective ofthe present work to design, build and test an impact testing machine specifically for bone, comparing it to another commercially available machine. The machine developed counts with the possibility of varying the distance between the test piece supports, which allows for carrying out tests according to the physical characteristics of any test piece.
Key-words: impact machine, long bones, impact test, dynamic assay.
Introdução
O comportamento de um material pode ser avaliado através de suas propriedades mecânicas, por meio de ensaios com a aplicação de cargas estáticas. O conhecimento de tais propriedades auxilia os profissionais dedicados à reabilitação óssea a entender o comportamento dos ossos no organismo de acordo com sua arquitetura e função e, também, se outros materiais podem ser utilizados para substituir os ossos ou parte deles, como no caso dos implantes.
A resistência mecânica dos materiais depende da forma como a carga é aplicada e da deformação resultante ocorrida. Muitos podem resistir a grandes carregamentos se as cargas forem aplicadas durante um longo período de tempo (ensaios estáticos). Se uma
158
carga é aplicada repentinamente (ensaios dinâmicos), o material pode falhar e parecer ter menor resistência [ 1]. Dos ensaios dinâmicos que podem ser realizados, o de impacto é o que mais se aproxima da simulação das fraturas de ossos ocasionadas por acidentes, sendo um dos primeiros ensaios empregados no estudo de fratura frágil de materiais em geral.
Devido ao fato das propriedades dos materiais dependerem da taxa de defonnação, ensaios têm sido propostos e normatizados para detenninar a energia requerida para romper uma amostra de um material, quando submetida a carregamento repentino. Estes ensaios são chamados de "ensaios de impacto".
Existem vários modelos teóricos que tentam descrever o comportamento do material quando submetido a uma carga de impacto, porém, métodos
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
experimentais ainda são necessários para se obter estas propriedades com mais exatidão. O método experimental mais fácil de ser empregado é a produção de ondas de tensão em um sólido pela colisão de uma massa, onde geralmente é utilizado um martelo de impacto.
Com o objetivo de quantificar a energia absorvida por materiais biológicos (ossos longos de animais de pequeno e médio porte), devido a um carregamento de impacto, foi desenvolvido o projeto e confeccionada uma Máquina de Ensaio de Impacto (MEI - 50), que permite o ajuste da distância entre os apoios às dimensões das peças a serem ensaiadas.
Aspectos teóricos do ensaio de impacto Quando a velocidade de um corpo em
movimento é modificada, uma transferência de energia deve ocorrer. O trabalho é realizado nas partes que recebem o impacto. A mecânica do impacto envolve não somente a questão da tensão induzida, mas também considerações de transferência, absorção e dissipação de energia.
No projeto de estruturas e máquinas, um esforço deve ser feito para prover absorção do quanto for possível de energia através da ação elástica e, secundariamente, alguma forma de amortecimento para dissipá-la. Durante anos, o desenvolvimento de um ensaio de impacto para avaliar as relações de tensão e deformação de um material era feito em peças não entalhadas, dificultando a análise da região fraturada. Posteriormente, com o advento da padronização dos ensaios de impacto com cargas de flexão, foram adotados os corpos de prova tipo Chmpy e Jzod, que possuem um entalhe como forma de precipitar a fratura naquela região.
Nos ensaios com corpos de prova entalhados, o estado de tensão em tomo do entalhe é triaxial e por isso suficiente para provocar uma ruptura de caráter frágil [l], o que não ocorreria se fosse distribuído uniformemente ao longo do corpo de prova. Os componentes das tensões existentes podem variar conforme o metal usado no ensaio ou conforme a estrutura interna que este apresenta. Deste modo, o ensaio de impacto em corpos de prova entalhados tem limitada significação e interpretação, sendo úteis apenas para fim de comparação dos materiais ensaiados nas mesmas condições pois provêm valores proporcionais de resistências devido ao entalhe, não fornecendo um valor acurado de resistência ao impacto [2].
A resistência ao impacto, obtida em corpos de prova entalhados, é influenciada por uma série de fatores: a máquina de teste irá influenciar os resultados visto que a energia absorvida pode variar de máquina para máquina; a velocidade de impacto irá modificar naturalmente os resultados do ensaio; a forma e o tamanho do entalhe irão influenciar a resistência ao impacto, pois uma diminuição desta resistência ocorre com o aumento do tamanho do entalhe [3].
Segundo a normatização existente, os itens a serem avaliados no ensaio de impacto são: fundação para fixação da máquina, apoios e suportes do corpo de
prova, forma e entalhe do corpo de prova, massa pendular e velocidade de impacto da massa pendular.
Os principais requisitos de uma máquina de ensaio de impacto devem ser:
Uma massa pendular que deve fornecer energia cinética suficiente para causar ruptura do corpo de prova colocado no caminho;
Um apoio lateral e um suporte no qual o corpo de prova é colocado;
• Recurso para medir a energia residual da massa móvel após a ruptura do corpo de prova.
A energia cinética é determinada pela massa do pêndulo e altura de queda a partir do centro de massa do pêndulo. O pêndulo deve ser fixado ao eixo de rotação de forma tal que reduza o desvio lateral e a fricção na oscilação quando da queda em direção ao corpo de prova. O mecanismo de queda deve ser construído para reduzir qualquer desaceleração ou aceleração do movimento e também efeitos vibratórios.
O suporte deve ser pesado o suficiente em relação à energia de golpe, para que a energia de impacto não seja perdida devido a qualquer tipo de deformação ou de vibração das partes da máquina [l].
Metodologia
A confecção da máquina foi baseada na Norma Européia EN 10.045 -Partes 1 e 2 [4].
Montagem da máquina de impacto Para a confecção da máquina foram utilizados
os materiais listados na tabela 1. As cantoneiras, chapas e barras são de aço 1020.
- rn
' i'
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabela 1 - Relação dos materiais utilizados na construção da máquina de impacto.
Quantidade Utili Especificação
01 Base 600 x 350 [mm]
02 Apoios laterais 4"x 4"x Vi"
02 / 02 Estruturas / 1000 X 1000
suportes laterais [mm]
04 Martelo / Disco 0300 [mm]
01 Eixo 210 [mm]
32 Fixação das
V:!" X 1 114" cantoneiras
12 Fixação dos 114" X V:!"
apoios
02 Eixo de rotação 17 X 35 X 10
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
A chapa de aço N.º 1, foi utilizada como base de sustentação das peças componentes da estrutura da máquina (Figura 1-A). Nela foram parafusadas as cantoneiras N.º 2, para dar sustentação ao conjunto (Figura 1-B) . As estruturas laterais (Figura 1-C), obtidas da chapa N.º 3, foram cortadas utilizando-se de um pantógrafo e parafusadas junto às cantoneiras na posição vertical; em sua parte superior foram feitos furos para o acoplamento dos rolamentos, N.º 8, e do eixo de rotação, N.º 5. Desta mesma chapa foram confeccionados os suportes laterais (Figura 1-D), sendo soldados às cantoneiras e parafusados às estruturas laterais com a finalidade de evitar a movimentação horizontal das estruturas e para o aumento da estabilidade do conjunto. As dimensões do disco do martelo (Figura 1-E), obtido da chapa N.º 4, foram determinadas através do cálculo da posição do centro de massa desta peça, para que este se localizasse o mais próximo possível do elemento a ser ensaiado (o corpo de prova) e também das estruturas laterais. Na confecção do martelo foi utilizada a barra de aço circular N.º 5 como haste desta estrutura, cortada no comprimento de 202 mm, roscando o disco à bana em uma das extremidades e, na outra, um acoplamento, de dimensões especificadas no mesmo desenho, fazendo a ligação da haste do martelo com o eixo de rotação sustentado pelos rolamentos (Figura 1 ).
Figura 1- Detalhamento construtivo da máquina de impacto para ensaios de ossos longos, com o martelo em posição de descanso. A - base de sustentação de toda a estrutura. B - cantoneiras. C - estruturas laterais. D -suportes laterais. E - disco do martelo .
Os suportes e apoios dos corpos de prova foram fresados e plainados nas dimensões especificadas no projeto e fixados à estrutura lateral utilizando os parafusos N.º 7. Para o apoio do corpo de prova tomouse o cuidado de verificar o ângulo entre a apoio vertical e o suporte (Figura 2) da peça que deve ser 90° ± 2° (EN 10.045 - 1). De acordo com a mesma norma, o chanfro posterior dos apoios deveria obedecer a um ângulo de
11 º ± 1 º, porém, o ângulo de 45 ° foi adotado na confecção. Este procedimento foi tomado com o intuito de evitar que o corpo de prova (osso) ficasse preso, entre o martelo e os apoios, durante a realização do ensaio, considerando que suas dimensões não são padronizadas como as especificadas para os ensaios de matenais não biológicos e, conseqüentemente, influenciar diretamente nos resultados dos ensaios.
Figura 2 - Detalhamento dos apoios (A) e suportes (B) do corpo de prova.
Confecção da escala graduada A confecção da escala do goniômetro foi
executada com base em ensaio preliminar realizado em uma máquina de ensaio de impacto HECKERT - PSd 50115, operando por sistema digital, do Departamento de Engenharia de Materiais, Aeronáutica e Automobilística da Escola de Engenharia de São Carlos - USP, onde foram quantificadas as energias absorvidas por 11 pares de fêmures íntegros de coelhos, sem tecidos moles, cujo valor médio obtido foi de (3,3 ± 0,6) J para os fêmures direitos e, de (2,9 ± 0,8) J, para os fêmures esquerdos Desta forma, estes resultados conduziram a determinação das dimensões do martelo para um fundo de escala de 50 J. Este valor fundo de escala possibilita a execução de ensaios em ossos de vários tipos de animais de pequeno e médio porte.
Ver~ficação do alinhamento das peças da máquina Segundo a Norma Européia EN 10.045 2 [5],
algumas partes da máquina de impacto devem ser construídas com um índice fixado de tolerância para não afetar os valores das medidas nos ensaios.
Energia absorvida Na detenninação da energia absorvida pela
quebra do corpo de prova, a peça ensaiada deve ser retirada de um lote cuja energia de impacto de referência seja conhecida.
No ensaio tipo Chmpy é utilizada uma máquina tipo pêndulo (Figura 3). O disco pendular P, de peso W,
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
é liberado e cai de uma altura h, empurrando o indicador N ao redor de uma escala E até o pêndulo atingir a altura h". Ao ser liberado o pêndulo percorre uma trajetória de um arco de círculo, colide com o corpo de prova e provoca a fratura. Após a fratura do corpo de prova, o pêndulo alcança uma altura máxima h". O indicador N não retorna a posição inicial como o pêndulo, permanecendo no ponto mais alto da altura de queda h". A energia para fraturar o corpo de prova, também chamada de resistência ao impacto, normalmente expressa em Joules, é aproximadamente igual a:
UT = w, - w " 1 lz (1)
Onde: h altura de queda vertical do centro de gravidade do pêndulo de peso W h" - altura de ascensão ve1tical do centro de gravidade do pêndulo de peso W
Figura 3 - Máquina de impacto tipo Cha1py [3].
Segundo a Norma Européia EN 10.045 - 2, deve-se considerar a energia total absorvida quando a peça é fraturada como sendo:
• A energia requerida para quebrar a peça ensaiada;
• A perda de energia interna da máquina de impacto durante a primeira metade do percurso de oscilação a partir da posição inicial.
As perdas de energia são devido a:
• Resistência do ar, atrito do rolamento e atrito devido à resistência ao arrasto do ponteiro. Estas perdas podem ser determinadas pelo método direto;
• Vibração da fundação, da estrutura da máquina e do pêndulo, para as quais nenhum método de determinação foi desenvolvido.
Para a avaliação da energia absorvida pelo corpo de prova, as seguintes energias não são levadas em consideração:
• A energia absorvida pelo trabalho de defon11ação dos apoios verticais e o centro do percussor;
• A energia absorvida pela fricção da peça ensaiada com os suportes, principalmente os apoios verticais.
Ensaios para a aferição da máquina de ensaio de impacto Teste para cmpos de prova padreio
Para a calibração da máquina de ensaio de impacto (MEI - 50) foram confeccionados, na Oficina Mecânica de Precisão da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto, 128 corpos de prova Cha1py - tipo C, extraídos de duas barras comerciais, uma de alumínio e outra de latão, e divididos em 2 grupos, sendo 64 peças em alumínio (Liga 6261) e as outras 64 em latão (Liga 360). Em seguida, cada grupo foi subdividido em 8 lotes de 8 peças.
Em uma máquina de ensaio de impacto HECKERT - PSd 300/150, com sistema de operação digital de leitura das energias absorvidas, do Departamento de Engenharia de Materiais, Aeronáutica e Automobilística da EESC - USP, foi ensaiado, de acordo com o padrão DIN, para corpos de prova Cha1py - tipo c e distância entre os apoios de 40 mm, o primeiro lote com 8 peças de alumínio e 8 de latão. Com a mesma quantidade de peças e obedecendo o mesmo padrão, o segundo lote foi ensaiado, numa máquina de ensaio de impacto HECKERT 50, a qual opera por sistema analógico . Os demais lotes foram ensaiados na MEI - 50, no Laboratório de Bioengenharia da FMRP -USP, cujos resultados foram comparados aos dos dois primeiros lotes.
Teste para material biológico Como teste de verificação da funcionabilidade
da MEI 50 para materiais biológicos, após a calibração através dos ensaios em corpos de prova metálicos, para materiais biológicos, foram ensaiadas tíbias inteiras de 1 O coelhos albinos, machos, da raça Nova Zelândia, com peso corporal em torno de 2,5 kg. Após o abate, as tíbias foram dissecadas, removidas as partes moles e levadas ao fi'eezer à temperatura de -20 ºC. No dia anterior ao ensaio, foram retiradas e levadas ao refrigerador, envolvidas em gaze embebida em solução fisiológica para se estabelecer o equilíbrio térmico.
Separadas aos pares, foram medidos seus comprimentos e as dimensões da secção diafisária média no sentido látero-medial póstero-anterior. Levadas à máquina de impacto, foram posicionadas sobre os apoios, mantidos a distância de 40 mm de acordo com os padrões anteriores, e ensaiadas com a aplicação da carga no sentido ântero-posterior.
Resultados
Energia absorvida nos ensaios Ensaiado na máquina de impacto HECKERT -
PSd 3001150 o primeiro lote de 16 peças, constituído por 8 em alumínio e 8 em latão, a energia absorvida média verificada foi de (19 ,25 ± O, 77) Joules para os corpos de prova em alumínio e, para os corpos de prova em latão, de (18,41 ± 0,65) Joules. O segundo lote contendo também 8 peças em alumínio e 8 em latão foi ensaiado na máquina HECKERT - 50, cujos valores obtidos determinaram uma energia absorvida média de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
(19 ,46 ± 0,63) Joules para os corpos de prova em alumínio e de ( 16,88 ± 0,82) Joules para o latão. Estes resultados foram tomados como referenciais e comparados com os resultados obtidos nos ensaios realizados na MEI - 50 com os lotes de 1 a 6 em alumínio e também de 1 a 6 em latão.
Material biológico As dimensões médias (DM - diâmetro maior e
D111 - diâmetro menor) das tíbias e os respectivos valores das energias médias absorvidas (Ed - tíbia direita e Ee tíbia esquerda), medidas nos ensaios para verificação do funcionamento da MEI - 50, com aplicação de carga no sentido póstero-anterior foram, para as tíbias direitas de (0,98 ± 0,54) Joules e de (1,07 ± 0,61) Joules para as tíbias esquerdas, cujos resultados são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 - Valores das energias absorvidas pelas tíbias, direitas e esquerdas, no ensaio de impacto, na máquina
de ensaio de impacto (MEI - 50).
Tíbias E<l DM Dm Ee DM Dm (J) (mm) (mm) (J) (mm) (mm)
1 0,4 8,6 5,6 1,4 8,1 5,5 2 1,7 7,2 5,4 0,5 7,9 5,4 3 1,6 8,5 6,3 1,1 8,6 6,1 4 0,9 7,7 5,4 1,4 7,4 5,4 5 0,6 8,6 5,6 L9 8,8 5,5 6 1,2 7,7 5,3 0,4 7,8 5.2 7 0,5 8,0 5,6 1,3 8,1 5,6 8 0,6 8,3 5,7 0,4 8,0 5,4 9 0,5 8,4 5,9 0,4 8,2 5,7 10 1,8 7,6 5,8 1,9 7,6 5,8
Média 0,98 8,06 5,66 1,07 8,05 5,56 D.P. 0,54 0,49 0,29 0,61 0,42 0,25
D. P.---? Desvio Padrão
Discussão
Na calibração da máquina de ensaio de impacto (MEI - 50), através dos ensaios com corpos de prova padrão, foi obtida uma boa precisão para o latão, apresentando um desvio percentual de 2,2 % da MEI -50 comparada à máquina de impacto HECKERT - PSd 300/150. O alumínio apresentou um desvio percentual de 3, 1 % em relação a mesma máquina. Estes desvios entretanto não comprometem a calibração, pois estão dentro dos limites permitidos de variação das energias absorvidas pelos corpos de prova no ensaio de impacto. Com relação às máquinas MEI - 50 e HECKERT - 50, uma precisão também considerada como boa foi verificada, tendo o alumínio apresentado um desvio percentual de 2,0 % e de 6,6 % para o latão, considerando que o limite de desvio percentual permitido é de 10 %, segundo NASSOUR (1998) 1
•
1 NASSOUR, A. C. (1998). (USP. Escola de Engenharia de São Carlos. Departamento de Engenharia de Materiais. Aeronáutica e Automobilística). Comunicaçcio pessoal.
162
Nos ensaios realizados em material biológico, verificou-se o valor médio de energia absorvida de 0,98 Joules com desvio padrão de 0,54 Joules para as tíbias direitas e, para as tíbias esquerdas, 1,07 Joules o valor médio de energia absorvida com desvio padrão de 0,61 Joules. Estas variações devem-se, provavelmente, às diferenças constatadas nas propriedades geométricas, mecânicas e composição microestrutural dos ossos, ou seja, porque o osso é um material anisotrópico.
Apesar da dispersão verificada, o estudo das propriedades mecânicas de impacto dos ossos longos ajudará esclarecer tal comportamento, dando ênfase à necessidade de se eliminar suas variáveis geométricas (irregularidades) e estudar os componentes microestruturais (minerais, fibras de colágeno, porosidade e quantidade de água) para se determinar a relação de cada um com as propriedades dinâmicas de impacto. Porém, através deste estudo foi possível verificar a facilidade de execução dos ensaios em materiais biológicos com a adaptação da distância entre os apoios de acordo com o osso a ser ensaiado, constituindo esta a diferença básica e importante com relação às máquinas de ensaio comerciais que utilizam distâncias padronizadas entre os apoios, dificultando a adaptação à estrutura biológica. Esta alteração da distância entre os apoios possibilita o estudo de diferentes tipos de ossos.
O estudo da resistência mecânica do tecido ósseo à cargas dinâmicas tem fundamental importância no entendimento do mecanismo de fratura femoral, principalmente junto ao quadril. O desenvolvimento do projeto e confecção da máquina de ensaio de impacto possibilitará ao Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP apoiar futuros trabalhos na área de ensaios dinâmicos.
Conclusões
Os testes de verificação do funcionamento e calibração da máquina de ensaio de impacto apresentaram resultados muito satisfatórios, comprovando a validade dos objetivos, justificando a proposta de variação das distâncias entre os apoios e dos métodos construtivos empregados. No entanto, foi significativa a dispersão observada no ensaio com material biológico, o que revela a necessidade de se ter cautela no uso do ensaio de impacto para caracterizar a resistência mecânica dos materiais biológicos quando submetidos a cargas dinâmicas.
Referência
[l] L. Horath, Fundamentais of materiais science for technologists - Properties, testing, and laborat01y exercises, Prentice Hall, New Jersey, pp. 355-360, 1995.
[2] A. S. Souza, Ensaios mecânicos de materiais metálicos, 3. ed. São Paulo, Edgard Blücher, pp.99-109, 1974.
[3] J. Marin, Mechanical Behavior of Engineering Materiais, Prentice-Hall, New Jersey, pp. 237-271, 1962.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
[4] European Standard, EN 10 045-1 - "Charpy impact tests on metallic materials - Paii 1: Test method", Bruxelas, 1992.
[5] European Standard, EN 10 045-2 - "Charpy impact tests - Paii 2: Verification of the testing machine (pendulum impact)'', Bruxelas, 1992.
163
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Particle Image Velocimeter Measurements in the Flow Upstream and Downstream of a Mechanical Artificial Heart Valve
Marcos Pinotti 1, Paulo Sérgio Silva Rodrigues 2, Arnaldo Araújo de Albuquerque 2, Paolo
Castellini 3, Nicola Paone 3
, Enrico P. Tomasini 3, Domingo M. Braile 4
1Depariamento de Engenharia Mecânica - UFMG 31270-901 Belo Horizonte - MG - Brazil
Fone: (0++31)4995242; Fax: (O++ 31 )4433783 2Departamento de Ciências da Computação - UFMG- Belo Horizonte MG - Brazil
3Dipartimento di Meccanica Università Degli Studi di Ancona Ancona - Italy 4Departamento de Cirurgia, F AMERP - São José do Rio Preto SP - Brazil
pinotti@demec. ufmg. br; pssr@dcc. ufmg. br
Resumo - No presente estudo, a técnica de Velocimetria por Imagem de Partícula (PIV) foi empregada para visualizar padrões de escoamento em um modelo pré-comercial de válvula mecânica de duplo folheto em fluxo contínuo. A técnica PIV e a utilização de uma bancada de testes adequada permitiram boas condições para investigar o escoametno global a montante e a jusante da válvula.
Palavras-chave: Velocimetria por Imagem de Partícula, válvula cardíaca artificial, visualização de escoamento
Abstract - ln the present study, Particle lmage Velocimetry (PIV) technique was employed to visualize the flow patterns in a pre-commercial model of bileaflet mechanical heart valve prosthesis in steady state flow. PIV technique and the use of a convenient test rig have provided good conditions to investigate the whole view of the flow upstream and downstream the valve.
Key-words: Particle lmage Velocimeter, artificial heart valves, flow visualization.
Introduction
Red blood cell damage (hemolysis) and thromboembolism are the main complications associated to the implantation of mechanical artificial heart valves [l]. In the last decades, a great number of in vitro studies have been conducted to improve the valve design and to understand the transvalvular flow patterns under steady state and pulsatile conditions [2],[3]. Steady state tests are useful to study the flow established upstream and downstream the valve prosthesis in the moment of the peak flow rate. ln the present study, Particle lmage Velocimetry (PIV) technique was employed to visualize the flow patterns in a pre-conunercial model of bileaflet mechanical heari valve prosthesis in steady state flow. PIV technique and a convenient test rig have provided good conditions to investigate the whole view of the flow upstream and downstream the valve.
Methodology
Steady flow measurements were conducted at 3 L/min and 7 L/min (the working fluid was water) providing an aorta Reynolds number in the range of 3300 and 7800. The Dantec Flow Map PIV system was employed in the experiments. The images were recorded with a cross correlation camera having 1008 x 1018 pixeis resolution. The interrogation area
was 32 x 32 pixeis, which yields a spatial resolution of 0.64 x 0.64 mm. The flow was seeded with silver coated hollow glass sphere particles of 1 O microns diameter (Dantec). The test chamber was designed to allow measurements in the diametric middle planes (Fig.1 ). It consists of a solid Plexiglas block manufactured to form a circular channel where the valve prosthesis was installed. All Plexiglas surfaces were polished to provide high quality optical access.
Cardiac valve
Fig. l. Test set-up: the cardiac prosthesis is placed between the two Plexiglas parts.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
The measurements have been performed in two orthogonal planes (Fig.2), which were parallel to the chamber's centerline. Plane X crosses the chamber in the middle between the leaflets and plane Y crosses the two leaflets. To observe the flow in the middle region between the two leaflets, plane X was shone. ln the other hand, to observe the flow crossing the leaflets, the laser light sheet illuminated plane Y.
Plane X Plane Y
(b)
Leaflets Leaflets
Fig.2 The measurements performed upstream and downstream the valves were in plane X (a) and in plane y (b).
Results and Discussion
lt is well known that red cell damage in shear flow is a function of the shear stress and the cell exposure time. On the other hand, thrombus formation will occur in regions of the blood flow with low shear stress. This information is useful to determine the flow pattems to be observed. Recirculation zones near walls are candidates to have high potential of thrombus formation. Jet flow and recirculation cells in the flow have the potential to damage the red blood cells because of the high levei of shear stresses and the high exposure time, respectively. ln the present paper, the streamlines and vorticity maps were employed to search criticai flow pattems in the flow around the bileaflet mechanical valve prosthesis.
Fig. 3 and 4 shows the streamlines upstream and downstream the valve for measurements performed m plane X and plane Y, respectively.
(a)
(b)
Fig.3 - Streamlines in the plane X for Re = 3300 (a) and for Re = 7800 (b). At low Reynolds number there is a risk of thrombus formation downstream the valve. At high Reynolds number the risk is greater for the region upstream the valve.
165
ANAIS DO CBEB'2000
(a
{h)
Fig.4 - Streamlines in the plane Y for Re = 3300 (a) and for Re = 7800 (b). At high Reynolds number there is a risk of thrombus fonnation upstream the valve.
The flow through bileaflet mechanical heart prosthesis has some particular characteristics. The streamlines maps showed that the location of criticai regions in the flow depends on the Reynolds number. The two leaflets, in the moment of the maximum aperture, provide three areas to the flow in the cross sectional area of the valve orifice. These areas induce three main streams: the central stream and two lateral streams. When plane X is illuminated it is possible to observe the flow occurring in the central stream. As one should expect, the streamlines in Fig.3 show that there is low level of flow disturbance in the central portion of the stream. Hence, the criticai flow occurrences may be found near the walls. ln that plane, the most criticai situation is related to the thrombus formation. When viscous forces are important (low Reynolds number) the flow past the leaflets induces recirculation and stagnant zones downstream. On the other hand, when the Reynolds number is increased, the recirculation and stagnant zones are washed out downstream. The flow upstream the valve exhibits a different pattem. The increasing of the Reynolds number increases the possibility ofthe flow become stenotic. The consequence is the fonnation of the recirculation cells upstream the valve (Fig.3b ). Illumination of plane Y allows the observation of the leaflets cross sectional view (Fig.4). It is interesting to note that, for low Reynolds number, it is possible to identify in the flow three main streams (both in upstream and downstream regions).
166
Conclusions
PIV has proved to be a convenient technique to perform flow diagnosis in the study of artificial heart valves prosthesis. The present study revealed that the location of criticai regions for thrombus formation is dependent ofthe flow Reynolds number.
Acknowledgements
The present work was partially financed by CNPq (Proc. n. 300556/97) and by European Community Grant. The authors wish to thank Dr. M. Gasparetti for his valuable help.
References [l] R. Heer, A. Starr, C.W. McCord, J.A. Wood,
"Special problems following valve replacementembolus, lead, infection, red cell damage", Am Thoracic Surg., Vol. 1, pp. 403-415, 1965.
[2] M. Knoch, H. Reul, R. Kroger, G. RAU, "Model Studies at Mechanical Aortic Heart Valve Prostheses - Part I: Steady-State Flow Fields and Pressure Loss Coefficients''. Trans. ASME J Biomech. Eng., Vol.11 O, pp.334-343, 1988.
[3] A.P. Yoganathan, Y.-R. Woo, H.-W. Sung, "Turbulent shear stress measurements in the vicinity of aortic heart valve prosthesis" J Biomechanics, Vol.19, pp.433-442, 1986.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Avaliação do Torque e da Força Gerada pelo Músculo Bíceps Braquial Durante o Exercício com uma Resistência elástica, Comparados aos Exercícios com uma
Resistência Fixa e ao Isocinético.
Fabio Mícolis de Azevedo; Neri Alves; Augusto C. de Carvalho
Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT UNESP [email protected], [email protected]
Resumo- Este artigo apresenta um estudo experimental do comportamento do músculo bíceps braquial de pessoas sadias, quando submetidas a uma serie de exercícios resistidos cujas formas de resistências utilizadas foram um tubo de látex (corda elástica) e um peso fixo de (halteres de 4Kg). Este estudo teve por objetivo: i) comparar os padrões das curvas de torque e de força geradas pelo músculo bíceps braquial quando submetido a estes dois tipos de resistência; ii) comparar e analisar os resultados obtidos, no exercício com a corda elástica, com base nos fundamentos do exercício isocinético encontrados na literatura. Desta forma procuramos indicar de maneira objetiva as relações entre estes três tipos de exercícios. Estas relações que possibilitaram ao final do trabalho, uma melhor compreensão do sistema de exercício com a corda elástica no aspecto do compo1iamento muscular durante o exercício, resultando assim em um auxilio ao fisioterapeuta na pratica ambulatorial, no que diz respeito à prescrição de treinamentos de força muscular que utilizem a ferramenta corda elástica como meio de resistência.
Palavras chave: Bioengenharia, Biomecânica, Corda elástica, Exercício, Isocinético, Torque, Força.
Abstract - This article presents a experimental study of the behavior of the muscle bíceps brachial of healthy people, when submitted the one seriates of resisted exercises whose the resistance form was a tube of latex ( elastic rope) and a fixed weight of 4Kg. This study had for objective: i) to compare the patterns ofthe torque and force curves generated by the muscle bíceps brachial when submitted to these two types of exercises; ii) compare the results, in the exercise with the elastic rope, with the foundations ofthe isokinetic exercise found in the literature approached in this work. This way we indicated the relationships among these three types of exercises that facilitated at the end of the work, a better understanding of the exercise system with the elastic rope in the aspect of the muscular behavior during the exercise, resulting like this in a I aid the physiotherapist in clinical practices, in what tells respect the prescription of trainings of muscular force that use the tool elastic rope as middle of resistance.
Key-words: Biomedical engineering, Biomechanic, Elastic rope, Exercise, Isokinetic, Torque, Force.
Introdução
A melhora na prescnçao de protocolos de reeducação muscular (treinamento de força) por parte dos fisioterapeutas passa pelo uso correto da corda elástica (Tubo de Látex) com fins terapêuticos. A corda elástica surgiu na década de 80 nos ginásios de reabilitação dos E.U.A., em forma de faixas elásticas (Thera-Band®)'. Estas eram utilizadas como alternativa aos halteres e aos aparelhos de musculação, pois o custo e a versatilidade do material permitiam que os pacientes se exercitassem em praticamente qualquer local, principalmente em suas casas. A corda elástica promove uma resistência progressiva durante um exercício dinâmico e assim como o dinamômetro isocinético a resistência elástica pode ser utilizada como forma mista de exercício, pois com ela pode-se exercitar tanto positivamente como negativamente um músculo ou grupo muscular, [1].
1 Thera-band and Associated Colors are trademarks of the Hygenic Corporation. © 1998 The Hygenic Corporation. Ali rightsreserved.
Alguns fisioterapeutas utilizam usualmente na prática ambulatorial a corda elástica como forma de exercitar isocinéticamente um músculo ou grupo muscular. Esta afirmação é aceita no meio :fisioterápico, mas a não existência de literatura cientifica, nacional ou internacional, a respeito especificamente deste assunto, faz com que smjam duvidas.
A teoria do exercício isocinético foi desenvolvida por James Perrine e introduzida na literatura científica em 1967, [2]. Uma contração isocinética (do grego isos, igual; kinetos, movendo-se) ocorre quando a velocidade de movimento é constante. Alguns autores afirmam que um terapeuta experiente é capaz de aplicar uma resistência que se acomoda similarmente através de toda a amplitude de movimento resistindo manualmente ao movimento, [3].
Para um exercício ser considerado isosinético este deve apresentar a seguinte característica: "a resistência acomoda a força externa à alavanca esquelética de tal modo que o músculo mantém força máxima através de toda a amplitude de movimento", [2].
Para ilustrar melhor o compmiamento da força gerada por um músculo quando este é submetido a um exercício isocinético, a figura 1 demonstra a força
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
produzida e a porcentagem da capacidade muscular usada durante o exercício.
.e:- 100+----------------·5 :g_ ~ 75 .,
1ii :::> E 50 õ lll,
~ 25
~ o
20
Força muscular
40 60 80 100 120
Arco de movimento em graus
Figura 1 -Gráfico mostrando o comportamento da força muscular do músculo durante o exercício isocinético [ 4].
É fato que a resistência progressiva que a corda elástica impõe durante o arco de movimento, assim como a resistência manual proporcionada pelo terapeuta, pode não representar uma condição isocinética em todo o movimento, mas pelo menos em um determinado trecho pode aproximar-se à condição isocinética. Com o objetivo de demonstrar esta situação, apresentamos experimentos que levaram em conta vários parâmetros controláveis durante o exercício com a corda elástica, permitindo assim um melhor embasamento para conclusões a respeito deste assunto.
O método de exercício cuja fonna de resistência é a carga fixa, estudado neste trabalho, nos dá parâmetros tanto para o melhor entendimento do comportamento muscular durante os outros tipos de exercícios como também nos permitem discutir os nossos resultados com base na ampla literatura que aborda este assunto.
Metodologia
1. Corda elástica (tubo de látex). Foram utilizadas como cordas elásticas, tubos
de látex novos, No. 204 da marca Lengruber2, com
diâmetro de 12 mm e luz3 de diâmetro de 6mrn de diferentes comprimentos (90cm, 63cm, e 4Scm, respectivamente para o indivíduo 1, 2 e3) e com coeficiente de elasticidade igual a 20N. Tendo preso, amarrado com barbante de algodão, em cada ponta uma argola de feITo.
2. Indivíduos. Foram utilizados para o experimento indivíduos
do sexo masculino, sadios, com idade igual a 20 anos e com variações nas medidas antropométricas correspondentes a tabela 1:
3. Protocolo de coleta de dados. Os dados coletados durante o experimento
foram: o ângulo da articulação do cotovelo, e a carga
'Lengruber, Comércio de látex Ltda. São Paulo -SP. 3 Nome dado à parte interna. oca, do tubo de látex.
168
imposta pela corda elástica na mão do indivíduo em função do ângulo de movimento.
Tabela 1 Características antropométricas indivíduos utilizados
!.1 179 33 35
A-Altura (cm) La - Comprimento do antebraço (cm/ c - Comprimento do braço (cm).
a
5
dos
a - Distância da articulação do cotovelo a inserção do bíceps (cm)4
•
Para o experimento com a corda elástica, o indivíduo foi posicionado em pé e foi fixado na mão, uma das extremidades da corda elástica e a outra foi fixada na célula de carga (devidamente presa a uma articulação fixada a uma plataforma5
) formando com o solo um ângulo de 90". O eletrogoniometro foi fixado por último, na articulação do cotovelo. O indivíduo realizou 1 O movimentos de flexão e extensão do cotovelo, partindo de Oº (posição de repouso) até aproximadamente 125º, voltando a Oº (posição de repouso) concluindo assim um ciclo. A coleta para o pacote de 1 O ciclos foi realizada em uma velocidade angular constante, com o auxilio de um metrônomo digital que marcava um ritmo de 60bpm (batidas por minuto).
A corda elástica foi adaptada a altura do indivíduo testado de modo a não oferecer resistência quando em descanso, no entanto esta também não estava frouxa. Chamamos este estado inicial da corda antes do movimento como estado de tensão zero.
Para o experimento com o peso fixo, seguimos os mesmos procedimentos citados acima, no entanto neste modo de exercício não foi necessária a utilizacão da célula de carga, pois a carga que os halteres impõe no membro não se altera durante o movimento (4Kg).
4. Coleta de Dados (eletrogoniometria, e dinamometria).
Os sinais provenientes da célula de carga e do eletrogoniometro foram captados em um módulo condicionador de sinais, modelo MCS 1000 - V2, da marca Lynx6
, com 16 canais de entrada analógica. Dois canais foram configurados para receber sinais do elétrogoniometro e sinais provenientes da célula de carga tipo strain-gage marca KRA TOS modelo MM com suporte máximo para 50 Kg de carga. '
Neste condicionador os canais provenientes da célula de carga e do elétrogoniometro foram calibrados para receber até 2V e 5V, respectivamente, além de uma
4 Detenninado a partir de aferições de radiografias tiradas dos indivíduos.
5 Fez-se necessário o uso de uma articulação presa a uma platafonna para impedir que surgissem componentes de força que não as verticais (90º), gerado pela corda durante o movimento. Isto é, esta articulação garante que a célula de carga fique alinhada com a corda elástica durante todo o movimento.
6 Lynx Tecnologia Eletrõnica Ltda. Rua Sales Junior, 476 São Paulo -Brasil
ANAIS DO CBEB'2000
os canais. Para a eletrogoniometria, foi utilizado um
eletrogoniometro constituído de duas hastes plásticas de 30 cm de comprimento, 0.5 cm de espessura e 3 cm de largura, ligadas em uma das extremidades por um potenciômetro linear de 1 OK.
Todos os sinais analógicos foram amplificados e preparados para serem digitalizados através de uma placa de conversão de sinal analógico para digital (A/D) modelo CAD 12/36 também da empresa Lynx, de 12 bits de resolução, com 16 entradas analógicas.
Para a aquisição e armazenamento em arquivos de dados dos sinais digitalizados foi utilizado o software Aqdados, também da Lynx, versão 4.0 para o sistema operacional Microsoft - DOS.
5. Tratameuto dos siuais coletados durante os experimelltos.
Para o tratamento dos dados foi utilizado o software Microcal Origim ver. 3.54.
Os 1 O ciclos de cada indivíduo foram divididos em 1 O pacotes de dados e tratados separadamente para facilitar a posterior análise. Um pacote de dados representando a média dos 1 O ciclos, referente a goniometria da articulação e a carga imposta pela corda durante o movimento foi obtido.
Os dados obtidos foram inseridos posteriormente nas equações apresentadas a seguir, para a obtenção das curvas de torque e da força geradas pelo músculo durante os exercícios. Nas curvas obtidas, o eixo x apresenta ao invés do tempo absoluto em segundos, o tempo normalizado em porcentagem do tempo de movimento (flexão e extensão do cotovelo), com o objetivo de proporcionar algumas análises comparativas entre os gráficos.
Modelagem e Algoritmos
1. Análise do torque gerado pelo músculo durante o exercício com a corda elástica e com o peso fvco.
Na figura 2 mostramos o esquema utilizado para a elaboração dos algoritmos utilizados para a detenninação do torque gerado pelo músculo quando submetido a um exercício com a corda elástica.
Em qualquer dos exercícios analisados neste trabalho, deve-se antes de tudo considerar o efeito do peso do próprio antebraço e mão do indivíduo. Isto porque este peso gera um torque que influencia no torque gerado pela resistência durante o exercício. O torque produzido no sistema de alavanca esquelética devido ao peso do próprio antebraço é dado pela equação 1.
Figura 2- Esquema mostrando: a força peso do braço, P 0 ; a força elástica, F; o ângulo 0, entre o braço e a vertical; o ângulo ~ entre a corda e o antebraço e o ângulo a, entre a vertical e a corda elástica.
'tantebraço = p a b sene (1)
Neste caso (equação 1) P. é o peso do antebraço, cujo valor utilizado para os cálculos foi de 25N7
, a distância é a linha que parte da articulação do cotovelo e vai até o centro de massa do sistema antebraço mão (b ), que consideramos como sendo a metade do comprimento do antebraço, e e é o ângulo entre o braço e a vertical (aferido durante o experimento através da eletrogoniometria ).
O torque gerado pela força de resistência é dado por:
'trorça c1e resistência = F La sen~ (2)
Neste caso (equação 2) a força de resistência pode ser tanto o peso fixo quanto a corda elástica (F), a distância é o comprimento do segmento que parte da articulação do cotovelo e termina no centro da mão do indivíduo (L.) e ~ é o ângulo entre a de resistência e o antebraço.
Quando a força de resistência é aplicada pela corda elástica devemos considerar a variação do ângulo ~-Também devemos atentar para o fato de que apenas o ângulo 0 é medido durante o experimento. Assim devemos determinar ~ em função de e. A expressão abaixo nos dá esta relação:
f3=180-8-arcta{~· __ L,~, s_e_n 8---} " [L0 + L,, (1-cos8 )]
(3)
onde L0 é o comprimento inicial da corda quando esta se apresenta no estado de tensão zero.
Desta forma temos que o torque gerado pela corda é dado pela expressão:
'tcorda = F La sen~ (4)
7 Determinado através da literatura
ANAIS DO CBEB'2000
Quando a força de resistência é dada pelo peso fixo temos que a ação deste em relação a mão do indivíduo será sempre de 90º.
'Cpeso fixo = F peso fixo La (5)
Impondo a situação experimental em que o movimento de rotação se dá com velocidade constante, temos que o somatório dos momento angulares (torque) é nula (V=cte::::} LF=O e L't=O). Assim ternos que:
'Cmuscular = 'Cantebraço + 'Ccorda (6)
ou
'Cmuscular = 'Cantebraço+ 'Cpeso fixo (7)
onde o torque do antebraço é dado pela equação 1, o torque da corda pela equação 4 e o torque do peso fixo é dado pela equação 5.
2. Análise da força gerada pelo músculo bíceps braquial durante o exercicio. O torque e a força muscular gerados pelos
músculos braquial, braquiorradial e pronador redondo, durante o movimento, não foram levados em conta. Nesta primeira aproximação consideramos como se apenas o bíceps braquial estivesse atuando como flexor do cotovelo. Evidentemente esta situação não corresponde à realidade, mas nos permite ter uma idéia aproximada do comportamento deste músculo no movimento de flexão e extensão do cotovelo, uma vez que é o principal executor do movimento em toda a sua extensão, [3].
Temos também o interesse em avaliar neste trabalho como é o compo1tamento da força muscular em função do torque gerado pelo músculo. Para tanto devemos considerar a geometria do sistema formado pelo braço, músculo e sua inserção no antebraço, conforme ilustra a figura 3.
r-~
L __ ~, , /'!-... /'-~ / , e /' ª~/
Figura 3- Esquema representando o sistema braço, músculo e sua inserção no antebraço. Onde y é o angulo entre o músculo e o antebraço, a é a distância entre o eixo de rotação e a inserção do músculo no antebraço, e é a distância da origem do músculo até o eixo de rotação e 0 é o angulo entre o antebraço e a vertical (ângulo aferido).
Considerando que o torque muscular é conhecido, pois deve ser igual ao torque resistente, podemos calcular a força muscular se conhecennos o seno de y e as distâncias a e e. Considerando as relações trigonométricas num triângulo qualquer temos que:
c·sen8 (8) seny= 1
(a 2 +c2 +2ac·cos8 f
Portanto podemos determinar qual a força que o músculo bíceps esta gerando, em função do ângulo e, que é necessária para produzir o torque muscular para o equilíbrio do torque resistente. Explicitamente a força muscular é dada por:
1
F _A (a 2+c2 +2·a·c·cose p m -O muscular
(9) a·c·sene
Resultados
Após a aplicação dos dados nas equações acima obtivemos os seguintes resultados:
J. Torque e força muscular gerado durante um exercicio realizado com uma corda elástica.
As figuras 4 e 5 mostram o torque médio e a força média, respectivamente, gerada pelo músculo durante o ensaio de dez movimentos de flexão e extensão do cotovelo tracionando a corda elástica, para os três indivíduos submetidos ao experimento.
=
1JJJ
8))
Ê '-l 6 8))
s !! {3. 4'.ú
:00
... -.. :i ;: " !
1 ' '
-lrd'.do1 ....... Jnilid.o2 ----lrril.do3
! ' f ,.
' ,..l
~ ~ ro ro m Tempo do mo~menlo (%)
Figura 4 - Torque gerado pelo músculo bíceps, durante exercício com a corda elástica, para os três indivíduos.
Os resultados encontrados para os três indivíduos são similares. O torque é máximo em aproximadamente 30% e 80% do tempo de movimento (75º na flexão e 50° na extensão). A força varia acentuadamente no inicio e no fim do movimento, mantendo-se aproximadamente constante durante 60% do total do movimento.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
"' 40
2l
,.{'~·········...... ················ ,.. ........................ .. .. ,',: "~·.
:'! \ H \
-!rú\idD1 ........ !ráVdn2 ....... lrú\Íd.D3
n \ ti ~
I : ~\
,' : ·~,
a:i 40 €0 ro Tempo do movimento(%)
Figura 5 - Força gerada pelo músculo bíceps, durante exercício com a corda elástica, para os três indivíduos.
2. Torque e.força muscular gerado durante um exercício realizado com um peso.ftxo.
As figuras 6 e 7 mostram o torque médio e a força média gerada pelo músculo durante o ensaio de dez movimentos de flexão e extensão do cotovelo com uma carga fixa (4Kg), para os três indivíduos submetidos ao experimento.
Podemos observar nas figuras 6 e 7 que a posição dos picos, tanto de torque como os da força aparecem aproximadamente na mesma posição para os três indivíduos, os picos de torque em 30% e 80% do movimento e os picos de força entre O e 10% e entre 90 e 100% do movimento. Outra observação interessante é que os picos de torque são mais acentuados em relação aos picos do exercício com a corda elástica.
Com relação ás curvas de força geradas pelo músculo durante o experimento, podemos observar que a força que o bíceps gera diminui à medida que o ângulo a aumenta, chegando ao seu mínimo em aproximadamente 50% do movimento. Podemos constatar que o músculo esta sendo exigido em maior intensidade no inicio (O - 10%) e no final (90 100%) do movimento, justamente nos pontos onde o músculo se encontra em um estado de desvantagem mecânica.
-ln:OOD1 ---- lni\kio2 ....... lni\kin3
........ 1 ............. \
1' • ..... ..
i' "· ....... .. , .. :7 ... // · ....... .
if //
.. } 3Xl
~ 40 oo oo m Tempo do movimento(%)
Figura 6 - Torque gerado pelo músculo bíceps, durante exercício com o peso fixo, para os três indivíduos.
171
6ll
"" !DJ
""' 4ll
z 3Xl
~ 3Xl
á: 3Xl
:m
"" m 50
-lrrWdn1 --·-lnilki.o2 •...... !niikio3
a:i 40 ro ro Tempo do mO\imento (%)
Figura 7 - Força gerada pelo músculo bíceps, durante exercício com o peso fixo, para os três indivíduos.
Discussão
Os resultados apresentados anteriormente nos permitem fazer alguns comentários sobre o trabalho em um aspecto geral. As curvas de torque nos dois modos de exercício são bem parecidas, porém as curvas de força mudam criticamente de exerc1c10 para exerc1c10, tomando este parâmetro a nosso ver, mais adequado para as análises dos exerc1c1os. Os resultados do desenvolvimento da força durante o exercício com a carga fixa demonstram perda na geração de força por parte do músculo durante o movimento, exigindo muito deste músculo no inicio e no final do movimento, de flexão e extensão, e exigindo pouco no meio do movimento onde o músculo, por estar em um estado de vantagem mecânica favorável, teria condições de gerar mais força, [5]. Sob este ponto de vista podemos afirmar que o exercício que utiliza a corda elástica se sobressai ao exercício com carga fixa.
Apesar das curvas de torque do exercício com a corda elástica e do exercício com carga fixa serem parecidos, o desenvolvimento de força muito diferente quando comparados. Tal fato pode ser explicado lembrando que para o cálculo da temos uma variável a mais, o ângulo y, que faz com que pequenas variações na curva de torque produzam curvas de força muito diferentes.
O exercício com a corda elástica demonstrou, de forma concreta, ser bem próximo a condição isocinética quando consideramos o desenvolvimento da força durante o exercício. A curva de força gerada pelo músculo no exercício com a corda, demonstrou que a força se mantém constante em aproximadamente 60% movimento, fato que nos permite afirmar que a corda elástica pode simular um exercício isocinético no que diz respeito à força muscular, de acordo com a literatura, [4].
Como forma de treinamento de força a corda elástica se apresenta como ótima alternativa aos halteres. Isto porque acreditamos, com base na literatura estudada [3],[4] e [5], que a progressão crescente da força durante o movimento, pode representar uma diminuição no tempo de treinamento de um indivíduo, pois neste caso talvez a tensão da musculatura seja mantida durante o arco de movimento o tempo suficiente para desencadear em um menor período de treinamento as reações
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
qu11111cas necessanas para a hipertrofia do músculo submetido a este modo de exercício.
Outro fato interessante é que diferentemente do exercício com carga fixa, no exercício com carga variável (corda) as fibras musculares que são mobilizadas no início do movimento não são exigidas em demasia, tal fato pode ser considerado como fator preventivo ao aparecimento de dores e de microlesões musculares, [5]. Partindo destas observações podemos pensar em elaborar um protocolo experimental de treinamento de força utilizando o exercício com carga fixa de forma a complementar o exercício com a corda (alternando-se séries), buscando com isto uma forma de se exercitar um músculo ou um grupo muscular de maneira uniforme, pois cada exercício apresenta suas particularidades em relação à exigência muscular durante o movimento, que podem ser aliadas.
Conclusões
Como conclusão podemos afirmar com base tanto na literatura estudada quanto nos ensaios que:
a) o exercício com a corda elástica simula bem um exercício isocinético, com relação à produção de força muscular, pois a força se mantém constante em 60% do movimento, excluindo as extremidades;
b) a corda elástica conforme discutido anteriormente é uma ferramenta muito boa para o treinamento de força, e aparentemente uma opção que pode representar menos tempo no ganho de hipertrofia por parte de um paciente submetido a um protocolo que a utilize como forma de carga;
c) a prescrição de um protocolo que utilize a corda elástica deve levar em conta os seguintes aspectos do paciente: i) dados antropométricos; ii) grau de força no músculo a ser exercitado; iii) condições tisicas de ficar em um posicionamento adequado para o exerc1c10. Analisando estes aspectos poderemos prescrever a corda adequada tanto em comprimento quanto em coeficiente de elasticidade e determinar o melhor pos1c10namento para a realização dos exercícios. Salientamos que no momento de realização do exercício o indivíduo deve sempre procurar com o auxilio do terapeuta ou de um metrônomo, desenvolver uma velocidade constante e o terapeuta deve sempre utilizar cordas elásticas novas;
d) estudos devem ser realizados para propor uma unidade padrão que proporcione a aplicação prática e efetiva de protocolos de treinamento de força que utilize a corda elástica. Esta unidade padrão deve levar em conta, as características antropométricas do indivíduo e o grau de força muscular inicial, e relacionar estes dados com os parâmetros da corda a ser utilizada por este indivíduo.
O trabalho de uma forma geral permitiu uma compreensão do sistema de exercício com a corda elástica, principalmente no aspecto do comportamento muscular durante o exercício. O trabalho também proporcionou um embasamento para a realização de futuros trabalhos, que venham estabelecer condições ótimas de aplicação desta técnica de treinamento.
Agradecimentos
Agradecemos o apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo -F APESP, o Prof. Dr. Ruben de Faria Negrão Filho pelas valiosas sugestões e colaboração, ao Sr. Milton Hirokazu Shimabukuro, pelo suporte técnico e a Raquel Napolitano pelo apoio na elaboração dos ensaios.
Referencias Bibliográfica
[ 1] C. Kisner e L. A. Colby, "Exercícios terapêuticos", 2" ed., São Paulo, 1992.
[2] H. Hislop and J. J. Perrine, "The isokinetic concept of exercise", Phisical Therapy, vol. 47, pp. 114-117, 1967.
[3] L. D. Lehmkuhl, L. K. Smith e E. L. Weiss, "Cinesisologia clínica", 5" ed. São Paulo, 1997.
[4] D. H. Perrin, "Isokinetic exercise and assessment'', U.S.A, 1993.
[5] J. Weineck, "Biologia do esporte" 2" ed, São Paulo, 1991.
[6] F. A. Mícolis, C. A P. Valente e A C. Carvalho, "Estudo da resistência do tubo de látex submetido a estiramentos'', Anais do X congresso de iniciação cientifica da UNESP, pp. 295, Araraquara, 1998.
[7] F. A Mícolis, R. F. Negrão Filho e A C. Carvalho. "A atividade elétrica do músculo bíceps braquial em diferentes ângulos e resistências", Revista de fisioterapia da Universidade de São Paulo, v. 6, pp. 36, suplemento, 1999.
[8] A C. Amadio, "Fundamentos biomecânicos para a análise do movimento humano", Laboratório de Biomecânica/ EEFUSP, São Paulo, 1996.
[9] A C. Amadio, "Fundamentos da biomecânica do esporte: considerações sobre análise cinética e aspectos neuromusculares do movimento", Tese de livre docência. EEFUSP, São Paulo, 1989.
[10] W. Chen, F. Su and U. Chou, "Significance of acceleration period in dynamic strength testing study", Orthop sports phys ther, v.20, pp. 19-324, 1994.
[ 11] L. H. V. Vlack, "Princípios da ciência dos materiais", São Paulo, 1970.
[12] D. A Winter, "Biomechanics in the reabilitation of human movement", lª ed., Waterloo, 1991.
[13] D. A. Winter, "The biomechanics and motor control ofhuman movement". 2ª ed., Ontário, 1990.
[14] D. A. Winter, "Biomechanics of human movement" 2ª ed. Ontário,1979.
[15] W. Baumann, "Procedimentos para determinar as forças internas na biomecânica do ser humano -aspectos da carga e sobrecarga nas extremidades inferiores", IV Congresso Brasileiro de Biomecânica. Brasília. Conferencia de Abertura, 1995.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Comparação Entre Protocolos de Aquisição e Análise do Sinal Mioelétrico - Estudo Piloto
Marco A. C. Garcia1, José Magalhães2
, Luis A. Imbiriba3, Líliam F. Oliveira4
1.2.3.4Laboratório de Biomecânica - Departamento de Biociências da Atividade Física
Escola de Educação Física e Desportos Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil, 21941-590
Fone (OXX21 )562-6824 e 562-6826 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - A eletromiografia (EMG) é uma técnica importante no estudo da contração muscular. Entretanto, não há um consenso quanto à metodologia aplicada na aquisição e no processamento do sinal mioelétrico. O objetivo deste trabalho foi comparar diferentes métodos de aquisição (variação da carga, diferentes ganhos e colocações de eletrodos). Os parâmetros analisados foram a freqüência mediana (FMD) e a variância (VW) da função de distribuição de probabilidade Weibull ajustada aos histogramas de intervalos entre cruzamentos por zero adjacentes. Os resultados mostraram que tanto FMD quanto VW foram sensíveis à variação na distância entre os eletrodos (p<0,05). Para os três ganhos utilizados, a FMD e VW não apresentaram diferenças significativas. Para as diferentes cargas aplicadas (30%, 60% e 90% da contração voluntária máxima), a VW foi significativamente menor (p<0,05) para maiores cargas, enquanto a FMD apresentou indícios de aumento para cargas maiores, porém sem significância estatística (p=.09).
Palavras-chave: Eletromiografia, Contração Muscular, Metodologia
Abstract - The electromyography (EMG) is an important technic used in muscular contraction studies. However, there is no consensus about the metodology applied for the aquisition and processing of the myoeletric signal. The aim of this study was to compare different protocols of electrodes distance, gain and load variation. The parameters were median frequency (FMD) and the variance of the Weibull probability function (VW) adjusted to the adjacent zero crossing intervals histograms. The results showed that both FMD and VW were altered with the distance variation of the electrodes (p<0,05). The diferent gains had no influence on the parameters. To the applied loads (30%, 60% and 90% of maximum voluntary contraction), the VW was significantfy reduced (p<0,05). The FMD showed no diference among the applied loads.
Key-words: Electromyography, Muscle Contraction, Methodology
Introdução
A eletromiografia (EMG) tem sido amplamente utilizada na investigação dos mecanismos envolvidos com a função do tecido muscular e, portanto, é extensa a lista de trabalhos desenvolvidos na área de instrumentação, elaboração de novas metodologias de análise e quantificação do sinal mioelétrico. Desta maneira, a EMG se mostra uma poderosa ferramenta em áreas como a Cinesiologia Clínica e a Biomecânica, auxiliando na investigação sobre as mais diferentes condições da atividade muscular, como na fadiga, na resposta ao treinamento e na reabilitação [l], [2], [3]. Entretanto, os estudos eletromiográficos não apresentam um consenso quanto aos protocolos adotados para a aquisição do sinal e quanto aos métodos de análise.
Problemas metodológicos, como a influência da distância entre os eletrodos, do tamanho e da orientação geográfica dos mesmos na qualidade do registro do sinal, nem sempre são considerados [4]. Tal fato vem levantando discussões sobre as diferentes formas de trabalho com EMG em diversos laboratórios e a tentativa de criação de uma padronização para o estudo
do sinal mioelétrico [5], [6]. Neste estudos têm sido realizados para a padronização e identificação de possíveis problemas na análise e na aquisição do sinal mioelétrico [7], [8], [9], [l O], [ 11]. Seguindo este objetivo, este trabalho pretendeu comparar diferentes técnicas de análise do sinal mioelétrico. no domínio do tempo e da freqüência e aplicar diferentes protocolos de colocação de eletrodos (alterando a distância entre eles), de ganhos (amplificação) do sinal e de aumento da carga aplicada.
Metodologia
Para esta fase inicial, a amostra foi de 5 voluntários do sexo masculino (idade entre 25 e 35 anos, massa corporal entre 63 e 78 Kg) sem alteração músculo-esquelética dos membros superiores. A instrumentação foi constituída por 3 módulos básicos: um apoio regulável para a colocação do braço direito e uma outra parte com um sistema de roldana, cabo e anilhas para a aplicação das diferentes cargas (Figura 1 ); um sistema de dinamometria para a aquisição dos valores de contração voluntária máxima (CVM); e um
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
sistema de aquisição do sinal mioelétrico, desenvolvido no Laboratório de Biomecânica da EEFD/UFRJ.
Figura 1 - Sistema de roldana com anilhas e apoio regulável para o braço direito.
O sistema dinamométrico foi composto de uma célula de carga (Kratos Dinamômetros, São Paulo). O programa de aquisição do sinal foi desenvolvido em Lab View (National Instruments, Austin) com controle do tempo de duração do teste para o registro da CVM e os respectivos percentuais para posterior aquisição do sinal mioelétrico.
O sistema eletromiográfico utilizado foi de dois canais com amplificação do sinal através de um cabo com ganho de 90 acoplado a um amplificador/filtro passa-banda de 2!! ordem com ganho máximo de 2, 725 e faixa de 20-500Hz, fornecendo um ganho total de 245,25. O amplificador ainda possuiu um sistema de atenuação permitindo a seleção de ganhos nos valores: 245,25; 122,625 e 61,3125 (Gmáx. Gmáx/2, G111áj4, respectivamente). O programa de aqms1çao foi desenvolvido em Lab View e o sinal amostrado a 2000 Hz.
Foi utilizado um computador Pentium 200 MHz com 64 Mbytes de memória e um conversor analóo-ico-
"' digital (A/D), (National Instruments, da série DaqPad 1200) de 12 bits e faixa dinâmica de± 5V.
Na coleta dos sinais, foram utilizados eletrodos de superfície da 3M, do tipo 4350, de prata-cloreto de prata (Ag-AgCl). Uma lâmina foi utilizada para a eliminação de pelos e da camada epitelial mais externa da região do bíceps braquial direito. Em seguida, cada voluntário sentou com o braço direito apoiado no suporte, quando eram feitas as marcas para a colocação dos eletrodos. A área de colocação dos eletrodos foi definida a partir de uma medida feita entre o acrômio e a interlinha articular do cotovelo. Efetuada a medida 50% da distância total era tomada a partir do acrômio e: assim, colocado o primeiro eletrodo. Como foram dois canais para a aquisição, mais três eletrodos foram colocados em série a partir do primeiro e a distância adotada entre os mesmos foi de 2,5 cm (Figura 2). Os eletrodos colocados nas extremidades da série foram definidos como o canal 2 (El) e o outro par, intermediário aos outros dois, como canal 1 (E2).
Canal 1 E2 Canal 2 El
Figura 2 - Protocolo de colocação dos eletrodos sobre o bíceps braquial direito.
No teste de CVM, a articulação do cotovelo era ajustada a 90 graus de flexão (Fig. 1 ). Nesta condição, o indivíduo era orientado a realizar uma contração voluntária isométrica máxima durante 6 s uma única vez. Para efeito de cálculo, foi considerado o maior valor de força obtido na curva força-tempo. Foram utilizados os valores de 30%, 60% e 90% da carga máxima.
Para aquisição do sinal eletromiográfico, os voluntários realizaram três contrações para cada uma das cargas estudadas, com 8 s de duração e intervalo de descanso de 2 min entre cada uma. Em cada uma das três contrações os ganhos eram modificados: 1 !! teste -Gmá" 2Q teste -Gmáx/2 e 3Q teste - Gmáx/4. Ao final da coleta, cada voluntário realizou 9 contrações com mudanças de ganho e carga.
A análise dos dados foi feita em MATLAB (versão 5 .1) e os parâmetros calculados foram: a freqüência mediana (FMD) do espectro de potência estimado via FFT ( 1 ), na banda de O à 1000 Hz e a vanancia (VW) da função de distribuição de probabilidade Weibull (2), ajustada aos histogramas de intervalos de tempo entre cruzamentos por zero adjacentes (ICZ) [7].
FMD oo oo
f S(f)df = f S(f)df = _!_ f S(f)df (1) O FMD 2 O
Weibull (2)
Onde: p é o parâmetro de forma da distribuição e é maior do que zero; a funciona como parâmetro de escala da distribuição e é maior do que zero; e é a constante de Euler (2, 71 ... ).
E a variância VW:
Onde:
00
r (t) = f x 1-
1e--'dy o
(3)
(4)
Para análise estatística foi utilizado o aplicativo STA TISTICA (versão 4.2, Statsoft). O teste ANOV A
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
(comparação post-hoc Tukey) foi aplicado para responder às questões quanto às diferenças das médias dos resultados pela: 1) variação da colocação dos eletrodos, 2) variação do ganho e 3) variação da resistência imposta. O nível de significância considerado foi p<0.05.
Resultados e Discussão
As figuras 3 e 4 apresentam os resultados médios da FMD e da VW entre os eletrodos El e E2, independente do ganho utilizado.
FMDE1 FMDE2
::C DP
CJ EP o Média
Figura 3 - Resultados de FMD entre E 1 e E2.
10.5r-------.,..---.======--i
P<0.05
8.5f·················+
~ 7.5
4.5'--------------~ VWE1 VWE2
::C DP
CJ EP o Média
Figura 4 - Resultados de VW entre E 1 e E2.
Os resultados das figura 3 e 4 mostram uma diferença significativa (p<0.05) para ambos os parâmetros estudados (FMD e VW) entre El e E2. Quando a distância entre os eletrodos aumenta, a FMD do sinal é mais baixa enquanto a VW aumenta. Este comportamento em relação à freqüência é conhecido. De Luca [12] cita que a distância entre eletrodos afeta a banda de freqüência e a amplitude do sinal, onde uma menor distância desloca a banda para maiores freqüências e para menores amplitudes. O mesmo encontrou Gueddes [13] que, ao adotar um espaçamento tão amplo quanto possível entre os eletrodos, observou uma tendência das componentes de freqüência do sinal em deslocarem-se para valores cada vez mais baixos no espectro de potência. Correia [ 14] recomenda uma distância de 20 mm entre os eletrodos como solução de compromisso entre a porção significativa do músculo estudado, restringindo os sinais não pretendidos. Já De
Luca [ 12] considera a distância de 1 O mm como a ideal para aquisição do sinal até mesmo em músculos pequenos e recomenda, inclusive, a adoção de uma plataforma fixa para colocação dos eletrodos.
Quanto ao resultado de aumento da VW com o afastamento entre os eletrodos, não há dados na literatura para comparação deste comportamento. Entretanto, sendo esta variável relacionada com a freqüência de intervalos entre cruzamentos por zero adjacentes, é de esperar que a VW aumente com bandas de freqüências mais baixas, como acontece com eletrodos mais afastados. Nas figuras a seguir (5 à 8), a média e as medidas de dispersão: Desvio Padrão (DP) e Erro Padrão (EP) são apresentadas para cada situação analisada.
As figuras 5 e 6 mostram a as médias da FMD e da VW com a mudança das cargas.
P=0.9
-L DP
CJ EP e Média
Figura 5 - Resultados de FMD entre as cargas.
A FMD não apresentou diferença siginificativa (p=0.9) entre as cargas estudadas. Resultados da literatura refletem o contrário, onde atestam um aumento na FMD com o aumento da contração muscular, já que, neste processo gradação da contração, um número maior de unidades motoras (UMs) estaria sendo recrutado, simultaneamente ao aumento na freqüência dos potenciais de ação [15]. O aumento da amostra, já em andamento, pode vir a esclarecer se a não significância dos resultados se deveu às limitações estatísticas ou se reflete um fato consistente.
10,-----,------;-;:::==:.:=:.:=:.:::;i
6 .
4'-------'-------------' VW30 VW60 VW90
::C DP
CJ EP e Média
Figura 6 - Resultados de VW para as diferentes cargas.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Já a VW apresentou significativa redução com o aumento da carga (30% e 60% para 90%). Comportamento similar foi encontrado por Garcia e Souza [7], [21] utilizando protocolo semelhante. Se, segundo a literatura, a banda de freqüência sofre um aumento com a carga, espera-se que a VW acompanhe este comportamento com a redução de seu valor. Este fato não está totalmente esclarecido. Sugere-se que possa estar relacionado a um aumento na soma coerente dos potenciais de ação (sincronismo) com o aumento da carga [16], [17], [18].
As mudanças de ganho no sinal não apresentaram diferenças siginificativas para FMD e VW (Figura 7 e 8). Estudos sobre a influência da variação do ganho no sinal eletromiográfico, não foram encontrados.
ea ·············l···············:··············+·············o··············+
:I: DP CJ EP
o Média
Figura 7 - Resultados de FMD para os diferentes ganhos.
VWG1 VWG2 VWG3
:I: DP CJ EP
o Média
Figura 8 - Resultados de VW para os diferentes ganhos.
Conclusões
Problemas quanto a adoção de protocolos diferenciados na aquisição e no processamento do sinal mioelétrico são amplamente discutidos pela literatura [19], [20], [21]. Este trabalho objetivou estudar o comportamento de duas variáveis do sinal eletromiográfico com variações no ganho, na distância entre eletrodos e na carga aplicada.
A variação na distância entre eletrodos produziu resultados diferentes para os dois parâmetros.
A FMD diminui com o afastamento dos eletrodos enquanto a VW apresenta comportamento inverso. Sugere-se que um cuidado especial seja dedicado à colocação dos eletrodos em estudos onde o interesse resida nas componentes de freqüência do sinal.
A variância da função de probabilidade Weibull (VW) foi mais sensível às variações de carga do que a freqüência mediana (FMD), fato que pode atribuir um bom potencial discriminatório a este parâmetro.
Como esperado, não houve diferença significativa nos parâmetros com as mudanças de ganho do sinal.
Sendo assim, mesmo com a obtenção de resultados que apontam para alguns esclarecimentos importantes na aquisição e no tratamento do sinal mioelétrico, pretende-se dar continuidade ao trabalho, principalmente com o aumento no tamanho da amostra.
Referências
[I] M. Ferdjallah and J. J. Wertsch, "Anatomical and Technical Considerations in Surface Electromyography", Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, vol. 9, n. 4, pp. 925-931, 1998.
[2] J. G. Webster, Encyclopedia ofMedical Devices and Strwnentation, vol. 2, John Wiley & Sons, 1988.
[3] ST. E. Alberg, "New EMG Methods to Study the Motor Units", Electroencephalography and Clinica! Neurophysiology, vol. 39, pp. 38-49, 1987.
[4] G. L. Soderberg and T. M. Cook, "Electromyography in Biomechanics", Physical Therapy, vol. 64, n. 12, pp. 1813-1820, 1984.
[5] A . Fuglsang-Frederiksen et al., "Inter- and lntraobserver Variation in the lnterpretation of Eletromyographic Tests'', Electroencephalography and Clinica! Neurophysiology, vol. 97, pp. 432-443, 1995.
[6] A . Fuglsang-Frederiksen et al., "Variation in Perfonnance of the EMG Examination at Six European Laboratories'', Electroencephalography and Clinica! Neurophysiology, vol. 97, pp. 444-450, 1995.
[7] M. A. C. Garcia, "Estudo da Contração Muscular Através de Parâmetros Estatísticos do Sinal Mioelétrico", Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ, 1998.
[8] S. Karlsson and M. Akay, "Enhancement of Spectral Analysis of Myoeletric Signals During Static Contractions Using Wavelet Methods", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 46, n. 6, pp. 670-684, 1999.
[9] E. A. Clancy, "Probability of the Surface Electromyogram and Its Relation to Amplitude Detectors'', IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 46, n. 6, pp. 730-739, 1999.
[10] E. ST. Alberg, "New EMG methods to study the motor unit", Electroencephalography and Clinica! Neurophysiology, vol. 39 (suppl.), pp. 38-49, 1987.
[11] J. Duchene and F. Goubel, "Surface eletromyogram during voluntary contraction: processing tools and
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
relatio11 to physiological eve11ts", Crit. Ver. Biom. Eng., vol. 21, 11. 4, pp. 313-397, 1993.
[12] C. J. De Luca, "The Use of Surface Electromyography i11 Biomecha11ics", Delsys Inc., 1993.
[13] L. A. Gueddes, Electrodes and the Measurement of Bioeletric Events, Wiley I11terscience, 1972.
[14] P. P. Correia et al., Electromiografia, Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana, 1993.
[15] H. Broman et al., "Myoeletric Signal Co11duction Velocity and Spectral Parameters: Influence of Force and Time", J. Appl. Physiol., vol. 58, n. 5, pp. 1428-1437, 1985.
[16] D. A. Keen et al., "Training-Related Enhancement in the Control of Motor Control Output i11 Eldery Humans", J. Appl. Physiol., vol. 76, n. 6, pp. 2648-2658, 1994.
[17] T. Moritani, "Neuromuscular Adaptations Duri11g the Acquisition of Muscle Strength, Power and Motor Tasks", J. Biomechanics, vol. 26, Suppl., pp. 95-107, 1993.
[ 18] R. M. Enoka, "Morphological Features a11d Activatio11 Pattems of Motor U11its", Journal of Clinicai Neurophysiology, vol. 12, n. 6, pp. 538-559.
[19] G. A. Mirka, "The quantification of EMG 11ormalization error", Ergonomics, vol. 34, 11. 3, pp. 343-352, 1991.
[20] M. H. Nam, "Cross Talk, Muscle Synergy, and Electrode Locations and Their Effects on Electromyographic Activity i11 Neck Muscles", Innov. and Techn. ln Biai. and Medicine, vol. 1 O, pp. 233-241, 1989.
[21] M. A. C. Garcia e M. N. Souza, "Aplicação de um Parâmetro Temporal na Análise do EMG", Anais do IV Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, pp. 445-446, 1998.
177
ANAIS DO CBEB'2000
ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ALÇAS DE RETRAÇÃO ORTODÔNTICA VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
Marcelo A. Ferreira1, Marco Antônio Luersen2
, Renê Orlowski3, Paulo César Borges4
!.Mestrando do Curso de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial CPGEI/CEFET-PR, 2·Professor do Departamento Acadêmico de Mecânica DAMEC/CEFET-PR,
Membro do Núcleo de Pesquisa em Engenharia Simultânea - NuPES 3'Aluno do Curso de Eng. Industrial Mecânica do CEFET-PR, bolsista RHAE/CNPq
4'Professor do Curso de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial- CPGEI/CEFET-PR, Departamento Acadêmico de Mecânica - DAMEC
Av. Sete de Setembro, 3165, Centro, CEFET-PR- CEP 80230-901 [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - Este trabalho analisa o desempenho de quatro alças ortodônticas planas para retração de caninos, confeccionadas com arame de aço inoxidável. As alças analisadas são do tipo "loop vertical'', com e sem hélices, e com e sem inclinação das extremidades, a qual incorpora momentos iniciais. As análises foram realizadas através do método dos elementos finitos, utilizando elemento de viga bimensional. São explorados aspectos importantes no que diz respeito aos esforços resultantes (forças, momentos, e a relação momento/força) após a ativação, bem como limite elástico de cada alça. Os resultados obtidos são comparados a outro trabalho, mostrando concordância, e concluindo-se que o métodos dos elementos finitos é uma ferramenta útil e adequada para o estudo do desempenho e projeto de alças ortodônticas.
Palavras-chave: Alças Ortodônticas; Biomecânica; Método dos Elementos Finitos.
Abstract -This work analyses the performance of four planar cuspid retraction springs made by stainless steel wire. The springs analysed are "vertical loop" designs with and without an apical helix and preactivated by gabling angles that produce initial moments. The analysis was performed by the finite element method using bidimensional beam elements. Some important aspects are explored: the force systems (forces, moments and moment-force ratio) after the activation, and the elastic limit. The results obtained are compared to another paper issued in the literature, showing agreement and concluding that the finite element method is a useful and suitable tool to study 01thodontic spring designs.
Key-words: Orthodontic Springs; Biomechanics; Finite Element Analysis.
Introdução:
Molas ou alças de retração 01todônticas (figura 1) são utilizadas como meio de tracionar caninos ao sítio de extração de pré-molares, nos casos de:
1. dentes fora do alinhamento por falta de espaço no arco dentário, encontrando-se assim girados e/ou inclinados uns sobre os outros (apinhamento severo)
2. grande distância entre os dentes do arco superior e inferior (trespasse horizontal exagerado)
Estas alças são meios auxiliares na correção da má-oclusão através da mecânica ortodôntica edgewise. Elas produzem forças e momentos, que são responsáveis pela alteração da inclinação das raízes, provocando assim o fechamento dos espaços entre os dentes. Estas alças podem então produzir momentos de diferentes intensidades, confonne os objetivos do tratamento. O sistema de forças que atua sobre uma alça plana, quando ativada, está representado na
178
figura2. Nos dentes, atuam forças e momentos de mesma intensidade, somente em sentidos opostos.
Mais especificamente estas forças e momentos dependem dos requerimentos de ancoragem, que podem ser:
1. retração do segmento anterior (grupo de dentes anteriores retraem enquanto os posteriores pen11anecem ancorados ou pouco de movimentam);
2. movimento para frente de um ou mais dentes (grupo de dentes posteriores mesializam enquanto os anteriores permanecem no local ou pouco se movimentam).
3. ambos os grupos de dentes, anterior e posterior, movimentam-se para o sítio da extração.
4. retração isolada dos caninos, em casos de apinhamento anterior.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Figura 1 - Sistema da mecânica segmentada dos arcos, com uma mola tipo "T-loop'', cujos extremos estão inseridos na canaleta ("slot") do canino e no tubo auxiliar do mo lar.
Figura 2 - Forças (F) e momentos (M) atuantes na alça. Forças e momentos de mesma intensidade, mas de sentido oposto, atuam sobre os dentes onde a alça está ancorada.
Outra maneira de se fechar espaços em ortodontia é através de uma mecânica de deslize, onde. o(s) dente(s) deslizam através de um arco metálico impulsionados por meio de correntes elásticas, mola~ tipo "coil". Dois incovenientes advém dessa técnica um deles o atrito durante o deslize do dente pelo fio'. outro a rápida alteração da relação momento-força que acontece por um curto deslocamento. No presente trabalho não é estudada a técnica do arco contínuo.
Quando se aplica uma força sobre um dente, essa atua na região dos braquetes (braceletes que suportam o arco pelo qual o(s) dente(s) deslizam), causando inclinação do dente no sentido da aplicação da força. Isto faz com que o dente realize um movimento de inclinação, onde a coroa se desloca de um lado (lado da aplicação da força) e a raiz ou raízes são o centro de rotação. Este movimento é conhecido como inclinação controlada. Após este movimento pode ocorrer uma ligeira translação e em seguida a raiz ou raízes se movimentam, sendo a coroa o centro de rotação. Quando a força inclina a coroa dentária o braquete se apoia no fio ou arco ortodôntico (eixo pelo qual desliza o dente) e ocorre um binário ("couple") em sentido contrário, fazendo com que a raiz se movimente causando então uma translação instantânea. Por sua vez, com o movimento da raiz , o braquete novamente se choca com o fio ortodôntico e executa um couple no sentido contrário ao do primeiro "couple" descrito, agora com o centro de rotação estando ao nível coronal e não mais apical como no primeiro movimento (figura 3 ).
Cro1 = oo
F
F
Figura 3 - Movimentação instantânea do centro de rotação (Cro1), após aplicação da força F no sistema Edgewise. O design dos braquetes edgewise permite a formação de um couple (momento) após aplicação de uma dada força F.
Durante o processo de movimentação, pode-se entender que três diferentes relações momento/força acontecem em um curto espaço de tempo. Esse tipo de movimentação mostra ser traumático ao ligamento periodontal (tecido conjuntivo de suporte dos dentes) e ao osso alveolar (osso suporte dos dentes) (SIATKOWSKI [2]). Este mesmo autor demonstrou que esta rápida alteração pode ser evitada através dos "Opus loops", os quais estão presentes nos arcos contínuos e apresentam verdadeiro movimentos de translação.
As alças de retração ortodônticas vêm sendo estudas desde os anos 50 até o presente (REITAN [3]; RICKETTS [4]; BURSTONE et al. [5] [6] [7], GJESSING [8]; FERREIRA [9]) no intuito de se obter forças que atuem em níveis biologicamente aceitáveis e que demonstrem uma relação M/F condizente com os objetivos do plano de tratamento. Estas alças não apresentam atrito e permitem que se trabalhe com uma baixa resistência à deflexão graças maior distância inter-braquete.
Análises numéricas (RABOUD et al. [10]), e técnicas experimentais (BURSTONE et al. [7]; GJESSING [8]; FERREIRA [9]) vem sendo utilizadas para a análise de alças.
Este trabalho tem como objetivo validar a análise via Método dos Elementos Finitos como uma técnica confiável e precisa no estudo da perfonnance de alças ortodônticas, prevendo-se valores de forças, momentos, resistência à deflexão e limite elástico das alças.
Metodologia
O Método dos Elementos Finitos é uma técnica numérica de solução e simulação de inúmeros problemas físicos. A idéia básica do método é dividir o corpo ou domínio em estudo em sub-regiões, chamadas elementos finitos. A partir disso, montam-se as equações matemáticas governantes do fenômeno em
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
estudo para cada sub-região (elemento finito). Posteriormente unem-se as equações de cada elemento, de fonna a preservar a continuidade, obtendo-se uma única equação que representa todo o corpo em estudo.
Na análise estática de tensões e deformações, a equação algébrica de elementos finitos que representa o corpo em estudo toma a seguinte forma (COOK et ai [11]):
[K]{u }={F}
onde
[K] é a matriz de rigidez
~t} é o vetor deslocamentos nodais, e
{F }o vetor força
(1)
Após solucionado o sistema ( 1 ), obtendo-se os
deslocamentos nodais ~t }, pode-se obter as tensões e
esforços no corpo. No presente trabalho as alças foram analisadas
com elementos finitos do tipo viga bidimensional, com dois nós e três graus de liberdade por nó. Ou seja, considerou-se as alças planas.
A seção transversal do fio das alças é retangular, de dimensões 0,406 nun X 0,559 mm (0,016 X 0,022 polegadas), e feito de aço inoxidável, com módulo de Young 177 GPa, e tensão limite de escoamento igual a 1400 MPa.
Devido à magnitude dos deslocamentos obtidos serem grandes para a geometria em estudo, o problema
é do tipo não-linear. Portanto, a matriz [K] depende
do vetor ~t }, caracterizando um sistema de equações
não lineares. A ativação foi considerada máxima para cada
mola quando, em qualquer ponto, o material do fio atingir sua tensão de escoamento (1400 MPa ). Este é definido como o ponto em que o fio sofre deformação permanente, não possuindo mais retomo elástico. Neste ponto parou-se o processo de solução.
Resultados
Para demostrar a aplicabilidade do método, quatro alças foram avaliadas. Utilizou-se para isso o software comercial de elementos finitos Ansys 5.2, versão educacional. O design das alças são apresentados nas figuras 4, 5, 6 e 7. As dimensões não especificadas nas figuras 5, 6 e 7 são as mesmas da figura 4.
180
/ R=lmm
R = 0.25 mm
\ 19 mm
Figura 4 - Alça # 1
A 1( 18.2 mm
>J
Figura 5 - Alça #2
19.1 nun
Figura 6 - Alça #3
-------1(
18.5 mm
Figura 7 - Alça #4
As figuras 8, 9, 1 O e 11 apresentam valores da força F em função da ativação para as quatro alças, bem como resultados apresentados por RABOUD et al. [l O]
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
6 Alça #1
5 Presente Trabalho + +
4 Raboud et al.
.__,
b 3 µ;,,,
2
OcllS'---r~~~~~~~-r-~~~~~
O.O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Ativação [mm]
Figura 8 - Força para a alça #1 (comparação com resultados de Raboud et ai [ 1 O]).
6 o
5 o
o 4
o
2 Alça #2
o Presente Trabalho
Raboud et ai. OH<J---r~~--,.~~~~..,--~~~~~
o.o 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Ativação [mm]
Figura 9 - Força para a alça #2 (comparação com resultados de Raboud et al [ 1 O]).
,..-,
z ......... µ;,,,
7
6
5
4
3
2
• •
+ Presente Trabalho
Raboud et ai. o--~~~~~~~~~~~~~~
o.o 0.4 0.8 1.2 1.6
Ativação [mm]
Figura 10 - Força para a alça #3 (comparação com resultados de Raboud et ai [ 1 O]).
7 L:,
L:,
6
5
,..-, 4 z ......... µ;,,, 3
2 Presente Trabalho
et ai. OiJS.---r~~~~~~~..,--~~-,--~~
o.o 0.4 0.8 1.2 2.0 Ativação [mm]
Figura 11 - Força para a alça #4 (comparação com resultados de Raboud et ai. [10]).
A figura 12 apresentam valores de momento em função da ativação para as alças #1 e #3, e a figura 13 para as alças #2 e #4, também comparando os resultados com o de RABOUD et ai [10]. Pode-se observar o efeito da inclinação inicial dada nas extremidades das alças #3 e #4.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
18
16
14
12 ,......., s 10 s z
8 ...__.
:E 6
4
2
o O.O
+ •
Alça #1 (Presente Trabalho)
Alça #3 (Presente Trabalho)
Raboud et al.
0.2 0.4 0.6 0.8 Ativação [mm]
1.0 1.2
Figura 12 - Momento para as alças #1 e #3 (comparação com resultados de Raboud et ai [10]).
20
18
16
14 ,.......,
12 s s 10 z ...__.
:E 8
6
4
2
o O.O
o L:o.
0.4
Alça #2 (Presente Trabalho)
Alça #4 (Presente Trabalho)
Raboud et al.
0.8 1.2 1.6 2.0 Ativação [mm]
Figura 13 - Momento para as alças #2 e #4 (comparação com resultados de Raboud et ai [ 1 O]).
Para comparar o desempenho entre as alças, a figura 14 apresenta as forças obtidas no presente trabalho para as quatro alças, a figura 15 os momentos, e a figura 16 as relações momento-força.
Nota-se que para as alças #1 e #3 a relação momento-força é praticamente constante. Já para as alças #2 e #4, que possuem ângulo inicial de 1 O graus em suas extremidades, esta relação é bastante variável, sendo alta para uma ativação pequena, diminuindo quando se aumenta a ativação.
Nota-se também que com as alças #2 e #4 (alças com hélice) pode-se obter uma maior ativação antes de se alcançar o limite elástico do material.
182
8
7
6
5
~4 ri..
3
2 o
Alça#!
Alça #2
Alça #3
Alça #4
o._--,-~,---,--,~.--.~,---,--.---,
o.o 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
Ativação [mm] Figura 14 - Forças obtidas no presente trabalho para as quatro alças.
20
18
16
14 ,......,
12 E E
10 z ..._,
2 8
6
4
2
o O.O
o
0.4
Alça #1
Alça #2
Alça #3
Alça #4
0.8 1.2
Ativação [mm]
1.6 2.0
Figura 15 - Momentos obtidos no presente trabalho para as quatro alças.
16
14
s 12 E ..._,
10 µ:..
--- 8 2 o
lc::l 6 <> c::l
0 ~ 4
2 ++1
o O.O 0.4 0.8
+ o
1.2
Ativação [mm]
Alça #1
Alça #2
Alça #3
Alça #4
1.6 2.0
Figura 16 - Relação momento-força obtida no presente trabalho para as quatro alças.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Discussão e Conclusões
Segundo REIT AN [3], conforme a mecamca aplicada, pode-se ter um movimento de inclinação, onde uma força F aplicada ao braquete de um dente pode ser de maior magnitude nas regiões apical e cervical, ao passo que em movimentos de translação essa força é igualmente transmitida ao longo da superficie radicular no lado de pressão.
Forças exageradas levam à áreas de hialinização mais persistentes com conseqüente dificuldade na movimentação dentária e maior possibilidade de reabsorção radicular. Esse mesmo autor advoga que para movimentação de caninos superiores, cerca de 150 a 250 gf (grama-força) são necessários, enquanto que para caninos inferiores de 100 'a 200 gf.
Com o uso de alças com inclinação prévia nas extremidades (pré-contorneadas em seus extremos) pode-se ter melhor controle dessa alteração instantânea do centro de rotação (Crot), evitando-se assim áreas de maiores tensões e pressões nas regiões apical e cervical. Assim pode-se prever o tipo de movimento desejável conhecendo-se antecipadamente a relação M/F empregada, conforme os requerimentos de ancoragem desejados.
Segundo BURSTONE et ai. [5], a relação momento-força (M/F) para incisivos centrais varia da seguinte maneira ,conforme o tipo de movimento:
!. Movimento de translação M/F: 10/1 2. Movimento em torno do ápice radicular
M/F:5/1 3. Movimento em torno da coroa, M/F: 1211
Segundo RABOUD et ai [10], para caninos superiores quando a relação M/F for de 8.5/1, oco1Terá translação, ao passo que para relações M/F menores que 8.511 ocorrerá inclinação em torno do ápice radicular (Cro1) e relações maiores que 8.5 haverá inclinação em torno da coroa dental (Crot)·
Pelos gráficos apresentados, nota-se a concordância de resultados obtidos no presente trabalho com aqueles obtidos por RABOUD et ai [10], mostrando a utilidade do método dos elementos finitos na avaliação e projeto alças ortodônticas. Assim, podese prever, para uma dada ativação e ângulo de préativação, qual a força, momento, e relação momentoforça atuantes.
Percebe-se também que a pré-ativação possui um efeito grande na relação momento-força, quando a ativação é pequena.
Também verifica-se que, com a introdução de uma "hélice" (alças #2 e #4) a relação força/ativação é menor, podendo-se também obter relações momento/força maiores.
Referências
[l] E.H. Angle, Malocclusion of the Teeth, ih ed. Philadelphia, SS White Dental Mfg Co, 1907.
[2] R. Siatkowski, Continuous archwire closing loop design,optimization, and verification.Part I, Amer J Orthod and Dentofacial Orthopedics, vol 112,393-402, 1997.
[3] K.Reitan, Some factors determining the evaluation of forces in orthodontics, Amer J Orthod.43:32-45,1957.
[4] R.M. Ricketts, Bioprogressive therapy as an answer to orthodontic needs: part II, Amer J Orthod, 70:241-68, 1976.
[5] C.J.Burstone, E.V. Steenbergen, K.J. Hanley, Modem Edgewise Mechanics and The Segmented Arch Tecnique, Department of Orthodontics University of Connecticut.School of Dental Medicine Fannington, Connecticut, USA, 1995.
[6] C.J.Burstone, The rationale of segmented arch, Amer J Orthod 48(11):05-821, 1962.
[7] C.J.Burstone, H.A. Koenig, Force systems from an ideal arch, Amer. J Orthod 65:270-289, 1974.
[8] P.Gjessing, Biomechanical design and clinicai evaluation of a new canine retraction spring, Amer J. Orthod.87:353-62, 1985.
[9] M. A FelTeira, The wire material and cross-section effect on double delta closing loops regarding load and spring rate magnitude:Na in vitro study, Amer J Orthod and Dentofacial Orthopedics, voll 15:275-82, 1999.
[10] D.W. Raboud, M. G. Faulkner, A. W. Lipsett, D. L. Haberstock, Three-dimensional effects in retraction appliance design, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Volume 112, no, 4., pp. 378-392, 1997.
[11] R D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 3ª. Ed, John Wiley & Sons, New York, 1988.
ANAIS DO CBEB'2000
Laboratorio de Biomecánica de Bajo Costo. Desarrollo de Sistema de Videografía Digital.
Ariel A. A. Braidot, Dante G. A. Gallardo, Juan I. Spinetto
Cátedra de Biomecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R.)
Ruta 11 Km. 10 Oro Verde Entre Ríos. TE y Fax +54-343-497510011 Email: [email protected]
Resumen - La aplicación de técnicas de videografia digital se ha convertido en una importante herramienta para e! análisis cinemático dei movimiento tanto de la marcha como dei deporte. En e! deporte de alto rendimiento la complejidad de los movimientos y las velocidades son muy altas, inclusive para ojos entrenados, por lo que resulta imposible apreciar algunos detalles de movimiento. Estas tecnologías permiten la adquisición de imágenes a altas frecuencias (180 cuadros por segundo o más), proveyendo información adicional para describir las actividades dinámicas, permitiendo así el mejoramiento de la técnica deportiva. Lamentablemente, este tipo de prácticas queda limitada debido a los altos costos de los equipos comerciales. Teniendo en cuenta este problema y centrando la atención en e! estudio de la marcha, se desarrolla un sistema de bajo costo, que incluye un programa en PC para detectar en forma automática las marcas colocadas sobre e! individuo en estudio. Se realiza e! análisis de la marcha de indivíduos sanos y algunos casos patológicos.
Palabras Claves: Biomecánica, Cinemática, Dinámica, Movimiento Humano, Modelización, Marcha, Carrera.
Abstract - The application of digital vídeo techniques are being converted in an important too! for gait and sports analysis. ln high performance sports the complexity of movements and speed are very high, even for trained eyes, therefore it is impossible to look for details of movements. These technologies allow the acquisition of images at high frequency (180 frames per second or more), providing additional information for describing the dynamical activities, and this allow improve the sports techniques. Unfo1tunately, this technique is limited for the high cost of commercial equipment. ln this context and focusing the attention in gait studies, we have developed a low cost system that include a PC software to automatically detect of localized marks on the key points of person under study. ln addition we have realized the gait analysis ofnormal and some pathologic cases.
Key-words: Biomechanics, Kinematics, Dynamic, Human Movements, Modeling, Gait, Running.
Introducción
Todo movimiento voluntario, incluyendo la marcha, carrera y otros gestos depmtivos es e! producto de un complejo proceso que incluye al cerebro, a la medula espinal, nervios periféricos, músculos, huesos y articulaciones. La comprensión dei movimiento requiere de conocimientos de anatomía, fisiología y biomecánica [2, 22, 25, 26].
En particular e! análisis cinemático de la marcha es la descripción de los detalles dei movimiento humano sin tener en cuenta las fuerzas internas o externas que lo causan. Es decir, estudio de la posición, velocidad, duración de las fases y ángulos de segmentos de miembros inferiores. Esta cuantificación constituye una importante herramienta para la obtención de patrones normales y patológicos de la locomoción, además se ha demostrado que es útil en la prescripción de tratamientos como así también en la evaluación de resultados terapéuticos [25,26].
Para e! estudio de la marcha el cuerpo se divide en dos subsistemas: a) miembros inferiores y b) parte superior dei cuerpo: Cabeza, brazos tronco, a veces
184
referido por su sigla en inglés HAT. En este trabajo el subsistema de miembros inferiores se divide en tres segmentos: muslo, pierna y pie, de ambas extremidades. Se consideran rígidos a los segmentos durante e! movimiento. Debe notarse, sin embargo, que esta hipótesis de segmento rígido no es estrictamente válida, pero a los fines de este estudio es una aproximación aceptable dei modelo.
El comportamiento de los miembros inferiores durante la marcha, responde ai principio de causa y efecto. E! proceso que nos interesa se inicia con un potencial de acción en las neuronas dei sistema nervioso central (causa), genera momentos musculares en las articulaciones y culmina con las fuerzas mecánicas de reacción dei suelo y el movimiento de los segmentos dei cuerpo ( efecto ).
Una vez generado y transmitido el potencial de acción, se desencadena la marcha, en la cual se pueden distinguir diferentes estadíos. E! análisis es diferente para cada una de las fases de la marcha humana, su descripción detallada se puede encontrar en la bibliografia [25], aquí simplemente se enumeran las fases: Respuesta a la carga, Apoyo media, Apoyo final,
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Prebalanceo, Balanceo inicial, Balanceo media, Balanceo final.
Respecto de los sistemas de medición de variables cinemáticas se pueden mencionar los electrogoniómetros. Estos dispositivos pueden medir ángulos relativos simples o múltiples [ 11, 19, 20]. Además, se han realizado técnicas de validación comparando los registros de electrogoniómetros con mediciones manuales que penniten estimar la exactitud y precisión dei dispositivo [5]. También se realizaron mediciones comparativas de rotaciones de la pelvis, utilizando electrogoniómetros y análisis 3-D por medio de videografia obteniéndose coeficientes de correlación entre 0.84 y 0.97 [1]. Por medio de electrogoniometría se ha estudiado la asimetría dei movimiento angular de la rodilla durante la marcha de una población de sujetos normales [ 1 7] y con registros simultáneos en plataformas de fuerzas se ha estudiado momentos de fuerzas entre L5/S 1 [9].
La técnica de medición de variables cinemáticas que se utiliza en este trabajo es un sistema de filmación y posterior reconstrucción de las posiciones de marcadores ubicados sobre el sujeto a ser medido. Esta técnica es muy difundida y sólo a título de ejemplo se puede mencionar que se ha utilizado para medir la cinemática del brazo [10], los movimientos en la marcha y la carrera [2, 14, 16, 18, 21] y en la carrera con vallas [23]. Además, nmchos trabajos se han realizado para valorar la calidad de las mediciones en sistemas videográficos, comparando sistemas 2-D y 3-D [4], analizando enores en sistemas estereofotogramétricos en general [7] y estimando la exactitud de las mediciones [23]. Es muy importante e! número de trabajos que se ha realizado para evaluar patologias del movimiento, por ejemplo para prótesis dei miembro inferior [12, 24], para hemipléjicos [15], y analizar el movimiento luego de la reconstrucción dei ligamento cruzado anterior [8]. Se requiere de técnicas de suavizado para lograr curvas adecuadas a partir de las coordenadas obtenidas desde la filmación con un sistema de video. En la literatura se puede encontrar una revisión de las diferentes técnicas de filtrado aplicadas en la obtención de variables cinemáticas en la marcha [13]. Las mediciones cinemáticas también se han utilizado para evaluar el centro de masa en gestos deportivos como la carrera [ 16].
El proceso total se denomina videograjia digital y empresas como Vicon y Motion Analysis han desarrollado y puesto en e! mercado equipos que utilizan esta técnica. Estos equipos no manejan videocámaras comerciales sino que utilizan cámaras de video que llegan a captar 180 cuadros por segundo, son especialmente aptas para registrar movimientos rápidos como algunos gestos deportivos en atletismo. Si bien estos equipos poseen grandes ventajas, sus costos nmchas veces los hacen inalcanzables, ya que rondan los $250.000 dólares. En Argentina, el único equipo de medición de parámetros cinemáticos de estas características funciona en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ).
Ante esta situación de elevados presupuestos se comenzaron a investigar salidas alternativas de bajo
costo. Por ejemplo, Cleva y Monzon [3], investigadores de la Universidad Nacional dei Nordeste, desarrollaron un sistema de videografia basado en una cámara de video hogarefía, una reproductora de video y una PC con una tarjeta digitalizadora. Esta técnica presenta la limitación de la velocidad de la cámara (25 cuadros por segundo que se pueden desdoblar a 50 campos) pero esta demostrado que esta velocidad es suficiente para registrar la marcha normal y patológica [26].
En el trabajo de Cleva y Monzon [3] representa una buena alternativa a los equipos complejos si el objetivo es estudiar movimientos en la marcha. La desventaja más importante en aquel trabajo es que la localización de las marcas se realiza cuadro a cuadro en forma manual (buscándolas con editores de dibujo como Paint) y esto al igual que en las técnicas cinematográficas es sumamente lento y engorroso.
Teniendo en cuenta que la videografia brinda resultados confiables, y analizando los problemas de costo o tiempo que presentan las opciones descriptas, surge la idea de desarrollar un laboratorio de Biomecánica similar al desarrollado por Cleva y Monzon [3] con la ventaja de que la detección de las marcas se realiza en forma automática a través de un programa desarrollado en Delphi.
Materiales y Métodos
E! ambiente de filmación debe tener las dimensiones suficientes como para colocar la cámara a por lo menos 4 [m] del escenario de filmación, el que debe tener un ancho de al menos 4 [m] para permitirle ai paciente dar mas de un paso. Es necesario que en la toma se registre, ai menos un paso completo caminando en forma natural. Sobre el fondo del escenario se colocó un material uniforme, altamente opaco. Una vez colocada y alineada la cámara se ubica un doble cubo de calibración, las marcas en los vértices sirven como referencia y corrección, luego el cubo se retira y se realizan las mediciones sin mover la cámara. Los marcadores cutáneos son un punto critico, ya que de la detección o no de estos depende e! buen funcionamiento dei sistema. Comercialmente se utilizan marcadores reflectivos. En este caso se hicieron varias pruebas, se intentó con telas de colores con cierta reflectividad, después con marcadores realizados con tela reflectiva 3M, y finalmente con autoadhesivos de colores también reflectivos. A nuestro criterio los mejores resultados se obtuvieron con las telas reflectivas 3M, a pesar de que éstas aportaron una dificultad mas, que es el entrecruzamiento de los marcadores. No obstante, como se detalla mas adelante el programa desarrollado es lo suficientemente robusto y recupera la posición de todos los tipos de marcadores que se han probado. Las telas reflectivas 3M se fabrican con un material reflectivo Scotchlite TM 891 O gris plata. No se incluyen aquí las características técnicas por razones de espacio.
Se utiliza una cámara de video Panasonic con la posibilidad de modificar el tiempo de obturación y apertura del diafragma. Se trabaja con un televisor JVC para visualizar la posición de la cámara y la calidad de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
la filmación. Se utiliza una editora de video Panasonic AG-4 700, que permite obtener los 50 campos por segundo de los 25 cuadros entrelazados de la nonna PAL. Se emplea una tarjeta digitalizadora de video, Miró DC30 Plus, en una PC con microprocesador Pentium II 350. MHz, 64 Mb de memoria RAM. Un requerimiento importante es que tenga la posibilidad de mostrar la pantalla en 1024x768 pixeles en 24 bit de color (Figura 1 ).
Figura 1: equipos utilizados para la digitalización y procesamiento en PC.
Desarrollo
El desarrollo del sistema se puede separar en tres bloques principales: .filmación, digitalización y procesamiento por software. Estos tres bloques son bastante independientes, están comunicados por protocolos y especificaciones técnicas. De esta forma, respetando estas especificaciones cada bloque puede ser realizado por distintas personas en distintos lugares. En el primer bloque se filma a un paciente y se obtiene como resultado un cassette de video. El segundo bloque toma este cassette y devuelve un archivo de video digital. Finalmente el tercer bloque toma el archivo y devuelve las curvas características de la marcha. A continuación se describen muy brevemente estas etapas.
Filmación: Se prepara el escenario (respetando las dimensiones del protocolo) y se realiza la filmación bajo la norma P AL-N que tiene una cantidad de 25 cuadros/s (50 campos/s). El tiempo de obturación se fija en 1/250 como una solución de compromiso entre la definición de los bordes de las marcas en cada campo y el excesivo oscurecimiento de la imagen registrada. El individuo se filma en el plano sagital y se lo hace caminar varias veces por el escenario de filmación. Sin previo aviso se toman 15 pasadas para una selección posterior.
Digitalización: Una vez obtenida la cinta de video analógica, se reproduce en la editora que pennite la separac10n de cada campo individualmente, posibilitando la obtención de 50 imágenes por segundo. Esta secuencia se digitaliza en un formato de extensión avi.
El software: Fue realizado en Borland Delphi 4't<., el objetivo del mismo es tomar como entrada el video ya digitalizado en un formato estándar de video (en general
extensiones avi) y devolver como salida las tablas de posición en función del tiempo de los marcadores seleccionados en la secuencia inicial de entrada. Los procesos de detección automática de las marcas a partir de un video digital .avi y el filtrado adecuado de cada curva son los pasos principales y mereceu una breve descripción.
Rutina de detección automática de los marcadores
Para la obtención de la posición de un marcador, se disenó un modelo autorregresivo (AR), sujeto a la hipótesis de que la articulación sobre la cual se ubica el marcador se mueve en forma acelerada en las direcciones x e y. En el primer cuadro (C0), se marca con el ratón el marcador que se desea seguir, al hacerlo se almacena una máscara (pequeno bitmap de tamano definible por el usuario ). Esta máscara es una foto del marcador y una pequena porción de su entorno. En los cuadros siguientes, esta máscara se compara con porciones del llamado rectángulo de búsqueda. El tamano de este rectángulo está definido por el usuario, al aumentar su tamano, mayor será la probabilidad de encontrar la marca en estudio, pero esto requiere mayor tiempo de procesamiento. Por este motivo, el rectángulo de búsqueda se minimiza centrándolo en una región próxima a la esperada para el marcador buscado. Las coordenadas del centro del rectángulo de búsqueda se hallan mediante el modelo AR, la posición del rectángulo de búsqueda en el cuadro enésimo depende de las posiciones en la que se encontró en los cuadros anteriores. Llamando Vi(11) y A/11) a la velocidad y
aceleración del marcador en la dirección i en el cuadro n respectivamente, para i = x se obtiene:
J/_1;(11-/) = [x(n-1)- x(n-2) ]jt (1)
(2)
Xn esp = x(11-I) + Vx(11-I)t +ri Ax(n-I)t2 (3)
Donde t es período de muestreo ( en nuestro caso 1150 seg.) y x11 esp es la posición x esperada del centro del rectángulo de búsqueda en el cuadro n. Para x e y finalmente se encuentra,
Xn esp =li x(11-I) - 2x(n-2) +ri x(n-3) (4)
Yn esp =li y(n-1)- 2y(11-2) +ri y(11-3) (5)
Ambas ecuaciones se aplican para n > 3. De esta forma el rectángulo de búsqueda queda determinado por un entorno rectangular (definido por el usuario) alrededor de (xn esp, Yn esp).
1
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
El algoritmo ubica la máscara en la esquina dei rectángulo de búsqueda y calcula el error entre ésta y la porción del rectángulo abarcada (de igual tamaíio que la máscara). Reteniendo el valor del error y la posición dei centro dei rectángulo abarcado, se mueve una posición en x y vuelve a calcular el error. En el caso de que este nuevo valor sea menor se renuevan los datos de error y centro. De esta manera se barre completamente el rectángulo de búsqueda, para luego colocar la nueva posición dei marcador en estudio, en la posición que generó el menor error. Posteriormente se almacenan estas coordenadas y se calculan las coordenadas del rectángulo de búsqueda para el cuadro siguiente.
E! cálculo del error se realiza considerando a cada pixel como un vector de tres componentes, las correspondientes ai rojo, verde y azul (ya que la representación de las imágenes está dada en 24 bits RGB). Cuando se superpone la máscara con una región dei rectángulo de búsqueda, se calcula punto a punto la diferencia vectorial del vector color de cada pixel de la máscara con el correspondiente pixel dei rectángulo. El error total para esa coordenada (centro de la región abarcada), es la suma de todas las diferencias vectoriales entre los puntos de la máscara y puntos correspondientes a la zona del rectángulo abarcado.
Cabe destacar que el error total hallado para cada región del rectángulo de búsqueda, se pondera en función de la distancia que exista entre e! centro dei rectángulo en comparación y el valor esperado calculado mediante ( 4) y ( 5). Esta última estrategia disminuye la probabilidad de que marcas cercanas que puedan caer en e! mismo rectángulo de búsqueda se entrecrucen.
E! ruido que afecta a los datos registrados proviene de distintas fuentes, ruido electrónico en los dispositivos optoeléctricos, la precisión espacial dei barrido en el video, e! sistema de digitalización o errores humanos. Además, en la obtención de las marcas se realiza un cálculo que filtra las imágenes ( descripto en párrafos anteriores) e introduce un ruido adicional de bido a la dimensión no puntual de las marcas (cada marca ocupa varios pixeles). Por consiguiente, aunque las coordenadas obtenidas se corresponden con un punto perteneciente a la marca, se produce un efecto de ruido diente de sierra cuando se obtienen las coordenadas en un extremo de la marca en un cuadro y en otro extremo en e! siguiente. Todo esto resulta en un error aleatorio en la obtención final de los datos, que requiere un filtrado de los datos originales para obtener la seiial deseada.
Las frecuencias fundamentales de las curvas cinemáticas están contenidas en e! rango de las bajas frecuencias, no mayores a 6 Hz. para la marcha normal. Por lo tanto, e! tipo de filtro que se debe utilizar es dei tipo pasa bajos y la frecuencia de corte dei filtro utilizado responderá a una solución de compromiso entre la potencia de ruido extraído y la distorsión ocasionada en la sena! [26].
Las frecuencias más importantes para los distintos marcadores no son las mismas, por ejemplo e! marcador del tobillo presentará componentes frecuenciales mas altas que la cadera durante e! mismo
paso. Además, las trayectorias de un mismo marcador estarán formadas por distintas componentes frecuenciales, según e! paciente camine normalmente o corra. En consecuencia, no existe una única frecuencia de corte para un marcador de determinada ubicación, ni mucho menos para e! sistema total. En éste punto radica la importancia de implementar un método que seleccione, de manera inteligente, la mejor frecuencia de coite para cada seíial original. Se escogió e! método de análisis residual porque cumple con este requisito satisfactoriamente. Por razones de espacio no se incluyen mayores detalles pero en la bibliografia se puede encontrar una revisión de las diferentes técnicas de filtrado aplicadas a mediciones cinemáticas dei movimiento humano [ 13].
Resultados
Con la técnica de videografia desarrollada se obtienen curvas nítidas, suaves para un conjunto impo1tante de sujeto normales y cualitativa y cuantitativamente semejantes a Ias obtenidas en la bibliografia [14, 25, 26]. Inicialmente, para validar e! método de filtrado utilizado, se compararon las curvas cinemáticas filtradas obtenidas a partir de datos sin filtrar tabulados por Winter [26]. Se obtiene un coeficiente de detenninación de 0.9999 entre los datos filtrados por nuestro método y los datos filtrados publicados por e! autor.
E! objeto de este trabajo es validar la técnica de mediciones cinemáticas por medio de videografía con equipamiento de bajo costo en aplicaciones clínicas. A continuación, a modo de ejemplo se presenta uno de los casos de estudio que hemos realizado en e! grupo de trabajo. Se trata dei estudio de la evolución de un paciente que sufrió la ruptura dei tendón de Aquiles luego de un salto. E! individuo, luego de la cirugía debió pennanecer enyesado durante sesenta días. Nosotros realizamos registros videográficos periódicos con ocho marcas adheridas en lugares anatómicos bien definidos [26]. Los resultados de las mediciones cinemáticas más interesantes son los ângulos dei tobillo a lo largo dei ciclo de un paso completo registrados a diferentes períodos posteriores a la fecha en que !e quitaron el yeso. En la Figura 3 se presenta las gráficas correspondientes ai ângulo dei tobillo a los 1 O, 25, y 40 días posteriores ai yeso y se incluye e! registro para sujetos normales.
Discusión y Conclusiones
AI analizar la Figura 3 se puede apreciar que e! ângulo de extensión dei tobillo (plantarflexión) entre e! 50 y 60 % dei ciclo de la marcha fue aumentando a lo largo dei proceso de recuperación durante el cual era asistido por e! kinesiólogo. Este período (50 y 60 % dei ciclo) corresponde ai máximo momento muscular durante la marcha, esto refleja la recuperación dei paciente que inicialmente tenía dificultades para mover e! tobillo, considerando que no se habría producido completamente e! despegue dei tendón luego de la sutura. No obstante, se debe aclarar que existía cierto
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
rango de movimiento en la articulación del tobillo y con este hallazgo clínico de rango articular libre y fuerza muscular "buena" con la limitación funcional dei tobillo durante la marcha, surgió la necesidad de enfatizar los trabajos de coordinación y propiocepción.
Es importante mencionar que en nuestro grupo de trabajo se ha abordado la medición de otros casos clínicos de interés e incluso el análisis cinemático de algunos gestos deportivos lentos que por razones de espacio no se detallan aquí. Es nuestro interés aportar estudios de casos clínicos y deportivos que permitan
12
-8
I \ I 1
1
4
: •I 1
: ), 1 I 1 I
I
o I I
o o I '-~
:.õ o
-4 1-())
"'O
-º -8
::::l O) --A los 10 días e -12
-<( -----A los 25 días ········A los 40 días
establecer el análisis biomecánico del movimiento utilizando registros cinemáticos y dinámicos con el posterior modelado como una técnica de uso rntinario. Entendemos que esto será un aporte a la calidad de vida para muchas personas, discapacitados, personas con lesiones y en proceso de rehabilitación y también para deportistas y entrenadores que contarán con una herramienta objetiva que les permite cuantificar los progresos.
,, : 1
1 I
-16 -.. -··-··· Sujetos Normales
-20 o 20 40 60 80 100
% Dei ciclo de un paso
Figura 3: Se observan las gráficas correspondi entes al ángulo del tobillo a los 1 O, 25 y 40 días posteriores al yeso de un sujeto que sufrió una ruptura del tendón de Aquiles. Se incluye e! registro para sujetos nonnales.
La técnica de videografia desarrollada en el presente trabajo es un procedimiento confiable, sencillo y económico, al compararlo con otras técnicas de análisis descriptas anteriormente. La división de etapas realizada permite al médico o entrenador realizar la filmación en su consultorio o club (siguiendo el protocolo descripto ). Considerando que no es necesario realizar la digitalización, detección y confección de curvas on fine, el profesional (médico o entrenador) puede prescindir de una digitalizadora o PC potente, por e! contrario puede limitarse simplemente a enviar la cinta para su análisis en e! laboratorio.
Si bien aún no se ha logrado difundir esta técnica para detectar en fonna temprana una patología, sin duda es una gran herramienta que !e permite al médico tener una mayor objetividad no sólo en sus diagnósticos sino también en el seguimiento de una rehabilitación considerando que muchos detalles de la marcha pueden
188
escapar ai ojo clínico y complicar o retrasar la recuperación dei paciente.
Referencias
[1] S. Brumagne, R. Lysens y A Spaepen, "Lumbosacral repositioning accuracy in standing posture: a combined electrogoniometric and videographic evaluation", Clinicai Biomechanics, vol. 14, no. 5, pp. 361-363, 1999.
[2] P. Cavanagh, Biomechanics of Distance Running. Champaign: Human Kinetics Books, 1990.
[3] M. Cleva y J. Monzón, "Técnica de videografia digital aplicada ai análisis bidimensional de la marcha humana", Revista Argentina de Bioingeniería, vol 2, pp. 226-237, 1996.
[4] P. L. Cheng y M. Pearcy, "A three-dimensional definition for the flexion/extension and abduction/adduction angles", Medical & Biological
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Engineering & Computing, vol. 3 7, no. 4, pp. 440-444, l 999.
[5] H. W. Christensen "Precision and accuracy of an electrogoniometer", Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, vol.. 22, no. 1, pp. 10-14, 1999.
[6] D. A. Dainty, R. W. Nonnan, Standardizing Biomechanical Testing in Sport. Champaign: Human Kinetics Publishers, 1987.
[7] U. DellaCroce, A. Cappozzo y D. C. Kerrigan, "Pelvis and lower limb anatomical landmark calibration precision and its propagation to bone geometry and joint angles", Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 37, no. 2, pp. 155-161,1999.
[8] P. DeVita, T. Lassiter, T. Hortobagyi y M. Torry, "Functional knee brace effects during walking in patients with anterior cruciate ligament reconstruction", American Journal of Sports Medicine, vol. 26, no. 6, pp. 778-784, 1998.
[9] F. A. Fathallah, W. S. Marras, M. Parnianpour y K. P. Grana ta, "Method for measuring externai spinal loads during unconstrained free-dynamic lifting", Journal of Biomechanics, vol. 30, no. 9, pp. 975-978, 1997.
[10] D. Flament, M. B. Shapiro, T. Kempf y D. M. Corcos, "Time course and temporal order of changes in movement kinematics during learning of fast and accurate elbow flexions", Experimental Brain Research, vol. 129, no. 3, pp. 441-450, 1999.
[11] M. J. Gaitan González, S. Carrasco Sosa, R. González Camarena y O. Yaiies Suáres, "Medición mediante electrogoniometía, de la potencia instantânea durante el salto vertical", Rev. Mex. Jng. Biomed., vol. 13, pp. 229-238, 1992.
[12] M. D. Geil, M. Parnianpour y N. Berme, "Significance of nonsagittal power terms in analysis of a dynamic elastic response prosthetic foot", Journal of Biomechanical Engineering -Transactions of the ASME, vol. 121, no. 5, pp. 521-524,1999.
[13] G. Giakas y V. Baltzopoulos, "A comparison of automatic filtering techniques applied to biomechanical walking data", Journal of Biomechanics, vol. 30, no. 8, pp. 847-850, 1997.
[ 14] M. P. Kadaba, H. K. Ramakrishnan y M. E. W ootten, " Measurement of lower extremity kinematics during levei walking", J. of orthopaedic Research, vol. 8, pp. 383-392, 1990.
[15] D. C. Kerrigan, E. P. Frates, S. Rogan y P. O. Riley, "Spastic paretic stiff-legged gait, Biomechanics ofthe un affected limb", American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, vol. 78, no. 4, pp. 354-360, 1999.
[16] C. R .Lee, C. T. Farley, "Determinants of the center of mass trajectory in human walking and running", Journal of Experimental Biology, vol. 201,no.21,pp.2935-2944, 1998.
[17] E. Maupas, J. Paysant, N. Martinet y J. M. Andr.e, "Asymmetric leg activity in healthy subjects during walking, detected by electrogoniometry", Clinica! Biomechanics, vol. 14, no. 6, pp. 403-411, 1999.
[18] I. McClay y K. Manai, "Three-dimensional kinetic analysis of running: significance of secondary planes of motion'', Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 31, no. 11, pp. 1629-1637, 1999.
[19] S. J. McCulley, "A new multiangle goniometer", Annals of Plastic Surge1y, vol. 42, no. 2, pp. 221-222, 1999.
[20] R. Muiioz Guerrero y E. Suaste Gomes, "Electrogoniometro y electromiografo sincronizados", Rev. Mex. Jng. Biomed., vol. 13, pp. 229-238, 1992.
[21] T. F. N ovacheck, "The biomechanics of running", Gait & Posture, vol. 7, no. 1, pp. 77-953, 1998.
[22] J. Prat, Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Valencia: Instituto de Biomecânica de Valencia, 1993.
[23] A. Saio, P. N. Grimshaw y J. T. Viitasalo, "Reliability of variables in the kinematic analysis of sprint hurdles", Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 29, no. 3, pp. 383-389, 1997.
[24] M. L. VanderLinden, S. E. Solomonidis, W. D. Spence, N .Li, y J. P. Paul, "A methodology for studying the effects of various of prosthetic feet on the biomechanics of trans-femoral amputee gait", Journal of Biomechanics, vol. 32, no.9,pp.877-889, 1999.
[25] M. W Whittle, Gait Analysis. An Introduction. Bristol: Butterword-Heinemann, 1996.
[26] D. A. Winter DA, Biomechanics and Motor Contra! of Human Movement. Waterloo, Ontario: Wiley, 1990.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Avaliação das Características Mecânicas de um Novo Modelo de Stent: Estudo da Força de Expansão Radial através da Análise da Tensão
Luciano da Silva Duarte 1, Paulo Roberto Steffani Sanches2, Adamastor Humberto Pereira3
, Lírio Schaeffer4
1.4Laboratório de Transformação Mecânica (LdTM), Depto. de Engenharia Metalúrgica,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, 91501-970 Fone (OXX51)316-6145, Fax (OXX51)316-6134
2Serviço de Engenharia Biomédica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCP A), Brasil, 90035-003
Fone (OXX5 l )316-8129, Fax (OXX5 l )316-8569 3Serviço de Cirurgia Vascular,
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCP A), Brasil, 90035-003 Fone (OXX5 l )316-8232, Fax (OXX51 )316-8569
lucianod@if. ufrgs. br, psanches@hcpa. ufrgs. br, apereira@hcpa. ufrgs. br, schaefer@vortex. ufrgs. br
Resumo - "Stents" são dispositivos médicos implantados no sistema vascular buscando reforçar vasos sangüíneos em colapso, parcialmente ocluídos, enfraquecidos ou com dilatação anormal. Um novo protótipo de "stent" foi construído e suas características de força de expansão radial foram avaliadas comparando-se o comportamento de sua tensão O" com a de um modelo comercial. Para tanto, a força de expansão radial característica de três "stents" de dois modelos distintos foi avaliada e a respectiva tensão calculada. Os dois modelos de endopróteses comparados foram o Z stent (Ella-CS) e o X stent (protótipo). O método e o equipamento de ensaio utilizados para proceder esta avaliação foram desenvolvidos no próprio local de pesquisa (Laboratório de Transformação Mecânica - LdTM/UFRGS). Para realização da comparação estatística, foram escolhidos os valores de tensão calculados para uma deformação radial relativa das endopróteses de 0,20. Esta comparação de tensões mostrou que as características mecânicas de expansão apresentadas pelo X stent são semelhantes as apresentadas pelo Z stent e, embora saliente-se a necessidade da realização de ensaios in vivo para comprovar a eficiência fisiológica deste novo modelo de "stent", conclui-se que sua funcionalidade estrutural é boa, atendendo às necessidades exigidas para sua cotTeta aplicação.
Palavras-chave: Ensaios mecânicos, Contenedores, Cirurgia vascular, Stents, Endopróteses.
Abstract - Stents are medical <levices which are implanted within the vascular system to reinforce collapsing, partially occluded, weakened, or abnormally dilated sections of blood vessels. A new stent prototype was constructed and its radial expandable force characteristics were evaluated comparing its stress behavior O" with a commercial stent model. The expandable force characteristics of 3 stents of 2 different models were evaluated and the respective stress calculated. The 2 stents models compared were the Z stent (Ella-CS) and the X stent (prototype). The method and the equipment used in the tests were developed at the same local of the research (Laboratório de Transformação Mecânica -LdTM/UFRGS). To proceed the statistic comparison it was choose the stress values to a 0.20 radial strain. This comparison shows that the expansion mechanical characteristics of X stent are similar to Z stent characteristics. In vivo tests are needed to prove the new design physiologic efficiency but we can say that the stent structural workability is god to attend the right application exigencies.
Key-words: Mechanical tests, Vascular surgery, Stents, Endoprostheses.
Introdução
Próteses endovasculares, ou simplesmente "stents", são dispositivos protéticos implantáveis no interior de um lumem para promover o suporte e assegurar a abertura do mesmo, assegurando a manutenção de sua luz. Estes "stents" são freqüentemente implantados no sistema vascular buscando reforçar vasos sangüíneos em colapso, parcialmente ocluídos, enfraquecidos ou com dilatação anormal. Geralmente, estas endopróteses são também utilizadas no interior do lumem de qualquer duto
190
fisiológico tais como: vias biliares, trato urinário, trato alimentar, sistema genitourinário, árvore traqueobronquial e aquedutos cerebrais [ 1].
Atualmente, mais de 50 modelos de "stents" estão disponíveis no mercado, com 12 modelos aprovados para uso nos EUA e um número maior na Europa. Estes modelos são construídos com materiais e técnicas distintas, o que ocasiona as diferenças de dimensões, acabamento superficial, revestimento e configuração estrutural existentes entre os mesmos. Não é surpreendente, portanto, que diferenças de flexibilidade, expansão, radiovisibilidade, facilidade de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
manipulação, resistência a compressão, acesso a ramificações secundárias e recuo sejam reportadas para diferentes modelos [2].
O Laboratório de Transformação Mecânica da UFRGS vem realizando, no decorrer dos dois últimos anos, uma extensa pesquisa na área de próteses endovasculares. Esta pesquisa vem sendo realizada em conjunto com médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Laboratório de Doenças Vasculares MV Ltda. Um intercâmbio técnico com a empresa Ella-CS da República Tcheca também vem sendo realizado, buscando acelerar o processo de conhecimento.
O projeto em questão visa o desenvolvimento de expansores endoluminais, e do respectivo processo construtivo, empregando tecnologia nacional e criando uma alternativa às endopróteses importadas existentes.
A partir do intercâmbio com a empresa Tcheca, foi desenvolvido um novo modelo de "stent", chamado de X stent. Os primeiros protótipos desta endoprótese apresentaram problemas em relação a força de expansão radial, fornecendo valores baixos para este parâmetro em relação a outros modelos testados paralelamente [3].
Devido a estes resultados, foram feitas modificações na configuração estrutural do protótipo original. Com estas modificações buscou-se incrementar a força de expansão radial sem prejudicar uma das principais inovações propostas por este modelo: a não projeção de partes agudas contra a parede arterial ao longo do corpo do "stent".
Um novo protótipo foi então construído e suas características de força de expansão foram avaliadas, em termos de tensão, e comparadas com o comportamento de um modelo comercial de "stent". Os resultados deste trabalho são mostrados neste texto.
Metodologia
A força de expansão radial característica de três "stents" de dois modelos distintos foi avaliada. Os dois modelos de endopróteses comparados foram o Z stent (Ella-CS) e o X stent (protótipo). Uma fotografia das endopróteses ensaiadas pode ser vista na Fig. 1.
Figura 1 - Fotografia das três endopróteses ensaiadas. De cima para baixo: Z 0,20, Z 0,25 e X 0,25.
As características dimensionais de cada uma das peças ensaiadas podem ser vista na Tab. 1 e a ilustração descritiva destas características pode ser observada na
Fig. 2. O material do fio metálico utilizado na preparação dos "stents" é aço inoxidável AISI 3 l 6L.
Tabela 1 - Características dimensionais das endo róteses ensaiadas.
BITOLA DO F"IO
0,25
GOMPR!ME:NTD
i
Figura 2 - Ilustração das características dimensionais de un1 "stent".
O método e o equipamento de ensaio utilizados para proceder a avaliação da tensão foram desenvolvidos no próprio LdTM pela equipe de pesquisadores com base nos experimentos realizados por Fallone [4]. O equipamento consiste de um gabarito de compressão cilíndrico formado por uma lâmina flexível fixa em uma das extremidades e conectada ao sistema de medição de força na outra.
O sistema de medição é móvel, podendo deslizar sobre um par de trilhos promovendo a compressão da endoprótese colocada no interior do gabarito. Este sistema é constituído por uma lâmina de aço instrumentada com dois strain gauges (Kyowa KFC-2-C 1-11, Japão), um de cada lado da lâmina, ligados a um conversor de sinais (HBM KWS/3S-5, Alemanha). A Fig. 3 apresenta um desenho esquemático do sistema de compressão.
Figura 3 - Esquema ilustrativo do sistema de compressão construído. Nota-se o gabarito de compressão formado por uma lâmina flexível fixo na extremidade esquerda e conectado ao sistema de medição na extremidade direita. Nota-se também os trilhos guia do sistema de medição móvel.
Para a realização dos ensaios, uma endoprótese era posicionada no interior do gabarito de compressão
l
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
com o sistema zerado e calibrado previamente. O sistema móvel de medida era então deslocado em incrementos pré-determinados de 5 mm. A cada deslocamento, a medida de força era verificada através do conversor de sinais.
Cada "stent" foi ensaiado 4 vezes e os dados adquiridos foram avaliados estaticamente através da análise de variância pelo método One-way Anova utilizando-se um nível de significância de 0,01 [5]. A compressão de 20 % em diâmetro foi escolhida para realização da comparação estatística por ser esta a condição média de trabalho das endopróteses avaliadas quando implantadas.
Através dos valores de força F medidos, a tensão CJ, mostrada na Equação (1 ), foi calculada dividindo-se o valor de F pela área aproximada de contato Ar da endoprótese com uma parede como, por exemplo, a arterial. Este cálculo permite a uniformização do efeito de fatores construtivos como: bitola do fio metálico; configuração estrutural da endoprótese; e comprimento total da mesma, na análise mecânica.
F a=-
Ar (1)
onde Fé a força de expansão radial do "stent" medida e A.ré a área de contato aproximada do "stent" com uma parede.
Conforme mostra a Equação (2), esta área aproximada de contato Ar é a área da projeção de toda a estrutura do "stent" sobre um cilindro externo ao mesmo e de igual diâmetro. Esta aproximação considera que o fio metálico formador do "stent" não tem apenas uma linha de tangência como local de contato com uma parede, mas sim uma faixa de largura equivalente a bitola do fio, como zona de contato. Para o caso de uma parede arterial, esta aproximação pode ser feita devido a elasticidade característica do tecido desta parede.
(2)
onde f f é o comprimento total do fio utilizado na
construção do "stent" e </JI é a bitola deste fio metálico.
A tensão Cí, mostrada na Equação ( 1 ), foi graficada em função da deformação radial relativa, calculada segundo a Equação (3).
d -d ô.d e=-º--=
do (3)
onde d0 é o diâmetro inicial do "stent" e d é o diâmetro instantâneo do mesmo.
Resultados
No gráfico da Fig. 4, observa-se o comportamento relativo à tensão apresentado pelas três
192
peças ensaiadas. Este gráfico foi traçado com os valores médios de tensão para cada "stent". Na Tab. 2, são apresentados estes valores médios de tensão e suas respectivas variâncias calculadas para uma deformação radial relativa 0,20.
0,0175-r---i-----r---r----r-----i---,
-xo,25 0,0125 -,Q.- z 0,20 1----j---+-,<:-,,----i
~Z0,25
0,0000 -1"--,--f---.--+-....--l----r-+--r--+--.---l 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
Deformação (.t.d/d0
)
[mm/mm]
0,25 0,30
Figura 4 - Gráfico comparativo da tensão a em função da defonnação radial relativa t: dos três "stents" ensaiados.
A análise de vanancia mostrou que não há diferença significativa (F = 3,38; p = 0,055) entre os níveis de tensão dos três "stents" ensaiados para uma deformação relativa de 0,20.
Tabela 2 - Valores médios da tensão c:re da respectiva variância calculados para cada "stent" a partir dos dados
obtidos ara uma com ressão radial de 20 %.
Discussão e Conclusões
Sabe-se da literatura [ 4, 6, 7, 8, 9] que o modelo Z stent apresenta características mecânicas satisfatórias com relação a força de expansão, consequentemente, tendo também um bom nível de tensão. Observando-se o gráfico da Fig. 4, nota-se a tendência do modelo X stent apresentar níveis de tensão semelhantes aos deste modelo. Analisando-se os dados da Tab. 2, verifica-se que a diferença estatística entre todas as três peças ensaiadas não é significativa.
Estes dados sugerem que o comportamento mecânico do X stent é muito semelhante ao do Z stent, apresentando um nível de tensão crescente com a deformação relativa.
Com os resultados mostrados neste trabalho, salienta-se que o objetivo primordial da pesquisa em curso foi alcançado. O desenvolvimento de um "stent" nacional que apresente características funcionais satisfatórias foi concluído com sucesso. Salienta-se ainda a necessidade de realização de ensaios in vivo para comprovar a eficiência fisiológica deste novo
-
1 f
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
modelo de endoprótese, assun como, promover a otimização do mesmo.
Acrescenta-se, também, que uma das principais inovações do modelo X stent é não apresentar pontos estimulantes para a concentração de tensão na parede arterial ao longo de seu corpo, fato que não ocorre com o Z stent e outros modelos de endopróteses. Esta característica, entretanto, só poderá ser profundamente avaliada quando da realização dos ensaios in vivo.
Conclui-se, portanto, que a funcionalidade estrutural do X stent é boa, atendendo às necessidades exigidas para sua correta aplicação uma vez que o nível de tensão apresentado pelo mesmo para deformações da ordem de 0,20 é semelhante ao do modelo comercial analisado.
Agradecimentos
Agradecemos o apoio financeiro da Fapergs, do Laboratório de Doenças Vasculares MV Ltda., na pessoa do Dr. Júlio L. Nectoux, e o apoio técnico da Ella-CS, na pessoa do Dr. Karel Volenec.
Referências
[l] A. B. Fontaine, "Vascular stent and method of making and implanting a vascular stent", United States Patent, n 5.443.498, 12 p., 1995.
[2] E. R. Edelman and C. Rogers, "Stent - versus stent equivalency trials: are some stents more equal than others?", Circulation, vol. 100, pp. 896-898, 1999.
[3] A. L. R. Zarth, L. S. Duarte e L. Schaeffer, "Estudo experimental de endopróteses: obtenção de curvas tensão x deformação", in X Salão de Iniciação Cientifica - UFRGS, 1998.
[4] B. G. Fallone, S. Wallace and C. Gianturco, "Elastic characteristics ofthe self-expanding metallic stents", Jnvestigative Radiology, vol. 23, n 5, pp. 370-376, 1987.
[5] J. L. D. Ribeiro, Projeto de experimentos na otimização de produtos e processos: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -UFRGS, 107 p., 1996.
[6] F. Flueckiger, et al., "Strength, elasticity, and plasticity of expandable metal stents: in vitro studies with three types ofstress", JVIR, vol 5, pp. 745-750, 1994.
[7] K. Kichikawa, et al., "Experimental TIPS with spiral Z stents in swine with and without induced portal hypertension", Cardiovasc Intervent Radio!, vol 20, pp. 197-203, 1997.
[8] J. K. Kim, et al., "Experimental study of selfexpandable metallic inferior vena cavai stent crossing the renal vein in rabbits", Investigative Radiology, vol 31, n 6, pp. 311-315, 1996.
[9] A. Byer, G. Ussia and G. Galleti, "Autologous vein lined and vein covered stents in swine arteries. An experimental study to asses and compare patency and intimai hyperplastic response", Journal of Cardiovascular Surge1y, vol 39, n 4, pp. 393-398, 1998.
193
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Avaliação do Comportamento Mecânico do Tendão Patelar
Ana Paula Rosifini Alves 1, Luiz Antonio Maradei Freixêdas, Roberto Emod, Ailton Bonani Freire, Nelson Franco Filho2
1 Laboratório de Materiais e Ensaios (LME), Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Taubaté (Unitau), Brasil, 12060-440
Fone (OXX12) 225-4194 2 Departamento de Ortopedia e Traumatologia
Hospital Universitário de Taubaté, Brasil, 12060-440 Fone (OXX12) 225-4205
ana@mec. uni tau. br; [email protected]. br;
Resumo - O ligamento cruzado anterior (LCA) é o principal estabilizador anterior do joelho, sendo considerado um elo mecânico fundamental entre o femur e a tíbia, de tal forma que suas propriedades mecânicas são extremamente importantes. Quando rompido totalmente, só pode ser reconstruído através de procedimento cirúrgico. Nos últimos anos, diferentes tipos de materiais foram utilizados como prováveis substitutos, incluindo sintéticos e biológicos, destacando-se o tendão patelar (TP). Diversos autores têm realizado ensaios biomecânicos para prever o comportamento destes materiais. O presente trabalho consistiu em uma nova proposta para a realização de ensaios de tração em tendões patelares. As amostras foram extraídas de cadáveres formalizados e frescos com larguras variando de 6 a 10 mm, similares às formas de enxerto utilizadas. Os ensaios mecânicos foram realizados em uma máquina para ensaios de tração MTS, modelo Test Star. Os resultados obtidos foram comparados aos existentes na literatura levando a aprovação do método pelos autores.
Palavras-chave: tendão patelar; ensaio de tração; ligamento cruzado anterior.
Abstract - The anterior cruciate ligament (ACL) is the main stabilizer of the anterior knee, and is considered to be the primary mechanical link between the femur and tíbia, so its mechanical propertie are crucial to its function. The mechanical behavior of the ACL is complex and when completely tom, can be reconstructed by surgery. In recent years, different types of materials have been used as possible substitutes, including both synthetic and biological materiais, especially the patelar tendon (TP). Many authors have been realized biomechanical testing with these materiais. The present work consisted in a new offer for biomechanical testing in patellar tendon. The samples were extracted of knee of cadavera fresh and no, with 6 and 9 mm width, and same size of the graft,. The biomechanical testing was realized in a MTS materiais testing machine, model Test Star. The results were compared with literature and the authors considered the method viable from these experiments.
Key-words: Patellar tendon; anterior cruciate ligament; mechanical testing
Introdução
Nas últimas décadas diversos autores estudaram a complexidade que envolve o joelho, principalmente sob o ponto de vista biomecânico [ 1-11]. Basicamente, o joelho é composto por duas articulações (remuro-tibial e patelo-femural), dois meniscos, dois ligamentos centralmente localizados (cruzado anterior e posterior) e a cápsula articular, com seus reforços (complexos médio e lateral). O LCA (ligamento cruzado anterior) é o grande estabilizador do joelho, e quando rompido só pode ser reconstruído através de procedimento cirúrgico. Diferentes tipos de materiais têm sido utilizados como prováveis substitutos na reconstrução do LCA. Atualmente, a técnica mais empregada, e mais antiga, consiste na substituição do LCA pela porção central do tendão patelar (TP), com uma largura média de 1 Omm. Para o aprimoramento desta técnica, muitos
194
estudos têm sido realizados para prever as propriedades biomecânicas destes materiais.
Rossi [12] estudou as propriedades do LCA e do TP extraídos de vinte cadáveres, e observou não existir uma relação entre a idade do paciente e o limite de resistência obtido, o que contraria os dados de Waren [ 13] e também de Noyes [ 14-15]. Provavelmente, a discrepância existente entre os resultados pode estar relacionada com a forma com que os ensaios foram realizados. Diferente da padronização comumente empregada nos ensaios de tração em engenharia, os ensaios biomecânicos muitas vezes são realizados com as partes retiradas dos cadáveres em sua totalidade, como por exemplo ocorre nos ensaios de tração em joelhos. Isto certamente implica em variações de acordo com o tamanho da peça estudada. Este trabalho consiste em uma nova proposta para a realização de ensaio mecânico do tendão patelar, com a utilização de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
amostras com tamanhos e dimensões similares àquelas utilizadas nos enxertos.
Metodologia
O trabalho pode ser dividido em duas etapas: padronização dos corpos de prova (tendões formolizados) e realização dos ensaios com tendões frescos para analisar a viabilidade da padronização.
Obtenção das Amostras
Na primeira fase, a pesquisa foi realizada a partir de um lote de dezenove amostras, extraídas de cadáveres humanos formolizados, com larguras de 6, 8 e 10111111, respectivamente. A opção por tendões fonnolizados para a padronização do ensaio justifica-se nesta primeira etapa, uma vez que a armazenagem no formol leva a uma deterioração das fibras, o que teoricamente leva a uma uniformização das amostras, gerando uma análise mais precisa dos resultados. Além disso, a obtenção de joelhos frescos constitui-se em um fator regional bastante limitante.
Na segunda etapa, as amostras utilizadas foram retiradas de seis joelhos frescos extraídos de três doadores com 14, 69 e 73 anos, respectivamente, sendo de cada doador retirada uma amostra de 6mm de um dos joelhos e outra de 9mm, do contralateral. A partir do estudo de Michellini [ 16-17), optou-se pela armazenagem dos joelhos a uma temperatura de -20ºC , até a data da realização do ensaio. No dia anterior ao ensaio, os joelhos foram retirados do freezer e deixados à temperatura ambiente por aproximadamente oito horas, em seguida foram cortados com os padrões confeccionados em acrílico (figuras 1 e 2) e deixados a uma temperatura de aproximadamente 4 ºC, até algumas horas antes do ensaio.
Figura 1. Detalhe do corte das amostras de joelhos frescos e moldes em acrílico.
Caracterização Mecânica Segundo Souza [ 18) a aplicação de uma força em
um corpo sólido promove a deformação do material na direção do esforço e o ensaio de tração consiste em submeter um material a um esforço que tende a alongá-
Figura 2. Detalhe dos corpos de prova extraídos de joelhos frescos e utilizados no ensaio de tração.
-lo ou esticá-lo. O corpo de prova é levado a uma máquina de teste, usada para aplicar uma força centrada (F), sendo medido o alongamento (Õ). Para cada par de valores lidos F e õ, calcula-se a tensão ( cr) dividindo F pela área da seção transversal inicial da am~stra.
Calcula-se também a deformação específica (e.) dividindo-se õ pelo comprimento inicial Lo. Obtém-se assim o diagrama tensão-deformação marcando e. como abscissa e cr como ordenada, onde a curva caracteriza as propriedades do material e não depende das dimensões do material em estudo.
Nas duas fases deste estudo as amostras foram ensaiadas em uma máquina servo-hidráulica MTS, modelo Test Star II, com célula de carga de lOOOKgf e LVDT de lmm/min. No sistema de fixação adotado, a gan-a foi presa no próprio tendão, padronizando-se o L0
em 25mm (figura 3).
Figura 3. Detalhe da amostra após colocação na máquina de ensaios.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomecânica
Resultados
Tendões Formolizados
A tabela 1 mostra os resultados obtidos na primeira etapa do trabalho. Importante ressaltar que não havia registro das idades dos doadores, e que apenas os dados referentes àqueles que apresentavam bom estado de conservação, no aspecto macroscópico foram considerados nas análises. Observou-se que para cada largura, os valores de tensão máxima obtidos foram bastante próximos, independentemente da idade do doador, uma vez que não haviam registros. Isto evidência a hipótese de que o formo! deixaria as amostras com o mesmo comportamento quanto a elasticidade.
Tabela 1. Propriedades obtidas para as amostras extraídas de cadáveres formalizados
Largura do nº da Tensão Máxima Tendão amostra* ( <Jmnx) (mm) (MPa)
6 01 45 02 14,75 03 45 05 44,6 06 54,18
8 11 26,36 12 22,48 14 25,68
10 15 25,02 16 35,5 17 34,23
* os valores obtidos para as amostras 04, 07, 08, 09,10, 13,18 e 19 foram desprezados uma vez que
houve uma deterioração muito grande das fibras pelo formo]
Tendõs Frescos
As amostras extraídas dos tendões frescos tiveram um valor para L0 equivalente a 30mm.Isto porque na primeira etapa do trabalho, a maneira com que os tecidos foram armazenados (formo!) levou a uma retração das fibras e dificuldades na adoção de um L0
maior, que garantisse apenas a fixação no tendão. No caso dos tendões frescos foi possível, então, obter um padrão de 301m11 mais próximo ao do enxerto, normalizando este valor para o ensaio.
A partir dos resultados do ensaio notou-se que de acordo com a idade do doador os tendões frescos tiveram um comportamento mecânico diferente. As figuras 4, 5, e 6 mostram as curvas cr x e para as larguras de 6 e 9mm de cada doador.
A figura 4 mostra as curvas obtidas para o doador de 14 anos. Verificou-se que a tensão máxima foi de aproximadamente 23MPa e a deformação em
tomo de 44%, para a largura de 6mm, enquanto a tensão máxima foi de 12 MPa e deformação de 42% para a largura de 9111111.
Para o doador com 69 anos verificou-se que a tensão máxima foi de aproximadamente l 8MPa e a deformação em tomo de 20%, para a largura de 6111m, enquanto a tensão máxima foi de 14 MPa e deformação de 25% para a largura de 9mm, conforme pode ser obsevado na figura 5.
25
20 íV Q..
15 ~ o "" "' 10 e "" 1-
5
o o 11
Tensão x Deformação (doador 14 anos)
6111111
22 33
Deformação Específica (%)
Figura 04. Curva tensão x deformação obtida para as amostras com largura de 6 e 9mm, doador de 14 anos.
Tensão x Deformação (doador 69 anos)
20-,.-~~~~~~~~~~~~~~---,
18 16
rn14
~12 010 "" ~ 8 ~ 6
4 2 0-1-F;=r-~~~~~~~~~~~~~..,-,-,J
o 0.04 0.08 0.110.150.19 0.23 0.27 0.3 Deformação
Figura 05. Curva tensão x deformação obtida para as amostras com largura de 6 e 9m111, doador de 14 anos.
Tensão x Deformação (doador 73 anos)
14-.--~~~~~~~~~~~~~~---,
12
-10 "' a. ~8 o I~ 6 e: "" 1- 4
2
6m1
o..i=;:;~~~~~~~~~~~~~~,....,..,..,
0.21% 5.65% 11.10% 16.55% 21.98% Deformação(%)
Figura 06. Curva tensão x deformação obtida para as amostras com largura de 6 e 9mm, doador de 14 anos.
-
1 :g
ANAIS DO CBEB'2000
A análise da curva Ci x e para o doador de 73 anos evidencia a perda de elasticidade bem como uma diminuição da resistência máxima associada a idade do paciente, o que já era previsto (figura 6).
Discussão e Conclusões A partir dos resultados obtidos na realização dos
ensaios foi possível concluir que para os tendões fonnolizados observou-se a perda na elasticidade do material, conforme já era esperado, fazendo-se com que, independentemente da idade do doador, todas as amostras apresentassem comportamento mecânico parecido, sendo possível determinar uma amostra padrão, viabilizando a padronização do ensaio.
Para os tendões frescos, partindo-se das amostras padronizadas, os dados foram compatíveis ao trabalho desenvolvido por Noyes [15], o qual afirma existir relação entre a idade do paciente e o comportamento biomecânico do tendão patelar, sendo os valores bastante próximos. Os tendões com 9mm apresentaram um menor módulo de elasticidade (mais elástico), quando teoricamente, o valor deveria ser maior. Este resultado novamente é análogo ao obtido por Noyes, e pode ser justificado uma vez que uma maior área no tendão patelar implica em maior número de fibras não alinhadas, enquanto que uma menor área leva a uma carga centrada.
Assim, a partir do exposto e dos resultados obtidos conclui-se que este trabalho consiste em uma nova proposta para a realização destes ensaios.
Agradecimentos
A José Luiz Lisboa Departamento de Engenharia de Materiais, Faculdade de Engenharia Mecânica, Unicamp e a Luiz Flávio Martins Pereira, Departamento de Engenharia Mecânica , Unitau, pela ajuda na realização dos ensaios.
Referências
[l] D. L. Butler, et ai., "Location Dependent Variations in the Material Properties of the Ante1ior Cruciate Ligament", Journal of Biomechanics, vol. 25, 1992.
[2] D.H. Christopher et ai., "Loss of Motion after Anterior Cruciate Ligament Recosntruction", The American Journal o.fSports Medicine, vol. 20, 1990.
[3] A. P. Dorrel and M. D. Dole " An in vivo Study of Anterior Cruciate Ligament Graft Placement and Isometry", The American Journal o.f Sports Medicine, vol. 16, 1988.
[4] S. Farah, C. J. Calapdolopulos and F. Ribeiro " Tratamento Das Lesões Crônicas Do Ligamento Cruzado Anterior Com Prótese Artificial De Pai1es Moles ", Revista Brasileira de Ortopedia, vol. 32, 1997.
[5] E. T. James and T. J. Antich " Biomechanical Analysis of Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction with the Patellar Tendon", The Anzerican Journal of Sports Medicine, vol. 16, 1998.
[6] M. Melhom and C. Henning " The Relationship of the Femoral Attachment Site to the Isometric Tracking of the Anterior Cruciate Ligament Graft", The American Journal of Sports Medicine, vol. 15, 1987.
[7] M. U. Rezende et ai. " Viabilidade de Utilização do Tendão do Semitendinoso como Substituto do L.C.A. do Ponto de Vista Biomecânico", Revista Brasileira de Ortopedia, vol. 29, 1994.
[8] F. G. Girgis, J. L. Marshall, A. R. S. AI Monajem, "The Cruciate Ligaments Of The Knee Joint: Anatomical, Funcional And Experimental Analysis". Clinica! Orthopedics, vol. 106, pp 216-231, 1975.
[9] A. A. Amis and G. P. C. Dawkins, " Functional Anatomy OfThe Anterior Cruciate Ligament .- fibre bundle actions related to ligament replacentements and injuries". The Journal ofBone and Joint Surge1y vol. 73, 1991.
[10] C. H. F. Picado and L. A. J. Paccola, " Efeitos do Enfraquecimento e da Desvitalização do Ligamento Patelar de Ovinos sobre sua Resistência à Tração". Revista Brasileira de Ortopedia, vol 3 l, l 996.
[l l] G. L. Camanho, G.L. "Substituição do Ligamento Cruzado Anterior: Procura do Substituto Ideal". Revista Brasileira Ortopedia, vol. 27, pp.187-189, 1992.
[12] J. D. Rossi et al. " Ligamento Cruzado Anterior e Tendão Patelar: Estudo Mecânico e C01Telações Clínicas". Revista Brasileira de Ortopedia vol 25, 1990.
[13] R. F. Warren ". Primary Repair Of The Anterior Cruciate Ligament". Clinica! Orthopedics, vol 172, 1983.
[14] F. R. Noyes et al. "Biomechanical Analysis of Human Ligament Grafts Used in Knee-Ligament Repairs and Reconstructions". Journal and Bane Joint Surge1y, pp.344-352, 1984
[15] F. R. Noyes and E. S. Grood "The Strength ofThe Anterior Cruciate Ligament in Humans and Rhesus Monkeys". The Journa/ ol Bane anel Joint Surge1y, vol. 58-A, pp. l 074-1082, 1976.
[16] W. Michellini "Estudo Comparativo de Diferentes Tratamentos Químicos, com e sem Resfriamento, sobre as Propriedades Mecânicas dos Ligamentos Cruzado Anterior e Porção Central Patelar de Cães. Tese de Doutorado, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 1989.
[17] W. Michellini, "Comparação das Propriedades Biomecânicas do Ligamento Cruzado Anterior e da Porção Central do Tendão Patelar (TP) em Cães-Efeitos do Congelamento". Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 1984.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Caracterização Térmica, Morfológica e Mecânica das Blendas de Poli(L-ácido láctico )/Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato)
Betina M. P. Fen-eira, Cecília A. C. Zavaglia e Eliana A. R. Duek
Departamento de Engenharia de Materiais, Faculdade de Engenharia Mecânica Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 13083-970
Fone (OXXl 9)788-3309, Fax (OXXI 9) 789-3722 betina@fem. unicamp. br, zavagl@fem. unicamp. br, eliduek@fem. unicamp. br
Resumo - Polímeros biodegradáveis estão sendo usados em um número crescente de aplicações biomédicas. Muitos esforços tem sido feitos para alcançar as aplicações desejadas. Um dos métodos efetivos na arquitetura molecular, pelo qual podem ser obtidas propriedades mecânicas e de biodegradação toleráveis, como por exemplo copolímeros e blendas poliméricas. Neste trabalho foram preparadas blendas de Poli(L-ácido láctico )/Poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) PLLA/PHBV em diferentes composições (100/0, 60/40, 50150, 40160, e 0/100), e caracterizadas através das análises de Calorimetiia Diferencial de Varredura (DSC), Análise Dinâmico-Mecânica (DMA), Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) e propriedades mecânicas (MTS). Os resultados mostram que as blendas PLLA/PHBV são imiscíveis, porém não apresentam separação de fases a nível microscópico. As blendas mostraram superficies de fratura densas, em todas as composições.
Palavras-chave: Blenda, Poli(L-ácido láctico), Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato ), Biomaterial.
Abstract- Biodegradable polymers are being used in an increasingly large number ofbiomedical applications. To achieve the desired applications, many efforts have been made. One of the effective methods in molecular architecture by which tailored mechanical as well as biodegradation prope1ties can be obtained, as for example copolymers and polymer blends. ln this work we prepared Poly(L-lactic acid)/Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) blends in different compositions (100/0, 60/40, 50150, 40160, e 0/100), and characterized by Differential Scanning Calorimetry (DSC), Dynamical Mechanical Analysis (DMA), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Mechanical Properties (MTS). The results showed that the blends are ümniscible, but do not show phase separation by microscopy. The surfaces of fracture of blends are morphologically dense, for ali compositions.
Key words: Blend, Poly(L-lactic acid), Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate), Biomaterial.
Introdução
A aplicação de materiais poliméricos na medicina e cirurgia tem crescido consideravelmente nestas últimas décadas, especialmente no campo dos órgãos artificiais. Não é mais surpresa que, substâncias sintéticas possuam, incontestavelmente, estrutura similar ao material que deve ser substituído [1] e [2].
Durante o período de evolução no aparecimento de novos polímeros, descobriu-se que também seria tecnologicamente e economicamente vantajoso o desenvolvimento de técnicas para modificar alguns polímeros até então existentes. A primeira técnica de modificação desenvolvida e empregada foi a copolimerização conjunta de dois ou mais tipos diferentes de monômeros. Mais recentemente, tem-se utilizado uma outra tecnologia de modificação muito importante, ou seja, a fabricação de blendas poliméricas [3].
As blendas poliméricas são definidas como: materiais poliméricos originários da mistura física de dois ou mais polímeros, sem que haja qualquer reação
química intencional entre eles. Esta mistura pode resultar num produto altamente desejado a um baixo custo [3].
Geralmente as blendas exibem melhores propriedades tisicas e mecânicas em comparação aos polímeros individuais. Dependendo da compatibilidade termodinâmica dos polímeros escolhidos, podem ser obtidos sistemas com separação de fases ou não, impondo diferentes morfologias e características da matriz [4].
As propriedades das blendas dependem principalmente da miscibilidade termodinâmica. Se os polímeros são imiscíveis, as propriedades dependerão não somente das propriedades de cada componente, mas também da morfologia e da adesão entre as fases [5].
Blendas poliméricas contendo componentes biodegradáveis ou hidroliticamente instáveis tem recebido muito interesse devido à facilidade com que suas propriedades tisicas e características de degradação podem ser alteradas. Estes materiais tem atraído muita atenção especialmente em relação à aplicação em dispositivos e usos biomédicos [6]. Estudos especiais tem
ANAIS DO CBEB'2000 Biorna teria is
dado um enfoque maior no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis para fixação de fraturas [7], [8] e [9].
Hoje em dia, poliésteres alifáticos derivados de ácido glicólico, D,L- e L-ácido láctico, ~-hidroxibutirato, e E-caprolactana, são os polímeros biodegradáveis mais impmtantes, os quais tem encontrado aplicações frequentes como matrizes biodegradáveis para prótese e liberação controlada de drogas [9], [10] e [11].
O copolímero poli(hidroxibutirato )-co-poli(hidroxivalerato) é produzido através do processo de síntese bacteriana, e agora são encontrados em um campo muito grande de massas molares e composições copoliméricas. Embora exista uma quantidade substancial de infonnações relatando a degradação ténnica e a processabilidade do homopolímero poli(hidroxibutirato) (PHB), ainda é relativamente limitado o número de infonnações publicadas relatando o procedimento dos copolímeros e em particular sua degradação hidrolítica [12].
Devido ao grande interesse demonstrado, no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis, visando a modificação das características dos mesmos e aumentando sua aplicabilidade em uso biomédico, resolveu-se então estudar a blenda de poli(ácido Llático )/poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PLLA/PHBV). Com esta premissa, o objetivo deste trabalho passa a ser o estudo da miscibilidade, biodegradabilidade, propriedades físico-químicas, ténnicas e mecânicas destas blendas, variando a composição das mesmas, visando aplicação na área médica.
Metodologia
Os polímeros utilizados neste trabalho foram o poli(L-ácido láctico) de massa molar Mw = 100.000 (Medisorb - Dupont) e o poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato ), com teor de 12% de hidroxivalerato (Aldrich).
As blendas de PLLA/PHBV foram obtidas por fusão, nas composições de 100/0, 60/40, 50150, 40/60, e 0/100, utilizando um molde com dimensões internas de 3,1 cm de diâmetro e 9,3 cm de comprimento, utilizando uma mini injetora Mini Max Molder modelo LMM-2017.
As amostras foram colocadas dentro da panelinha da mini injetora, e aquecidas a 200ºC por 50seg sem cisalhamento, seguido de 1 min com cisalhamento (velocidade de cisalhamento constante, de 50 rpm). O molde é envolto por uma camisa para mantê-lo aquecido a 120 ºC. Após esse procedimento a mistura foi injetada no molde, deixado esfriar a temperatura ambiente. Depois de retirado do molde o pino foi armazenado no dissecador. Os pinos foram caracterizados por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Análise Dinâmico-Mecânica (DMA), Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) e propriedades mecânicas (MTS).
Para a realização dos ensaios de DSC, foi utilizado o equipamento STA 409C da NETZSCH -
202
Gerãtebau GmbH Thermal Analysis. As amostras foram levadas até a temperatura de 200°C (mantidas nesta temperatura por 5min). Em seguida, foram resfriadas até -20°C (novamente mantidas a esta temperatura por 5min), e finalmente reaquecidas até 200°C. Tanto o aquecimento como o resfriamento foram realizados com uma rampa de aquecimento de 1 OºC/min e em atmosfera de Hélio.
A análise dinâmico-mecânica foi realizada no equipamento DMA - Dynamic Mechanical Analysis -242 da NETZSCH, sob ar. As amostras foram resfriadas até -25°C e em seguida aquecidas até 200°C, com rampa de aquecimento de 5°C/min, na :frequência de 1 Hz e amplitude de 15 µm. Para o ensaio, variandose a frequência, as amostras foram resfriadas até -20°C e em seguida aquecidas até 200ºC, em vinte passos de 11 ºC, com rampa de aquecimento de 5°C/min, nas frequências de 0,1; 0,25; 0,5; 1 e 2Hz e amplitude de 15µm. Os ensaios foram no modo tração no sistema Tension.
Amostras da superfície superior das membranas e a fratura das mesmas (:fraturados em N2 líquido), foram fixados em um suporte metálico e recobertos com ouro, utilizando-se um metalizador de amostras Sputer Coater BAL-TEC SCD 050. Em seguida, as amostras foram observadas ao Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL JXA 840A, utilizando tensão de 1 O a 20 kV.
Os pinos obtidos por fusão foram submetidos a ensaios de flexão pelo método de três pontos, segundo a norma ASTM D 790-71, em uma MTS TestStar II, utilizando uma célula de carga de 20 kgf, a uma velocidade de 2 mm/min. A distância entre as duas extremidades foi de 18 iru11.
Resultados e Discussão
A Figura 1 e a Tabela 1 mostram dados de DSC para as diferentes composições das blendas. Observa-se uma Temperatura de Transição Vítrea em torno de OºC para o PHBV e 54ºC para o PLLA. A Tg do PHBV só foi possível obter no segundo aquecimento, pois mesmo iniciando o primeiro aquecimento a uma temperatura abaixo da Tg do PHBV, a mesma não aparece, devido ao PHBV ser um polímero que se cristaliza muito rápido e as regiões amorfas não apresentarem mobilidade suficiente para caracterizar a Tg [10]. Já a Tg do PLLA, quando misturado ao PHBV, só foi possível de obter no primeiro aquecimento, pois no segundo aquecimento a mesma é superposta pelo pico de cristalização do PHBV. Não verifica-se variação da Tg dos polímeros em função da composição da blenda.
As Temperaturas de Cristalização foram em torno de 69°C e 104ºC, para o PHBV e PLLA, respectivamente. As blendas apresentam picos pequenos de cristalização no primeiro aquecimento, devido ao fato de terem um resfriamento rápido. Notase também que não há variação nas temperaturas de cristalização para ambos polímeros na blenda.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
o X <l)
0/100
40/60 .... ........... . ... . .......... .
\ 50/50 .......... /'\ ........... __________ ..... ....._. '·-· . ............. ,_,\ /
.'·· • I '· 60/40 •• ,,-··-•• _./ '.._ '· '
-··-··-··-··-··- ............. ,_ .. ,.. l'
· .. : ..
' 100/0 ,/\ \j ...... ·-·-·-·-·-·-·-·-· ....... ______ .,,. ...... .......... - ...... \. f
\/ o 50 100 150
Temperatura (°C)
200
Figura 1: Curvas de DSC obtidas as blendas de PLLA/PHBV, em diferentes composições (2°
aquecimento).
A cristalização de cada um dos componentes da blenda representa um processo de separação de fases no qual o polímero é segregado parcialmente da mistura para formar uma fase pura [13].
As Temperaturas de Fusão, citadas na Tabela 1, foram em torno de 143°C-160°C (no segundo aquecimento) e 178°C, para o PHBV e PLLA, respectivamente.
A Temperatura de Fusão do PLLA, também não apresentou variação em função da composição da
blenda. A Temperatura de Fusão do PHBV, embora ocorra muito pouca variação, no 1° aquecimento não aparece o primeiro pico de fusão, mas sim um alargamento da curva (Figura 1 ), tanto para o PHBV puro, como para o PHBV na blenda. Isto pode ser explicado devido à blenda obtida por fusão possuir um resfriamento muito rápido.
Segundo Verhoogt, a presença de dois ou mais picos de fusão podem ser devido a espessura dos cristais e/ou recristalização que ocorre durante o aquecimento no DSC. Usualmente o pico de menor temperatura é considerado como o verdadeiro ponto de fusão, desde que este represente o procedimento original, mais especificamente sem "annealing" dos cristais [ 14].
Em princípio, para o primeiro aquecimento, as cadeias poliméricas são organizadas basicamente de forma randômica e alcançam rapidamente a temperatura de cristalização (Te), entretanto, no segundo aquecimento a entalpia de cristalização (ÃHc) aumenta, devido à alguns cristais formados durante o resfriamento que requerem grande energia para cristalização [15]. Isto explica porque a entalpia de cristalização (.LiHc) aumenta no segundo aquecimento em relação ao primeiro.
Ainda na Tabela 1 são citadas as variações nas entalpias de cristalização e de fusão para as blendas. Como esperado, conforme diminui a composição de um polímero na blenda, sua entalpia de fusão e cristalização diminuem, a ponto de quase desaparecerem. Iannace et ai também mostraram esta variação, mas menos intensa [ 16].
Tabela 1: Temperaturas de Transição Vítrea (Tg), de Cristalização (Te) e de fusão (Tm), entalpia de cristalização (.LiHc) e de fusão (ÃHf) obtidos por DSC, ara as membranas de PLLA/PHBV em diferentes com osições.
2º 58 108 60140
2º
50/50 2º -1 70 108
40160 2º
0/100 2º o 66
A Figura 2 mostra as curvas de DMA para as blendas obtidas por fusão para as várias composições. As curvas do módulo de armazenamento apresentam dois degraus correspondentes as transições vítreas dos componentes da blenda. No módulo de perda, conforme aumenta a composição de um polímero na blenda, aumenta o pico de transição vítrea a ele
11
37
203
----
21 178 34
14 142-160 178 11 17
142-162 43
correspondente, porém, não há um deslocamento significativo da mesma (Tabela 2), e também, o fato de não haver muita diferença entre os valores de Tg obtido no módulo de perda e no tan ô (Tabela 2).
Nas curvas de DMA aparecem picos de transições secundárias do tipo ~ e y, no módulo de perda. Isto se deve ao fato de que as blendas são
ANAIS DO CBEB'2000
injetadas e, apesar de serem resfriadas a temperatura ambiente, aparentam possuir um resfriamento muito rápido, não dando tempo para acomodação das cadeias. Com isso, ao serem aquecidas e flexionadas, no DMA, inicia-se a acomodação das cadeias, que foi detectada pelo módulo de perda.
O aumento na temperatura de transição vítrea detectada no DMA em relação ao DSC é devido ao tipo de ensaio, e da frequência utilizada no DMA não ser equivalente à taxa de aquecimento no DSC, o que realmente é muito dificil de ser alcançado.
-50
400
350
300
250 ,...., "' 200 Q.
6 150
&l 100
50
o
-50
o 50 100
--01100 ••. ····40160
-·-·-·· 50150
-··-··-· 60140 .............. 10010
150 200
Temperatura ('C)
(a)
--01100 ' n • • • • • • · 40/60
l:\ ..._~·_::~_~:_~~-·: _::_;_~:_, • I ·- \: !J· •:
• I '· ', •i /\l tr~··~1r:~ \yil :\ ·· ...................................... ·· l
\~:='.·.: ........ ;,, •......
o 50 100 150 200 Temperatura (°C)
(b)
Figura 2: Curvas de DMA obtidas para as diferentes composições da blenda PLLA/PHBV, onde (a) curvas
do log E' e (b) curvas de E"
Para homopolímeros com uma distribuição estreita de massa molar, os máximos da tan ô e de E" são próximos (uma diferença menor que 1 OºC). Para copolímeros aleatórios e para blendas homogêneas esta diferença pode aumentar. Já para blendas heterogêneas a diferença entre os máximos pode ou não mudar em relação aos componentes puros, dependendo do grau de
204
segregação de fases e da morfologia [17] e [18]. Isto mostra que os valores obtidos nas curvas de DMA apresentam uma variação muito baixa, em torno de 5°C para o PHBV e 1 OºC para o PLLA, mostrando a imiscibilidade da blenda.
Tabela 2: Temperaturas de Transição Vítrea (Tg), obtidas por DMA, nas curvas de Módulo de Perda (E") e damping (tan Ô), para as diferentes composições das
blendas.
100/0
60140 50150 40160 0/100
45
45
42
42
96 94
97
92
(a)
(b)
51
49
47
47
101
98
101
95
Figura 3: Superficie da fratura das blendas PLLA/PHBV, obtidas por SEM, na composição (a)
50150 e (b) 0/100.
Os cálculos abaixo da tensão ( cr) e alongamento (e) foram feitos considerando os pinos como hastes cilíndricas segundo a norma ASTM D 790-71 [ 19].
8.F.Lo cr=--
7t.D3 (1)
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
onde:
6.D.Y ê=-
Lo2
F - força (N); Lo - separação entre os pontos (mm); ê - alongamento(%); cr - tensão (MPa); Y - deformação (mm); D - diâmetro (nun).
(2)
A Figura 4 e a Tabela 3 mostram dados obtidos através de ensaios de flexão para as blendas em diferentes composições. Pode-se verificar que embora o PLLA mostre perda das propriedades mecânicas na presença do PHBV, as propriedades do PHBV são melhoradas, tanto o módulo quanto o alongamento.
140
120
~ 100 :::s t:> 80
60 --0/100 o 'lli 40 s:: $
20
·······40/60 -·-·-·· 50150 -··-··-· 60/40 ----···-··· 100/0
o o 2 4 6 8 10 12 14
deformação - e(%)
Figura 4:Ensaio de flexão para as blendas de PLLA/PHBV em diferentes composições.
Tabela 3: Módulo de Elasticidade (E) e Tensão Máxima, no ensaio de flexão, obtidos para as blendas
de PLLA/PHBV em diferentes con ·
PLLA/PHBV desvio desvio
100/0 3,50 1,15 143,0 5.0
60140 2,86 0,18 111, 1 3,0
50150 2,46 0,53 97,2 5,0
40160 2,25 1,79 88,5 6,8
0/100 1,42 0,15 50,3 3,8
Conclusões
Dados de TGA, DSC e DMA mostraram dois valores distintos de temperatura de transição vítrea, e temperatura de fusão . Além disso, os valores de temperatura de fusão não variaram em função da
composição da blenda. Todos esses dados são indicações de imiscibilidade das blendas.
As micrografias obtidas por SEM mostraram que as blendas apresentam uma morfologia densa em todas as composições, mas não se observa nítida separação de fases.
O ensaio mecânico foi baseado numa estrutura heterogênea, e os resultados experimentais sugerem que as duas fases apresentam boa adesão interfacial, sugerindo que há uma leve miscibilidade nas interfaces.
O estudo da degradação in vitro das blendas de PLLA/PHBV encontra-se em andamento.
Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer à F APESP (Processo 97114275-7) e ao CNPq-Pronex pelo apoio financeiro.
Referências
[l] GIUSTI, P. Polymers in Medicine: Methodological Development and lts Relevance to Some Practical Applications. ln: MARTUSCELLI, E., MARCHETTA, C. e NICOLAIS, L. Future Trends in Polymer Science and Teclmology. Polymers: Commodities or Specialties? 1987. p. 215-223.
[2] PENNING, J. P., DIJKSTRA, H. and PENNINGS, A. J. Preparation and properties of absorbable fibers from L-lactide copolymers. Polymer, v.34, n.5, p.942-951, 1993.
[3] HAGE, E. Apostila: Compósitos e Blendas Poliméricas, 1989.
[4] PARK, T. G., COHEN, S. & LANGER, R. Poly(Llactic acid)/Pluronic blends: characterization of phase separation behavior, degradation, and morphology and use as protein-releasing matrices. Macromolecules, v. 25, p. 116-1 1992.
[5] ULTRACKI, L. A. Polymer anel Blends. Tlzermodynamics and Rheology. Ed. Hanser, New York, 1989.
[6] NIJENHUIS, A. J. et ai. High molecular weight poly(L-lactide) and poly( ethylene oxide) blends: thermal characterization and physical properties. Polymer, v.37, n.26, p.5849-5857, 1996.
[7] REIS, R. L. and CUNHA, A. M. Characterization of two biodegradable polymers of potential application within the biomaterials field. Journal of Materiais Science: Materiais in Medicine, v.6, p.786-792, 1995.
[8] ELST, M. van der et ai. Tissue reaction on PLLA versus stainless steel interlocking nails for fracture fixation: an animal study. Biomaterials, v.16, p.103-106, 1995.
[9] ELST, M. van der et ai. The burst phenomenon, an animal model simulating the long-tenn tissue response on PLLA interlocking nails. Journal of Biomedical Materiais Research, v.30, p.139-143, 1996.
[10] ZHANG, L., XIONG, C. and DENG, X. Biodegradable polyesters blends for biomedical
1 1
1
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
application. Journal of Applied Polymer Science, v.56, p.103-112, 1995.
[11] IGNATIUS, A A and CLAES, L. E. ln vitro biocompatibility of bioresorbable polymers: poly(L,DL-lactide) and poly(L-lactide-coglycolide ). Biomaterials, v.17, n.8, p.831-839, 1996.
[12] YASIN, M. et ai. Polymers for biodegradable medical <levices. VI. Hydroxybutyrate-hydroxyvalerate copolymers: accelerated degradation of blends with polysaccharides. Biomaterials, v.10, p.400-412, 1989.
[13] PENNING, J. P. & MANLEY, R. St. J. Miscible blends of two crystalline polymers. 2. Crystallization kinetics and morphology in blends of poly( vinylidene fluoride) and poly( 1,4-butylene adipate). Macromolecules, v. 29, p. 84-90, 1996.
[14] VERHOOGT, H. et ai. The influence of thermal history on the properties of poly(3-hidroxybutyrate-co- l 2%-3-hydroxyvaletate ). Journal of Applied Polymer Science, v. 61, p. 87-96, 1996.
[15] DUEK, E. A R., ZA V AGLIA, C. A. C. and BELANGERO, W. D. Polymer, v.40, p.6465-6473, 1999.
[16] IANNACE, S. et ai. Poly(3-hydroxybutyrate)-co(3-hydroxyvalerate)/Poly-L-lactide blends: thermal and mechanical properties, Joumal of Applied Polymer Science, v.54, p.1525-1536, 1994.
[17] FELISBERTI, M. I. Caracterização de Blendas Poliméricas Através de Análise Ténnica e Termomecânica. Associação Brasileira de Polímeros, 9 e 1 O dez. 1998.
[18] OLABISI, O., ROBESON, L.M. & SHAWN, M.T. Polymer-Polymer Miscibility, Academics Press, N.Y., 1979.
[19] NIELSEN, L.E.; Mechanical Properties of Polymers and Composites, Marcel Dekker, N.Y., v.l, 1974.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
A Relevância da Análise Termodinâmica no Desenvolvimento de Recobrimentos Biocerâmicos
E.R. Almendra 1, T. Ogasawara 1
, M.C. de Andradel.2 e G.A. Soares'
1COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68505, Rio de Janeiro, 21945-970, RJ 2 Instituto Politécnico da UERJ, Nova Friburgo, RJ
[email protected], ogasawat@metalmat. ufrj. br, mandrade@iprj. uerj. br, gloria@metalmat. ufrj .br
Resumo - São apresentadas as vantagens da análise termodinâmica no desenvolvimento de implantes dentários ou ortopédicos. Atenção especial é dada aos diagramas atividade x pH. A análise de dois sistemas é apresentada: titânio comercialmente puro e influência do alumínio na liga Ti-6Al-4V. No primeiro caso, se estuda a formação prévia de um revestimento de titanato apatita com o objetivo de acelerar a integração osso-,implante, por meio de tratamento com soda seguido de imersão em solução contendo cálcio e fósforo. No segundo caso, se evidencia a impossibilidade de formação da fase aluminato-apatita, bem como a tendência do alumínio se dissolver no soro humano. Mostra-se também que essa tendência dissolução pode resultar numa vantagem, permitindo a remoção seletiva do alumínio da superficie do implante fabricado na liga Ti-6Al-4V.
Palavras-chave: Titânio, Implantes dentários, Recobrimento Cerâmico, Hidroxiapatita
Abstract - The advantage of the use of thermodynamic analysis during the development of orthopaedics or dental implants is presented. Activity-pH diagrams were presented and discussed for two systems: commercial pure titanium and Ti-6Al-4V alloy. ln the first case, the study is focused on coating the metallic with titanate-apatite with the aim of accelerating bone-implant integration by an exposure to a solution containing calcium and phosphorus. ln the second case, is given evidence of the impossibility of aluminate-apatite formation on the alloys surface as well as the trend to the aluminium dissolution in body fluids. This could be considered an advantage as this allows a selective remova! of aluminium ions from the surface ofthe Ti-6Al-4V alloy.
Key-words: Titanium, Dental Implants, Ceramic Coating, Hydroxyapatite
Introdução
Desde a introdução do conceito de osteointegração, pelo Dr. Branemark, na década de 60, muitos avanços foram feitos no desenvolvimento de matenars para implantes médicos ou dentários. Atualmente, o material base desses implantes é o titânio, sendo que em aplicações que demandem maior resistência mecânica são também utilizadas ligas de titânio ou ligas Cr-Co-Mo.
Na implantodontia, são bastante empregados os recobrimentos biocerâmicos, em especial os de fosfatos de cálcio, dentre os quais se destaca a hidroxiapatita. O recobrimento do implante com hidroxiapatita resulta em um aumento da rugosidade superficial e na criação de uma camada bioativa que favorecerá a integração ossoimplante. [1]
Os fosfatos de cálcio são materiais cerâmicos com razões Ca/P variadas, sendo que as cerâmicas de apatita são as mais estudadas. As apatitas biológicas são usualmente referidas como hidroxiapatitas de cálcio e se diferenciam das puras em composição, cristalinidade, propriedades fisicas e mecânicas. [2]
Comercialmente os implantes costumam ser recobertos pelo processo de aspersão ténnica a plasma, que apresenta pelo menos duas grandes desvantagens: o preço do equipamento e a decomposição da
hidroxiapatita em decorrência das elevadas temperaturas do processo. Assim, diversos grupos de pesquisa se propuseram a desenvolver processos de recobrimentos alternativos ao processo "plasma [1-4], sendo que um dos mais utilizado é o processo biomimético, que reproduz em laboratório a de fosfatos biológicos que tenderia a ocorrer in vivo. Este processo, patenteado por pesquisadores japoneses, induz a formação de hidroxiapatita pela imersão do substrato (metálico ou não) em soluções que simulam a composição química do plasma sangüíneo.
As condições necessárias para se estabelecer uma camada de hidroxiapatita quimicamente ligada ao substrato podem ser determinadas por análise termodinâmica. Particularmente úteis são os diagramas do tipo atividade x pH. Tais estudos nos permitem determinar as condições teóricas para a obtenção de uma dada fase reduzindo erros quando da etapa de experimentação.
Neste trabalho são apresentados dois estudos termodinâmicos e os diagramas atividade x pH que deles resultaram. No primeiro desses estudos são investigadas as condições para a formação de hidroxiapatita sobre titânio comercialmente puro. No segundo é vista a influência do alumínio sobre a formação de hidroxiapatita na superficie de ligas à base de titânio como a Ti-6Al-4V.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Métodologia
A análise termodinâmica tem como ponto de partida a coleta de dados termodinâmicos (energia livre e entropia de fonnação) de todas as espécies e substâncias de interesse. A seguir são traçados gráficos Eh-pH (diagramas de Pourbaix) para o sistema escolhido. Isso é feito para diversos valores de concentração da espécie de interesse. Tais diagramas expressam o equilíbrio existente entre todas as espécies em fase aquosa. A seguir pares de valores concentração (utilizada para o traçado do diagrama) versus pH para pressão de oxigênio = 0,21 atm são retirados. Com tais pares são traçados os diagramas atividade (ou log atividade) x pH que irão expressar de forma mais clara as regiões onde se formam os diversos compostos. O uso da pressão de 0,21 atm de oxigênio decorre de ser essa a pressão em equilíbrio com a atmosfera e ser semelhante a que existe no interior dos seres vivos.
Para o traçado dos diagramas Eh-pH foi feito uso do programa HSC Chemistry for Windows 3.0, da Outokumpu Oy (Finlândia), licenciado para o PEMMCOPPE/UFRJ. Esse programa possui uma extensa base de dados termodinâmicos. As fontes desses dados são manuais de dados termodinâmicos aceitos internacionalmente. Outros dados, obtidos em literatura técnica especializada, foram adicionados sempre que necessários. Os diagramas atividade x pH foram construídos manualmente.
Resultados
Sistema 1: Titânio Comercialmente Puro
A Figura !mostra o diagrama Pen x pH para aTi = ªeª' em duas temperaturas. Esse diagrama permite visualizar as condições de formação de titanato de cálcio, quando titânio comercialmente puro é imerso numa solução contendo íons cálcio. O diagrama mostra que o titanato de cálcio, Ca,Ti03, é a espécie estável na faixa de pH acima de 9. A estabilidade dessa espécie aumenta com o aumento da temperatura, sendo formado em pH ~ 4 (T = 300ºC).
Sob outro ponto de vista, o processo de recobrimento equivale à formação, na superficie do Ti02, de uma titanato-apatita, sobre a qual se dá o posterior crescimento de hidroxiapatita. A titanatoapatita, revela-se assim uma fase intermediária na integração química entre a hidroxiapatita e o titânio, sendo que essa fase poderá se formar desde que a solução aquosa contenha cálcio e fósforo. A formação dessa fase intermediária foi confirmada experimentalmente por outros autores [ 4] e parece ser benéfica no sentido de aumentar a integração química das duas fases (HA e titânio). A desvantagem do processo biomimético não pode ser
prevista por uma simples análise termodinâmica e reside no fato da reação de fonnação do titanato-apatita e da hidroxiapatita ser lenta, o que poderá inviabilizar a utilização desta metodologia para a produção em larga escala. Entretanto, alguns autores [5] mostraram que o tempo necessário para que as referidas apatitas se
208
formem pode ser bastante reduzido, caso a superficie de titânio seja atacada previamente com soda. Isso pode ser visualizado na Figura 2 que mostra o diagrama pNa-pH do sistema Na-Ti-H20. Aqui fica evidenciado que o titânio imerso em solução aquosa concentrada de NaOH, portanto sob pH muito elevado, terá sua superficie recoberta por uma camada de titanato de sódio, que é a espécie mais estável nessas condições.
15
'º
-2 10 • 12 14 16 pi!
Figura 1 - Diagrama pCa-pH do sistema Ca-Ti-H20 a 25 e 300ºC para ari = acu numa solução
aquosa em equilíbrio com 0,21 atm. de oxigênio.
pN~
20
15
10
-2 2
1 1
~o 1
NnOHº
1 ~
10 12. 14 16 pi!
Figura 2 -Diagrama pNa-pH do sistema Na-Ti-H20 a 25 e 300ºC para ari = aNu numa solução
aquosa em equilíbrio com 0,21 atm. de oxigênio.
A Figura 3 foi construída para se visualizar o que ocorre quando uma peça de titânio é submetida ao tratamento com NaOH e em sequência é exposta a uma solução aquosa contendo cálcio. Consiste na superposição do diagrama do sistema Na-Ti-H20 com o do sistema Ca-Ti-H20. O titanato de sódio tenderá a se converter em titanato de cálcio. Assim, o sódio vai para a solução e o cálcio sai da solução para ocupar o lugar anteriormente ocupado pelo sódio na película de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
titanato. Esse processo, apesar das duas etapas, é mais rápido do que o anterior.
p; 20
15
10
-2 10 12 14 16 pll
Figura 3- Diagramas pNa-pH e pCa-pH dos sistemas Na-Ti-H20 e Ca-Ti-H20 a 25ºC para aTi = aNa e ari =
ac3 , respectivamente, numa solução aquosa em equilíbrio com 0,21 atm. de oxigênio.
Sistema 2: Liga Ti-AI-V- influência do alumínio
A liga Ti-6Al-4V é oriunda da indústria automobilística mas tem sido empregada na área de implantes biomédicos por apresentar limite de resistência à tração da ordem de 900 MPa, contra os cerca de 350 MPa apresentado pelo titânio comercialmente puro ASTM grau 2.
A Figura 4 apresenta o diagrama Eh-pH do sistema Al-P-H20 a 25°C para aA1 = ap = 1 mola!, onde pode se observar que a única espécie sólida do alumínio predominante em condições de solução aquosa bem aerada é AIOOH(D), que aparece na região moderadamente alcalina.
>2,0-+ ............ _...-+ ...... _,, ............ -1' ............................ .,.... ............ '--'t
G:i.1,5,.__~-->'I
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2 o 2 4 6 8 10 12 14 16 pH
Figura 4: Diagrama Eh-pH do Sistema Al-P-H20 a 25°C para aA1 = ap = 1 mola!.
A Figura 5 mostra o diagrama pP-pH do sistema Al-P-H20 a 25°C para aA1 = ar e solução aquosa em
equilíbrio com 0,21 atm de oxigênio, onde se observa mais nitidamente o fato acima citado.
Diagramas Eh-pH e pi-pH (com i = Na ou Ca) foram construídos para os sistemas Na-Al-H20 e Ca-AlH20, revelando a mesma tendência geral já vista nas Figuras 4 e 5, do sistema Al-P-H20.[6]
Figura 5: Diagrama pP-pH do Sistema Al-P-H20 a 25°C para aA1 = ar e solução aquosa em equilíbrio com
0,21 atm de oxigênio.
A análise das Figuras 4 e 5 revela que não se formará qualquer fosfato de alumínio na superficie de uma liga Ti-6Al-V exposta a um meio sorológico, que apresenta ap = 10-3
. Ao contrário, os diagramas dessas figuras não deixam dúvida que haverá dissolução do alumínio tanto em condições ácidas quanto em condições alcalinas. Os diagramas calculados e construídos para os sistemas Na-Al-H20 e Ca-AlH20 confirmaram esta tendência.
O revestimento do titânio com hidroxiapatita por meio de um processo biomimético (a partir da exposição do substrato a soluções similares às corpóreas) tem por objetivo a formação de uma camada intermediária de titanato-apatita, que garante a boa adesão do revestimento ao substrato. Assim, fato do alumínio tender à dissolução pode ser considerado como um indício desfavorável ao desenvolvimento de uma camada da fase aluminato-apatita na superficie de uma liga de titânio contendo alumínio, restando ainda a demonstração dessa impossibilidade.
Para avaliar de fonna mais completa a possibilidade de formação dessa aluminato-apatita foi construído o diagrama pCa-pH do sistema Ca-Al-PH20, mostrado na Figura 6. Para tal construção, o valor de energia livre de formação deste composto foi estimado, a partir das energias de formação de óxidos mais simples: CaAl20 4 e Ca3(P04)2.[6]
A Figura 6 mostra que não há nenhum campo de predominância de fosfato de alumínio, aluminato de cálcio ou aluminato-apatita, confirmando que o comportamento termodinâmico do alumínio em meio sorológico é o de dissolução, tanto em meio ácido quanto em meio muito alcalino. Dessa forma, pode-se prever que nas regiões da superficie da liga Ti-6Al-4V
ANAIS DO CBEB'2000
ocupada por íons de alumínio não irá se formar o aluminato-apatita essencial para a adesão química do revestimento de hidroxiapatita.
~ 15 1 HP042- 1 o -!<--"--'--"--"+' H2P04- 1, 'I :ff H-~~~-.. ,r-~~-'1-
~ 10 c/~I3(0H)t <----l ; 1
~AI0_,2· \ ..
5
o -2-!<' ........... -.-.......... ...,.;:..,.._,.._,.._......,....,.. ................. -.--.--1-
-2 o 2 4 6 8 10 12 14 16 pH
Figura 6 - Diagrama pCa-pH do sistema Ca-Al-P-H10 a 25°C para ap = 0,6 aca e aA1 = 0,2 aca. numa solução
aquosa em equilíbrio com 0,21 atm de oxigênio.
Entretanto, os mesmos diagramas, mostrados nas Figuras 4 a 6, nos permitem prever que um ataque prévio da liga Ti-6Al-4V em meio ácido promoverá a remoção seletiva do alumínio .. A conseqüência é que a sua superfície se torna enriquecida em titânio. Com isso, pode-se esperar uma maior adesão tanto do recobrimento de hidroxiapatita obtido pelo método biomimético, quanto de células, já que as mesmas estarão sendo expostas a uma superfície de titânio. O mesmo raciocínio é válido para o pré-tratamento químico de liga Ti-6Al-4V em solução de NaOH, uma vez que neste tratamento o alumínio será seletivamente removido da superfície da liga, deixando-a enriquecida em Ti e V que são bons formadores de titanato-apatita e vanadato-apatita em condições sorológicas neutras e alcalinas [7] .
4. Discussão e Conclusões
A análise termodinâmica é uma ferramenta de grande importância tanto para a interpretação de tratamentos superficiais a que se possam submeter implantes de ligas metálicas quanto na previsão do que possa ocon-er durante a vida útil do implante, em termos de modificações superficiais, formação de depósitos ou dissolução de elementos de liga.
Os diagramas atividade x pH, elaborados a partir dos dados ten11odinâmicos, são muito eficientes na visualização das regiões de domínio das espécies, facilitando sobremodo a interpretação dos fenômenos.
É necessário cuidado na interpretação dos resultado obtidos. Com essa fen-amenta nada se pode prever sobre a velocidade com a qual procedem as reações, cristalizam-se os depósitos ou dissolvem-se as espécies. Para tanto dados experimentais são necessários. Isso ficou evidenciado no caso do titânio comercialmente puro sobre o qual a formação do titanato de cálcio, por ataque prévio com solução alcalina contendo íons cálcio, embora seja possível é tão lenta que inviabiliza o processo.
210
No caso de ligas tais como o Ti-6AJ-4V é conveniente se proceder a uma análise parcial do papel de cada elemento. Os estudos mostram que a tendência do vanádio (elemento com potencial tóxico) a dissolverse é muito pequena. A do alumínio é maior mas, uma vez formada uma camada de titanato apatita ou de hidroxiapatita essa tendência diminui.
Agradecimentos
Os autores agradecem o suporte financeiro do CNPq, CAPES, F APERJ e FUJB.
Referências
[l] M.C. de Andrade, et al. "Revestimento de Implantes Odontológicos com Fosfatos de Cálcio", IV Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde e XVI Cong. Eras. de Eng. Biomédica, Curitiba, 18 a 22 out., Anais: pp. 7-8, 1998.
[2] M.H. Prado da Silva, "Recobrimento de Titânio com Hidroxiapatita: Desenvolvimento do Processo de Deposição Eletrolítica e Caracterização Biológica in vitro", COPPE/UFRJ, 166 pps., 1999.
[3] K. de Groot., "Calcium Phosphate Coatings: an Alternative to Plasma-Spray". Eioceramics, Vol. 11, pp. 41-43, 1998.
[4] T. Kokubo et ai., "Spontaneous Formation of Bonelike Apatite Layer on Chemically Treated Titanium Metal", Journal of the American Ceramic Society, 79( 4 ), pp. 1127-29, 1996.
[ 5] M.M. Lencka e R.E. Riman, "Thermodynamic Modeling of Hydrothermal Synthesis of Ceramic Powders", Chem. Mater., 5, pp. 61-70, 1993.
[6] G.A. Soares et al., "O Efeito do Alumínio na Adesão Osso-Implante de Ligas de Titânio", 43º Cong. Eras. De Cerâmica. Florianópolis, junho 1999.
[7] M.C. de Andrade et ai., "O Efeito do Vanádio na Adesão Osso-Implante de Ligas de Titânio", 43º Cong. Eras. De Cerâmica. Florianópolis, junho 1999.
.....................................................
1 J
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Propriedades Térmicas e Mecânicas da Blenda Bioabsorvível Poli(~-hidroxibutirato) / Poli(L-ácido láctico)
Vanin, M. 1 , Santana, C. C. 1, Duek, E. R. 2
1 Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas. Caixa Postal 6066; CEP 13081-970. Campinas, SP Brasil; *e-mail: [email protected]
2 Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas. Caixa Postal 6122; CEP 13081-970. Campinas, SP Brasil.
Resumo - Materiais poliméricos ainda são os materiais mais versáteis dentro da classe dos biomateriais, podendo ser modificados para se obter materiais com características específicas. Eles podem ser selecionados de acordo com suas características tais como: resistência mecânica, degradabilidade, penneabilidade, solubilidade e transparência, necessitando porém serem melhorados alterando suas propriedades. Dentro da classe dos biomateriais, os materiais bioabsorvíveis são de grande interesse tendo como principal característica a degradação hidrolítica, gerando produtos absorvíveis pelo organismo vivo. Os poli( a.-hidróxi ácidos) são poliésteres alifáticos derivados de ácido glicólico e láctico, ~-hidroxibutirato e e-caprolactana. Estes polímeros têm encontrado aplicações freqüêntes na área médica. Neste trabalho foram preparadas blendas de poli(~-hidroxibutirato) e poli(L-ácido láctico) em várias composições por mistura no estado fundido, e analizou-se suas propriedades térmicas e mecânicas por DSC, TGA, DMA e teste mecânico de flexão. Os resultados mostraram que a blenda é imiscível em todas as composições e que o PLLA melhora as propriedades mecânicas da blenda.
Palavras chave: biomaterial, blenda, poli(~-hidroxibutirato ), poli(L-ácido láctico).
Abstract - Polymer remain the most versatile class of biomaterials, that can be enginnered to meet specific requirements. They can be selected according to key characteristics such as mechanical resistence, degradability, permeability, solubility and transparency, but the currently available polymers need to be improved by altering their properties. Standing out bioabsorbable materiais in the class of biomaterials whose main characteristic is hydrolysis degradation, generating products absorbable by organism. Poly ( a.-hydroxy acids) are aliphatic polyesters derived from glycolic and lactic acid, ~-hydroxybutyrate and e-caprolactone. These have found frequent applications in medicine as bioabsorbable polymers. ln this work the aim was to prepare the blend poly(~-hydroxybutyrate) (PHB) I poly(L-lactic acid) (PLLA) in severa! compositions (mass ratio) by method melting mixture and to study their thermal and mechanical properties using DSC, TGA, DMA analysis and flexural mechanical test. The results show that the blend is imiscible in ali composition and the PLLA improves the mechanical properties ofthe blend.
Key-words: biomaterial, blend, poly (~-hydroxybutyric acid), poly (L-lactic acid).
Introdução
Os poli ( a.-hidróxi ácidos) são poliésteres alifáticos derivados de ácidos lácticos e glicólicos, ~hidroxibutirato e e-caprolactana. Estes polímeros são os que mais têm encontrado aplicações na área médica como polímeros bioabsorvíveis. A otimização das propriedades chaves destes materiais tem sido alcançada através da técnica de copolimerização. A mistura de homo- e copolímeros representa uma outra alternativa para a otimização de propriedades, porém pouco explorada [l].
O ácido láctico é uma molécula natural amplamente empregada em alimentos como agente conservante e flavolizante. É a cadeia principal na síntese química dos poli (ácido lácticos). Embora estes polímeros possam ser sintetizados quimicamente, o ácido láctico é produzido principalmente por fermentação microbiana de açúcares tais como glicose
211
ou hexose. Os monômeros de ácido láctico produzidos por fermentação são então usados para preparar os polímeros poli(ácido lácticos). O ácido láctico existe em duas formas estereoisoméricas que resultam em quatro polímeros morfologicamente distintos: D-PLA e L-PLA que são dois polímeros estereoregulares, D,LPLA que é uma mistura racêmica do D-PLA com o LPLA, e o meso-PLA que é obtido do D,L-PLA. Os polímeros obtidos dos monômeros D- e L- opticamente ativos são semicristalinos, e aqueles obtidos do D,Lopticamente inativo são amorfos [2], [3].
O ácido láctico possui um grupo hidroxílico e um grupo carboxílico podendo ser facilmente convertido em poliéster. Algumas das vantagens destes polímeros são: alta resistência, comportamento termoplástico, biocompatibilidade, sensibilidade à água, visto que se degradam lentamente comparados com os polímeros solúveis que incham em água [2]. Como exemplo de aplicação pode-se citar o poli(L-
ANAIS DO CBEB'2000
lactídeo) (PLLA) semi cristalino que tem sido utilizado em tecidos de fixação temporária com boa resistência mecânica [4].
Uma ampla variedade de bactérias acumulam polímeros intracelulannente como uma fonte de carbono e energia, como por exemplo polímeros de ácido ~-hidroxibutírico. O poli(hidroxibutirato) (PHB) é um polímero termoplástico biodegradável e biocompatível produzido pela bactéria "Alcaligenes eutrophus ". Este polímero possui temperatura de fusão (Tm) em torno de 180ºC é altamente cristalino e frágil. O PHB tem atraído a atenção industrial, por ser um plástico degradável no meio ambiente, para várias aplicações na agricultura, marinha e aplicações médicas [5]. Possui uma taxa de hidrólise não enzimática bastante lenta [6]. Devido às suas fracas propriedades mecânicas muitos esforços têm sido feito na tentativa de se obter um material mais resistente, como por exemplo através da mistura deste polímero com: poli( óxido de metileno) [7], poli( óxido de etileno) [8], PLLA [5] [6] [9], poli(hidroxibutirato-co-valerato) [10] [11].
Levando em consideração a necessidade de novos biomateriais para serem utilizados na área médica, e na tentativa de melhorar as propriedades do PHB, este trabalho tem por objetivo estudar as propriedades térmicas e mecânicas da blenda PHB/PLLA.
Metodologia
Materiais
O PHB utilizado foi obtido da Aldrich Chemicals e o PLLA da PURAC, ambos foram usados como recebidos sem purificação.
Métodos 1) Preparação das blendas por mistura no estado fundido
O PHB e o PLLA foram misturados em um (LMM) Laboratory Mixing Molder System, ATLAS Test Instruments Group, à 200ºC por 4 min. e 30 seg. em 50 rpm. Após a injeção no molde este era retirado do equipamento e jogado em um recipiente com água a temperatura ambiente. Foram feitas amostras em diferentes composições PHB/PLLA % em peso (0/100, 30170, 50150, 70/30, 100/0) na forma de pino de 1,85 mm de diâmetro por 17,85 nun de comprimento. As amostras foram armazenadas à temperatura ambiente sob vácuo por 3 semanas para se alcançar o equilíbrio da cristalinidade antes das análises.
2) Análise térmica Para a análise de Calorimetria Difererncial de
Varredura (DSC) dos pino utilizou-se um equipamento NETZSCH Thermische Analyse modelo TASC 414/3, com fluxo de He e acessório de resfriamento. Os parâmetros empregados foram: 1 ª varredura de 20ºC a
200ºC com rampa de aquecimento de 1 OºC/min., temperatura mantida por 5 minutos, seguindo-se a 2ª varredura de 200ºC a -1 OOºC, com rampa de resfriamento de 30ºC/min., temperatura mantida por 5 minutos, iniciando-se a 3ª varredura de -1 OOºC a 200ºC com rampa de aquecimento de 1 OºC/min.
Na Análise Termogravimétrica (TGA) dos pinos empregou-se um equipamento da marca TA Instruments modelo DSC 2920 modulated. Os parâmetros empregados na análise foram: rampa de aquecimento de 1 OºC/min., temperatura inicial 20º e temperatura final 400ºC.
3) Análise mecânica A análise Dinâmico Mecânica (DMA) dos pinos
foi feita empregando-se um equipamento NETZSCH Thennische Analyse modelo DMA 242 cell. Os parâmentros utilizados foram: flexão, rampa de aquecimento de 5°C/min., temperatura inicial - 20ºC e final 200ºC, frequência 1,00 Hz, amplitude 15µm, modo de força estático e tensão máxima de 1 N.
O ensaio mecânico de flexão dos pinos segundo ASTM D709 foi realizado empregando-se um equipamento da marca MTS modelo Test Star II. Foram utilizadas 5 amostras para cada composição da blenda. Os parâmetros empregados foram: célula de carga de no máximo 1 OOKgf, com 1 OKgf de fundo de escala, usando uma velocidade de 1,3 mm/min., distância entre os suportes da amostra de 20 nun e amostras com diâmetro de 1,85 mm.
Resultados e Discussões
t
1) DSC
100/0
1
>-?.~!.~~-·-··-··-··-··--\ 50/50 ··-··-··-··-··-.. , (
...... _·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-· •,\ f, .. 30/70 -.,. i 'i . ................................. \\i;:
... \. i: 1 0/100
,--', ".V: ... _____ , ... ,, ·~·'
\ 1 1 1 1 1 \, I
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
TemperaturaºC
Figura 1- Termograma da análise de DSC da blenda PHB/PLLA (1ª varredura).
••• , __________________________ ._ .............. ......
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
t 100/0
1,
\··-.. J0/30
\.,. ~:;~~-·-··-.. -.. ,/\ .. _ .. _ .. -..... _ .. _ .... , '· ,. ,f ---........ -....... ___ ,.,,,,. '\. ;'·,. \ ' """'-·-· ..... ____ \ : 30170 .. -·,: 1 '
....................... . "· ·,!,:i .. _ ··' ..... -··:' i;
>. i· ~: /1 .. ',, -0(100 ----------, 1 1
1 1 ..
.... - ....... ", I
-100 -50 o 50
1 I 1 I 11 1,
100 150 200
Temperaturaº C
Figura 2- Termograma da análise de DSC da blenda PHB/PLLA (3ª varredura)
As figuras 1 e 2 mostram os resultados obtidos da análise de DSC na 1 ª e na 3ª varredura ( 1° e 2° aquecimento respectivamente). Os resultados da temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de fusão (Tm) são dados na Tabela 1. Na Figura 2 observa-se a existência de uma única Tg para os polímeros puros e duas Tg's para as blendas, indicando a imiscibilidade entre os polímeros. A Tg referente ao PHB, puro e para as blendas, se encontra em torno de l,5°C (Figura2 e Tabela l); e a Tg do PLLA, puro e nas blendas, se encontra por volta de 63ºC (Figura 1 e Tabela 1 ). Do gráfico da Figura 2 verifica-se a existência de dois picos de cristalização nas blendas referentes ao PHB e ao PLLA, e um para os polímeros puros. Nota-se também a existência de uma única Tm, que permanece inalterada em função da composição da blenda, indicando novamente imiscibilidade. Pode-se dizer ainda que a LiHm aumenta com o aumento da concentração de PHB na blenda, indicando mudança na cristalinidade da mesma.
Tabela 1- Dados de DSC da blenda PHB/PLLA.
Composição Tg PHB Tg PLLA Tm PHB/PLLA (ºC) (ºC) (ºC)
01100 - 64 179 30170 1,9 63 177 50/50 1,9 63 176 70/30 1,8 62 176 100/0 1,5 - 175
2)TGA A análise Termogravimétrica (TGA) foi feita
com o intuito de verificar a possibilidade de ocorrência de um processo de degradação nas blendas durante o preparo das mesmas por mistura tisica no estado
fundido, no equipamento LMM, pois a temperatura de processamento empregada foi de 200ºC.
Os resultados podem ser vistos através da Figura 3, que apresenta um gráfico com as curvas de cada blenda bem como dos homopolímeros puros antes e após o processamento. Podendo-se verificar a ocorrência de um estágio de perda de massa para os polímeros puros e dois estágios para as blendas, sendo que estes estão em função da composição de cada blenda. A Tabela 2 complementa os resultados mostrando a temperatura inicial de perda de massa para cada amostra estudada. Com isso concluiu-se que não ocorre processo de degradação durante o processamento das amostras, pois as temperaturas iniciais de perda de massa (Tabela 2) estão acima daquela empregada durante o processamento.
Tabela 2- Temperatura de início de perda de massa das amostras da blenda PHB/PLLA.
Composição Temperatura inicial PHB/PLLA de perda de massa
(ºC) 0/100 232 30/70 244 50150 239 70/30 241 10010 259
PHB antes proc. 238 PLLA antes proc. 279
100 :. -·:;\ . ' . ' '" \ 1 . .. \ i\~ \ \ \i''. \\ \\\ 1\ i \ \ ~ \
- - - PHB/PLLA 0/100 l '~ 1 i i t 1 \
• • • · • PHB/PLLA 30170 \._ \ \ \ ·-·-· PHB/PLLA 50/50 \ \ 1 l
\ .. 'i ··-··- PHB/PLLA 70/30 ' ~ 1 i
\ i 1\ PHB/PLLA 100/0 \ ·~ 1\
···•··· PHB antes proc. \ \~ \ jf·;·-= .... = .. ·=·P~L~L~A~a~n~te=s~1~u=c·d_~~~1~•~.l~;;;;;w,. o - ~---·-·
100 200 300 400
Temperatura (°C)
Figura 3- Gráfico da perda de massa em função da temperatura da blenda PHB/PLLA
3) Teste mecânico de flexão Os resultados do teste mecânico de flexão são
apresentados na Tabela 3 e Figura 4. Analisando os resultados verificou-se que a tensão na ruptura cresce muito pouco em função da composição, enquanto que o alongamento tem um acréscimo significativo em função da composição. A composição PHB/PLLA 30170 mostra como resultado uma boa tensão na
•
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
ruptura e o maior alongamento, bem como o maior Módulo de Y oung em relação as outras composições. Assim pode-se sugerir que a presença do PLLA melhora as propriedades mecânicas da blenda PHB/PLLA.
140 _ ... -... ,.,,.... l
120
100
~ 80
o IC: 60 "' = ~
1 40
" 20
I , ,1' .... -· ······ .,~-· ....... .
,:.··· \ ...... I• \
r \ ,, l·/"l \ . f \ \ .f1 ·........ ',
~: ' 1
ÍI \ .-----1------.. / - - - - PHB/PLLA 0/100
/ · · · · · · PHBIPLLA 30i70 :' -·-·-· PHBfPLLA 50/50
-··-··- PHB/PLLA 70/30 --PHB/PLLA 100/0
o
0.00 O.OI 0,02 0,03 0,04 0,05
e - % Alongamento
Figura 4- Tensão na ruptura em função do alongamento da blenda PHB/PLLA.
Tabela 3-Tensão máxima (o), Módulo de Young (E) e alongamento máximo (E), para cada composição da blenda PHB/PLLA, com seus respectivos desvios
padrão (Er ±).
PHB/ r; rnáx. Er± E Er e rnáx. Er± PLLA (MPa) (MPa) ± (%) 0/100 136.23 12.7 8477 932 0.0336 0.008 30.170 114.80 9.0 9100 888 0.0566 0.024 50150 91.74 7.2 8613 442 0.0236 0.012 70130 77.53 11.2 8795 628 0.0140 0.077 100/0 57.35 3.9 8692 502 0.0122 0.003
4)DMA Os resultados obtidos da análise de DMA para
as amostras na forma de pinos são apresentados nas Figuras 5 e 6, e Tabela 4.
Analisando o gráfico do módulo de perda, E", (Figura 5) verifica-se a existência de duas Tg's para as blendas e uma para os polímeros puros. Além disto através da Tabela 4 nota-se que a 2ª Tg referente ao PLLA permanece inalterada, independente da composição da blenda, já a 1 ª Tg referente ao PHB diminui com o aumento da concentração de PLLA na blenda, podendo-se dizer que as Tg's se afastam com o aumento da concentração de PLLA. Na Figura 5 verifica-se ainda a existência de transições secundárias a baixas temperaturas devido à mobilidade dos gmpos laterais.
Analisando o gráfico da Figura 6, módulo de armazenagem, E', nota-se que o PLLA mostra-se totalmente amorfo, devido ao rápido resfriamento ao qual foi submetido após o processamento. Pode-se
dizer também que o PLLA não sofreu cristalização durante o período de annazenagem (3 semanas) antes das análises. Já para as blendas e para o PHB puro nota-se a presença de cristais que se fundem à aproximadamente l 60ºC.
700
600
500 ,-.... e: ~ 400 ::E -~ 300
200
100
- - - - PHB/PLLA 0/100
• • • · · · PHB/PLLA 30170
-·-·-· PHB/PLLA 50/50 -··-··- PHB/PLLA 70/30 --PHB/PLLA 100/0
1 \'. 1 \;: 1 \':- ..... . 1 • • ... '·· ........ 1 "·.::. '·· ..... , ... t..t. ........ fwto:
-20 o 20 40 60 80 100 120 140
Temperatura (°C)
Figura 5- Gráfico do módulo de perda E" em função da temperatura da blenda PHB/PLLA.
10000
ro- o CI.. ::!: -w
-10000 - - - - PHB/PLLA O/ l 00
· · · · · · PHB/PLLA 30/70
-·-·-· PHB/PLLA 50/50
-··-··- PHB/PLLA 70/30
--PHB/PLLA 100/0
-30 o 30 60 90 120 150 180
Temperatura (°C) Figura 6- Gráfico do módulo de armazenagem E' em
função da temperatura da blenda PHB/PLLA.
Tabela 4- Temperaturas de transição vítrea Tg's da blenda PHB/PLLA em função da composição obtidas
do gráfico do módulo de perda E".
Amostra 1ª Tg 2ª Tg PHB/PLLA (ºC) (ºC)
0/100 - 85 30/70 30 87 50/50 29 87 70/30 46 85 100/0 47 -
-
'I f í 1 l f
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Conclusão
Dos resultados obtidos das análises de DSC e DMA concluiu-se que a blenda PHB/PLLA é imiscível em todas as composições. Verificou-se através do DSC que os polímeros cristalizam em temperaturas bem distintas. Do DSC concluiu-se também que o aumento da AHm com o aumento da concentração de PHB se deve à alta cristalinidade do PHB que proporciona mudanças na cristalinidade da blenda. O teste mecânico de flexão mostrou que o PLLA melhora as propriedades mecânicas da blenda.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro dado pela FAPESP e FINEP/Pronex.
Referências bibliográficas
[l] Zhang, L., Xiong, C., Deng, X., "Biodegradable polyester blends for biomedical application'', Journal of Applied Polymer Science, vol.56, p.103, 1995.
[2] Gajria, A.M., Davé, V., Gross, R.A., McCarthy, S. P., "Miscibility and Biodegradability of blends of poly(lactic acid) and poly(vinyl acetate)", Polymer, vol.37, p.437, 1996.
[3] Dimitriu, S. Polymeric Biomaterials. NY:Marcel Dekker, 1994.
[4] Zhang, X. et al., "Biodegradable polymers for orthoped applications: Synthesis and processability of poly(L-lactide) and poly(lactide-co-E.caprolactone)", J.M.S. - Pure Apll. Chem., vol.A30, p.933, 1993.
[5] Koyama, N., Doí, Y., "Morphology and biodegradability of binary blend of poly((R)-3-hydroxybutiric acid) and poly((R,S)-lactic acid)", Canadian Jounal Microbilology, vol.41, p.316, 1995.
[6] Koyama, N., Doi, Y., "Miscibility of a binary blend of poly((R)-3-hydroxybutiric acid) and poly((S)lactic acid)" Polymer, vol.38, p.1589, 1997.
[7] A vella, M., et al., "Poly(3-hydroxybutyrate) / poly(methyleneoxide) blends: thermal, crystallization and mechanical behaiviour", Polymer, vol.38, p.6135, 1997.
[8] Goh, S. H., Ni, X., "A completetely miscible ternary blend system of poly(3-hydroxybutyrate ), poly( ethylene oxide) and polyepichlorohydrin", Polymer, vol.40, p.5733, 1999.
[9] Blümm, E., Owen, A. J., "Miscibility, crystallization and melting of poly(3-hydroxybutyrate) / poly(L-lactide) blends", Polymer, vol.36, p.4077, 1995.
[10] Scandola, M., et al., "Polymer blends of natural poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and synthetic atactic poly(hydroxybutyrate). Characterization and biodegradation studies", Macromolecules, vol.30, p.2568, 1997.
[ 11] Iannace, S., et al., "Poly(3-hydroxybutyrate )-co(3-hydroxyvalerate) poly-L-lactide blends: thermal and mechanical properties", Journal of Applied Polymer Science, vol.54, p.1525, 1994.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Análise Numérica e Experimental de Membranas e Bio-membranas Viscoelásticas Submetidas à Expansão
Cristina de A. Alvim 1, Djenane Pamplona2, Larissa B. Muniz3
1.2.3Departamento de Engenharia Civil Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
R. Marquês de São Vicente, 225 CEP: 22453-900 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
[email protected] br, [email protected]
Resumo - Expansão de tecidos é uma conhecida técnica de cirurgia plástica reparadora. Existem muitos estudos sobre o comportamento histológico da pele após a expansão, como por exemplo seu afinamento. Alguns autores observaram o compo1iamento viscoelástico da pele, mas desconhecemos um estudo matemático da pele submetido à expansão. O presente trabalho tem como objetivo a detenninação de um modelo matemático para o fenômeno e a sua solução através de métodos numéricos.
Palavras-chave: Biomembranas, Pele, Viscoelasticidade, Grandes Deformações
Abstract - Tissue expansion is a well-known plastic surgery teclmique. There are many studies of histological behaviour of skin after expansion, as an example, changes in its thickness. Many authors have seen the viscoelastic behaviour of skin, but there is no complete mathematical work studying it. The aim of this work is determining a numerical model.
Key-Words: Biomembranes, Skin, Viscoelasticity, Large Deformations
Introdução
Expansão é um processo fisiológico, definido como a capacidade de uma membrana aumentar em área superficial devido a uma deformação externa imposta. Ela pode ser um fenômeno natural como, por exemplo, o crescimento da área superficial do abdômen durante a gestação, e também pode ser um processo induzido artificialmente. Assim, técnicas ligadas à cirurgia plástica reparadora têm sido desenvolvidas com o intuito de expandir a pele do próprio paciente para utiliza-la em enxertos (ex.: queimaduras ou grandes cicatrizes), reconstrução mamária (após mastectomia), etc.
A expansão artificial de tecido conectivo é um processo mais antigo do que se possa imaginar. Tribos indígenas pelo mundo inteiro utilizam adereços nos lábios (conhecidos no Brasil como botoques) e nas orelhas, a partir da capacidade do tecido se adaptar a um novo formato após uma deformação induzida.
Para expandir-se a pele, implanta-se cirurgicamente o expansor sob a camada da pele. Em seguida, através de um tubo externo, introduz-se um fluido que irá provocar o aumento do volume inicial e, conseqüentemente, o aumento da área superficial da pele sobre o expansor. Este é um processo lento, feito em etapas, até que se obtenha a área superficial desejada para cada fim.
O expansor é geralmente feito de silicone e seu formato e tamanho varia conforme a sua utilização. Os expansores mais conhecidos são os redondos, ovais,
retangulares e em formato de meia-lua. No caso de reconstrução mamária, existem expansores que, ao serem inflados, têm o formato do seio. O tamanho do expansor pode variar conforme a quantidade necessária de pele a ser expandida. Por outro lado, é comum o uso de dois ou mais expansores em um mesmo local, apesar de trazer desconforto e mais riscos de infecções [ 1].
Para fins medicinais, a expansão de tecido teve seus primórdios em 1957, quando Neumann usou um implante inflável para reconstrução da microtia. Na época, não houve uma boa aceitação no meio médico, mas sem dúvida foi um trabalho a frente de seu tempo. Já em 1976, Dr. Chedomir Radovan projetou um novo implante com base semi-rígida e controle de injeção. Apesar de tudo, novamente este método custou a ter seu potencial reconhecido [2].
A partir de então, diversos trabalhos foram publicados, com o objetivo de descrever o comportamento do tecido conectivo submetido à expansão, do ponto de vista fisiológico, morfológico e histológico. Foram usadas amostras da pele de suínos, para observação das mudanças histomorfológicas durante a expansão [2) e para comparação entre os diversos formatos e dimensões de expansores [l]. Em seres humanos, foram feitas observações a respeito do comportamento clínico de pacientes submetidos à expansão de tecido conectivo [3]. Como descrito anteriormente, a expansão é feita em etapas e a dor sentida pelo paciente é um fator limitador para cada etapa. Mas após algumas horas, o desconforto diminui
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
e a pele expandida parece ficar menos tencionada. Este aspecto foi essencial para que, mais à frente em nosso trabalho, pudéssemos modelar a pele como uma membrana viscoelástica.
Ultimamente, há um crescente interesse na técnica de expansão. Já foram feitos trabalhos procurando, através de formulação matemática, formatos de expansores. Atkinson [ 4] usou uma modelagem através de cálculo variacional, sendo a área de pele expandida uma função minimizada pelo volume interno do expansor inflado. Também procuram-se novos procedimentos de expansão, visando um melhor aproveitamento da técnica. A técnica de expansão contínua [5] promete uma área de tecido expandido maior que a obtida em expansão convencional, em bem menos tempo.
Finalmente, o objetivo principal deste trabalho é modelar matematicamente o comportamento da pele, através da teoria da elasticidade para grandes deformações [6] e equações constitutivas viscoelásticas.
Modelagem Matemática
Após conversas com cirurg1oes plásticos e através da observação do processo de expansão em fotos e vídeos [7], verificou-se que o comportamento da pele é variável com o tempo. Em cada intervalo entre as etapas de expansão, foi relatada diminuição nas tensões resultantes na superficie da pele [2] (associada à diminuição da dor sentida pelo paciente), mantido o mesmo volume.
Assim, considerou-se que a pele submetida à expansão deve ser modelada como uma membrana viscoelástica, incompressível, inicialmente plana, circular (formato mais simples para uma primeira modelagem), com espessura indeformada H e raio a (coJTespondente ao raio da base do expansor). Considera-se ainda que é fixa em sua borda, pois não há descolamento de pele na região adjacente ao expansor, isto é, não há "peeling". Esta membrana é submetida a uma pressão interna hidrostática P, podese assim considerar que a deformação é axissimétrica. Sua configuração deformada pode ser observada na Figura 1, sendo p e r as coordenadas radiais das configurações indeformada e deformada, respectivamente, e z a coordenada vertical deformada:
z
p=r
Figura 1: Configuração defonnada
217
Procurou-se uma equação constitutiva para materiais viscoelásticos. Optou-se pela equação de Christensen [8], que é bastante simples e usualmente permite bons resultados quando comparado a dados experimentais:
(1)
onde O"ij é a tensão de Cauchy, p é a pressão hidrostática despertada pela defonnação imposta, x,.K ex j.L são gradientes de deformação, g0 é a
resposta elástica do material, g1(t) é função de relaxação (dependente do tempo), E KL é o tensor de
deformações de Cauchy-Green e ôu e ÔKL são deltas de Kronecker.
O asterisco na Equação ( 1) representa uma integral de convolução, comum em equações da teoria da viscoelasticidade [9].
O sistema de equações de equilíbrio para a configuração deformada, segundo a teoria de Green & Adkins [10] é:
(2)
(r' z"-r" z') z' ~--,-~w,+
À,- - rÀ, À W _ À 1À 2 P =O
1 1 H (3)
onde Ài são as extensões principais e W é a função de densidade de energia de deformação.
Solução Numérica
O sistema de equações de equilíbrio não possui uma solução analítica conhecida. Por este sistema de equações diferenciais foi solucionado usando métodos numéricos. Usando o método de Runge-Kutta de 4ª e 5ª ordens acoplado ao método da "estimativa" e o método do relaxamento [11], resolve-se o sistema de equações diferenciais com as seguintes condições de contorno:
r(p = 0)= O (4)
z'(p=O)=O (5)
r(p =a)= a (6)
z(p a)=O (7)
Validação da Modelagem
Para a validação da modelagem, foram usados os dados experimentais de Brobmann & Huber [l], em porcos. Considerando a espessura da pele suína como 4 x 10-3 m e que foram usados expansores redondos de 6 x 10-2 m de diâmetro e volume inicial 40 x 10-6 m3
•
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Tem-se os seguintes dados:
Tabela 1 - Dados experimentais de Brobmann & Huber (1985)
Tempo (s) Pressão (Pa) Volume (mj)
o 1866,67 40 X 10-6
777600 1266,67 40 X 10-6
Com estes dados, usando a modelagem do presente trabalho foi possível encontrar as constantes elásticas e viscoelásticas da pele do porco. Utilizou-se, como relação entre a constante elástica e a viscoelástica, a função sugerida por Fung [12]:
(8)
sendo a a freqüência do material, correspondente ao inverso do tempo de relaxação.
Sabendo que ao se inflar este expansor até um volume de 40 x 1 o-6 m3
, este ainda não se deforma, pois seu volume indeformado também é 40 X 10-6 m3
,
obtem-se como constante elástica da pele suína g0 = 5784,31 Pa e freqüência a = 2,8935 x 10-6 s- 1
• Na Figura 2, pode-se observar a configuração deformada para os dados encontrados.
/{!O'ml
-- V-40:\JO'"m~
º" \(XJ Jtl:I
Figura 2 - Membrana deformada
Mantendo o carregamento constante ao longo do tempo, simulando a técnica de expansão contínua [5], desenvolveu-se um estudo paramétrico, verificando a variação do volume para diferentes espessuras indeformadas da membrana e para diferentes pressões aplicadas.
Aplica-se uma pressão P, constante ao longo do tempo, em uma membrana circular de raio a, inicialmente plana. Usa-se a constante elástica de uma bon-acha para o valor de g0. O valor da freqüência do material foi arbitrado.
Nas Figuras 3 e 4, observa-se a variação do volume ao longo do tempo, mantida uma mesma pressão. O acréscimo percentual de volume é o mesmo para as diversas espessuras. Observamos também que, a partir de um determinado momento, não há mais
218
variação no volume, isto é, a membrana não deforma indefinidamente.
Sejam os dados: P = 0,98 kPa; a= 3 cm; g0 = 411,76 kPa; a= 0,01 s- 1
8.00
7.00
6.00
/
Vl(m')
/ /
/
/ /
-- li O.IOcm
JJ"'- 0.15cm
li'°' 0.20cm
5.00 -!---~-~-~-~------~--,_,....
o 200 400 600 800
tempo(s)
Figura 3 Variação do volume ao longo do tempo para diferentes espessuras
Novamente aplica-se uma pressão P, constante ao longo do tempo. Estuda-se a variação do volume para uma membranas espessura indeformada H, submetida a diferentes valores de pressão P.
Sejam os dados: a= 3 cm; g0 = 411,76 kPa; a= 0,01 s-1
; H = 0,20 cm
\'(cm')
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
- r~o.9sO..Jkl'J
--- P l.960Skl'J
··-··-··- ·-··-··-··- ·-··~ -·-·-
5.00 -+-----r--r--r--..,.---,-~-~-
200 400 600 soo
tempo(s)
Figura 4 - Variação do volume ao longo do tempo para diferentes pressões aplicadas
-
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Análise Experimental
Foi desenvolvido um aparato com o intuito de estudar o comportamento de membranas viscoelásticas, inicialmente plana, sob a ação da expansão.
Uma membrana de borracha foi fixada entre dois aros de acrílico. A seguir, sob esta membrana foi colocado um expansor de forma circular e este conjunto foi fixado a uma placa, também de acrílico, através de parafuso. (Figura 5)
Com o auxílio de espelhos colocados nos dois lado do aparato, de uma régua e do reflexo de uma
régua fixada perpendicularmente ao aparato, foi possível medir o deslocamento de pontos previamente tatuados na borracha. Esta medição foi feita a partir de fotos digitalizadas e a distância entre os pontos foi medida baseada na contagem de pixeis, posterionnente convertidos em unidades de comprimento. Na Tabela 2, observa-se os valores encontrados em uma das múltiplas experiências realizadas.
Observou-se que o aparato experimental simulou com bastante eficiência o comportamento de uma membrana circular, inicialmente plana, submetida à expansão.
Figura 5- Aparato experimental
Tabela 2 - Coordenadas da membrana indefonnada e deformada por uma pressão de 4 000 Pa
Plano Deformada Ponto X y z X y z
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 2,55
2 0,02 0,99 0,00 0,02 1,20 2,34 3 0,06 1,96 0,00 0,07 2,36 1,84 4 0,10 2,93 0,00 0,03 3,41 1,07 5 0,02 -0,97 0,00 0,06 -1,27 2,37 6 0,02 -1,94 0,00 0,05 -2,40 1,95 7 0,02 -2,85 0,00 0,01 -3,30 1,29 8 -0,99 0,02 0,00 -0,70 0,09 2,42 9 -2,04 0,04 0,00 -1,63 0,07 1,93 10 -3,04 0,08 0,00 -2,83 0,03 1,07 11 0,97 0,06 0,00 0,63 0,09 2,34 12 1,94 0,10 0,00 1,50 0,07 1,83 13 2,93 0,18 0,00 2,58 0,10 1,05
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Conclusões
Em trabalhos feitos anteriormente [13], a pele foi considerada como hiperelástica para a simplificação da modelagem. Neste caso, foram desprezadas a propriedades viscoelásticas que já foram constatadas experimentalmente e que obrigatoriamente devem ser atribuídas à pele.
Portanto, a inovação do presente trabalho é a modelagem matemática e experimental da pele sob expansão, considerando-a uma membrana viscoelástica, e a sua comparação com dados experimentais da pele de porcos, permitindo assim a determinação de suas constantes elásticas e viscoelásticas.
Futuramente, pretende-se utilizar esta metodologia para determinar as constantes elásticas e viscoelásticas da pele in vivo.
Referências
[ 1] Brobmann, G.F. and Huber, J. , 1985, Effects of different-shaped tissue expanders on transluminal pressure, oxygen tension, histopathologic changes and skin expansion in pigs, Plast. Reconstr. Surg. 76:731.
[2] Austad, E.D., Pasyk, K. , and others, 1982, Histomorphologic evaluation of Guinea pig skin and soft tissue expansion, Plast. Reconstr. Surg. 70:704.
[3] Manders, E. K., Schenden, M.J. and others, 1984, Soft-tissue expansion: concepts and complications, Plast. Reconstr. Surg. 74: 493.
[4] Atkinson, C., 1988, On a posible theory for the design of tissue expander, Q.J. Mech. Appl. Math.,Vol. 41, Pt. 3.
[5] Schmidt, S.C., Logan, S.E. and others, 1991, Continuous versus conventional tissue expansion: experimental verification of a new technique, Plast. Reconstr. Surg. 87: 10.
[6] Green, AE. and Zerna, W., 1975, Theorical Elasticity. London: Oxford University Press.
[7] Maxwell, G.P., Spear S.L., 1995, Manual e vídeo do "Biodimensional Two-Stage Reconstruction System".
[8] Christensen, R.M., 1980, A nonlinear theory of viscoelasticity for application to elastones, J. appl. Mech. 47, Trans. ASME 102, Series E, pp 762.
[9] Flügge, W., 1967, Viscoelasticity. Blaisdell Publishing Company, London.
[10] Green, AE. and Adkins, J.E., 1970, Large Elastic Defonnations and Non-Linear Continuum Mechanics. London: Oxford University Press.
[l l]Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P ., 1992, Numerical Recipes in Fortran - The Art of Science Computating. Second Edition, Cambridge University Press.
[12] Fung, Y.C., 1981, Biomechanics. Mechanical Properties ofLiving Tissues. Springer, New York.
220
[13] Oomens, C.W.J., van Campen, D.H., Grootenboer, H.J., 1987, A mixture approach to the mechanism of skin, Journal of Biomechanics, vol.20, No. 9
mll!IL--_________________________ .......... ...._
,, 1 1 1 1
1 1
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Caracterização e Uso de um Vidro Bioativo em Falhas Ósseas.
Lorena C. Valenzuela Reyes 1, João M. D. de A. Rollo2
, Norbetio Aranha3, Nelson F. da Silva Jr4
1.4Escola de Engenharia de São Carlos, Curso de Pós-graduação Interunidades Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC, R. Dr Carlos Botelho, 1465, CEP 13560-250, São Carlos, SP, Brasil
Fone (OXX16)2739585, Fax (OXX16) 2739586 2Depto. De Engenharia de Materiais, Aeronáutica e Automobilística -EESC USP
R. Dr Carlos Botelho, 1465, CEP 13560-250, São Carlos, SP, Brasil Fone (OXX16)2739581, Fax (OXX16) 2739590
3Instituto de Química - UNESP -Araraquara, SP, Brasil Caixa Postal 355, CEP: 14801-970 -Araraquara - SP
Fone (OXX16) 232.2022, Fax (OXX16) 222.7932 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
Resumo - O objetivo deste estudo é caracterizar um vidro bioativo em pó e verificar sua biocompatibilidade e biofuncionalidade quando usado como material de preenchimento em pequenas falhas ósseas de 24 coelhos. A composição do material utilizado é baseada no "Bioglass 45S5" e a caracterização foi feita por meio de verificação da composição química, microscopia eletrônica de varredura, análise térmica diferencial, difração de raios-X e avaliação do potencial de citotoxicidade in vitro. Nas tuberosidades das tíbias direitas de cada coelho, foram feitas 2 pequenas osteotomias: uma proximal que foi preenchida com uma mistura do vidro com sangue do próprio animal (Grupo Estimulado) e, outra distal que permaneceu vazia (Gmpo Controle). Foram feitas radiografias das tíbias manipuladas no momento da cirurgia e no dia do sacrificio dos coelhos, que foram divididos em três grupos e sacrificados em 15, 30 e 45 dias após a cirurgia de confecção das osteotomias A avaliação do potencial de citotoxicidade do material e a análise macroscópica do osso retirado após o sacrificio permitem dizer que o biomaterial não produziu reações de rejeição no hospedeiro. O tecido ósseo retirado após o sacrificio dos animais foi caracterizado por meio de análise histomorfopatológica.
Palavras-chave: Biomateriais, Vidro Bioativo, Biocompatibilidade.
Abstract - The aim of this study is to characterize a bioctive glass powdered and to verify its biocompatibility and biofuncionality when used as a filling material in small bony flaws of 24 rabbits. The composition of used material is based on "Bioglass 45S5" and its characterization was made by chemical composition analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis, x-ray diffraction and evaluation of cytotoxicity potential in vitro. Two small stectomies were made in right tibiae tuberosity of each rabbit: one proximal that was filled with a mixture of glass with the animal blood (Stimulated Group) and other one that was distal and stayed empty (Control X-rays of manupulated tibiae were made at the moment of surgery and on the sacrifice day. Rabbits were divided in three groups and sacrificed into 15, 30 and 45 days after the implant surgery. The evaluation of material potential and the comparative radiographic analysis ofbone removed after the sacrifice allow to say that the biomaterial used doesn't produce rejection reactions in the host. The bony tissue removed after the sacrifice was characterized by means of histomorphopathologic analysis.
Key-words: Biomaterials, Bioactive Glass, Biocompatibility.
Introdução
Implantes podem ser classificados quanto à sua origem, de modo geral, em biológicos e sintéticos. Biomateriais são materiais usados em Medicina e Odontologia com intenção de interagir com sistemas biológicos. Um biomaterial precisa ser biocompatível e biofuncional. Biocompatibilidade é a capacidade de um material de funcionar com uma resposta apropriada do hospedeiro (meio biológico) em uma aplicação específica. Biofuncionalidade está relacionada ao conjunto de propriedades que dá a um determinado dispositivo a capacidade de desempenhar uma função desejada semelhante à qual está substituindo[!].
Há quatro formas possíveis de interação entre a superficie do implante e os tecidos adjacentes. Na primeira, o material é tóxico e o tecido adjacente morre. Na segunda, o material não tóxico mas biologicamente inativo, é encapsulado por tecido fibroso. Na terceira, o material é bioativo e não tóxico, estabelecendo, assim, ligações na interface entre o implante e o tecido adjacente. E na quarta o material é não tóxico e se dissolve, sendo substituído pelo tecido [2].
Os biovidros ou vidros bioativos são vidros silicatos que contém sódio, cálcio e fosfato como principais componentes e começaram a ser estudados na década de setenta por Larry Hench. A biocompatibilidade destes vidros é um fato bem
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
documentado [2], e sua utilização seria necessária em situações clínicas ortopédicas e odontológicas especiais, nas quais o processo natural de reparação óssea tenha sido perturbado. Eles têm sido usados para preencher cavidades ósseas, como implante do ouvido médio e como revestimento de próteses de outros materiais com propriedades mecânicas superiores e biologicamente inativas melhorando, assim, a fixação e diminuindo as reações de rejeição [3].
Novos estudos têm sido conduzidos a fim de diversificar o uso do material variando sua composição química, a forma e as fases e também suas propriedades fisicas e biológicas.
Metodologia
Este trabalho foi dividido em duas partes: a caracterização do material utilizado e procedimento cirúrgico experimental.
Caracterização do Material
A caracterização do material recebido foi feita por meio de análise química do material, análise térmica diferencial (DT A), difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e, avaliação do potencial de citotoxicidade in vitro.
A análise química do material foi feita pelo Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM-UNESP-UFSCar).
Na busca das principais características dos vidros foram realizados os ensaios DT A (indica a temperatura de transição vítrea) e DRX (indica se o material tem uma estrutura desordenada, sem plano referencial de cristalização).
O DTA foi realizado num DTA 1600 do equipamento Thermal Analyst 3100 da TA Jnstruments. No ensaio foram utilizados 40 mg de amostra do vidro na forma de pó, a uma taxa de aquecimento de 1 O graus por minuto, até l 200°C, tendo como referência a alfa alumina também na forma de pó.
O ensaio de DRX foi efetuado num aparelho Siemens, modelo D 5000 Kristofollex utilizando um tubo de radiação de Cu com monocromador secundário de grafite. Usou-se a técnica de varredura contínua, com intervalo 20 variando de 5° a 75°. Foi utilizada varredura passo a passo, com passo de 0,017° e tempo de 6 segundos por exposição.
A análise por MEV foi feita para verificar as características morfológicas do material utilizado. Usouse um equipamento LEO modelo 440. As amostras foram preparadas por meio de dispersão do pó num aparelho de ultra-som em um meio volátil e pingando-o nos suportes próprios para este tipo de análise para posterior recobrimento com ouro. Os resultados obtidos foram analisados pelo software de análise de imagem MOCHA para a obtenção do tamanho médio das partículas de vidro.
A avaliação do potencial de citotoxicidade in vitro foi feita através do Método de Difusão em Agar, usando a linhagem celular NCTC Clone 929 de tecido
222
conjuntivo de camundongo (CCLl-ATCC-USA) no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo.
Procedimento cirúrgico experimental
Foram utilizados 24 coelhos albinos, de idade adulta e da linhagem Nova Zelândia com peso variando entre 2,6 e 4,0 Kg. A indução anestésica fez-se mediante injeção intramuscular de uma mistura de Ketalar ( cloridrato de cetamina - Parke Davis) e Rompum (cloridrato de xilidino-dihidro-tiazina - Parke Davis) em doses proporcionais ao peso de cada animal. Após a perda de consciência foi feita a tricotomia e a limpeza do membro a ser manipulado. A cirurgia foi realizada sob condições assépticas. Fez-se uma incisão retilínea na face anterior do joelho direito, expondo, assim, a tuberosidade da tíbia direita dos coelhos. Foram provocadas duas falhas ósseas, uma proximal e outra distal, distantes 1 cm uma da outra, na tuberosidade da tíbia, logo abaixo do tendão patelar. As osteotomias foram feitas com um modular modelo CIRUR VETER (M/G Ind. Médica Odontológica Ltda) acoplado a uma caneta odontológica, modelo Futura (Dent-Flex) com motor de alta rotação cirúrgico. Acoplada à caneta usouse uma broca de 1,5 mm de diâmetro para confeccionar as osteotomias de 2 mm de diâmetro. As falhas proximais foram preenchidas com uma mistura do vidro bioativo com o sangue do próprio animal e as distais pennaneceram vazias formando assim, o Grupo Controle. Fez-se a sutura da pele e os animais foram, então, mantidos em gaiolas individuais dentro das melhores condições de higiene possíveis até a data do sacrifício.
Foram tomadas radiografias das tíbias manipuladas imediatamente após a colocação do material e também antes do sacrifício. Os 24 coelhos foram divididos aleatoriamente em três grupos de 8 animais, determinando assim o tempo de vida desde o dia da cirurgia de implante até o sacrifício. O tempo de vida para cada grupo foi del5, 30 e 45 dias. Após o sacrifício, a tíbia de cada animal foi desarticulada e colocada em soluções para fixação, desmineralização, desidratação e diafanização para o corte de lâminas histológicas. Os cortes foram corados e analisados histomorfopatologicamente na busca de evidências celulares que indiquem a biocompatibilidade do material utilizado.
Resultados
O resultado da análise química do material utilizado encontra-se na tabela 1.
Tabela 1 - Composição química do vidro (teor% m/m)
CaO c 45,9 23,9 21,6 7,54 0,15
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Na curva de DT A, figura 1, verificou-se uma temperatura de transição vítrea de 537°C e uma temperatura de cristalização de 799ºC.
Na figura 2 está a curva obtida através da DRX que mostra não haver fases de cristalização no mate1ial utilizado.
As imagens de MEV, figura 3, utilizadas para verificar o tamanho médio das pattículas de vidro (tabela 2) implantadas nos coelhos, mostraram que o material não possui forma definida o que condiz com as características de um material amorfo.
O laudo do potencial de citotoxicidade in vitro indicou que o material não apresenta efeito citotóxico. Uma avaliação macroscópica inicial dos ossos de coelhos retirados para análise mostrou não haver necrose do tecido em contato com o vidro.
A análise das radiografias indica que a calcificação foi acelerada nas falhas preenchidas com o vidro bioativo quando comparada ao grnpo controle, principalmente no grupo sacrificado aos 15 dias. Aos 45 dias foi observada uma completa absorção do calo ósseo nas falhas preenchidas, enquanto que em alguns controles ainda era observado o calo.
Por meio da análise histológica será possível verificar o crescimento ósseo e também qual o tipo das células presentes no tecido manipulado em comparação com o grupo controle.
Tg Te
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Temperatura [0 C)
Figura 1. DT A do material utilizado
Figura 2. Curva de Difração de Raio X do vidro utilizado
223
Figura 3. MEV utilizada para estimar o tamanho das partículas de vidro
Tabela 2. Valores estimados do tamanho das partículas
N Mínimo(µm2) Mediana(µm") Máximo(µm2
)
10 12.35 26.03
!-Falha controle (pennaneceu vazia) 2-Falha preenchida com vidro bioativo 3-Área com calo ósseo (mais radiopaca) 4-Área com calo ósseo (mais radiopaca)
177.74
Figura 4 Radiografias da tíbia direita de coelho no dia da cirurgia e no sacrificio 15 dias depois
Discussão e Conclusões
A caracterização do vidro utilizado indicou a ausência de fases cristalinas e a presença de biocompatibilidade. Se a superficie do material, após o implante, começar a reagir com o hospedeiro (osso) poderá ser possível a verificação da presença de uma camada de apatita em pontos da interface materialhospedeiro [5].
IS
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Não foram detectadas reações inflamatórias ou infecciosas nos coelhos após as cirurgias. A análise macroscópica mostrou uma melhor calcificação nas falhas ósseas, preenchidas com vidro bioativo quando comparada ao grupo controle. Um fato observado foi que imediatamente após o fim do efeito anestésico (póscirúrgico ), O$ coelhos liberaram seu peso em cima do membro manipulado. Estes dados somados indicam que a função do membro lesado foi mantida durante todo o processo de recuperação, além da biocompatibilidade, o material mostra a biofuncionalidade esperada.
Agradecimentos
Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processo 98111426-7).
Referências
[!] A. O. Boshi, "O que é necessano para que um material possa ser considerado um biomaterial?" In: Seminário Regional de Biomateriais 1, Santa Catarina, Anais, Santa Catarina, UDESC, pp.4-16, 1996.
[2] L. L. Hench e J. Wilson, "An introduction to Bioceramics", World Scientific, Singapure, 1993.
[3] L. L. Hench, "Bioceramics". J. Am. Ceram. Soe. vol. 81:7, pp.1705-28, 1998.
[4] A. Oliva, A. Salerno, B. Locardi, V. Riccio, F. Della Ragione, P. Iardino, V. Zappia, "Behaviour of human osteoblasts cultured on bioactive glass coatings", Biomaterials vol. 19, Issue 11-12, 1019-1025, 1998.
5] T. Kokubo, "Surface Chemistry of bioactive glassceramics", J. of Non-Crystalline Solids, 120, 138-151, 1990.
224
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Melhoria das Propriedades Mecânicas dos Hidrogéis de pHEMA para Uso como Superfície Articular
Vanessa Petrilli Bavaresco 1, Cecília A.C. Zavaglia 1, Marcelo de Carvalho Reis2
, Sônia Maria Malmonge3
1Faculdade de Engenharia Mecânica - DEMA/UNICAMP, Caixa Postal: 6122, 2CTC/UNICAMP, 3LABIOMEC Centro de Tecnologia/UNICAMP, Campinas, SP.
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - Obter hidrogéis com propriedades mecânicas adequadas mesmo com elevada concentração de água é uma etapa muito importante na pesquisa de novos materiais para serem utilizados como superficie articular artificial. Diante da extensa diversidade de métodos utilizados, a síntese de blendas do tipo sIPN é uma alternativa que vem sendo muito estudada. Este trabalho descreve a síntese de blendas do tipo sIPN de hidrogéis à base de metacrilato de 2-hidroxietila (HEMA) utilizando-se como polímeros lineares de reforço o acetato butirato de celulose (CAB), o poli (metacrilato de etila) (PEM) e o hidroxietil celulose (HEC). Foram estudadas blendas sintetizadas a partir de variações na concentração do agente de reticulação e dos polímeros lineares de reforço. As amostras obtidas foram caracterizadas quanto a sua capacidade de absorção de água por inchamento e dureza por ensaio de fluência a indentação. Foi verificado que o uso do CAB e do· PEM como reforço melhorou as propriedades mecânicas do hidrogel sem perda significativa na sua capacidade de absorção de água.
Palavras-chave: pHEMA, blendas sIPN, cartilagem articular artificial
Abstract - Obtainning hydrogels with snitable mechanical properties even at high water concentrations is an important step in the research of new materials to be used as articicial articular surface. Among the great number of methods employed, the synthesis of sIPN blends is an alternative which has been receiving much attention lately. This work describes the synthesis of 2-hydroxyrthyl methacrilate (HEMA) sIPN hydrogels blends, using as reforcing linear polymers cellulose acetate butyrate (CAB), polyethyl methacrilate (PEM) and hydroxyethyl cellulose (HEC). Blends different concentrations of both the reinforcing polymer and the crosslinking agent were synthesized. The samples obteined had their water absorption capacity evaluated by swelling experiments, as well as their hardness assessed by indentation creep. Was verified that the use of CAB and PEM as reinforcing polymer result in an improvement of hydrogel mechanical properties.
Kevwords: pHEMA, sIPN blends, artificial articular cartilage
Introdução
Dentre a extensa classe de hidrogéis poliméricos, a mais representativa é a dos hidroxialquil metacrilatos ou acrilatos. São hidrogéis altamente estáveis quanto a sofrer hidrólise, devido à presença de grupamentos ésteres. Nesta classe de materiais, o poli(metacrilato de 2-hidroxietila) (pHEMA) é o hidrogel mais estudado para aplicações biomédicas, devido a sua biocompatibilidade, alta penneabilidade (também à macromoléculas), alta hidrofilicidade e insolubilidade devido às reticulações. O hidrogel de pHEMA foi primeiramente descrito e sintetizado por LIM e WICHTERLE por volta de 1960. WICHTERLE, em 1961, desenvolveu o primeiro hidrogel para ser utilizado como lente de contato, sendo até hoje um grande sucesso [1]. O hidrogel de pHEMA também é utilizado na área odontológica, como dispositivo de liberação controlada de drogas e, mais recentemente, tem despertado interesse como material substituinte de cartilagem articular.
Todavia, para certas aplicações biomédicas nas quais se faz importante que o hidrogel apresente uma elevada concentração de água para que haja o transporte de nutrientes e melhores propriedades interfaciais, como é o caso da cartilagem articular, a resistência mecamca desses matenais torna-se inadequada, limitando a sua aplicação. Os hidrogéis, quando inchados, apresentam baixa resistência mecânica, pois a água exerce um efeito plastificante.
O estudo de certos sistemas biológicos permite verificar a existência de estruturas compostas que apresentam boas propriedades mecânicas, mesmo apresentando uma alta concentração de água. Um exemplo típico é a cartilagem articular natural. Trata-se de uma estrutura formada por duas fases distintas: uma sólida e outra líquida. A fase sólida compreende uma matriz extracelular composta de proteoglicanos, fibras de colágeno, outras glicoproteínas e os condrócitos (células cartilaginosas); a fase líquida é composta de água e eletrólitos, denominada de fluido sinovial. Observações nesse sentido levaram alguns
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
pesquisadores a estudar associações de materiais para melhorar a resistência mecânica de hidrogéis.
MALMONGE [2] verificou que a obtenção de uma blenda sIPN de pHEMA com poli(metacrilato de metila-co-ácido acrílico) possibilita a melhoria das propriedades mecânicas do hidrogel de pHEMA, sem diminuir muitb a sua capacidade de absorção de água. AMBROSIO [3] estudou a obtenção de blendas de redes semi interpenetrantes de HEMA/PCL reforçadas com fibras de poli(tereftalato de etileno) (PET) para serem utilizadas como tendão, ligamento e prótese de disco vertebral.
A fonnação de hidrogéis poliméricos com redes interpenetrantes produz materiais duros e fortes, porém menos elásticos que seus copolímeros similares. Além disso, suas propriedades superficiais são modificadas de acordo com a razão dos componentes polares dispersos na rede polimérica.
Existe uma grande variedade de polímeros lineares como polimetacrilatos, poliuretanas e celulose modificada que são utilizados para síntese de blendas de hidrogéis de rede interpenetrante.
CORKHILL e colaboradores [4] investigaram a fonnação de uma rede polimérica do tipo sIPN utilizando como monômero base o HEMA e como polímero linear de reforço um éster de celulose, neste caso, o acetato de celulose e o acetato butirato de celulose.
O desenvolvimento desses materiais se faz importante para a obtenção de novos hidrogéis que apresentem as propriedades mecânicas necessárias para serem utilizados como superfície articular artificial. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi verificar o aumento da dureza de hidrogéis de pHEMA sem que houvesse uma perda significativa da sua capacidade de absorção de água. Para tanto, foi realizada a síntese de blendas do tipo sIPN variando-se a concentração do agente de reticulação e o tipo de polímero linear de reforço: poli(metacrilato de etila) PEM, o acetato butirato de celulose - CAB e o hidroxietil celulose (HEC). Todas as amostras obtidas foram caracterizadas quanto a sua capacidade de absorção de água e dureza através de ensaios de fluência a indentação.
Metodologia Síntese do pHEMA e das blendas slPN
Amostras de pHEMA reticulado foram obtidas por polimerização térmica utilizando-se o monômero metacrilato de 2-hidroxietila (HEMA), peróxido de benzoíla como iniciador e o trimelacrilato trimetilolpropano (TMPTMMA) como agente de reticulação.
Amostras de blendas sIPNs foram sintetizadas utilizando-se como monômero base o HEMA, o TMPTMMA como agente de reticulação e como polímeros lineares de reforço: o acetato butirato de celulose (CAB), o poli (metacrilato de etila) (PEM) e o hidroxietil celulose (HEC). O polímero linear de reforço foi dissolvido no HEMA e, posteriormente, foi adicionado o iniciador e o agente de reticulação nas
226
concentrações desejadas sendo, a seguir, polimerizadas termicamente. As amostras foram obtidas na fonna de placas de 2 mm de espessura vertendo-se a mistura num molde e a seguir polimerizadas a temperatura de 75 - 80ºC durante 4,0 horas. O molde era formado por duas placas de petri separadas por espaçadores de 2 nun de espessura. Após o resfriamento as amostras foram deixadas em água destilada para a remoção do monômero e iniciador residuais. As condições de síntese das blendas foram as seguintes: inicialmente, a concentração do polímero linear de reforço foi fixada em 7% variando-se a concentração do agente de reticulação em O, 5 e 10%. Diante dos resultados preliminares obtidos, a concentração do agente de reticulação foi fixada em 5% variando-se a concentração dos polímeros lineares de reforço em 3 e 11%.
Capacidade de absorção de água
As amostras foram caracterizadas quanto à capacidade de absorção de água (Xágua). Para tanto, pequenas amostras de hidrogel secas e pesadas foram imersas em água destilada até atingirem peso constante, ou seja, até que a sua capacidade máxima de absorção fosse atingida. Assim Xi foi determinado como uma média entre 5 detenninações.
onde,
m,. 110 gel é a massa de água absorvida pelo hidrogel. mgeI é a massa da amostra de hidrogel inchada.
Módulo de fluência a identação
Para a avaliação do comportamento mecânico dos hidrogéis, estes foram submetidos a ensaios de fluência a indentação. Tais ensaios foram realizados utilizando uma ponta esférica de raio 1,6 nm1. A carga utilizada para os ensaios foi de 4,935 N (0,5kgf) durante 180. Os ensaios foram realizados em triplicata sendo registrado a altura da indentação (h) ao longo do tempo (t).
O módulo de fluência a indentação foi calculado utilizando o modelo de KEMPSON [5] onde,
E= 9·104
p [1- exp(-0.42 ·e/ a)]312
16.fr h
E= módulo de fluência [kgf/m2 ]
p = carga [kgfj r = raio do indentador [cm] e = espessura da amostra [cm] h = altura de indentação [cm]
a= ~(2rh -h2) [cm]
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Resultados e discussões
A dureza dos hidrogéis estudados, tanto secos quanto inchados em água destilada, variou em função da concentração do agente de reticulação e do polímero linear de reforço utilizado no caso das blendas sIPN.
Na figura O 1 (a), (b) e ( c) estão relacionados o módulo de fluência à indentação e os valores de capacidade de absorção de água para as amostras de pHEMA e para as blendas de pHEMA-CAB, de pHEMA-HEC e de pHEMA-PEM, sintetizadas com 0%, 5 e 10% de agente de reticulação respectivamente e 7% (p/p) de polímero linear de reforço.
Verifica-se pela análise da figura O 1 que o aumento da concentração de agente de reticulação ocasionou um aumento no valor do módulo de fluência à indentação e uma redução na capacidade de absorção de água, independente do material estudado: o hidrogel de pHEMA ou as blendas fonmdas pelo hidrogel de pHEMA e os diferentes polímeros lineares de reforço. Isto ocorreu porque com o aumento da concentração do agente de reticulação houve um aumento do número de reticulações na rede polimérica deixando-a mais coesa, diminuindo sua flexibilidade, aumentando a dureza do material e, dessa forma, dificultando a absorção de água. Este resultado já era esperado tendo em vista o comportamento previsto para hidrogéis relatado extensivamente na literatura [6] [7] [8] [9] [10].
Ainda pela análise da figura O 1 verifica-se que a blenda pHEMA-HEC apresentou valores de módulo de fluência à indentação (dureza) menores que os valores apresentados pelo pHEMA em todas as concentrações de agente de reticulação. O hidroxietil celulose (HEC) é um polímero linear altamente hidrofilico e, como a blenda foi mantida em água destilada para inchamento, o HEC pode ter sido solubilizado, resultando dessa forma, em um material formado por uma rede polimérica menos coesa ou mais porosa, pois o polímero linear solubilizado pode ter deixado espaços vazios na estrutura do hidrogel. Isso explica também os elevados valores de capacidade de absorção de água apresentados pelo material (44% no caso do material sem agente de reticulação e 21 % para de 10% de agente de reticulação). Essa blenda, na condição estudada, resultou em um material com propriedades mecânicas inferiores às do hidrogel de pHEMA e, consequentemente, não é interessante para a aplicação desejada.
Já as blendas pHEMA-CAB e pHEMA-PEM com 0% (figura Ola) e 5% de agente de reticulação (figura O 1 b) apresentaram valores de módulos maiores que o do pHEMA e valores de inchamento parecidos. As blendas com 10% de agente de reticulação (figura O 1 c) apresentaram valores de módulo e de inchamento semelhantes aos do hidrogel de pHEMA. Embora a dureza dos hidrogéis tenha aumentado bastante quando a concentração do agente de reticulação aumenta de 5 para 10%, a capacidade de inchamento caiu consideravelmente.
227
50
45
40
35
-ro 30
o.. 25 ~ w 20
15
10
50
45
40
35
ro 3o o.. ~ 25
w 20
15
10
Módulo de Fluência à Indentação (MPa) Inchamento(%)
poliHEMA puro pHEMA- CAB pHEMA - PEM pHEMA- REC
(a)
~ Módulo de Fluência à Indentação (MPa)
llll lnchamento (%)
poliHEMA puro pHEMA • CAB pHEMA- PEM pHEMA- REC
(b)
50
45
40
35 :r (')
30 :r
"' 3 25 '" " 20 !
..,.,. 15 ~
10
45
40
35 :r 30 g.
"' 25 ~
" 20 õ
15 t: 10
5o~--------------~5o
45
40
35
- 30
'" ~ 25
w 20
15
10
pollHEMA puro pHEMA- CAB pHEMA- PEM p-HEMA- REC
(c)
45
40
35 5' o
30 ;
25 g " 20 õ
15 ~ 10
Figura 01.Valores de módulo de fluência à indentação e de inchamento das amostras de pHEMA e blendas com 7% (p/p) de polímero linear de reforço para 0% de TMPTMMA (a), 5% de TMPTMMA (b) e com 10% de TMPTMMA (c).
A partir destes resultados e, para verificar a influência causada pelo polímero de reforço na dureza do hidrogel, a concentração do agente de reticulação foi fixada em 5,0% e a concentração do polímero linear de reforço variada em 3 e 11 %.
Os valores do módulo de fluência à indentação e de inchamento do pHEMA e das blendas pHEMAPEM e pHEMA-CAB com 5% de agente de reticulação e com concentração de 3, 7 e 11 % de polímero linear de reforço são apresentados na figura 02 (a) e (b) respectivamente.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
50 50 Módulo de Fluência à Indentação (MPa)
45 Inchamento(%) 45
40 40
35 35 5"
30 n
ro 30 ::r "' a. 3
~ 25 25 ., " w
20 20 õ
15 15 ~ 10 10
políHEMA puro pHEMA-PEM 3% pHEMA·PEM 7% pHEMA-PEM 11%
(a)
501,--,:;;;;;-.,.~---~~~~~~-, Môdulo de Fluência à Indentação (MPa)
50
45 45jl....!~~ln=ch=am~e~nto~(~%):.__~~~~~Jll?i~
40 40
35
'"30 a. ~25
w 20
15
10
35
30 :;n
25 ::r
"' 20 ~
" 15 õ 10 í:.
o pollHEMA puro pHEMA-CAB 3% pHEMA-CAB 7% pHEMA-CAB 11%
(b)
Figura 02. Valores de módulo de fluência à indentação e de inchamento do pHEMA e das blendas de pHEMA-PEM (a) e de pHEMA-CAB (b) nas concentrações de 3, 7 e 11 %.
Comparativamente com as amostras de pHEMA, pode-se verificar que o aumento da concentração do polímero linear de reforço ocasionou um aumento do módulo de fluência à indentação ou dureza do hidrogel. Pode-se observar, também, que a presença do reforço, nestas concentrações não levou a uma diminuição na capacidade de absorção de água das blendas em relação ao do pHEMA.
Para os hidrogéis poliméricos, o aumento da concentração de água, provoca a redução da sua dureza devido ao efeito plastificante que a água exerce. Vários autores têm estudado diferentes métodos para melhorar a resistência mecânica de hidrogéis. Um método que vem apresentando bons resultados para diferentes hidrogéis é a sínteses de blendas do tipo sIPN [6] [10] [11]. Nesse caso as propriedades mecânicas dependem das propriedades da matriz (neste trabalho: pHEMA), da quantidade de água e das propriedades do polímero linear de reforço como sua estrutura macromolecular, seu peso molecular e sua temperatura de transição vítrea.
Dentre as duas blendas estudadas, nesta condição de síntese, a pHEMA-CAB foi a que apresentou o maior valor de dureza. Isto talvez seja explicado pela diferença na estrutura molecular entre o PEM e o CAB. O CAB apresenta uma estrutura
228
molecular formada com anéis de celulose com substituição de seus grupos hidroxila por grupos acetato e butirato, muito mais volumosos, o que restringe a sua flexibilidade ao mesmo tempo que dificulta a aproximação entre as cadeias da rede quando a blenda é submetida ao carregamento mecânico .
Conclusões
Diante dos resultados obtidos observa-se que através da síntese de blendas do tipo sIPN, utilizandose como polímero linear de reforço o CAB e o PEM, pode-se melhorar significativamente as propriedades mecânicas do hidrogel de pHEMA sem perda significativa na sua capacidade de absorção de água, fator importante para que este material seja utilizado como cartilagem articular artificial.
Referências
[l] RATNER, B.D, HOFFMAN, AS., "Synthetic hidrogels for biomedical applications", ACS Symposium Series, v.31, p.1-36, 1976.
[2] MALMONGE, S.M., ZA V AGUA, C.A.C., "Hidrogéis de poliHEMA para reparos de defeitos da cartilagem articular. 1 Síntese e caracterização mecânica", Polímeros - Ciência e Tecnologia, nº2, p.22-29. abr/jun 1997.
[3] AMBROSIO, L., De SANTIS, R., NICOLAIS, L., "Composite hydrogels for implants", Proc. Instn. Mech. Engrs., v.212 -H, p.93-99, 1998.
[4] CORKHILL, P.H., TIGHE, B.J., "Synthetic hydrogels: High EWC sem1-mterpenetrating polymer networks based on cellulose esters and N-containing hydrophilic monomers", Polymer, v.21, p.1526-1537, 1990.
[5] KEMPSON, G. E., FREEMAN, M. A. R., SW ANSON, S. A. V., "The detennination of a creep modulus for articular cartilage from indentation tests on the human femoral head", Journal of Biomechanics, v.4, p.239-250, 1971.
[6] ANSETH, K. S., BOWMAN, C.N., PEPPAS, L.B., "Mechanical properties of hydrogels and their experimental determination", Biomaterials, v.17, p.1647-1657, 1996.
[7] KUDELA, V. "Hydrogels", in Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", JACQUELINE, I.K. (EDITOR), Wiley Interscience, p. 783-807, 2ª edition, 1990.
[8] PEPPAS, N.A., KORSMEYER, R.W., "Hydrogels in medicine and pharmacology", Boca Raton, Flórida, CRC Press, 1987.
[9] RATNER, B.D., "Biomedical applications of hidrogels: review and critica! appraisal ", ln: Biocompatibility of clinicai implant materiais, CRC, ed D.F. Williams, CRC, v.II, Cap. 7, p.145-175, 1981.
[10] PEDLEY, D.G., SKELLEY, PJ., TIGHE, B.J., "Hydrogels in biomedical applications", The British Polymer Journal, v.12, p.99-11 O, 1980.
-
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
[11] SANTIN, M., HUANG, S. J., IANNACE, S., AMBROSIO, L., NICOLAIS, L., PELUSO, G., "Synthesis and characterization of a new interpenetrated poly (2-hydroxyethylmethacrylate )-gelatin composite polymer'', Biomaterials, v.17,p.1459-1467, 1996.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Imobilização covalente de gentamicina em matrizes de colágeno a partir do método da azida
Maria Helena de Sousa (PG) e Gilberto Goissis (PQ)
Departamento de Química e Física Molecular IQSC- USP Av. Dr. Carlos Botelho 1465, São Carlos- CEP 13560-250, SP-Brasil
Fone (OXX16)274-9961, Fax (OXX16)273-9985 [email protected], [email protected]
Resumo - Este trabalho estudou a incorporação covalente da gentamicina em matrizes de colágeno nativo e modificado pela introdução de número de cargas negativas. A incorporação foi realizada pelo o método da azida e os materiais caracterizados por calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados de DSC mostraram em primeiro lugar a preservação da estrutura em tripla hélice do colágeno associado a uma diminuição na temperatura de desnaturação (Td) à medida que aumenta o número de carga negativa na matriz, com perda progressiva da estrutura microfibrilar para dar origem a estruturas amorfas. A quantidade de gentamicina imobilizada covalentemente foi proporcional ao aumento de grupos carboxílicos da matriz variando entre 6,4 e 13,9 mg. Essas quantidades embora pequenas, são suficientes para o controle do crescimento bacteriano, pois são superiores às concentrações inibitórias mínimas assumindo um processo de biodegradação de 40 dias. Para o caso do colágeno aniônico hidrolizado por 24h a reação inflamatória tecidual foi praticamente inexistente sugerindo neste caso um alto grau de biocompatibilidade para estes materiais.
Palavras-chave: Matrizes, colágeno, gentamicina, azida, iimobilização, colágeno, engenharia de tecido.
Abstract - This work reports a study of the covalent incorporation of gentamicin into native and anionic collagen matrices. The incorporation was performed by azide method and the materials were characterized by differential scanning calorimetry (DSC), and electron scanning microscopy (SEM). The DSC results showed that collagen triple helix structure was preserved in all cases except that a progressive loss of the microfibril structure was observed with increasing negative charge content and immobilization reaction procedure. The amount of covalently bound gentamicin increased progressively with increasing carboxyl in the range from 6,4 and 13,9 mg. These concentration, although low, are within the range ofthe minimum inhibitory concentration assuming a complete biodegradation within a period of 40 days. After 90 days from implantation, the 24h hydrolyzed material was devoided of any inflammatory reaction, suggesting its high degree ofbiocompatibility.
Key-words: Matrices, collagen, gentamicine, azide, immobilization, antibiotic, azide, collagen, tissue engineering .
Introdução
Colágeno é a principal proteína estrutural do homem e possui várias propriedades que o credência como biomaterial. Entre essas propriedades destacam-se a baixa antigenicidade, biodegradabilidade, que pode ser controlada por reações de reticulação, boas propriedades mecânicas, hemostáticas, habilidade de promover adesão e crescimento celular, entre outras. Biomateriais de colágeno podem ser processados nas mais diversas formas, tais como películas, esponjas, pó, soluções e dispersões injetáveis. Atualmente tentativas têm sido feitas para aplicar esses biomateriais para liberação controlada de drogas em diversas áreas médicas, como a oftalmologia, ortopedia, revestimento de queimaduras, tratamento de tumor e engenharia de tecidos [ 1-4].
Esponjas de colágeno contendo antibióticos tem sido desenvolvidas [5], e sua função, além de suportar o crescimento do tecido, é controlar no pós implante o crescimento bacteriano associado ao trauma [ 4, 5].
Em geral a liberação nesses sistemas é baseada em mecanismos de difusão, porém, em virtude das pequenas massas moleculares dos antibióticos, estes são
230
liberados no maxuno em dois dias, tempo este insuficiente para controlar processos infecciosos, como por exemplo na osteomielite [5]. Um meio utilizado para aumentar o tempo de liberação, e portanto a eficiência da mesma, é a imobilização do antibiótico na matriz por meio de ligações covalentes. Desta forma o controle da liberação é função da biodegradação da matriz [6].
O objetivo deste trabalho foi desenvolver matrizes colagênicas, para serem utilizadas como suporte para crescimento de tecido associado ao antibiótico gentamicina ligado covalentemente, cuja finalidade é minimizar efeitos da resposta inflamatória induzida pelo ato do implante e tornar a ação do biomaterial mais eficiente.
Metodologia
Preparação de matrizes de Colágeno
Matrizes amomcas foram preparadas pelo tratamento de pericárdio bovino com uma solução alcalina na presença de hidróxidos, cloretos e sulfatos [7] de K+, Ca2
+ e Na+, por um período de 24 (PB24), 36 (PB36) e 48h (PB48) seguido de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
estabilização com uma solução de cloretos e sulfatos dos cátions acima citados. As matrizes de pericárdio nativo (PB) e aniônico (PB24, PB36 e PB48) foram inicialmente tratadas com uma solução de glutaraldeído (GA) a 0,05% em tampão fosfato (TF) 0,013MolL 1 pH 7,4 por um período de Ih. Posterionnente, foram lavadas com solução de TF, solução de glicina borato, novamente com TF, água e finalmente lavadas com metanol puro.
Inc01poração da gellfamicina via azida
A gentamicina foi incorporada pelo o método da acil azida [8] de acordo com as etapas abaixo:
Metilação do colágeno: as amostras ( 15 unidades, 2x2cm) foram esterificadas por tratamento com l 50mL de uma solução de CH30H:HC1 0,22molL1 à temperatura ambiente por 7 dias. Posteriormente foram lavadas (4X) com 150mL de solução de NaCl l,Omol.L-1.
Hidrazinólise: as amostras foram suspensas em l 50mL de solução de NaCl a 1 % em hidrazina por 20h à temperatura ambiente seguida de 4 lavagens com l 50mL de NaCl
Formação da azida e incorporação do antibiótico: A acil azida foi preparada pela suspensão de cada matriz (2x2cm) em 1 OmL de uma solução aquosa de NaN02 .
0,5molL1 HCl 0,3molL1 e NaCl 1,0 molL1• Após 3
min a 2ºC, cada matriz foi colocada em 1 OmL de uma solução de tampão borato contendo gentamicina, com concentrações de 9,3, 10,2, 10,85 e 13,8mmol.L-1 para PB, PB24, PB36 e PB48, respectivamente. Essas concentrações foram calculadas com base no número total de mEq em carboxila contido em cada matriz, com 2 vezes de excesso.
Determinação das quantidades inc01poradas e removidas de gentamicina
As cinéticas de incorporação foram acompanhadas em um intervalo de 1 a 1 OOh pela remoção de alíquotas de O,lmL, diluídas para 5mL com tampão borato 0,04moles.L-1
, pH 9,5, seguida de análise por espectrofotometria de UV-visível após reação com p-aminobenzaldeído [9].
Após a incorporação, para a remoção do antibiótico não ligado covalentemente as matrizes foram lavadas com 1 OmL de tampão borato em intervalos de 30 min durante 2,5h e após reação com p-aminobenzaldeído [9] as absorbâncias determinadas
como descrito acima.
Estabilidade térmica (Td)
Os valores de T d das matrizes, antes e após as etapas do processo de imobilização, foram obtidas em um equipamento TA Instruments DSC 2010. As amostras foram previamente equilibradas em TF (pH 7,4), coitadas em discos de aproximadamente 1 Omg, colocadas em cadinho de alumínio e aquecidas a uma taxa de 10°C/min a partir de 24 a l 20°C.
231
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV)
As fotomicrografias, antes e após processo de imobilização covalente, foram obtidas a partir das matrizes previamente liofilizadas e recobertas com uma camada de ouro em um equipamento ZEISS DSM 960, operando com um feixe de elétrons de 20 keV.
Estudos de biocompatibilidade
Quarenta e oito coelhos foram divididos em dois lotes (lotes 1 e 2) de acordo com o tipo de retalho implantado na episclera na região temporal superior. Nos coelhos do lote 1, foram implantados retalhos de pericárdio bovino nativo reticulado com glutaraldeído a 0,5% seguido do tratamento com solução de ácido glutâmico a 0,025% em tampão borato pH 9,0. No lote 2, foram empregados retalhos de colágeno aniônico (hidrólise por 24h), também reticulado com glutaraldeido, exceto que na concentração de 0,05% seguido também do tratamento com solução de ácido glutâmico a 0,025%. Nos dias 5,15,45 e 90 de pósoperatório, os lotes foram comparados com relação aspectos clínicos e análise histológica por microscopia óptica.
Resultados e Discussões.
As variações da estabilidade térmica (T d) medidas por DSC para os materiais estudados foram acompanhados durante todas etapas da incorporação pelo processo da azida e está mostrado na Tabela 1
Os valores de T d referentes aos materiais de partida PB, PB24, PB36 e PB48, foram de 67,5 57,3, 56,4 e 50,9ºC, respectivamente, mostrando em primeiro lugar a preservação da estrutura em tripla hélice da matrizes, já que para colágeno desnaturado não seriam observados essas transições [10]. A diminuição de Td observada com o aumento do tempo de tratamento alcalino sugere que a hidrólise altera a distribuição de cargas na molécula de colágeno, provocando uma maior solvatação, diminuindo assim a sua estabilidade.
Após tratamento com GA valores de T d aumentaram para todos os materiais (Tabela 1 ), variando entre 81 e 69ºC. Este aumento é devido a formação de ligações cruzadas entre os z-aminos grupos de lisina e hidroxilisina presentes na matriz. Os valores de T d após a meti lação diminuíram para todos os materiais (Tabela 1 ), esta diminuição pode estar relacionada a um alto grau de entumescimento das matrizes nesta etapa, sendo que este é ao menos parcialmente atribuído ao efeito polieletrólito do colágeno, uma vez que, os grupos carboxílicos foram conve1tidos para uma forma catiônica. As transições voltaram a aumentar nas etapas subsequentes, ou seja na formação das hidrazidas e na ligação com a gentamicina (Tabela 1 ). As T d obtidas após as etapas do procedimento da azida são similares àquelas descritas na literatura [8].
Com o intuito de observar as estruturas das matrizes nativas e aniônicas e justificar os resultados
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
das análises térmicas, as mesmas foram submetidas à microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Os resultados mostraram que as matrizes nativas apresentaram estruturas com a presença de fibras (Figura 1 a), já as matrizes aniônicas não apresentaram a mesma estrutura fibrilar que caracteriza o material nativo (Figura 1 b ). Em seu lugar, uma estrutura do tipo amorfa foi observada sugerindo que a introdução de
cargas negativas e o processo de reação da azida provoca alterações estruturais na matriz colagênica. Essas alterações provavelmente são resultados do novo padrão de interações eletrostáticas que se estabelece na molécula de tropocolágeno, explicando assim a diminuição da estabilidade ténnica destes materiais (Tabela 1).
Tabela 1- Variações da temperatura de desnaturação (ºC) das matrizes durante o processo de tratamento alcalino e de imobilização da gentarnicina
Temperatura de Desnaturação (ºC)
Após Mat.de partida Glutaraldeído
PB 67,5 81,0 PB24 57,3 70,5 PB36 56,4 70,0 Pb48 50,9 69,0
Figura 1 -Micrografias de microscopia eletrônica de varredura para: (a) pericárdio nativo; (b) pericárdio 24 h após passar pelo o método da azida
232
Após Metanólise Hidrazinólise Gentamicina
62,7 72,8 82,0 61,6 73,1 67,2 63,5 66,5 72,2 57,2 762,5 63,0
O processo geral de incorporação da gentamicina pelo método da acil azida, na sua reação final envolve basicamente a formação de ligações do tipo amida (-CO-NH), como mostrado pelo esquema da Figura 2, e as quantidades totais de gentamicina incorporadas nas matrizes de pericárdio nativo (PB) e aniônico (PB24, PB36 e PB48), bem corno as quantidades removidas por lavagens e as quantidades imobilizadas covalentemente estão mostradas na Tabela 2. ~
NH2 COOH
R
~ JH;
~.J H~0~3 H2N ,y- ""e
-
Figura 2 - Representação esquemática das etapas da azida envolvidas na incorporação covalente da gentamicina.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
As quantidades incorporadas em PB nativo medida pelo o desaparecimento da gentamicina em solução em função do tempo foi de 7,2 ± 043mg. Após a incorporação foram feitas lavagens em um período de 2,5h, a fim de remover o antibiótico que não tivesse ligado covalentemente à matriz, a partir dessas lavagens foram removidos 0,82 ± 0,03mg, portanto a quantidade imobilizada covalentemente corresponde a 6,4mg.
Tabela 2 - Incorporação e remoção de gentamicina em matrizes nativas e com diferente número de cargas
Massa de gentamicina (mg)
Material Incorporada removida imobilizada
PB 7,2 ±0,4 0,8± 0,03 6,4
PB24 10,3 ± 1,2 1,3 ± 0,3 9,0
PB36 16,3 ± 0,8 2,4±0,3 13,9
PB48* 14,8 3,8 11,0
*Foi realizado somente um experimento
O total incorporado em PB24 foi de 10,3±1,2mg, sendo que l ,27±0,3mg foram removidos a partir das lavagens com tampão borato.
Para os materiais correspondentes a 36h de tratamento alcalino (PB36), a incorporação foi de 16,3±0,8lmg, dos quais 2,38±0,27mg foram removidos por tampão borato sugerindo que 13,9mg ligaram covalentemente à matriz. A Figura 3 mostra a curva de incorporação para este material. As outras matrizes apresentaram cinéticas incorporação similares.
18.0
Ô) 16.0 E ro 14.0 'O ~ o 12.0 e-o (.)
.~ 10.0 :§ .9 8.0 <ll
'O ro
6.0 'O
~ ro ::> 4.0 o
2.0
r; f(y
20 40 60
Tempo (h)
80 100
Figura 3 - Perfil de incorporação da gentam1cma a partir do método da azida em pericárdio 36h
Para o último material estudado (PB48) a quantidade total imobilizada foi de 14,8mg, sendo que 3,8mg foram removidos pelas lavagens, portanto a fração incorporada covalentemente foi de 11,0mg.
Um fato observado foi o aumento na quantidade de antibiótico removida em função do tempo de tratamento alcalino (Figura 4), e que pode ser explicado pelo aumento da densidade de cargas negativas na matriz, aumentando assim sua capacidade de reter mais a gentamicina por meio de interações eletrostáticas, de modo análogo ao que ocorre na troca iônica, visto que nas condições utilizadas a gentamicina e um policátion.
Os resultados da Tabela 2 mostram também que a quantidade de gentamicina imobilizada, exceto para o tempo de 48h, aumenta com o tempo de tratamento alcalino, isto é, com aumento da concentração de grupos carboxílicos na matriz.
4.5
4.0
~ - 3.5 ro 'O ·;;: ~ 3.0 e ro ·§ 2.5 .E ro ~ 2,0 O)
"' 'O
~ 1.5
32 ------~ 1.0 ,.,..------- .
o 0.5
10 20
I 30 40
Tempo de tratamento alcalino
50
Figura 4 Gentamicina removida a partir de pericárdio nativo e com 24, 36 e 48h de tempo de hidrólise alcalina
As quantidades de gentamicina incorporada em PB, PB24, PB36 e PB48 medidas pelo seu desaparecimento em função do foram de 6,4, 9,1, 13,9 e 11,0 mg respectivamente. Este aumento na incorporação era um fato esperado o aumento na concentração de grupos carboxílicos matriz introduz um fator de concentração cuja resultante é o aumento na taxa de incorporação.
Embora as quantidade incorporadas acima seja pequenas, assumindo um período de biodegradação de 40 dias (baseado em dados experimentais de implantes em subcutâneo), em uma área total de 4 cm2 (área utilizada neste trabalho) a taxa liberada para estes materiais serão de 1,67, 2,34, 3,49 e 2,86µg/cm2.h para PB, PB24, PB36 e PB48 respectivamente. Estes valores são compatíveis para a inibição do crescimento bacteriano no pós-implante e especificamente para o caso da osteomielite, pois concentração mínima inibitória para o principal agente encontrado neste processo está entre 0,2 a 0,4µg/mL [5]
Ensaios de biocompatibilidade realizados na esclera de coelho mostraram os seguintes resultados: para o caso do PB nativo, foi observada após 90 dias (Figura 5a) a presença de intenso processo inflamatório cromco associado a linfócitos, macrófagos, plasmócitos, e células gigantes multinucleadas. este processo foi caraterizado por aumento do volume
ANAIS DO CBEB'2000
implante, alguns sítios de calcificação e desorganização das fibras colágenas. Para o caso do colágeno aniônico hidrolizado por 24 horas, após o mesmo período (Figura 5b ), foi observada uma maior preservação das fibras colágenas nas fases tardias. O processo inflamatório crônico foi praticamente ausente, associado a boa integração com a escolha nativa, sugerindo a boa biocompatibilidade deste material.
Figura 5 - Implantes de colágeno reticulados com glutaraldeído no espaço episcleral de coelho, após 90 dias de pós-operatório. a - Pericárdio bovino nativo. Presença de intenso processo inflamatório crônico: linfócitos, macrófagos, plasmócitos, e células gigantes multinucleadas (seta); b - Colágeno aniônico após hidrólise por 24h. A seta indica interface do implante com a esclera nativa. Coloração: azul de toluidina, aumento 40X (ocular).
Conclusão Embora tenham apresentado alterações na
estrutura microfibrilar, os resultados descritos neste trabalho mostraram que a gentamicina pode ser imobilizada covalentemente em matrizes de colágeno nativo ou quimicamente modificado para dar origem a biomateriais, nos quais as concentrações do antibiótico podem ser efetivas na inibição do crescimento bacteriano no pós-implante, A ausência de processo inflamatório crônico para o caso do colágeno aniônico hidrolizado por 24h após 90 dias de implante sugere o alto grau de biocompatibilidade.
Agradecimentos: Aos Srs. E. Biazin, G. D.Broche V. A. Maiiins pelo apoio técnico. M.H. Sousa, bolsista
234
CNPq no programa de doutorado em FQ do Instituto de Química de São Carlos -USP.
Referências [l] K.P.Rao. "Recent developmentes ofcollagen-based
materiais for medical applications and drug delivery systems" J. Biomater. Sei. Polymer, v,7, pp.623-645, 1995.
[2] J.M. Pachence, "Collagen-based <levices for soft tissue repair", J.Biomed Mater. Res, v.33, pp 35-40, 1996.
[3] G. goissis, L Piccrilli GOES, J.C. A.M.G Plepis, D.K Das-Gupta, "Anionic collagen: Polymer composites with improved dielectric and rheological properties", J. Artif Organs, v.22, pp.203, 1998.
[4] W. Fiess, "collagen-biomaterial for drug delivery". Eur. J.Pharm. Biopharm, v.45, pp.1733-38, 1996.
[5] Z. Wachol-Drewek, M. Pfeiffer, E. Scholl, "Comparative investigation of drug delivery of collagen implants satured in antibiiotic solutions and sponge containing gentamicne", Biomaterials, v.17, pp. 1733-38, 1996.
[6] K.P. Rao; J.K. Thomas, "Collagen graft copolymers and their biomedical application", in COLLAGEN. M.E. Nimni., Boca Raton, CRC, 1988. v.3, pp.63-86 ..
[7] G. Goissis, A.M.G. Plepis, J.L. Rocha, " Processo de extração de colágeno de tecidos animais com o auxílio de solvente orgânico em meio alcalino". BR 9.405.043-0. 1994.
[8] H. Petite, I. Rault, A..Huc, P. Menasche, D. Herbage, "Use of the acyl azide method for crosslinking collagen rich tissues such as pericardium", J. Biom. Mat. Res, v.20, pp.93-107, 1986
[9] H. Wang; J. Ren, Y. Zhang, "Use of pDimethilaminobenzaldeído as a coloured reagent for detennination of gentamicin", Ta/anta, v.40. pp.851-853. 1993.
[ 1 O] F. Flandin, C. Buffevant, D. Herbage, "A differential scanning calorimetry analysis of the age-related changes in the thermal stability of rat skin collagen", Biochemical and Biophysical Acta, v.791, pp.205-213, 1984.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Malhas de Polipropileno Recobertas com Colágeno Aniônico ou como Dupla Camada com Cloreto de Polivinila para a Reconstrução de Parede Abdominal.
'Gilberto Goissis, 2Sueli Suzigan, 2Diderot Rodrigues Parreira, 2Helder Chaves 2 e Kassin Hussay.
1 Depto. Quím. Fís. Molec., Inst. Quím. São Carlos (IQSC)- Universidade de São Paulo (USP) SP, Brasil 13560-250. Fone (55-02116)-273-9986, Fax: (55-02116)-227-9985, E-mail: [email protected]
2 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto -Av. Brigadeiro faria Lima 5416, São José do Rio Preto, SP, Brasil 15.090-000, Fone (55-02117)-227-5733, Fax: (55-02117)-227-1277.
Resumo Malhas poliméricas tem sido modernamente os materiais mais indicados para a reconstrução da parede abdominal, com destaque para as malhas de polipropileno. Os objetivos deste trabalhos foram desenvolver, caracterizar e avaliar o comportamento biológico de malhas derivadas de polipropileno por meio de recobrimentos com colágeno ou na forma de dupla camada com cloreto de polivinila, como biomateriais para a reconstrução da parede abdominal. Os materiais foram caracterizados por calorimetria diferencial de varredura, microscopia eletrônica de varredura e por implantes na parede abdominal de carneiros por períodos entre 1 e 18 semanas. Em relação à malha de polipropileno utilizada, a dupla camada com PVC se mostrou mais biocompatível e menos susceptível à adesão das alças intestinais, o que sugere seu potencial de utilização como material de implante pennanente para a reconstrução da parede abdominal. Os resultados sugerem também que o PVC isoladamente e pelas mesmas razões, principalmente a ausência de adesão após 9 semanas, pode constituir-se em um biomaterial para implantes temporário e de baixo custo. Embora a neofonnação óssea observada com os implantes de polipropileno:colágeno não recomendem seu uso como proposto inicialmente neste trabalho, este fato constituti-se em uma indicação da existência, no colágeno utilizado, de propriedades ósteo-indutoras, importante para materiais dirigidos à reconstrução de tecido ósseo.
Palavras-chaves: Polipropileno, cloreto de polivinila, colágeno aniônico, parede abdominal, reconstrução
Abstract - Polymeric mesh are recently the most reconunended materiais for the reconstruction of the abdominal wall, with particular emphasis for polypropylene mesh. This work describes the preparation, characterization and the biocompatibility studies on polypropylene mesh coated with anionic collagen or in the form of a double layer with poly (vinyl chloride), as a biomaterials for the reconstruction ofthe abdominal wall. Materiais were characterized by electron scanning microscopy, differential scanning calorimetry and by implantation in the abdominal wall of for periods from 1 to 18 weeks. The results showed that the double layer of polypropyleno:poly (vinyl chloride) was the most biocompatible and less susceptible with respect to intestine adhesion, suggesting its potential use as a permanent biomaterial for abdominal wall reconstruction. For the sarne reasons poly (vinyl chloride) by itself, particularly due to the lack of intestine adhesion after 9 weeks, may constitute in an efficient and low cost biomaterial for short tenn abdominal wall repair. ln the case of anionic collagen coated polypropylene, although the biological response does not reco1m11end its use for the purpose intended in this work, the results suggest that anionic collagen may be an osseoinducting biomaterial, a ve1y useful property for borre tissue reconstruction.
Keywords: Polypropylene, poly (vinyl chloride), anionic collagen, abdominal wall, reconstruction.
Introdução
O uso de malhas poliméricas nas cirurgias de reparo de hérnias tem sido modernamente a técnica mais indicada, principalmente nas reincidências de hérnias de grande extensão. Os índices de reincidência de modo geral não ultrapassam
235
10% [ 1]. Complicações menores mais comuns que oconem normalmente pelo uso de malhas poliméricas incluem feridas localizadas que incluem os seromas em 30-50% dos casos [2], mal-estar em 10-20% [3] e restrição da mobilidade da parede abdominal em 25% de todos os casos [4]. Maiores índices de complicações estão relacionadas principalmente com a adesão das alças intestinais na superfície do implante.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
O mecanismo de reparo destas malhas poliméricas pediátricas, onde as propriedades mecânicas não são ocorre por simples fechamento mecânico (sublay tão restritivas ao uso como no caso dos implantes technique), ou então pela indução da formação de um permanentes. Neste trabalho, todos os materiais tecido cicatricial ao redor da malha [5]. Os motivos utilizados foram caracterizados por calorimetria das falhas destes tipos de implantes de modo geral são diferencial de varredura, microscopia eletrônica de devidos à: persistência de um processos inflamatório varredura e por implantação dos materiais na cavidade constantemente ativo [5], associado à formação de abdominal de carneiros, seguido por análise tecido cicatricial irregular ou de baixa intensidade, morfológica e histopatológica. que não permite a integração adequada da malha junto à área do tecido de regeneração [6]; alterações nas propriedades biomecânicas do implante [7]; ou então, técnica cirúrgica imprópria quando da colocação do implante [8]. Dentre os biomateriais mais comuns utilizados no reparo de lesões da cavidade abdominal está o polipropileno, comercializado com os nomes de Marlex® ,Prolene® e Trelex® [9]. Entretanto alguns aspectos importantes do ponto de vista patofisiológico e morfológico ainda são questionados quanto à eficiência destas malhas como substitutos aitificiais da parede abdominal. O implante ideal deveria em primeira instância, ser fo1temente incorporado ao tecido durante o processo de cicatrização, iniciado pelo processo inflamatório localizado, seguido pelo processo de remodelagem. Nesta direção novos materiais biodegradáveis têm sido propostos e incluem os sanduíches de Marlex®:peritôneo [10], malhas de poliésteres impregnadas com gelatina fluorapassivada [ 11] e malhas de ácido poliglicólico, polímeros biodegradável [12]. Tecidos naturais como o pe1icárdio bovino também tem sido proposto como material para a reconstrução de parede abdominal [13].
Objetivos
Este trabalho estudou o desenvolvimento, a caracterização e o comportamento biológico de duas malhas poliméricas derivadas do polipropileno modificadas por recobrimento com colágeno aniônico ou na fonna de uma dupla camada com cloreto de polivinila (PVC) como biomateriais reconstrução da parede abdominal.. As justificativas para estas associações estão baseadas em: a embora seja um polianion a pH fisiológico [14], este derivado de colágeno é caracterizado por um alto grau de biocompatibilidade [ 15] e po1tanto deve resultar pós implante, em processos inflamatórios menos intensos; b Embora caracterizado pela sua menor resistência mecamca quando comparado à malha de polipropileno, o PVC apresenta uma baixa capacidade para adsorver proteínas, um fenômeno importante para a ativação da adesão celular. Os objetivo deste trabalho foram portanto: a - desenvolver malhas de polipropileno associado a uma maior biocompatibilidade e menor aderência das alças intestinais, sem perda das propriedades mecamcas conferidas pelo polímero; b desenvolvimento de materiais de baixo custo para reparos de curta duração (implantes temporários) à base de PVC apenas, principalmente em cirurgias
236
Experimental
Colágeno Aniônico: O gel de colágeno foi obtido por tratamento de tendão bovino a 20 ºC com uma solução alcalina contendo dimetilsulfóxido a 6% (mim) e sais de metais alcalino e alcalinos terrosos [14]. Após a remoção dos sais residuais, o material foi extraído com uma solução de ácido acético a pH 3,5 e a concentração da proteína ajustada para 0,7%. O colágeno foi caracterizado por eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida, espectroscopia de infravennelho (iv) e calorimetria exploratória diferencia (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Preparação dos derivados de polipropileno
Com colágeno: Este material foi preparado pela fixação da tela de Marlex® (Bard® Marlex® Mesh, Vascular Division System) na base de uma fonna de Acrílico, seguido da adição do gel de colágeno a 0,7%. Após o conjunto ter sido submetido ao vácuo, foi deixado secar lentamente em capela de fluxo laminar e posteriormente embalado para esterilização com óxido de etileno.
Com PVC: Neste caso, o sanduíche polipropileno:PVC foi obtido por soldagem dos polímeros em uma temperatura próxima e inferior ao ponto de fusão do polipropileno, a qual foi detenninada previamente por DSC. Após embalagem, o material foi esterilizado com óxido de etileno
Caracterização dos materiais
O materiais finais foram caracterizados por DSC, e MEV, cujas rotinas experimentais são descritas abaixo:
Calorimetria exploratória diferencial: Estas detenninações foram realizadas em cadinhos de alumínio com amostras de aproximadamente 1 O mg, em um equipamento da TA Instruments, Modelo 2920. A calibração da temperatura e fluxo de calor foi previamente realizada com índio. A taxa de aquecimento foi de 5ºC/min. no intervalo de temperatura entre 20 a 120 o C, sob atmosfera de N2
(60 mL/min).
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): As fotomicrografias dos materiais desenvolvidos foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura, marca ZEISS modelo DSM 960, operando com feixes de elétrons primários de 20 keV. Todas as
ANAIS DO CBEB'2000 Biornateriais
amostras forma recobe1ias com uma camada de ouro (20 nm).
Implantes
Foram utilizados 6 carneiros machos, adultos jovens, clinicamente sadios, pesando entre 20 e 40 Kg nos quais foram implantados a tela de polipropileno, polipropileno:PVC e polipropileno:colágeno (6 implantes/material). Após 6 horas em jejum, os carneiros foram submetidos a anestesia geral, com entubação orotraqueal e ventilação mecânica, com uso das seguintes drogas anestésicas: Etomidato, Ketalar, Tionembutal e Halotano, coadjuvadas por Decadron e Bicarbonato de sódio. Paralelamente foram administrados endovenosamente, 1 gr de cefalotina sódica (Keflin) como antibiotioprofilaxia. Procedimento cirúrgico: foram feitas duas incisões paramedianas em cada carneiro, e os materiais fixados com pontos separados de nylon na aponeurose posterior, junto ao peritônio parietal. A parede foi fechada com sutura contínua, com fios de linho e a pele, após ter sido suturada com pontos separados de linho, foi tratada solução antisséptica.
Nas reoperações, após 1, 9 e 18 semanas, além da avaliação das aderências das alças sobre implantes, foram removidos de todos os animais, fragmentos de 3 cm com linha de sutura no centro, para avaliação histológica por microscopia de luz em laminas com 5µ de espessura coradas em Hematoxilina-eosina Tricrômico de Gornori e Von-Kossa.
Resultados e Discussão
A eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS mostrou que o colágeno aniônico tem o perfil densitométrico esperado do colágeno tipo 1, com uma relação de cadeias ali a2 de 1,95, para uma relação teórica esperada de 2,0 [15] e com massas moleculares de cerca de 100000, característico para as cadeias a 1 e a 2• O espectro de iv foi caracterizado pela presença das bandas do colágeno em 1652 e 1550 cm-1, (amidas I, C=O e II, N-H), com uma relação das absorbâncias para as bandas em 1235 e 1450 cm-1 de 1,07, mostrando que a estrutura secundária do colágeno foi preservada [16]. O valor médio detenninado como Ts para membranas de colágeno aniônico reconstituídas a partir do gel foi 53,2±0,7 confirmando a manutenção da estrutura secundária da proteína, pois o colágeno desnaturado (ausência da estrutura secundária) não apresenta qualquer transição no intervalo estudado [ 16].
As Figuras 1 a e 1 b mostram as micro grafias para o polipropileno e polipropileno:PVC respectivamente.
A face mostrada na Figura 1 b corresponde a urna das faces do PVC, a mais lisa, e aquela voltada para o
interior da cavidade abdominal. Sua superficie foi caracterizada pela presença de irregularidades associadas ao processo de fabricação. A outra face, embora não mostrada, foi caracterizada pela presença de saliências bastante ÍlTegulares, razão pela qual, a superficie mostrada na Figura 1 b foi aquela exposta à cavidade abdominal.
Figura 1 - Fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura: a polipropileno; b polipropileno:PVC (face mais lisa do cloreto de polivinila).
As Figuras 2a e 2b mostram respectivamente as micrografias (MEV) do polipropileno recoberto com colágeno aniônico com aumentos de 500x e 5000x respectivamente. O material em questão consiste basicamente de uma fase protêica depositada na fonna de uma membrana (Figura 2a) sobre a malha de polipropileno, resultando em um material na fom1a de um sanduíche colágeno: polipropileno:colágeno (outra face não é mostrada) como sugerido pela Figura 2b. Portanto a fase efetivamente em contato com o tecido, tanto interna como externamente ao implante, é a membrana de colágeno. Por outro lado, como sugerido na Figura 2b, praticamente não existe aderência do colágeno sobre os fios de polipropileno, provavelmente devido à natureza antagônica dos polímeros, visto que, enquanto o polipropileno é tipicamente hifrofóbico, colágeno tem características altamente hidrofilicas. Aparentemente os únicos
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
pontos de aderência estão parcialmente localizados em algumas zonas de entrelaçamento das fibras de polipropileno.
Ji:
(exo) e 236,6 (endo) e 265,4 correspondentes às transições do polipropileno e decomposição do PVC respectivamente. Não foi observada a temperatura de transição vítrea do PVC.
0,00 {a) (b)
00
-0,25
~ -05
~ (.) m ~
-0,50 Q -1,0
li: 67.2
-0,75 271.8 ·n<lol
Figura 2 - Fotomicrografia de microscopia eletrônica de vanedura de polipropileno:colágeno: a - 5000x de aumento; b - 500x de aumento.
Nas avaliações feitas por DSC, como esperado, o polipropileno (Figura 3a) foi caracterizado pela presença de apenas uma transição térmica em 171,7 ºC, conespondendo à sua temperatura de fusão (transição endo). O PVC (Figura 3b) apresentou uma transição 67,lºC (transição vítrea) e duas outras acima de 200ºC, uma endo em 239,8 e uma exo em 271,8 ºC, conespondentes a transições de decomposição do típicas do polímero. Normalmente, na ausência de plastificantes, a transição vítrea do PVC está por volta de 88 ºC. na presença de plastificantes esta transição ocorre em temperaturas significativamente mais baixas.
Em relação à associação Polipropileno:colágeno (Figura 3c), uma transição foi observada em 50,8 ºC, característica do colágeno, outra em 91,9 ºC, provavelmente água associada ao revestimento de colágeno e uma outra em 173, 1, correspondendo ao ponto de fusão de polipropileno. No caso do sanduíche polipropileno:PVC (Figura 3d), como esperado as transições foram observadas em 168,2
238
-20
91.6 168.2
·1.00 -0,75
Temperatura (°C) 50 100 150 200
Temperatura (°C)
Figura 3 Calorimetria exploratória diferencial: a - polipropileno; b - cloreto de polivinila; e -Polipropileno : colágeno; d - polipropileno:cloreto de polivinila.
Avaliação morfológica dos implantes: Nas reoperações após 1, 9 e 18 semanas, de modo geral não foram observada deiscências de sutura ou infecção em nenhum dos animais. Apenas em um dos animais reoperados após 9 semanas e com implante de polipropileno foi detectada a presença de seroma, que não acarretou em maiores conseqüências clínicas. Em relação a aderência das alças intestinais nos materiais implantados, as observações que se seguem foram realizadas de acordo com a classificação previamente descrita por Jenkinsons:
a - Implante de polipropileno: nos animais que receberam este implante, a aderência após 1 e 9 semanas foram mínimas e puderam ser liberada por dissecção romba suave (classificação 1 ); Após 18 semanas entretanto a aderência já era moderada e só
250
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
pode ser liberada por dissecção romba agressiva (classificação 2).
b - Implantes de polipropileno:PVC: nenhuma aderência foi observada após 1 ou 9 semanas (classificação O). Após 18 semanas a aderência das alças intestinais foi mínima (Classificação 1 ).
Estes resultados sugerem que superficies de PVC, principalmente em relação a aplicações de curta pennanência, são menos propensos a adesão das alças quando comparados com o polipropileno.
Neste aspecto, os resultados polipropileno:colágeno foram similares descritos acima para o Polipropileno:PVC.
para àqueles
Avaliação histopatológica dos implantes: Estes resultados serão discutidos detalhadamente apenas para o caso dos implantes polipropileno:colágeno (Tabela 1) em virtude da reação teci dual anômala observada neste caso. Os implantes de polipropileno:PVC apresentaram um perfil de resposta inflamatória similar àquele descrito para implantes de polipropileno. (Tabela 1 ).
Fibrose peri-implante: Para o caso dos implantes de polipropileno, independentemente do tempo da reoperação, observou-se fibrose moderada (3+/5) envolvendo o material implantado em todas as amostra analisadas. Para os implante Polipropileno:colágeno, este processo ocorreu de modo mais acentuado (4+/5).
Processo inflamatório peri-implante: Para os implantes de polipropileno, embora não fosse observado qualquer infiltrado inflamatório significativo junto ao material implantado, após uma semana o grau de inflamação passou de baixa intensidade após 9 semanas (2+/5) para intensa após 18 semanas ( 4+/5). Este processo inflamatório do tipo crônico foi caracterizado pela presença predominante de células do tipo histiócito e de células gigantes multinucleadas (reação crônica granulomatosa do tipo corpo estranho). Para o caso do polipropileno:colágeno, como previsto nos objetivos deste trabalho, a reação foi inversa e o processo inflamatório teve sua intensidade reduzida após 1, 9 e 18 semanas para 3+/5, 1 +/5 e 1 +/5 respectivamente (inflamações moderada e discreta). O perfil qualitativo da resposta celular foi similar àquele descrito para implantes de polipropileno.
Metaplasia óssea ou ossificação do tipo primária: Foi neste aspecto que a resposta observada para o polipropileno:colágeno foi
considerada anômala em relação às respostas teciduais típicas a malhas de polipropileno implantado em situações análogas. De acordo com o descrito na literatura [1-9], em nenhum dos explantes de polipropileno deste trabalho, foi observada a neoformação óssea junto ao material implantado. Entretanto, para o caso do polipropileno:colágeno o processo de ossificação (osso esponjoso imaturo) foi observado e, dentro do período estudado ( 1 a 18 semanas) evoluiu de moderado (2+/5) a acentuado ( 5+/5 ). Após 18 semanas, o tecido ósseo neo-formado observado apresentou-se na fonna de uma barreira histológica quase completa ao redor do implante, como que o isolando do restante do tecido.
Embora do ponto de vista da correção de defeitos da parede abdominal, a formação anômala de tecido ósseo consiste em uma contra-indicação de uso, por si .é interessantes do ponto de vista de biomateriais. A neo-formação óssea sugere para colágeno utilizado propriedades de osteoindução. É sabido que fenômenos elétricos estão diretamente associados aos processos de regeneração ou reconstrução dos tecidos ósseo e nervoso envolvendo entre outras a piezoeletricidade. O colágeno utilizado neste trabalho para o recobrimento do polipropileno, diferentemente do colágeno natural, alem de ser biocompatível, apresenta propriedades piro e piezoelétricas muito superiores [17], o que poderia explicar a neoformação óssea ao redor dos implante por um processo de geração de correntes elétricas por simples ação mecânica.
Conclusões
Os resultados acima embora ainda preliminares por se tratarem do primeiro experimento realizado mostraram que:(i) os implante polipropileno®:PVC foram mais biocompatíveis e menos susceptíveis à adesão das alças intestinais, sugerindo sua utilização em potencial como implante permanente para a reconstrução da parede intestinal; (ii) o PVC isoladamente, pelas mesmas razoes acima, principalmente pela ausência de adesão após 9 semanas , pode se constituir em material alternativo de implante temporário e de baixo custo, principalmente na cirurgia pediátrica; (iii) Embora a neo-fonnação ósseo observada com os implantes de polipropileno:colágeno não recomendem seu uso como proposto inicialmente neste trabalho, ela se constitui-se em uma indicação da presença no colágeno utilizado, de propriedades osteoindutoras.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Tabela 1 Resultados histopatológicosª para implantes de polipropileno e polipropileno:colágeno na cavidade abdominal
de ovelhas.
Expiantes (Tempo em Semanas) Patologia Polipropileno Polipropileno:Colágeno
1 9 18 1 9 18
I. Pele ulcerada (-) (-) 3+/5 (-) (-) (-)
II. Tec. granulação (-) (-) 3+/5 (-) (-) (-)
III. Fibrose 3+/5 3+/5 3+/5 4+15 4+15 4+15 IV. Inflam. (Pl)b (-) 2+/5 4+15 3+/5 l+/5 1 +/5
IV.1. Histiócitos (-) l+/5 2+/5 2+/5 l+/5 l+/5 IV.3. CGM (CE) (-) l+/5 2+15 2+15 1 +/5 l+/5
V. Tecido osteóide (-) (-) 1 +/5 (PI) (-) (-) (-)
VI. Osteoblastos (-) (-) l+/5 (-) (-) 1 +/5 VII. Osteoclastos (-) (-) (-) (-) (-) l+/5 VII. Osso primário (-) (-) (-) 3+/5 5+15 2+/5
VII.1. Localização (-) (-) (-) PI ETI PI VIII Sais de cálcio (-) (-) (-) (-) (-) (-)
a - avaliação feita com base na escala 1 +/5 (resposta moderada) a 5+/5 (resposta intensa) b - CGM(CE): Células gigantes multinucleadas (Corpo estranho); PI: Perimplante; ETI: envolvendo todo o implante;(-) ausente.
Agradecimentos: Ao Prof. João Vicente Paiva, responsável pelo biotério da FAMERP, pelo apoio dado a este trabalho. A.E. Biazin, G.D Broch e D.Z Neto pelo apoio técnico. K Hussay e H Chaves são alunos de pós-graduação da F AMERP. D.R PaITeira é bolsista IC da FAPESP.
Bibliografia [l] A.G Shulman, P.K. et al. The safety ofmesh repair
for primary inguinal hernias: results of 3019 operations from five diverse surgical sources. Am. Surg., vol. 58, pp. 255-257, 1992.
[2] P.K. Amid et al. Biomaterials for abdominal wall hernia surgery and principies of their applications. Langenbecks Arch. Chir., vol. 379, pp 168-171, 1994.
[3] I. Langer et al. Preperitoneal prosthesis implantation in surgical management of recuITent inguinal hernia. Retrospective evaluation of our results 1989-1994. Chirurg., vol. 67, pp. 394-402, 1996.
[ 4] V. Schumpelick et ai. Preperitoneal mesh-plasty in incisional hernia repair, a comparative retrospective study of 272 operated incisional hernias. Chirurg. vol. 67, pp. 1028-1035, 1996.
[5] J.M Bellon et ai. Integration of biomaterials implanted into abdominal wall: process of scar fonnation and macrophage response. Biomaterials, vol. 16, pp. 381-387, 1995.
[6] J.M. Bellon et ai. Pathologic and clinicai aspects of repair of large incisional hernias after implant of a polytetrafluoroethylene prosthesis. World J. Surg., vol. 21, pp. 402-406, 1997.
[7] U. Klinge et ai. Changes in abdominal wall mechanics after mesh implantation. Experimental changes in mesh stability. Langenbecks Arch. Chir., vol. 381, pp. 323-332, 1996.
[8] I.L. Lichtenstein et ai. The cause, prevention, and treatment of recurrent groin hernia. Surg. Clin. North Am., vol. 73, pp. 529-544, 1993.
[9] P.K. Amid et ali. Biomaterials and hemia surgery. Rationale for using them. Rev. Esp. Enfenn. Dig., vol. 87, pp. 582-586, 1995.
[10] B.G Matapurkar et al. A new technique of "Marlex-peritoneal sandwich" in the repair of large incisional hernias. World J. Surg., vol. 15, pp. 768-770 1991.
[ 11] B .M Soares et al.. ln vitro characterization of a fluoropassivated gelatin-impregnated polyester mesh for hernia repair. J Biomed. Mater. Res., vol. 32, pp. 259-270, 1996.
[12] T.G Andrew et ai. The Utility of Polyglycolic Acid Mesh for Abdominal Access in Patients With Necrotizing Pancreatitis, Journal of the American College of Surgeons, Vol. 186, pp.313-3180, 1998.
[13] P.S. Doherty et al. Repair of thoracoabdominal wall defects in dogs using a bovine pericardium bioprosthesis. Rev. Invest. Clin., vol. 47, pp. 439-446, 1995.
[14] G. Goissis et ai. Anionic collagen: Polymer composites with improved dielectric and rheological properties. Artif. Organs, vol. 22, pp. 203-209, 1998.
[ 15] Goissis G et ai. Biocompatibility studies of anionic collagen membranes with different degree of glutaraldehyde cross-linking. Biomaterials, vol. 20, pp. 27-34, 1999.
[ 16] F Flandin et ai. A differential scanning calorimetry analysis of the age-related changes in the thennal stability of rat skin collagen. Biochim. Biophys. Acta;vol. 791, pp. 205-213,1984.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
[17] G. Goissis et all. Dielectric and pyroelectric characterization of anionic and native collagen. Pol. Eng. Sei. vol. 36, pp. 2932-2939, 1996.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Matrizes Tridimensionais Acelularizadas de Colágeno:Elastina a partir de Tecidos: Preparação, Caracterização e Biocompatibilidade
1Gilberto Goissis, 2Sueli Suzigan, 2Diderot Rodrigues Parreira.
1 Depto. Quím. Fís. Molec., Inst. Quím. São Carlos (IQSC)- Universidade de São Paulo (USP) SP, Brasil 13560-250. Fone (55-02116)-273-9986, Fax: (55-02116)-227-9985, E-mail: [email protected]
2 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto -Av. Brigadeiro faria Lima 5416, São José do Rio Preto, SP, Brasil 15.090-000, Fone (55-02117)-227-5733, Fax: (55-02117)-227-1277.
Resumo - Uma das alternativas ao transplante de tecido ou órgão para substituição de perda ou a falência de uma fünção biológica é a engenharia de tecido, com base no crescimento de células isoladas em suportes sintéticos tridimensionais. Este trabalho descreve a preparação, caracterização e os resultados preliminares de biocompatibilidade de matrizes tridimensionais de colágeno aniônico:elastina acelularizadas como suporte de crescimento celular em engenharia de tecido. Os materiais, obtidos pela hidrólise seletiva e controlada de grupos carboxiamidas de asparagina e glutamina, foram caracterizados por microscopia eletrônica de van-edura e de transmissão, calorimetria exploratória diferencial e por implante no subcutâneo de ratos. Os resultados mostraram que as matrizes obtidas são estruturas tridimensionais de colágeno:elastina acelularizadas, sem alterações da estrutura secundária do colágeno, mas com a estrutura microfibrilar parcialmente alterada, principalmente para tempos de tratamento superiores a 36 horas. Em comparação ao tecido nativo, a resposta tecidual após 14 dias após o implante foi caracterizada por uma redução progressiva da fibrose e, principalmente, ausência total de resposta inflamatória crônica, principalmente nos materiais submetidos a tempos de hidrólise mais prolongados, sugerindo o alto grau de biocompatibilidade deste compósito colágeno aniônico:elastina.
Palavras-chaves: Colágeno, elastina, matrizes, acelular, caracterização, biocompatibilidade.
Abstract - One alternative for organ and tissue transplantation for the substitution or failure of a biological function is tissue engineering, based on the growth of isolated cells in tridimentional biodegradable synthetic matrices. This work describes the preparation, characterization and the preliminary results on the biocompatibility of tridimentional collagen:elastin matrices. The materiais, prepared by the selective hydrolysis of carboxyamide groups from asparagin and glutamin, were characterized by electron scanning and transmission microscopy, differential scanning calorimetry and by implantation in the subcutaneous of rats. The results showed that these materiais con-espond to tridimentional acellular collagen:elastin matrices, with maintenance of collagen tripie helix secondary structure, but with partia! changes at the levei of the microfibrillar structure, particular for hydrolysis time greater than 36h. ln comparison to native tissue, the biological response after 14 days from implantation was characterized by a progressive decreasind in fibrosis, but most important, complete absence of the chronic inflammatory response, particularly for materiais submitted to longer periods of hydrolysis, suggesting the high degree of biocompatibility of this acellular collagen:elastin matrices prepared by devitalization of natural tissue.
Key-words: Collagen, elastin, matrices, acellular, characterization, biocompatibility.
Introdução
A perda ou a falência de um órgão ou tecido é um dos problemas de saúde mais severos para o homem [l], consumindo nos EUA aproximadamente metade do total de gastos com a saúde [2]. O transplante de tecido de tecido ou órgão no entanto, é limitado a severamente pela quantidade de doadores. Outras terapias estão
242
disponíveis para o tratamento desses pacientes, tais como a reconstrução cirúrgica, terapias com drogas, próteses sintéticas, e diálise renal. Apesar dessas terapias não serem limitadas pelo suprimento, elas não repõem todas as fünções de um tecido ou órgão perdido e, geralmente, fracassam após um longo tempo de uso [2].
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
A engenharia de tecido tem como base a observação periodontais e na reconstrução do tecido ósseo [ 11-13 ], de que células isoladas em matrizes extracelulares apresentaram propriedades dielétricas comparáveis ao (MEC) adequadas, se reagruparão in vitro em estruturas fluoreto de polivinilideno [14,15]. Neste trabalho o que assemelham-se ao tecido original [3-5] vem sendo tecido utilizado foi o pericárdio bovino que foi amplamente utilizada na substituição de funções caracterizado por técnicas de microscopia eletrônica de biológicas. varredura (MEV e transmissão TEM), calorimetria
Quanto à sua natureza química as MEC artificiais podem ser sintéticas ou derivadas de materiais naturais e, independentemente da sua origem, devem ter as seguintes características: a - biocompatibilidade e capacidade de sustentar o crescimento celular; b -propriedades mecânicas condizentes em relação ao tecido a ser reconstruído; c - velocidade de degradação compatível com aquela de crescimento do tecido para o qual serve como suporte. d - permitir a associação destas matrizes tridimensionais com fatores de crescimento celular específicos para indução de respostas celulares mais rápidas e mais especificas. Embora, vários polímeros sintéticos tenham sido empregados, poliésteres do tipo ácido poliglicólico e polilático têm sido os mais utilizados, individualmente ou na fonna de copolímeros. Um exemplo está na aplicação como suporte para crescimento de hepatócitos destinados à substituição da função hepática [6]. Outro grande segmento corresponde à utilização de polímeros naturais presentes na matriz extracelular, tais como proteoglicanas, colágeno e elastina, que por interação com receptores específicos na superfície celular também participam dos processos que regulam a expressão fenotípica da célula e, portanto, a manutenção não apenas da morfologia e função do tecido, mas também da sua remodelagem [7], onde o caso mais marcante é o tecido ósseo. Dentro deste conceito, uma aproximação é a utilização de MEC fonnadas por colágeno e elastina ,obtidas de matrizes homólogas ou heterólogos, dos quais células e outros componentes responsáveis por respostas biológicas não desejáveis tenham sido convenientemente removidos [8, 9].
Nesta direção, a reprodução da estrutura da musculatura lisa füncional de parte de vesícula biliar foi alcançada com sucesso pela utilização de um suporte desvitalizado de vesícula fonnado essencialmente por colágeno e elastina [10].
Objetivos
Este projeto tem como objetivo, a preparação, a caracterização e estudar a biocompatibilidade de matrizes tridimensionais colágeno aniônico:elastina acelularizados, preparados a partir de tecidos naturais. Uma característica destas matrizes é que a pH fisiológico se comportam como poliânions em virtude da hidrólise seletiva e controlada de grupos carboxiamidas de asparagina e glutamina contidos na estrutura primária da proteína [11,12]. Estes mesmos materiais na fonna de membrana ou compósitos com hidroxiapatita, além da sua biocompatibilidade e eficiência que mostraram no reparo dos ligamento
243
exploratória diferencia (DSC) seguido de implante em ratos por períodos entre 5 e 60 dias do implantes. Os materiais de implantes corresponderão ao pericárdio nativo e pericárdio desvitalizado cujos tempos de hidrólise permitem a obtenção de materiais com 30, 50 e 70% de incremento de carga negativa [15].
Parte Experimental
Pericárdio bovino (PB) foi fornecido pela Braile Biomédica S.A., São José do Rio Preto, SP, já desengordurado e obtido de animais com idade entre 30 e 60 meses.
Processos de desvitalização: amostras de tecido de dimensões de lOxlOcm foram tratados a 20ºC e por tempos de 24, 36 e 48h, com uma solução alcalina contendo dimetilsulfóxido a 6% e sulfatos e cloretos de K+, Ca++ e Na+ , pH 14, de acordo como descrito na literatura [12]. Após neutralização e remoção dos sais residuais, o material foi estabilizado em tampão fosfato O, 14 molL-1,pH 7,4 (TF), lavado 3xl5min com água destilada, congelado em nitrogênio líquido e submetido à liofilização em um equipamento da EDW ADS modelo FREEZR DRYER Modulyo, até peso constante.
Caracterização do material
Estabilidade térmica: A estabilidade térmica foi determinadas com os materiais preparados como descrito acima, após equilíbrio em TF. Os parâmetros determinados foram a temperatura de encolhimento {Ts) e a temperatura de desnaturação (Td).
Temperatura de encolhimento (Ts): A estabilidade térmica foi determinada em um equipamento de ponto de fusão Quimis adaptado para Ts, utilizando-se amostras de PB obtidas como descritas acima de dimensões 2 x 0,2 cm, seguidas de aquecimento em uma solução de em TF. A taxa de aquecimento foi de 2,0 ºC/min, no intervalo de temperatura entre 20 a 100 °c e os valores correspondem à médias de pelo menos 6 detenninações.
Temperatura de desnaturação (Td): As temperaturas de desnaturação foram determinadas em amostras preparadas como descritas acima, com massas de aproximadamente 1 O mg, em um equipamento Du Pont DSC-910, calibrado com padrão de índio. A taxa de aquecimento foi de 5ºC/min, no intervalo de temperatura entre 20 a 120 ° C, sob atmosfera de N2•
Neste caso foi realizada apenas uma detenninação.
Técnicas de microscopia:
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Microscopia Eletrônica de negativas na forma de carboxilato resultante da hidrólise varredura (MEV): As fotomicrografias foram obtidas de grupos carboxiamidas de resíduos asparagina e de amostras de PB nativo e aqueles após o tratamento glutamina introduzidos pelo processo de tratamento alcalino por 24, 36 e 48h, em amostras liofilizadas como alcalino, cuja quantidade é função direta do tempo de descrito acima no item III.l, em um equipamento da tratamento [15]. Os valores de Td, embora ligeiramente ZEISS DSM 960, operando com feixe de elétrons entre superiores àqueles de Ts, confirmam a preservação das 10 e 20 keV, previamente recobertas com uma camada matrizes de PB e estas diferenças podem ser explicadas de ouro de 5nm. pelo fato de neste caso as determinações terem sido
Microscopia de Luz: Após fixação por 24 horas em paraformaldeído tamponado ( 4% ), desidratação em álcool e inclusão em paraplast, cortes histológicos foram corados com HE, Tricrômico de Gomo ri e corante elástico de W eighert para verificação da remoção celular, integridade, distribuição e a organização de fibras colágenas e elásticas.
Avaliação da Biocompatibilidade
Estes ensaios foram realizados para detenninação do comportamento da resposta biológica em termos de biocompatibilidade e atividade celular local. O procedimento geral consistiu de implantes de aproximadamente 1 cm2, por tricotomia da região dorsal escapular e pélvica (lados direitos e esquerdo, incisões de 2 cm), em Rattus norvegiccus, albinus, linhagem Holtzmann, com um peso médio de 220 g, divididos em lotes de 4 grupos, e alimentados durante o período com uma dieta sólida. Anestesia foi por inalação de éter etílico, e cada animal recebeu um total de 4 implantes, seguido de desinfecção com álcool iodado (TABELA 1 ).
Após os tempos de 5, 14. 28, e 60 dias os animais, após anestesia com éter etílico, tiveram as áreas dos implantes removidas e fixadas em formaldeído por 48 horas seguido de rotina laboratorial para inclusão em parafina, e cortes subseqüente de 6 µm de espessura. As lâminas foram coradas pelos métodos descritos acima e eventualmente Von Kossa para determinação de eventual calcificação, visto que esta é uma resposta comum observada para o pericárdio nativo implantado nestas condições.
Resultados e Discussão
A análise ténnica é uma das técnicas existentes para determinar a integridade da estrutura secundária da tripla hélice de matrizes colagênicas e sua estrutura microfibrilar, visto que matrizes desnaturadas são isentas de qualquer transição térmica no intervalo de temperatura entre 25 e 1 OOºC. Os resultados da Tabela 1 correspondem aos valores de Ts e Td tanto para PB nativo quanto aqueles submetidos ao tratamento alcalino por tempos de 24, 36 e 48h e mostraram que em nenhum caso houve desnaturação da matriz colagênica. Entretanto, principalmente quando se analisa os valores de Ts, foi observada uma diminuição nestes valores em relação àquele para o PB nativo. Estas diminuições são devidas ao rompimento das ligações de reticulação naturais existentes no tecido e um aumento da solvatação da matriz em viitude do aumento de cargas
feitas com amostras secas. Matrizes de colágeno desidratadas apresentam trans1çoes térmicas ligeiramente superiores em relação à matrizes hidratadas [ 16]. Portanto, a presença de transições ténnicas (Tabela 1) determinadas nos materiais em estudo são indicativas da preservação da integridade das matrizes de PB como mostrado também pela avaliação histológica das matrizes.
Tabela 1. Estabilidade térmica determinada por meio da temperatura de encolhimento (Ts) de pericárdio bovino nativo e submetidos a hidrólise alcalina por tempos de 24, 36 e 48h.
Transição Térmica(ºC)
Material Td Ts
Nativo 62,6±1,3 69,9
24 horas 52,9±0,9 56,1
36horas 47,8±1,2 54,0
48 horas 46,6±1,2 52,8
A avaliação histológica comparativa entre PB nativo e aquele submetido por 24h à reação de hidrólise alcalina mostrou que, apesar das condições de pH, a matriz apresentou um elevado grau de preservação da estrutura colagênica (Figura 1 a) e de fibras elásticas (Figura 1 b) e em relação à matriz nativa (Figura 2a) mostrou-se completamente acelularizado (Figura 2b ). Embora não ilustrado, tecidos tratados por 36 e 48 horas apresentaram as mesmas características, exceto com uma diminuição da quantidade de elastina presente e maior espaçamento entre as fibras colágenas. Estes matena1s também mostraram-se completamente acelularizados.
Embora os resultados de estabilidade ténnica determinados como Ts e Td associados à avaliação histológica constituem-se em evidências fortes em relação à preservação da estrutura secundária da matriz colagênica, o mesmo não podemos dizer sobre a organização microfibrilar da matriz. As Figuras 3a e 3b correspondem às micrografias obtidas por TEM para o tecido nativo e aquele após tratamento alcalino por 24h respectivamente. Estas micrografias mostram que o incremento de carga na matriz colagênica, cerca de 47 (30%) cargas negativas adicionais em relação àquelas presentes no colágeno nativo, exceto por alguma
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
fragmentação, não desorganizou a estrutura microfibrilar Figura 2. Micrografias da avaliação histológica de do colágeno, que manteve sua estrutura periódica. pericárdio bovino nativo (a) e após 24 horas de
Figura 1. Avaliação histológica de fibras colágenas e (a) e elástica (b) para pericárdio bovino após 24h hidrólise. Coloração: Tricrômico de Gomori e Weighert resorcina:fucsina ( 40x).
245
tratamento alcalino (b ). H.E, 40x.
Figura 3. Microscopia eletrônica de Varredura para o pericárdio nativo (a) e aquele submetido à hidrólise alcalina por 24 horas (b ). ·
Para o caso dos materiais tratados por tempos de 36 e 48h, as micrografias de MEV mostraram que a estrutura da matriz é muita complexa em comparação com aquela após 24h de tratamento. Como mostrado pela Figura 4a (menor aumento), a organização microfibrilar típica do PB nativo praticamente desapareceu, dando lugar a uma estrutura amorfa. Entretanto, em aumentos maiores a presença de estruturas microfibrilares foi detectada (Figura 4b ), que embora com menor diâmetro, ainda caracteriza-se pela presença de microfibrilas. Portanto, estes materiais ainda estão sendo melhores avaliados, mas os dados resultados preliminares sugerem que os materiais após 36 e 48h de hidrólise, são constituídas por colágeno com duas fases distintas contendo: a estrutura microfibrilar + colágeno amorfo associado à elastina, como sugerido pelos resultados provenientes da avaliação histológica.
Avaliação Histológica
Após 5 Dias
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Os explante foram analisados de acordo com a pericárdio nativo, o que é o esperado visto esta reação graduação: (-), ausente ate 5+/5 (intenso). As de 5 dias ser tipicamente aquela devido ao trauma observações gerais são mostradas Tabela 2. cirúrgico. PB hidrolisado por 36 e 48 horas foram
Figura 4. Microscopia eletrônica de transmissão para pericárdio nativo (a) e àquele submetido à hidrólise alcalina por 24 horas (b).
Pericárdio Nativo
- O grau de fibrose observado neste caso foi de média intensidade, (3+/5) da mesma fonna que a presença de vasos neo-fonnados. O processo inflamatório foi de intensidade moderada (2+/5), com predominância de linfócitos mononucleares, neutrófilos e histiócitos (uni e multinucleados). Fibras colágenas e elásticas mostram-se preservadas. Foi observada a presença (discreta) de células inflamatórias do tipo mononucleares, ao nível de 1 +/5 no interior do pericárdio nativo e (2+/5) na sua superfície
PB hidrolisado por 24 horas
- O grau de fibrose, neo-vascularização e reação inflamatória foram similares ao descrito para o
246
caracterizados por uma reação tecidual similar àquela descritas para o implante submetido a 24 horas de hidrólise. As fibras colágenas e elásticas para os implante de PB nativo mostraram-se comparativamente mais preservadas, como mostrado pela Figura 1 e 3, provavelmente como resultado do tratamento químico.
Como avaliação geral, podemos concluir que após 5 dias (fase aguda) tanto o grau e fibrose quanto a intensidade do processo inflamatório peri-implante foram similares para todos os materiais implantados e caracterizados pela ausência de histiócitos e células gigantes. Entretanto, a presença de células inflamatórios no interior do implante já evidenciou diferenças de comportamento. Enquanto para o PB nativo a presença de células inflamatórias foram observadas na sua superfície e região interna, embora também observada nos materiais submetidos ao tratamento alcalino, a diminuição destas células foi progressiva em função do tempo de tratamento sendo que para o material tratado por 48 h, não foi detectada qualquer célula inflamatória
Após 14 Dias
Para o caso dos expiantes após 14 dias, embora o aspecto da resposta tecidual tenham similares para os caso do PB nativo e o material hidrolisado por 24h, o grau de fibrose processo inflamatório como um todo foi menor neste último. Diferenças mais significativas foram no entanto observadas para os materiais hidrolisados por 36 e 48h. Nestes caso, a reação inflamatória crônica, que caracteriza a resposta tecidual ao implante não foi observada.
Conclusões
Em relação à estrutura da matriz colagênica, os resultados mostraram que para os materiais tratados a remoção celular é completa, sendo caracterizada pela presença de elastina e colágeno com a estrutura em tripla hélice mantida, como mostrado pelos resultados de análise térmica e microscopia de luz e de varredura. Entretanto, os resultados de MEV mostraram que a estrutura da matriz é muita mais complexa após 24 horas de tratamento, dando origem a uma estrutura amorfa (pequeno aumento) mas ainda formada por microfibrilas com o padrão característico de suas subdivisão periódica.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Tabela 3. Avaliação histológicaª dos expiantes após 5 e 14 dias pericárdio bovino nativo e aqueles submetidos à hidrólise alcalina ~or tem~os variáveis entre 24 e 48 horas.
Tempo de Implante
Resposta 5 Dias 14 Dias
Celular/material/ Nat. 24h 36h 48h Nat. 24h 36h 48 h
Fibrose 3+/5 3+15 3+/5 3+/5 2+/5 2+/5 1+/5 1+/5
N eo-vascularização 3+/5 3+15 2+/5 2+/5 1+/5 l+/5 1 +/5 1+/5
Proc. Inflam. Regional 2+/5 2+15 2+/5 3+/5 3+/5 l+/5 (-) (-) intra-pericárdio 2+/5 l+/5 1 +/5 (-)O 2+/5 l+/5 (-) (-) Peri-pericárdio 2+/5 1 +/5 l+/5 1 +/5 3+/5 (-) (-) (-)
Implante - Fibras colágenas (-) l+/5 1 +/5 1 +/5 (-) (-) l+/5 l+/5 - Fibras elásticas (-) 3+/5 2+/5 2+/5 (-) 2+/5 l+/5 2+/5 - Celularidade l+/5 2+15 2+/5
a avaliação feita com base na escala l+/5 (resposta moderada) a 5+/5 (resposta intensa); (-)ausente.
Após 5 dias de implante, as fibras colágenas e elásticas para os implante de do PB nativo comparativamente mostraram-se mais preservadas, mas provavelmente seja decorrentes do tratamento químico. Embora o grau de fibrose e a intensidade do processo inflamatório peri-implante tenham sido similares, a presença de células inflamatórias tanto na superfície quanto no interior da matriz foram maior para o tecido nativo, decrescendo progressiva em função do tempo de tratamento, não tendo sido detectadas para o material tratado por 48 h. Após 15 dias praticamente não foram observadas respostas inflamatórias para os materiais tratados, o que sugere um alto grau de biocompatibilidade para as matrizes desenvolvidas. Agradecimentos: Ao Prof. João Vicente Paiva, responsável pelo biotério da F AMERP, pelo apoio dado a este trabalho. A.E. Biazin, G.D Broche DZ. Neto pelo apoio técnico. D.R Paneira é bolsista IC da FAPESP Referencias [l] T.F. Deuel in "Principies of Tissue Engineering'',
(Lanza, R.P., Langer, R., Chick, W.L., eds, Academic Press, pp. 133-49,1997.
[2] B.S. Kim and D.J. Mooney. "Development of biocompatible synthetic extracellular matrices for tissue engineering" , Trends Biotechnol,.vol. 16, pp. 224-29, 1998.
[3] J. Folkman and C. Haudenschild. "Angiogenesis in vitro", Nature, vol. 288, pp. 551-56, 1980.
[ 4] L.L. Henchl. "Biomaterials: a forecast for the future", Biomaterials, vol. 19, pp. 1419-23, 1998.
[5] M.S. Widmer. et al. "Manufacture of porous biodegradable polymer conduits by an extrusion process for guided tissue regeneration", Biomaterials, vol. 19, pp. 1945-55, 1998.
[6] D.J. Mooney et al. "Long-tenn engraftment of hepatocytes transplanted on biodegradable polymer
247
sponges'', J Biomed Mater Res , vol. 37, pp. 413-20, 1997.
[7] B. Alberts et ai. in "Molecular Biology of the Cell", Garland Publishing, pp. 971-95, 1994.
[8] F. Delustrot al. "Inunune responses to allogeneic and xenogeneic implants of collagen and collagen derivatives". Clin Orthop, vol. 260,pp. 263-79, 1990.
[9] M. Valente et al. "Pathology of the Pericarbon bovine pericardial xenograft implanted in humans". J Heart Valve Dis., vol. 7, pp. 180-9, 1998.
[10] M. Probst. et al. "Reproduction of functional smooth muscle tissue and partia! bladder replacement'', Br J Urol., vol. 79, pp. 505-15, 1997.
[ 11] J.A. Cirelli et ai. "Evaluation of anionic collagen membranes in the treatment of class II furcation lesions: na histometric in dogs", Biomaterial, vol. 18, pp. 1227-34, 1997.
[12] G. Goissis et al. "Biocompatibility studies of anionic collagen membranes with different degree of glutaraldehyde cross-linking". Biomaterials., vol. 20, pp. 27-34, 1999.
[13] G. Goissis et al.. 'The controlled release of antibiotic by hydroxyapatite: anionic collagen composites'', Artif Organs. vol. 22, pp. 203-9, 1998.
[14] G. Goissis. et ai. "Dielectric and pyroelectric characterization of anionic and native collagen'', Pol. Eng. Sci.,vol. 36,pp. 2932-39, 1996.
[15] G. Goissis et al. Anionic collagen: polymer composites with improved dielectric and rheological properties. Artif. Organs, vol. 22, pp. 215-21, 1998.
[16] A. Huc. "Collagen biomaterials characteristics and applications". J. Amer. Leather Chem. Assoe., vol. 80,pp. 195-203, 1985
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Implantes Dentários Recobertos com Hidroxiapatita por Deposição Eletrolítica
M.H. Prado da Silva 1, C.N. Elias2, G .A. Soares 1, S.M. Best3 e I.R. Gibson3
1COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68505, Rio de Janeiro, 21945-970, RJ, Brasil 2 UFF, Av dos Trabalhadores 420; Volta Redonda, RJ, Brasil
3 IRC in Biomedical Materiais, Un. London, UK [email protected], [email protected], gloria@metalmat. uftj. br,
[email protected], [email protected]
Resumo - O processo eletrolítico de recobrimento de implantes dentários foi desenvolvido como alternativa à deposição de hidroxiapatita por "plasma spray". O processo, simples e barato, permitiu a obtenção de uma camada homogênea de hidroxiapatita na superfície dos implantes. A rugosidade superficial obtida e o fato da hidroxiapatita ser uma cerâmica bioativa pode significar uma redução no tempo necessário à integração osso-implante. Isso é particularmente interessante nos casos em que se empregam implantes endósseos de dois estágios.
Palavras-chave: Titânio, Implantes dentários, Recobrimento, Hidroxiapatita
Abstract - The electrolytic dental implants coating process was developed as an alternative to the hydroxyapatite coating by plasma spray. The process, simple and non-expensive, yielded an homogeneous hydroxyapatite layer on the surface of the implants. The obtained surface roughness and hydroxyapatite bioactivity can result in a reduction in the necessary time to bone-implant integration. This is particularly interesting when two stage endosseous implants are employed.
Key-words: Titanium, Dental Implants, Coating, Hydroxyapatite
Introdução
Implantes dentários compreendem implantes endósseos e implantes subperiósteos. Os implantes subperiósteos abraçam o osso, enquanto que os endósseos mais utilizados atualmente dado ao elevado sucesso clínico - são fixados no osso, podendo ter a forma de placas, lâminas ou parafusos.
O titânio é um metal biocompatível largamente empregado na fabricação de implantes dentários do tipo osteointegrados. Estudos recentes tem se concentrando no desenvolvimento de design e de acabamentos superficiais que promovam uma integração ossoimplante mais rápida, diminuindo assim o tempo total de tratamento.
Como conseqüência, vanas técnicas de modificação de superfície, incluindo os recobrimentos com materiais bioativos - como a hidroxiapatita -foram propostas [ 1].
Dentre essas, as comercialmente mais empregadas são as técnicas de aspersão térmica que consistem em aspergir pó de hidroxiapatita sobre o substrato metálico. O processo pode ser feito com a utilização de uma tocha de oxigênio a alta velocidade ou com uma tocha de plasma (gás ionizado) que acelera as partículas do pó em direção ao alvo. Esse processo apresenta algumas desvantagens como a decomposição da hidroxiapatita em outras fases devido à alta temperatura do processo e custo elevado associado à compra, manutenção e operação do equipamento.
248
Alguns processos alternativos à deposição de hidroxiapatita por "plasma spray" foram então desenvolvidos [2-4].
O termo "recobrimento com hidroxiapatita" deve ser utilizado somente quando se tem certeza da composição exata do fosfato de cálcio em questão. Mesmo empregando-se uma única técnica, por exemplo, aspersão ténuica a plasma ("plasma spray"), pode se obter camadas com composição e propriedades bastante distintas, dependendo do tipo de máquina e dos parâmetros do processo.
No caso de implantes dentários, é importante se determinar as propriedades de sua superficie já que o processo de integração osso-implante é altamente dependente do comportamento das camadas atômicas mais externas. As técnicas mais correntemente empregadas são a microscopia eletrônica e a difração de Raios-X.
A caracterização biológica costuma ser subdividida em testes in vitro e testes in vivo, sendo que esses últimos envolvem testes em animais e testes clínicos. Os principais testes in vitro são os testes em líquido corporal simulado (SBF) e os testes de cultura de células. Nos testes de imersão em soluções SBF, estima-se a bioatividade do material pela sua capacidade de formar apatita sobre sua superfície [5]. Os resultados são qualitativos e comparativos, uma vez que existem diversas soluções simulando os fluidos biológicos e que não existe uma normatização do ensaio, quanto à troca periódica ou não - da solução. Entretanto, devido à
....................................... ._.......
i
1 Jf!! ....
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
sua simplicidade, esses testes têm sido empregados, pelo menos como uma estimativa do comportamento in vivo do implante.
O presente estudo apresenta os resultados do desenvolvimento de um processo de recobrimento alternativo ao "plasma spray", aliando baixo custo e simplicidade. O processo consiste na deposição eletrolítica do fosfato de cálcio monetita (CaHP04) e sua conversão em hidroxiapatita, Ca10(P04)6(0Hh [5]. O recobrimento obtido é caracterizado metalurgica e biologicamente.
Materiais e Métodos
O método eletrolítico consiste na aplicação de uma diferença de potencial entre um anodo de platina e um catodo de titânio (implante a ser recoberto), imersos em uma solução rica em íons Ca2
+ e PO/. A solução utilizada tem a seguinte composição: 0.5M Ca(OHh, 0.3M H3P04 e lM CH3CHC02HOH (ácido lático). A solução é aquecida a 80ºC e o recobrimento feito sob a aplicação de voltagem igual 2V durante 50 minutos,. A Figura 1 apresenta esquematicamente o aparato necessário para a realização da deposição eletrolítica.
Ti Pt
Sol~ção rica em1ons
Ca::+,PO/·
Figura 1 - Esquema utilizado para deposição de monetita sobre titânio.
Após a deposição, a amostra foi lavada em água destilada e seca ao ar. A conversão da monetita em hidroxiapatita foi feita através da imersão da amostra recoberta em uma solução O,lM NaOH a 60ºC durante 24 horas. O recobrimento foi caracterizado por difração de Raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A fim de avaliar a bioatividade da camada de recobrimento, amostras de titânio com hidroxiapatita foram imersas em líquido corporal simulado preparado segundo a técnica descrita por Kokubo [6] e posteriormente analisadas em MEV.
Resultados
As Figuras 2a e 2b apresentam, respectivamente, as superfícies de amostras de titânio comercialmente puro antes e após a deposição eletrolítica de monetita.
249
(b)
Figura 2 - Morfologia de: (a) titânio comercialmente puro lixado e (b) titânio recoberto com monetita. MEV
A Figura 3 apresenta a morfologia do recobrimento após conversão da monetita em hidroxiapatita por meio da imersão em solução de NaOH como descrito anteriormente.
Figura 3 Morfologia do recobrimento de hidroxiapatita em MEV.
Os difratogramas de Raios-X das amostras antes e após a conversão em hidroxiapatita são mostrados nas Figuras 4a e 4b, respectivamente.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
(a)
(b)
Figura 4 - Difratogramas de Raios-X para as amostras (a) recoberta com monetita e (b) após a conversão em
hidroxiapatita.
Nas amostras recobertas com hidroxiapatita imersas em solução de SBF observou-se a precipitação de uma camada de apatita sobre o recobrimento previamente formado. A Figura 5 apresenta a morfologia do recobrimento de hidroxiapatita após imersão em solução SBF durante 7 dias.
Figura 5 Observação em MEV da amostra recoberta com hidroxiapatita após a imersão na
solução SBF.
A Figura 6 apresenta o difratograma de Raios-X para a amostra recoberta com hidroxiapatita antes e após a imersão em SBF durante 7 dias. O espectro correspondente à amostra incubada em SBF durante 7 dias revelou picos menos definidos do que os picos do espectro 6a, indicando a presença de apatita pouco cristalina.
Discussão e Conclusões
As Figuras 2b e 4a mostram respectivamente a morfologia dos cristais de monetita em MEV e o correspondente difratograma de Raios-X. Observou-se em MEV uma camada contínua composta de cristais paralelepípedos de monetita de aproximadamente 8x4x2µm, enquanto que a análise em difração de RaiosX identificou essa camada como monetita pura e cristalina.
250
Figura 6 Difratogramas de Raios-X para as amostras recobertas com hidroxiapatita: (a) antes da imersão em SBF (b) após a imersão em SBF.
Na Figura 3 pode se observar o recobrimento após a conversão. A comparação das Figuras 3 e 2b indica que a conversão hidrotérmica da monetita, em uma solução de O,lM NaOH a 80°C durante 24h foi acompanhada de mudança de morfologia, contrariamente ao observado por Redepenning et ai. [7], que obtiveram hidroxiapatita a partir de monetita sem alteração morfológica. O difratograma apresentado na Figura 4b indica a presença de uma única fase - a hidroxiapatita.
A recobrimento final consistiu então de hidroxiapatita com morfologia composta por plaquetas de das quais emergem de cristalitos nanométricos. Essa característica sugere o aumento substancial na área superficial comparativamente às amostras não recobertas. As dimensões nanométricas dos cristais de hidroxiapatita estão em conformidade com as dimensões recomendadas de 1 OOmn ou menos, que é a dimensão dos cristalitos de apatita encontrados na fase mineral do osso [8].
Os resultados encontrados nos testes em SBF indicaram que a camada depositada eletroliticamente é bioativa. As observações em MEV mostram a deposição de uma camada de apatita com morfologia distinta daquela presente no recobrimento original. A formação espontânea de apatita foi verificada em amostras de titânio que sofreram ativação da superfície por diferentes processos [9]. Esses autores associaram esse efeito não somente à composição química da superficie, mas também à microestutura.
Em resumo, o processo desenvolvido se mostrou, tecnica e economicamente, viável e capaz de produzir superfícies rugosas e bioativas. Testes adicionais envolvendo cultura de células e/ou implantação em animais ainda precisam ser realizados antes da comercialização do recobrimento.
Agradecimentos
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Os autores agradecem o suporte financeiro das agências brasileiras CNPq, CAPES, F APERJ, FUJB e da agência inglesa EPSRC. Cabe ainda agradecer à empresa CONEXÃO Sistemas e Próteses que forneceu os implantes dentários empregados nesse estudo.
Referências
[1] De Andrade, M.C.; Da Silva, M.H.P.; De Moraes, S.V.M.; Ribeiro, K.M.; Gibson, I.R.; Best, S.M., Ogasawara, T. e Soares, G.A. - "Revestimento de Implantes Odontológicos com Fosfatos de Cálcio", IV Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde e XVI Cong. Eras. de Eng. Biomédica, Curitiba, 18 a 22 out.; Anais: pp. 7-8, 1998.
[2] Groot, K. - "Calcium Phosphate Coatings: an Alternative to Plasma-Spray". Bioceramics, Vol. 11, pp. 41-43, 1998.
[3] Andrade, M.C.; Da Silva, M.H.P.; Moraes, S.V.M.; Ogasawara, T.; Soares, G.D.A. - "Recobrimentos Biocerâmicos por Processos Alternativos à Atomização por PLasma'', I Workshop de Biomateriais, Campinas, 21-22jun., pp. 5, 1999.
[4] De Moraes, S.V.M.; Ribeiro, K.M.; Ogasawara, T.; Soares, G.A.- "Calcium Phosphate Electrophoretically Deposited On Metallic Substrates", Trans. of the 15111 Symp. on Apatite, Toquio, Japão, pp. 41-44, 99.
[5] Prado Da Silva, M.H. - "Recobrimento de Titânio com Hidroxiapatita: Desenvolvimento do Processo de Deposição Eletrolítica e Caracterização Biológica ln Vitro", Tese de D.Se., COPPE/UFRJ, dez. 1999, 166 pps.
[6] Kokubo, T. - "A/W Glass Ceramic: Processing and Properties". ln: Hench, L.L., Wilson, J. (eds), An Introduction to Bioceramics, 1 st ed., chap. 5, Gainesville, USA, W orld Scientific, 1993 ..
[7] Redepenning, J.; Schlessinger, T.; Burnham, S.; Lippiello, L.; Miyano, J. - Journal of Bionz. Mater. Res., Vol. 30, pp. 287-294, 1996.
[8] De Groot, K.; Wolke, J.C. K.; Jansen, J. A. - "State of Art: Hydroxylapatite Coatings for Dental lmplants", Journal of Oral lmplantology, pp. 232-234, 1994.
[9] Toth, J.M.; Lynch, T.L., Devine, T.L. - "Mechanical and Biological Characterisation of Calcium Phosphates for Use as Biomaterials". ln: Encyclopedic Handbook of Bionzaterials and Bioengineering, Pait A, Vol.2, pp.1465-1499, 1995.
251
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Influência da Micromorfologia da Superfície do Titânio Sobre o Crescimento ln Vitro e a Diferenciação de Osteoblastos da Medula Óssea Humana
M. García Diniz 1,2, M.H. Fernandes 3 e G.A. Soares 1
1 COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68505, Rio de Janeiro, 21945-970, RJ 2 Depto. De Eng. Mecânica da UERJ, R. São Francisco Xavier, 524, 20550-013, RJ
3 Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do P01to, 4200, Porto, Portugal [email protected], [email protected], gloria@metalmat. ufrj. br
Resumo - Osteoblastos originados de medula óssea humana foram cultivados até 28 dias sobre chapas de titânio não recobertas com diferentes microtopografias. Os diferentes acabamentos superficiais foram obtidos por meio de tratamentos mecânicos e químicos. As culturas foram caracterizadas por métodos bioquímicos de proliferação (MTT) e de atividade da fosfatase alcalina (ALP) durante os tempos de incubação e comparadas aos resultados obtidos em culturas sobre placas para cultura celular padrão. A morfologia celular foi observada por microscopia eletrônica de varredura
Palavras-Chave: Cultura de Células, Osteoblastos, Titânio, Modificação de Superfície, Caracterização Biológica
Abstract - Human osteoblastic bone marrow cells were cultured for periods of up 28 days in non-coated titanium sheets with different surface topography, obtained from mechanical and chemical treatments and in control condition. The cultures were characterised using biochemical assays (MTT and ALP) during incubation period. Scanning electron microscopy was used to observe the morphologic characteristics of cells as a function of surface topography.
Key-words: Cell Culture, Osteblastic cells, Titanium, Surface Treatment, Biological Characterisation
Introdução
A microtopografia do titânio, influencia as respostas biológicas de células e tecidos contactantes, seja na situação in vivo ou in vitro [1,2], como por exemplo, os osteoblastos que são afetados em suas etapas iniciais de adesão e em seu metabolismo e diferenciação [3]. A morfologia microscópica da superfície do titânio, bem como sua rugosidade, são aspectos que interferem no comportamento de implantes de titânio não recobertos, podendo esses fatores serem alterados por técnicas de preparação superficial do material.
As interações entre osteoblastos e a superfície de titânio são de grande interesse devido ao uso clínico desse material como implantes para a reposição de partes ósseas. O compo1tamento desses osteoblastos mostra-se sensível ao tipo de topografia da superfície em aspectos tais como a morfologia celular, proliferação celular, atividade específica da fosfatase alcalina, síntese de proteínas, produção de matriz extracelular, mineralização e etc. [ 4, 5].
Muitos estudos tem demonstrado que a topografia da superfície de biomateriais é um parâmetro relevante e deve ser considerado em termos de amplitude e organização [6].
A maioria dos trabalhos in vitro que estudam a influência da microtopografia de biomateriais, utilizam linhas celulares bem caracterizadas para culturas de células e que exibem numerosas características de osteoblastos. Estas células não são osteoblastos humanos saudáveis e normais e além disso, nem sempre estas culturas de tecidos são levadas até a
252
mineralização ou até tempos suficientes para que as células alcancem maturidade, mostrando uma cinética característica para os estágios de diferenciação em resposta ao tipo de superfície existente na interface células / material.
As respostas dos osteoblastos quanto ao aspecto acabamento superficial do titânio não recobe1to, são dependentes do grau de seu estágio de maturidade e portanto, considerar que um certo tipo de superfície promove uma boa adesão não garante que a mesma promova a diferenciação e mineralização adequada da matriz extracelular numa interface sempre dinâmica entre biomaterial e tecido vivo. Espera-se que um implante produza respostas de remodelação no tecido ósseo vivo desde sua cicatrização até a osteointegração, passando por todas as fases do desenvolvimento celular.
Em relação aos sistemas de cultura, considera-se que as células de origem humana ofereçam respostas mais próximas à realidade in vivo e, nesse aspecto, as células mesenquimais obtidas da medula óssea humana de doadores saudáveis, mostram-se capazes de diferenciarem-se em osteoblastos, sob a presença de fatores que enriquecem os meios de cultura, tais como a dexametasona [7].
O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento funcional e a morfologia de osteoblastos obtidos da medula óssea humana semeados sobre chapas de titânio com diferentes acabamentos superficiais e comparar esses resultados com os obtidos em controles feitos em culturas realizadas em paralelo e sob as mesmas condições, em placas plásticas padrão para cultura de tecidos.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Materiais e Métodos
Preparação dos Materiais:
Chapas quadradas de titânio grau 2 (ASTM B265-58T) com 1,1 nun de espessura e 8 mm de lado, foram preparadas para a obtenção de superficies com diferentes microtopografias, através de tratamentos mecânicos e tratamentos químicos. Os tipos de superficies foram divididos nos seguintes grupos: L - amostras com superficie somente lixada, com lixas metalográficas de SiC; LS - amostras com superficie lixada, seguido de tratamento químico com uma mistura de duas soluções ácidas HCl (18% em peso) e H2S04 (48% em peso) por 30 minutos; LF amostras com superficie lixada, seguido de tratamento químico com uma solução ácida de HF (4%) por 60 segundos e de HF a 4% e H20 2 a 8% por 15 segundos [8]; J - amostras com superficie jateada com partículas de Al20 3 de granulometria média de 65,4 µm; JS amostras com superficie jateada com partículas de Alz03 seguido de tratamento químico com solução ácida HCl / H2S04, de forma idêntica ao do grupo LS; JF - amostras com superficie jateada com partículas de
Alz03 seguido de tratamento químico com soluções ácidas de HF a 4%, conforme descrito no grupo LF.
Antes de sua utilização em meio de cultura, as amostras foram limpadas em ultra-som, com álcool e depois em água destilada e deionizada, seguindo-se um processo de esterilização em autoclave.
Culturas Celulares Medula óssea humana foi obtida através de dois
doadores distintos, submetidos a procedimentos cirúrgicos corretivos. As medulas ósseas foram cultivadas em a.-MEM (meio essencial mínimo) contendo soro fetal bovino, gentamicina, fungizona e suplementos de ácido ascórbico, P-glicerofosfato e dexametazona.
A incubação foi feita em estufa a 37ºC com atmosfera de ar úmido contendo 5% de C02• As culturas primárias foram mantidas com seus meios mudados duas vezes por semana até próximo da confluência (22 dias, nesse caso) e, nesta situação, as células aderentes aos poços de cultura primária foram libe1tadas enzimaticamente com tripsina e colagenase e a densidade de células medida por um hemocitômetro (Celtac - NIHON KOHDEN).
As primeiras sub-culturas foram então semeadas sobre as amostras de titânio colocadas em placas de 24 poços, próprias para culturas de células, numa densidade de cerca de 4.000 células/ml de suspensão. As culturas foram mantidas por períodos de 3 a 28 dias, nas mesmas condições experimentais da cultura primária e foram monitoradas continuamente através de visualização dos controles em microscópio ótico.
Os intervalos de tempo empregados foram 3, 7, 14, 21 e 28 dias. Ao final de cada período, as culturas sobre as chapas e nos controles, foram caracterizadas
para avaliação da morfologia celular, proliferação celular (MTT), atividade da fosfatase alcalina (ALP) e capacidade da formação de depósitos minerais de fosfato de cálcio na matriz extracelular. Métodos Bioquímicos
MTT - O método qualitativo de MTT foi utilizado para observação da proliferação celular, através da espectrofotometria de um produto formado pela redução de sal de MTT pelas células viáveis. O MTT é incorporado pelas células ativas metabolicamente, produzindo cristais de cor púrpura (cristais de formazan) que se acumulam em seu interior ao nível das mitocôndrias. Os cristais formados são liberados para o meio através da utilização de Dimetilsulfóxido (DMSO) que rompe as membranas celulares, sendo então, dissolvidos por agitação. A leitura é feita em um espectofotômetro do tipo ELISA (Denley Wellscan) a 600 nm.
Ao fim de cada período de incubação das culturas eram realizados testes de MTT sobre as células aderidas aos materiais e sobre os controles respectivos. Os testes para MTT foram feitos em duplicata sobre cada tipo de superficie, para cada respectivo período de incubação das culturas sobre os materiais. Os dados apresentados de MTT são o resultado da média de duas amostras (média± desvio padrão).
ALP - Ao término dos períodos de cada cultura, os poços contendo os materiais e os controles, foram lavados duas vezes com solução de PBS (PhosphateBuffered Saline Solution) e guardados a -20ºC até o final de todos os experimentos. A determinação da atividade da fosfatase alcalina foi feita através da obtenção de uma suspensão oriunda da utilização de O, 1 % Triton - x sobre as células aderidas, seguindo-se a adição de um substrato de p-nitrofenilfosfato em tampão alcalino (pH=l0,3) em período de reação de 30 minutos a 37ºC. O p-nitrofenilfosfato é hidrolisado pela fosfatase alcalina e o produto formado de p-nitrofenol é medido colorimetricamente por absorvância em espectofotômetro a 405 nm (ELISA). reação do pnitrofenilfosfato com a fosfatase alcalina é interrompida pela utilização de Na OH ( 5 moles/1-1 ). Os resultados foram expressos em nanomoles/min.ícm2 de pnitrofenol produzido; os valores são comparativos à uma série de valores padrões de p-nitrofenol. Os dados apresentados para ALP são o resultado de testes em triplicata (média ± desvio padrão) para cada tipo de superficie e em seus respectivos tempos de incubação. Microscopia Eletrônica
A morfologia das células sobre os materiais, durante certos períodos de incubação e a capacidade de formação de depósitos minerais foram avaliados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) dotado de espectrómetro de raios-x por dispersão de energias (EDS). As culturas foram fixadas com 1,5% de glutaraldeído e O, 14 mol r 1 de cacodilato de sódio (pH 7 ,3) durante 1 O minutos, seguindo-se um processo de desidratação em álcoois de graduação crescente e submetidas a secagem até o ponto crítico. Uma camada fina de ouro cobriu as células fixadas sobre as superficies de titânio.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Resultados
Com a presença substâncias que favorecem o crescimento de osteoblastos em culturas celulares in vitro e a manutenção dessas culturas por períodos de até 28 dias, chapas de titânio com seis tipos distintos de tratamentos mecânicos associados ou não a tratamentos químicos foram estudados. Como padrão de referência e controle, células de medula óssea foram também cultivadas em paralelo em placas plásticas para a cultura de tecidos.
Proliferação Celular ( MTT) e Atividade da Fosfàtase Alcalina (ALP)
Os resultados de MTT apresentam-se nas Fig. 1 e 2, divididos em dois grupos distintos, um grupo para cada doador de medula óssea e separados conforme o tratamento mecânico dado às superficies de titânio, isto é, grupo das superficies lixadas (Fig. 1) e o grupo das superficies jateadas (Fig. 2). Cada um dos grupos também apresenta os seus respectivos resultados em culturas de controle.
Os valores de MTT do controle das culturas dos materiais lixados (L, LS e LF) exibiram uma tendência a permanecerem estacionários até aproximadamente 14 dias de incubação, esboçando uma reação no aumento da proliferação celular após esse período de relativa inércia. Os valores de MTT dos controles das culturas dos materiais jateados (J, JS e JF) tiveram um decréscimo no período inicial de incubação (7 dias), seguiu-se um aumento da proliferação celular até o dia 21, a partir do qual voltou a decrescer até o dia 28.
A Fig. 3 apresenta os resultados de ALP para as culturas de controle e para as culturas sobre os materiais lixados. A atividade da fosfatase alcalina dos controles das culturas dos materiais lixados também começaram a esboçar valores significativos e aumentos progressivos somente após 14 dias de incubação, porém, nenhum estágio das culturas sobre os materiais lixados (3 até 28 dias) apresentaram valores de ALP representativos.
A Fig. 4 apresenta os resultados de ALP para as culturas de controle e para as culturas sobre os materiais jateados. Os valores de ALP para os controles das culturas dos materiais jateados aumentaram a partir do sétimo dia, apresentando gradientes de atividade crescentes dos dias 7 ao 14 e dos dias 14 ao 21, quando então, começaram a aumentar com mais suavidade até o último dia 28. Somente as culturas sobre os materiais JF (jateados e atacados com solução de ácido fluorídrico) apresentaram um aumento nos valores de ALP após o dia 21, os demais materiais comportaram-se de forma semelhante sem valores de ALP significativos, para qualquer estágio de incubação feito nesse trabalho.
254
-<>-cont -Cl-L
--ilr-LS -X-LF
o 10 20 30
Dias
Figura 1 - MTT das culturas de controle e das culturas sobre os materiais lixados.
0,7
0,6
N- 0,5 -<>-cont E
(,) 0,4 -0-J ~ .... 0,3 -f:r-JS .... ::E 0,2 -X-JF
0,1
o o 10 20 30
Dias
Figura 2 - MTT das culturas de controle e das culturas sobre os materiais jateados.
45
40
N
E 35
(.) 30 -<>-cont é 25 -0-L :§ 20
-i:r-LS õ 15 E
e: 10 -X-LF
5
o ' o 10 20 30
Dias
Figura 3 - ALP das culturas de controle e das cultúras sobre os materiais lixados.
3,5 --· 3 • N
/ E 2,5 -•-cont ~ e: 2 -0-J :§ õ 1,5 -i:r-JS E -X-JF e: •
0,5
o o 10 20 30
Dias
Figura 4 - ALP das culturas de controle e das culturas sobre os materiais jateados.
Microscopia Eletrônica de Varredura Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as imagens
das células após 28 dias de cultura, respectivamente, para os materiais lixados e para os materiais jateados.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
As observações feitas no MEV mostraram que a proliferação foi acompanhada da produção de matriz extracelular fibrilar e depósitos globulares amorfos (pequenas partículas esféricas de Ca e P identificados pelo EDS).
As observações revelam, ainda, células aderidas, espalhadas, em algumas das superfícies aparecem células já em início de deterioração. Nenhuma evidência de calcificação biológica é observada para quaisquer das superfícies submetidas às culturas de medula óssea humana nesses ex erimentos.
L LS
LF Figura 5. Imagens obtidas no MEV sobre as superfícies
lixadas, aos 28 dias de cultura. Discussão
Células da medula óssea humana foram cultivadas sobre chapas de titânio não recobertas e com diferentes tratamentos superficiais para a observação da influência da microtopografia destas superfícies no comportamento da proliferação e da atividade da fosfatase alcalina, onde a presença de ácido ascórbico, ~-glicerofosfato e dexametazona nos meios de cultura favorecem as condições experimentais para o crescimento de osteoblastos, conforme tem sido demonstrado em trabalhos anteriores [7,9].
Para os materiais lixados - L, LS e LF - somente as culturas sobre os materiais LF e LS apresentaram um crescimento superior aos valores dados pela curva MTT do controle após 21 dias de incubação. Isso que pode significar que, provavelmente, se estas culturas fossem mantidas sobre os referidos materiais por períodos um pouco maiores, as células viáveis se diferenciariam em osteoblastos maduros, uma vez que as influências provocadas pela topografia do substrato dependem também do rau de maturidade celular.
.--~~~~~~~--,
J JS
JF Figura 6. Imagens obtidas no MEV sobre as superfícies
jateadas, aos 28 dias de cultura. Os resultados de MTT para os materiais lixados
mostraram que as células cresceram, porém os baixos valores obtidos de ALP para todos os períodos de incubação testados, caracterizou uma não-diferenciação das células viáveis sobre esses materiais, isto é, baixos valores para uma enzima típica produzida por osteoblastos maduros. No caso dos controles, nota-se que o comportamento da função ALP tempo (Fig. 3 ), com valores de ALP crescentes com o aumento dos períodos de incubação é um processo normal que leva ao aumento do número de células viáveis diferenciadas e produtoras de enzimas específicas de osteoblastos maduros.
Para os materiais jateados - J, JS e JF - as curvas de MTT x tempo mostram uma leve supremacia da proliferação sobre JF.
Um comportamento típico de culturas celulares sobre materiais pode ser observado nas Figuras 1 e 2 , onde após os 7 primeiros dias, as células começam a sentir os efeitos e as influências desses materiais e um decréscimo na proliferação até os 14 dias é considerado normal, a partir do qual ocorre uma recuperação e portanto, aumento da taxa crescimento celular. Um decréscimo nas taxas de proliferação após o dia 28 pode significar a presença de multicamadas de células superpostas, onde as primeiras camadas morrem por não receberem os nutriente necessários. situação in vitro não pemlite a renovação das camadas celulares como o que ocorre in vivo.
Os valores de MTT e ALP obtidos para os controles, tanto dos testes de materiais lixados quanto dos testes de materiais jateados, ao longo dos tempos estudados, foram considerados muito baixos quando comparados com valores obtidos em trabalhos anteriores [7] e além disso, as diferenças de valores no MTT x tempo entre os controles das medulas da Fig. 1 e da Fig. 2 (doadores distintos) foram significativamente diferentes, tal fato não permitindo a comparação entre os comportamentos biológicos entre materiais lixados e materiais jateados.
As imagens de MEV aos 28 dias de cultura sobre as superfícies lixadas LF e LS (Fig. 5), confirmam os resultados de MTT, pois as células apresentam-se espalhadas e bem aderidas, prolongadas em populações bem espalhadas sobre as referidas superfícies. O oposto pode ser observado em relação às células no material L que se encontravam deterioradas e com suas membranas já desfeitas em formatos granulares, confirmando os resultados ruins obtidos para a curva MTT x tempo obtida para L, comparativamente às outras curvas MTT da Fig. 1.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
A influência da microtopografia da superfície, provavelmente manifestou-se provocando um direcionamento preferencial das células ao longo das micro - ranhuras da superfície do material LS, que podem ser vistas sob a camada de material orgânico da matriz extracelular na Fig. 5. O tratamento químico realizado sobre os materiais LF retirou as pequenas ranhuras produzidas durante seu lixamento e talvez isso possa explicar a distribuição randômica das células sobre LF, conforme pode ser observado na Fig. 5. Esse comportamento de orientação preferencial das células ao longo de micro - ranhuras superficiais de diversos substratos, já foi discutido em trabalhos anteriores [10-12].
As observações feitas no MEV para as superfícies jateadas da Fig. 6, muito mais rugosas que as superfícies lixadas, mostram que aos 28 dias de culturas sobre a superfície J, são raras as células em bom estado, (encontram-se espalhadas, porém, com suas membranas em deterioração). A situação para o substrato JS é a mesma que a observada em J, isto é, uma população espalhada, porém, já deteriorada aos 28 dias. Depósitos claros e globulares do meio de cultura sobre o os substratos, podem ser vistos espalhados sobre as superfícies J e JS. O substrato JF, de acabamento superficial com uma microtopografia que pode ser observada sob a matéria orgânica da matriz extracelular, nitidamente diferente das microtopografias dos substratos J e JS, foi o que obteve melhores resultados tanto ao MEV (28 dias) quanto para MTT x tempo (Fig. 2). Sobre JF, as células encontram-se bem preservadas, espalhadas e alongadas, com morfologia normal.
Conclusões As células cresceram sobre os substratos de
titânio não recobertos e com diferentes microtopografias, porém, não se diferenciaram. Os resultados obtidos para os testes bioquímicos de MTT e ALP, mesmo para as culturas dos controles em placas padrão para culturas celulares foram considerados ruins quando comparados aos resultados de diversos trabalhos anteriores e portanto, as medulas ósseas não foram consideradas boas nesses experimentos, principalmente a utilizada para testar os materiais jateados.
Para o estudo das influências da microtopografia da superfície de titânio recoberto sobre comportamentos biológicos de osteoblastos oriundos de medula óssea humana, em culturas in vitro e que passem por todos os estágios do desenvolvimento celular até a produção de depósitos minerais, serão necessários mais testes. Para isso, serão utilizadas linhas celulares MG63, uma linha já bem caracterizada que foi originalmente isolada de osteosarcoma humano e que tem exibido comportamentos característicos de osteoblastos.
No caso de se trabalhar com célula proveniente de medula óssea, deve-se buscar preferencialmente que o doador seja a mesmo, para o estudo de todos os diferentes substratos, o que não foi possível nesse trabalho devido às densidades celulares obtidas nas culturas primárias não terem sido suficientes para o número de materiais a serem testados.
Superfícies distintas podem alterar o comportamento dos osteoblastos de muitas formas quando comparados com os resultados e valores já estudados em materiais de controle, inclusive na cinética da produção de muitos fatores específicos tais como o ALP. P01tanto, o estudo de culturas de mais longa duração, desde as horas iniciais da adesão das células até a mineralização da matriz extracelular é importante para caracterizar as diferenças ao longo do tempo e ao longo de todo um ciclo de crescimento e diferenciação. Agradecimentos
Os autores agradecem o suporte financeiro do CNPq, CAPES, F APERJ e FUJB. Agradecem, também, à bióloga Maria João Coelho e à técnica Cláudia Marina Martins, ambas pertencentes ao Laboratório de Cultura de Células da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Profundos agradecimentos à Prof. Lais de Carvalho do Instituto de Biologia da UERJ e ao Laboratório de Engenharia Sanitária da UERJ.
Cabe ainda agradecer à empresa CELMA - GE pelo jateamento das chapas de titânio.
Referências [l] K.T. Bowers, J.C. Keller, B.ª Randolph, D.G. Wick,
C.M. Michaels, The lntern. Jour. of Oral and Maxillofacial lmplants, 7, n 3, 302, 1992.
[2] D.M. Brunette, B. Chehroudi, Journal of Biomec. Engineering, 121, 49,1999.
[3] J.Y. Maitin, Z. Schwartz, T.W. Hununert, D.M. Schraub, J. Simpson, J. Lankford, Jr., D.D. Dean, D. L. Cochran, B.D. Boyan, Journal of Biomedical Materiais Research, 29, 389,1995.
[4] K. Kieswetter, Z. Schwartz, T.W. Hummert, D.L. Cochran, J. Simpson, D.D. Dean, B.D. Boyan, Journal of Biomedical Materiais Research, 32, 55, 1996.
[5] B.D. Boyan, R. Batzer, K. Kieswetter, Y. Liu, D.L. Cochran, S. Szmuckler-Moncler, D.D. Dean, Z. Schwartz, Journal Biomedical Materiais Research, 39, 77, 1998.
[6] K. Anselme, M. Bigerelle, B. Noel, E. Dufresne, D. Judas, A. Iost, P. Hardouin, Journal Biomedical Materiais Research, 49, 155, 2000.
[7] M.P. Ferraz, M.H. Fernandes, A.Trigo Cabral, J.D. Santos, F.J. Monteiro, Journal of Materiais Science: Materiais ln Medicine, 10, 567, 1999.
[8] H. Kawahara, Encic. Handbook of Biomaterials and Bioengineering, vol. B, part 2, 1503, 1995.
[9] M.H. Fernandes, M." Costa, G.S. Carvalho, Journal of Materiais Science: Materiais ln Medicine, 8, 61, 1997.
[10] J. Meyle, K. Gültig, W. Nisch, Journal of Biom. Materiais Research, 9, 81, 1995.
[11] L. Chou, J.D. Firth, V. Uitto, D.M. Brunette, Journal Biomedical Materiais Research, 39, 437, 1998.
[12] X.F. Walboomers, H.J.E. Croes, L.AGinsel, J.A. Jansen, Journal Biomedical Materiais Research, 47, 204, 1999.
1
1
1
1
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Efeito da Composição da Solução sobre a Precipitação Heterogênea de Cálcio em Titânio
Fosfatos
Mônica C. de Andrade 1, Márcia S. Sader3
, Ivan N. Bastos2, Glória A. Soares3
, Maria Regina T. Filgueiras1
, Tsuneharu Ogasawara3
1lnstituto Politécnico da UERJ, Rua Alberto Rangel, s/nº, 28630-050, Fone (24)5229052, Fax (24)5233779, Vila Nova, Nova Friburgo, RJ
2CEFET-MG, Campus III, Leopoldina, MG 3Coordenação de Pós - Graduação em Eng. Metal. e de Materiais (COPPE/PEMM)-UFRJ
Cidade Universitária, 21945-970, C.T., Bloco F, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ mandrade@iprj .uerj .br, [email protected], [email protected], [email protected]!j.br,
[email protected] .uerj. br, ogasawat@metalmat. ufrj. br
Resumo - O titânio e suas ligas têm sido revestidos com fosfatos de cálcio para acelerar a osteointegração, dimimuindo significativamente o tempo de recuperação do paciente e garantindo o sucesso da prótese. Observando a formação dos tecidos ósseos, pesquisadores conceberam e adotaram processos biomiméticos para simular as condições corpóreas da precipitação heterogênea dos fosfatos de cálcio em substratos diferentes dos colágenos, como o titânio e suas ligas. Estes processos de revestimentos são bastantes promissores, embora algumas variáveis ainda precisem ser otimizadas. A solução similar à corpórea acelular apresenta outros íons além do cálcio e do fósforo, não se conhecendo integralmente a importância destes na precipitação heterogênea dos fosfatos de cálcio. Assim, com objetivo de diminuir custos e direcionar a composição do revestimento final, a nucleação e o crescimento de hidroxiapatita foram realizados com soluções diferentes das usualmente empregadas nos processos biomiméticos, isto é, soluções contendo apenas sais de cloreto de cálcio e fosfato monoácido de sódio. Três diferentes soluções com o mesmo tempo de exposição do titânio foram utilizadas para propiciar a nucleação e o crescimento de fosfatos de cálcio. Pôde-se constatar que os revestimentos apresentaram menor quantidade de carbonato-apatita, resultando em recobrimentos menos ativos.
Palavras-chave: osteointegração, precipitação heterogênea, processos biomiméticos, hidroxiapatita e carbonato-apatita.
Abstract - Titanium metal has been coated with calcium phosphate in order to speed up the osteointegration , decreasing significantly the patient recovery time and assuring success to the prosthesis. Observation of the bone tissue formation phenomenum conducted researchers to adopt the biomimetic process to cover metais using heterogeneous precipitation of calcium phosphate on their surfaces. Although very promising, some variables of this coating process need to be optimized. The acellular body fluid has others ions besides those of calcium and phosphorous and so far their roles are not entirely known. Also, in order to decrease the cost and achieve the proper final coating composition, the nucleation and hydroxyapatite growth were cauied using solutions different from those employed in biomimetic process. Such solutions contained calcium chloride and sodium monoacid phosphate. Titanium pieces were soaked in three different solutions, varying the ions concentration and keeping the exposure time constant. lt was confinned that the coatings presented a smaller carbonate-apatite quantity, obtaining less active layers.
Key-words: osteointegration, heterogeneous precipitation, biomimetic process, hydroxyapatite, carbonate-apatite.
Introdução
O revestimento de implantes metálicos com fosfato de cálcio é grande interesse para o odontologia e a ortopedia, pois acelera a osteointegração e aumenta as chances de sucesso do implante [1-3]. Vários processos de revestimento com hidroxiapatita veêm sendo propostos para substituir o processo - "plasma spray" -comercialmente utilizado, visando principalmente diminuir os custos envolvidos e a decomposição da hidroxiapatita [4-10]. O controle da composição final do fosfato de cálcio é também um grande objetivo dos engenheiros de biomateriais [ 11].
257
Dentre os processos alternativos, o biomimético (que simulam a formação dos tecidos ósseos em meio acelular e na temperatura corpórea) tem sido capazes de promover a nucleação e o crescimento de fosfatos de cálcio sobre diferentes substratos, que incluem os metálicos [ 12-1 7]. Para tal, são necessários tratamentos superficiais a fim de ativar o substrato, obtendo revestimentos com ligação química entre o metal e a biocerâmica [ 18-22]. Assim, este processo se divide em duas etapas básicas, o tratamento superficial do substrato e a subsequente exposição do metal a uma solução similar à corpórea.
< l~
:I 11 L ..
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da composição e da concentração da solução sobre a constituição final do revestimento. O emprego de soluções menos complexas seria vantajosa no sentido de permitir a obtenção de revestimentos a um custo inferior.
Metodologia
Uma barra de titânio comercialmente puro foi laminada a 700ºC num laminador FENN-150 Hartford CONN para produzir uma superfície plana. Lâminas com espessura na ordem de lmm, que foram obtidas, cortadas em placas quadradas de aproximadamente lcn/. Cada placa foi lixada (até 600#) e lavadas com ácido nítrico diluído a fim de retirar qualquer resíduo de ferro proveniente dos cilindros do laminador.
A primeira etapa do processo é o tratamento superficial do metal. Um ataque químico foi realizado com hidróxido de sódio, IM, na temperatura de 130°C, durante uma hora [23]. Usou-se uma autoclave Parr modelo 4842 para o ataque alcalino. O tratamento subseqüente ao químico consistiu de um tratamento térmico a 600°C num forno tubular abe1to à atmosfera, com uma taxa de aquecimento lenta. O material foi resfriado ainda dentro do forno.
A segunda etapa do processo consistiu na nucleação e crescimento de fosfatos de cálcio. As amostras foram imersas em quatro diferentes soluções durante um período de exposição de quatro semanas, empregando um banho tennostático mantido a 3 7ºC. Após os sete primeiros dias a solução foi renovada a cada 2 dias. As amostras foram lavada com água bidestilada e seca a temperatura ambiente.
A composição da solução similar à corpórea (SSC) é apresentada na Tabela 1. Além desta solução, outras três de composições diferentes foram estudadas. Uma contendo somente íons de cálcio, fósforo, cloro e sódio, sendo as concentrações dos íons cálcio e fósforo iguais àquelas da solução SSC. Outra solução contendo todos os íons iguais a um décimo daqueles encontradas na SSC. A quaita solução, contendo íons de cálcio, fósforo, cloro e sódio, cujas concentrações foram de apenas um décimo das encontradas na SSC.
Tabela 1 - Composição química e concentração dos íons da solução SSC.
As caracterizações químicas e morfológicas dos depósitos foram realizadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), Zeiss-DSM 940A, com energia dispersiva de raios-x e análise de espectroscopia por infravermelho com transformada de Fourier (TFIV), espectrômetro Nicolet serie 520 G, pela técnica de reflectância difusa.
Resultados e Discussão
Na figura l(a) pode-se observar a superfície do titânio imerso na solução contendo apenas íons de cálcio, fósforo, cloro e sódio, nas mesmas concentrações encontradas em SSC. A espessura do filme não foi suficiente para revelar cálcio ou fósforo no espectro de energia dispersa de raios x, como pode ser vista na figura 1 (b ). Entretanto, detectou-se a presença de fosfato no espectro de infravermelho coletado por reflectância difusa (figura 2a).
a Figura 1 - (a) Aspecto do revestimento de titânio com fosfato de cálcio com solução de Ca, P, Cl e Na nas mesmas concentrações da SSC, (b) espectro de energia dispersa de raios x (EDS) deste revestimento.
Pode-se observar na figura 2(a) a boa definição dos picos, principalmente os três em 61 lcn11
, 562cm-1
e 453cm-1 que correspondem a hidroxiapatita cristalina. Além disso, o espectro apresentado é similar àquele do do revestimento obtido usando a solução similar à corpórea, figura 2(b ). Estes resultados mostram a possibildade de revestimentos por precipitação heterogênea em soluções com composições deferentes da solução similar à corpórea.
\j ', 1 •••• 1"' • • \i i
lffil
a b Figura 2 Espectro de infravermelho pela técnica de reflectância difusa, (a) do revestimento correspondente à figura 1 (a) e (b) do revestimento realizado com a SSC.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
E importante salientar que quando a solução não apresenta íons carbonato, como na solução utilizada para obter o revestimento da figura 1 (a), o espectro de infravermelho apresentou somente um pico muito pequeno referente ao grupamento CO/-. Baseando-se nestes fatos, constatou-se que os revestimentos obtido a partir de soluções que continham apenas cálcio e fósforo são menos espessos e não têm uma solução sólida de hidroxiapatita e carbonatoapatita (como nos revestimentos realizados em SSC), sendo composto somente de hidroxiapatita com traços de carbonatoapatita.
Quando se utilizou solução composta somente de íons de cálcio, fósforo, cloro e sódio, mas em concentrações menores do que aquelas existentes na SSC, obteve-se um revestimento bem semelhante ao apresentado na figura l(a). A figura 3(a) mostra uma fotomicrografia deste revestimento e a figura 3(b ), apresenta um espectro de infravermelho. Constatou-se uma equivalência muito grande, tanto na estrutura do revestimento como na sua composição definida pelo espectro da figura 3(b ).
IOll
Figura 3 - (a) Revestimentos de titânio com fosfato de cálcio com solução de Ca, P, Cl e Na em concentrações inferiores às das SSC, (b) espectro de infravermelho pela técnica de reflectância difusa deste revestimento.
111
Figura 4 - Espectro de energia dispersiva de raios x do titânio revestido com fosfatos de cálcio em solução com todos os íons da SSC, mas em concentrações inferiores.
Quando a solução era uma solução diluída contendo todos os íons presentes na solução similar à corpórea ocorreu uma mudança no espectro de energia
259
dispersiva de raios x (figura 4), quando comparado com aquele revestimento produzido com somente quatro íons (figura l(b)). A existência de picos intensos de cálcio e fósforo no espectro da figura 4 indica alterações da espessura do revestimento. Além disto, o espectro de infravermelho (figura 5(a)) apresentou dois picos bastantes intensos referentes ao grupamento C03
2- da
carbonato apatita que não ocorreu quando foram excluídos os íons carbonato da solução. Baseando-se nestes fatos, conclui-se que o revestimento obtido em solução similar à corpórea modificada, isto é, com menores concentrações, é composto de uma solução sólida de hidroxiapatita e carbonato-apatita.
.\J 1l!JJ 1l!JJ
a b Figura 5 - Espectros de infravermelho pela técnica de reflectância difusa do revestimento (a) do titânio revestido com fosfatos de cálcio em solução com todos os íons da SSC, mas em concentrações inferiores; (b) do revestimento realizado com a SSC.
O emprego da solução originalmente proposta (SSC) produziu uma diferença marcante no espectro de infravermelho quando comparado com os espectros dos revestimentos obtidos em soluções mais simples. A principal diferença observada, refere-se aos picos do grupo funcional C=O, caracterizando a geração de carbonato apatita nas soluções contendo todos os íons existentes na solução corpórea. Nos meios sem carbonato, apenas traços de carbonato apatita foram identificados.
Rohanizadeh et al. [24] observaram que outros íons presentes na solução similar à corpórea (como magnésio e carbonatos) poderão facilmente substituir na estrutura da apatita, aumentando a cristalinidade e modificando a morfologia das apatitas. A presença de íons carbonato na rede das apatitas induz a uma desordem estrutural e os defeitos cristalinos gerados podem subsequentemente favorecer a nucleação da apatita biológica. Além disto, a presença de íons carbonato aumenta o produto de solubilidade dos revestimentos e, dependendo do pH, mais íons cálcio e fosfatos estarão disponíveis para calcificação ou a mineralização biológica. [25]. Este aumento da solubilidade da carbonatoapatita poderá também favorecer a formação de uma forte ligação entre a apatita biológica e o implante.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Como a quantidade de carbonatoapatita presente [7] S. L. WHEELER, "Eight-year clinical retrospective afeta a estabilidade e a bioatividade da camada de study of titanium plasma-sprayed and revestimento, pode-se usar soluções diferentes, hydroxyapatite-coated cylinder implants", The dependendo da aplicação desejada. Intemational Journal of Oral & Maxillofacial
Implants, Vol. 11, N.3, pp.340-350, 1996.
Conclusões
a)
b)
c)
A retirada de vários íons da solução que possibilita o revestimento biomimético sobre o titânio não impediu a formação de fosfatos de cálcio.
Revestimentos com menores quantidades de carbonato-apatita foram conseguidos quando se empregou soluções com menores variedades de íons. A composição e espessura final do revestimento irá depender da solução empregada. Assim, a solução devera ser escolhida em função da estabilidade da camada necessária a uma dada aplicação.
Agradecimentos
Os autores agradecem o suporte financeiro do CNPq, CAPES, F APERJ e FUJB.
Referências
[l] K. SOBALLE, E. S. HANSEN, H. B. RASMUSSEN et al., "Enhancement of osteopenic and normal bony ingrowth into porous coated implants by hydroxyapatite coatings'', ln: Proceedings of the 2nd International Symposium on Ceramic in Medicine", pp. 264-265, Heidelberg, Alemanha, 1989.
[2] K. SOBALLE, E. S. HANSEN, H. B. RASMUSSEN et al., "Early fixation of allogenic bone graft in titanium and hydroxyapatite coated implants", ln: Proceedings ofthe 2nd International Symposium on Ceramic in Medicine", pp. 262-263, Heidelberg, Alemanha, 1989.
[3] D. ANDERSON, G. W. HASTINGS, S. MORREY et al., "Hydroxyapatite ceramic coatings", ln: Proceedings of the 2nd lnternational Symposium on Ceramic in Medicine", pp. 251-261, Heidelberg, Alemanha, 1989.
[4] C. P. T. KLEIN, J. G. C. WOLKE, J. M. DE BLIECK-HOGERVORST et ai., "Features of calcium phosphate plasma-sprayed coatings: an in vitro study", Journal of Biomed. Mater. Res., Vol. 28, pp.961-967, 1994.
[5] E. TUFEKCI, W. BRANTLEY, J. C. MITCHELL et al., "Microstructure of plasma-sprayed hydroxyapatite-coated Ti-6Al-4V dental implants'', The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 12, N.l, pp.25-31, 1997.
[6] K. A. GROSS, C. C. BERNDT, "ln vitro testing of plasma-sprayed hydroxyapatite coatings", J. Mater. Sei.: Mater. in Medicine, Vol. 5, pp.219-224, 1994.
260
[8] C. Y. YANG, B. C. W ANG, E. CHANG et al., "The influences of plasma spraying parameters on the characteristic of hydroxyapatite coatings: a quantitative study", J. Mater. Sei.: Mater. in Medicine, Vol. 6, pp.249-257, 1995.
[9] P. FRA YSSINET, F. TOURENNE, N. ROUQUET et al., "Comparative biological properties of HA plasma-sprayed coatings having different crystallinities", J. Mater. Sei.: Mater. in Medicine, Vol.5,pp.11-17, 1994.
[10] D. M. LIU, H. M. CHOU, J. D. WU, "Plasmasprayed hydroxyapatite coating: effect of different calcium phosphate ceramics", J. Mater. Sei.: Mater. in Medicine, Vol. 5, pp.147-153, 1994.
[11] S.J.DING, C.P.JU, J.H.CHERN LIN, "Morphology and immersion behavior of plasma-sprayed hydroxyapatite/bioactive glass coatings", J. Mater. Sei.: Mater. in Medicine, Vol. 11, pp. 183-190, 2000.
[12] T. KOKUBO, H. KUSHITANI, Y. ABE et al., "Apatite coating on various substates in simulated body fluid", A W Glass-Ceramic, pp.235-242, Ed. T. Yamamuro, Kyoto, Japão, 1994.
[13] M. TANAHASHI, K. HATA, T. KOKUBO et al., "Effect of substrate on apatite formation by a biomimetic process", A W Glass-Ceramic, pp. 623-630, Ed. T. Yamamuro, Kyoto, Japão, 1994.
[14] T. KOKUBO, M. TANAHASHI, T. YAO et ai., "Apatite-polymer composites prepared by process: improvement of adhesion of apatite to polymer by glow-discharge treatment", ln: Proceedings of the 6th International Symposium on Ceramic in Medicine", pp. 652-657, Filadélfia, EUA, 1993.
[15] S-H. RHEE, J. TANAKA, "Hydroxyapatite coating on a collagen membrane by a biomimetic method", J. Am. Ceram. Soe., Vol. 81, N.11, pp.3029-3031, 1998.
[16] F. MIYAJI, S. BANDA, T. KOKUBO et al., "Apatite formation on polymers by biomimetic process using sodium silicate solution", ln: Proceedings of the 101
h Intemational Symposium on Ceramic in Medicine'', pp. 7-10, Paris, França, 1997.
[17] P. LAYROLLE, C. A. VAN BLITTERSWIJK, K. DE GROOT, "Biomimetic hydroxyapatite coating on Ti6Al4V induced by pre-calcification", ln: Proceeding of the 11 th International Symposium on Ceramics in Medicine, Vol.11, pp.465-468, Nova Iorque, EUA, 1998.
[18] F. MIYAJI, M. IWAI, T. KOKUBO et al., "Chemical surface treatment of silicone for inducing its bioactivity", Journal of Materiais Science: Materiais in Medicine, Vol. 9, pp.61-65, 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
[19] H. B. WEN, Q. LIU, J. R. DE WIJN et al., "Preparation of bioactive microporous titanium surface by a new two-step chemical treatment", Journal of Materiais Science: Materiais in Medicine, Vol. 9, pp.121-128, 1998.
[20] K. M. KIM, F. MIY AJI, T. KOKUBO et al., "Effect of heat treatment on apatite-forming ability of Ti metal induced by alkali treatment", Journal o/Materiais Science: Materiais in Medicine, Vol. 8, pp.341-347, 1997.
[21] T. KOKUBO, F. MIYAJI, H-M. KIM et al., "Spontaneous formation of bonelike apatite layer on chemically treat titanium metais", J. Am. Ceram. Soe., Vol.79, N.4, pp.1127-1129, 1996.
[22] ANDRADE, M. C., FILGUEIRAS, M. R. T., OGASA W ARA, T., "Nucleation and growth of hydroxyapatite on titanium pretreated in NaOH solution: Experiments and thermodynamic explanation", Journal of Biomedical Materiais Research, 46: 4, pp. 441-446, 1 999.
[23] ANDRADE, M. C., SADER, M. S., FILGUEIRAS, M. R. T. AND OGASAWARA, T., "Microstructure of ceramic on titanium surface as a result ofhydrothennal treatment", trabalho aceito para publicação no Journal of Materiais Science: Materiais in Medicine.
[24] R. ROHANIZADEH, M. PADRINES, J. M. BOULER et al., "Apatite precipitation after incubation of biphasic calcium-phosphate ceramic in various solutions: influence of ions and proteins", ln: Proceeding of the 11 111 International Symposium on Ceramics in Medicine, Vol.11, pp.477-480, Nova Iorque, EUA, 1998.
[25] F. J. G. CUISINIER, P. STEUER, J-C. VOEGEL et al., "Structural analyses of carbonate-containing apatite samples related to mineralized tissues", Journal of Materiais Science: Materiais in Medicine, Vol.6, pp.85-89, 1995.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Membranas de poli(ácido lático)-co-(ácido glicólico): degradação in vitro
C.A. Rezende, C.A C. Zavaglia e E.A. R. Duek
Departamento de Engenharia de Materiais/Faculdade de Engenharia Mecânica Universidade Estadual de Campinas ,C.P. 6122, cep.13083-970
Fone (OXXl 9)7883309, Fax (OXXl 9)2893722 Campinas/SP, Brasil
Resumo - Os poli (o:- hidroxi ácidos) são uma classe de polímeros muito estudada como biomateriais devido às suas características de bioabsorção e biodegradação. Os estudos com estes materiais buscam avaliar suas propriedades fisico- químicas com o intuito de controlar o tempo de degradação para as diferentes aplicações. Neste trabalho foram sintetizadas membranas de poli (ácido lático co - ácido glicólico) com e sem plastificante pela técnica de evaporação do solvente; estas membranas foram analisadas antes e durante o processo de degradação in vitro. Os resultados de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) mostraram que as membranas não degradadas são morfologicamente densas. Analises através de DMA, DSC, TGA e Difração de raios-x mostraram que estas mesmas membranas são amorfas e que o plastificante altera significativamente as propriedades fisico - químicas das membranas.
Palavras-chave: polímero absorvíveis, membranas, poli( ácido lático )-co-( ácido glicólico)
Abstract - The poly (o:- hydroxy acids) are an intensively studied group of polymers to be used as a biomaterial because of their bioabsortion and biodegradation characteristics. Tests with this material try to evaluate their physical and chemical properties with the aim of controlling their degradation time for different applications. ln this work, membranes of poly(lactide-co-glycolide) with and without plasticizer were synthesized using the solvent evaporation technique; these membranes were analysed before and during the in vitro degradation process. The results obtained by Scanning Electron Microscopy (SEM) have shown that non-degradated membranes have a dense morphology. DMA, DSC, TGA and X-Ray difraction have shown that this sarne membranes are amorphous and that the presence of plasticizer change the physical and chemical properties ofthe membranes.
Key-words: resorbable polymers, membranes,poly(lactide-co-glycolide)
Introdução
Nos últimos trinta anos mais de quarenta tipos diferentes de materiais cerâmicos , metálicos e poliméricos têm sido usados para substituir, reparar ou aprimorar o funcionamento de quarenta partes do corpo. A procura por estes biomateriais inicialmente baseava-se no conceito de que o melhor material para ser usado no organismo é o mais inerte, ou seja, o que gera uma resposta mínima por parte do tecido. Atualmente, uma nova geração de biomateriais capaz de permitir que o próprio organismo utilize seus mecanismos de reparo para a regeneração de tecidos vem sendo pesquisada [ 1].
A pesquisa de materiais naturais ou sintéticos visando às aplicações na área médica e odontológica é muito interessante graças ao seu vasto campo de aplicações. A pesquisa mais ampla dentro deste vasto campo é a regeneração de tecidos e essa tendência reflete as desvantagens dos implantes metálicos como o risco de infecções ou reações alérgicas ou tóxicas causadas pelo efeito chamado de proteção óssea e a necessidade de uma segunda cirurgia para remover o implante após a cicatrização da fratura.
O processo de degradação do polímero que constitui o implante varia com seu peso molecular, sua composição, estrutura e cristalinidade, além de variar com a quantidade de polímero aplicada. Além disso determina o tipo e a intensidade da resposta
inflamatória do tecido, daí a importância em estudar este processo. A grande vantagem da utilização de copolímeros é que a proporção dos polímeros que os constituem pode ser variada até que as condições da degradação sejam otimizadas, [2], [3], [4] e [5].
A utilização de polímeros bioabsorvíveis como suporte para cultura de células apresenta várias vantagens sobre o transplante de órgãos, pois é possível controlar precisamente as características do material aplicado, além da possibilidade de se manipular as propriedades químicas, mecânicas e fisicas do material visando a uma otimização do processo.
Membranas densas e porosas de polímeros absorvíveis são confeccionadas com o intuito de servirem como um substrato para que células isoladas possam fixar-se e crescer até formar o tecido, este suporte pode agir tanto como um apoio fisico, propriamente dito, quanto como um substrato aderente para as células isoladas durante uma cultura in vitro ou subsequente implante para promover a regeneração natural de tecidos, especialmente para ossos e cartilagens, [6], [7], [8], [9] e [10].
Várias pesquisas têm mostrado o quanto o poli (ácido lático-co-glicólico ), abreviadamente tratado como PLGA, é indicado para aplicações sob a fonna de suporte para cultura de células, o que justifica seu extensivo uso para este fim [11], [12] e [13].
Entre outros biomateriais, o PLGA também pode ser utilizado em sistemas de liberação de drogas
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
no organismo. Neste caso, agentes terapêuticos são formulados dentro de microesferas ou discos do copolímero e a liberação da droga depende de sua difusão e da degradação do polímero [14]. O objetivo desse trabalho é estudar a degradação de membranas de copolímero visando aplicações na área médica.
Metodologia
Foram preparados dois tipos de membranas pela técnica de evaporação de solvente : a) membranas sem plastificante e b) membranas com plastificante.
Membranas sem plastificante foram preparadas em clorofórmio variando-se as concentrações em 3%, 5% e 10% (m/v). Após agitação para completa dissolução, as soluções foram depositadas vagarosamente sobre uma placa de vidro, sem formar bolhas. Após uma lenta evaporação do solvente (24 horas) as membranas foram secas à vácuo durante 48 horas a temperatura ambiente para total evaporação do solvente. As membranas com plastificante foram preparadas da mesma forma que as membranas sem plastificante, a única alteração foi a adição do plastificante trietil citrato de sódio, nas concentrações 1, 3 e 5% nas soluções poliméricas. Foram preparadas membranas nas seguintes concentrações de polímero plastificante, conforme tabela 1:
Tabela 1: Tipos de membranas preparadas a partir do poli( ácido lático-co-ácido glicólico) com diferentes
concentra ões de polímero e plastificante.
Membrana 10% 10 Membrana 5% 5 Membrana 3% 3
Membrana 10% 5%P 10 5 Membrana 10% 3%P 10 3 Membrana 5% 1 %P 5
Para o estudo in vitro as membranas foram secas a vácuo e colocadas em tampão fosfato pH 7 ,O dentro de tubos de ensaio fechados, mantidas a 3 7 ºC e retiradas após 15 , 30 e 60 e 120 dias.
Assim que o prazo de retirada de cada membrana foi alcançado, as membranas foram retiradas do banho, lavadas e mergulhadas em béqueres com água destilada, onde permaneceram por aproximadamente uma hora a fim de que o máximo de tampão possível fosse retirado. Antes de se submeterem às análises, as membranas permaneceram por 24 horas numa estufa à vácuo com temperatura de 50 ºC . As técnicas de caracterização a que foram submetidas as membranas antes e após o processo de degradação estão citadas abaixo:
Para análises através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) fragmentos das
com ouro {Sputer Coater BAL - TEC SCD 050) e analisadas no Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL JXA 860" utilizando tensão de 10 kV. Para análises termogravimétricas (TGA), as amostras das membranas, pesando cerca de 15mg foram aquecidas de 25 a 450 ºC a 1 O ºC/min. Para análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), as amostras, pesando de 1 O a 15 mg, foram aquecidas até a temperatura de 200 ºC e mantidas nesta temperatura por 5 minutos até apagar toda a história térmica da amostra. Em seguida, foram resfriadas até -20 ºC (novamente mantidas a esta temperatura por 5 min) e finalmente reaquecidas até 200 ºC. Tanto o aquecimento quanto o resfriamento foram realizados com uma rampa de aquecimento de 1 O ºC/min e em atmosfera de hélio. Tanto as análises de TGA quanto de DSC foram feitas no equipamento STA 409C da NETZSCH Geratebau Gmbh Thermal Analysis.
A análise dinâmico-mecânica foi realizada no equipamento DMA - Dynamic Mechanical Analysis -242 da NETZSCH, sob ar. As amostras foram resfriadas até -1 OOºC e em seguida aquecidas até 80ºC, com rampa de aquecimento de 5°C/min, na frequência de lHz e amplitude de 240µm e força dinâmica de 0,5N. Utilizou-se o modo tipo tração no sistema Tension. Para melhor ajuste das condições impostas as amostras foram submetidas a uma temperatura de -40 ºC.
Análises de Raios-X foram realizadas utilizando-se ângulos de varredura de zero a 50º em um Difratômetro Shimadzu XD3A com fonte de radiação CuKa. A voltagem foi de 30 kV e a corrente foi de 20mA.
Resultados e Discussão
A técnica de DMA é muito útil para detenninar tanto transições de primeira e de segunda ordem, como transições secundárias. O material muda o seu comportamento mecânico, passando de vítreo a viscoelástico.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
obter valores de Tg através do módulo de armazenamento pois quando se atinge o máximo no módulo de perda já passou Tg.
A tabela 2 e a figura 1 mostram dados obtidos através do DMA para as membranas com e sem plastificante. Verifica-se, como nos dados obtidos por DSC, que o plastificante diminue os valores de Tg. Para as membranas sem plastificante, observa-se que a Tg aumenta para menores concentrações do polímero. Para as membranas com plastificante, para uma mesma concentração do polímero, a Tg diminue em função da quantidade de plastificante nas membranas.
Tabela 2: Valores de temperatura de transição vítrea (Tg) para membranas de poli(ácido lático-co-ácido
glicólico) obtidos a partir do módulo de perda (E") pelo DMA.
Membrana 10% 21
Membrana 5% 25
Membrana 3% 31
Membrana 10% 5%P
Membrana 10% 3%P 13 Membrana 5% 1 %P 13
0,4 --PLGA 10% 5p
-- -- PLGA 10%3p
0.3 ·······PLGA IO'Vo
-··-··-· PLGA 3%
'° 0.2
~ " /1 , , :': j~ 0,1 I 1
~ .":/ ' • J 1 - ,.1 ... ·: \ -·-----··......,.r::'=:·1i'i· .. ~ ... ·:"':" .. 0,0
1 : .. \. 1,
-100 -75 -50 -25 o 25 50 Temperatura (°C)
Figura 1- Curvas de Tan ô em função da temperatura para membranas do copolímero antes da degradação.
A análise de DSC é muito importante para a caracterização de polímeros pois fornece dados como a variação da temperatura de transição vítrea, temperatura de cristalização, temperatura de fusão, entalpia de fusão, no caso de polímeros semicristalinos. entalpia de cristalização. A variação dessas temperaturas nos permite observar as transições de fases, cinética de polimerização, decomposição e de cura, além de permitir calcular o grau de cristalinidade
A figura 2 mostra termogramas das amostras das membranas com e sem plastificante, em função do
264
tempo de degradação. Pode-se verificar que os termogramas refletem apenas a temperatura de transição vítrea, em concordância com um polímero amorfo. Isto foi verificado para todas as amostras independente da concentração do polímero, da concentração do plastificante e do tempo de degradação. Os valores de T g para todas as membranas encontram-se na tabela 3. Como os valores de Tg no primeiro aquecimento eram pouco definidos, optou-se por considerar os valores referentes ao segundo aquecimento.
o >< <U
-50
,,... .... --, I \..---------
'{-··-··-·,\·-··-··-··-··-··-.. ~.~-~-~•., '
... , .... ... . ..
--plga10%5p- 120d - - - - plga5% - 30d · · · · · • plga5%1p - .. - .. - plga5% 1 p - 30d
o 50 100 150 200 Temperatura (°C)
Figura 2 - Dados DSC para as membranas em função do tempo de degradação.
Tabela 3: Valores de temperatura de transição vítrea (Tg) para membranas de poli( ácido lático- co- ácido
glicólico) em função do tempo de degradação, obtidos a artir do DSC.
Membrana 3% 49 44 43
Membrana 5% 47 42 35
Membrana 5% 1 p 23 32 29
Membrana 10% 47 36 30
Membrana 10%3p 11 20 25
Membrana 10%5p 12 24 21
Observando os valores de Tg da tabela 3 para as membranas sem plastificante (3%, 5% e 10%), podemos verificar que, para cada tempo de degradação, a Tg sempre diminui à medida que a concentração aumenta e que esta diminuição é mais acentuada para tempos de degradação maiores. Considerando estas mesmas concentrações separadamente, observamos que as Tgs diminuem em função do aumento do tempo de degradação.
Comparando as membranas de concentração 10% com 10%3p e 10%5p , verifica-se que, para as membranas com plastificante, os valores de Tg aumentam até 15 dias de degradação e, praticamente,
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
não variam até 30 dias, ao contrário do que ocorre com a membrana sem plastificante, como já foi citado no parágrafo acima. Isto pode ser explicado pelo fato do plastificante difundir-se na solução tampão após um certo tempo de degradação, o que faz com que a membrana tome-se mais rígida e, consequentemente tenha seu valor de Tg aumentado.
Não foi possível realizar análises para as amostras após 60 e 120 dias, exceto para a de concentração de 10% e 10%5p, respectivamente . A degradação foi tão efetiva que, para a maioria das amostras, a quantidade de amostra inicial foi reduzida a um restante da ordem de 2-3 mg.
Observando-se o termograma na figura 3, da amostra 10%5p com 120 dias de degradação, verifica-se um aumento da T g comparando ao tempo zero e o aparecimento de um discreto processo endoténnico a aproximadamente 150 ºC o que indica a formação de cristais durante a degradação. Isso foi confirmado pelos difratogramas de Raios-X , onde verificou-se a formação de um halo , com máximo de intensidade na região de 20 = 20 graus para as membranas antes da degradação e o aprecimento de picos definidos na mesma região após 60 dias de degradação. Este fato foi observado por Li e colaboradores, os quais avaliaram diferentes amostras do copolímero e observaram que, embora ele comporte-se como amorfo antes da degradação, após a degradação apresenta um pico exotérmico no DSC e picos definidos no Raios-X [15].
A análise termogravimétrica é usada para medir a variação da massa de uma amostra, resultante de uma transformação tisica( sublimação, evaporação, condensação) ou química ( degradação, decomposição oxidativa, etc.) em função do tempo ou da temperatura. Para os polímeros, ela fornece dados sobre a estabilidade térmica dos mesmos .
Observando na tabela 4 os valores da temperatura em que a perda de massa tem início(Ti) e considerando as membranas sem plastificante, verificase que quanto maior a concentração do polímero , maior a Ti dentro dos tempos de degradação 15 e 30 dias considerado e, portanto, maior a sua estabilidade térmica. Ainda observando os valores de Ti, mas comparando agora membranas de mesma concentração de polímero com e sem plastificante nos tempos 15 e 30 dias, pode-se constatar que a estabilidade térmica das membranas sem plastificante é maior.
Podemos também analisar um outro parâmetro baseado na variação de Ti entre os tempos zero e 30 dias para as membrana sem plastificante, verifica-se então que quanto maior a concentraÇão do polímero, maior a estabilidade térmica da membrana e podemos estabelecer uma ordem de níveis de degradação decrescente; 3%, 5% e 10% em copolímero.
Comparando-se as membranas contendo 5% e 10% de copolímero com as que contém plastificante, podemos verificar, através da variação dos valores de Ti entre zero e 30 dias, que as sem plastificante degradam mais rapidamenmte que as com plastificante.
265
Lam e colaboradores em estudo de membranas de poli-ácido lático porosas e não- porosas verificou que as membranas não-porosas degradam mais rapidamente que as porosas. Nas porosas, à medida que a degradação ocorre, há uma difusão dos seus produtos para a solução; nas não-porosas, a difusão é mais lenta e ocorre um acúmulo dos produtos da degradação, [16]. Podemos fazer uma analogia considerando que a difusão do plastificante para o meio toma a membrana mais porosa e assim explicar o fato de as membranas sem plastificante degradarem mais rapidamente que as sem plastificante.
Tabela 4: Valores de Ti e de Td para as membranas de poli(ácido lático-co-ácido glicólico) em função do tempo
de de rada ão obtidos a artir do TGA.
Membrana To 329 366 88 3% T 15 dias 322 363 98
T 30dias 281 317 93 Membrana To 336 363 87 5% T 15 dias 312 350 73
T 30 dias 299 335 98 Membrana To 281 315 97 5%lp T 15 dias 326 363 99
T 30 dias 291 330 98 Membrana To 322 360 90 10% T 15 dias 321 358 100
T 30 dias 302 343 99 Membrana To 284 313 87 10%3p T 15 dias 317 357 71
T 30 dias 288 324 95 Membrana To 310 355 93 10%5p T 15 dias 304 99
T 30 dias 302 100
Ti = temperatura em que se inicia o estágio de perda de massa.
Td = temperatura em que a derivada da curva de perda de massa é máxima
Podem ser comparados também as Tis para cada membrana separadamente; com este valores será verificado que a estabilidade ténnica de qualquer membrana diminui quando se comparam os tempos de degradação zero e 30 dias. No entanto, quando se comparam os tempos zero e 15 dias, verificamos que apenas as membranas sem plastificante apresentam este comportamento; as membranas com plastificante têm sua Ti aumentada.
Avaliando-se os valores de Td (temperatura em que a perda de massa é máxima), verifica-se que eles apresentam o mesmo comportamento descrito para Ti.
ANAIS DO CBEB'2000
Adicionou-se plastificante às membranas com o intuito de que se obtivesse uma morfologia porosa, baseando-se em trabalhos anteriores do grupo, onde verificou-se que membranas de poli- ácido lático na presença de plastificante apresentavam uma morfologia com poros interconectados. Um estudo in vivo com essas membranas mostrou uma íntima interação com o tecido, o que é conseqüência da porosidade,[17].
As figuras 3a, 3b e 3c mostram a morfologia da superficie de membranas contendo 3% do copolímero em função do tempo de degradação.
Podemos verificar que antes da degradação (figura 3a), a membrana apresenta uma morfologia densa e lisa. Após 15 dias de degradação (figura 3b), observam-se trincas e rugosidades, já com 30 dias (figura 3c), a superficie da membrana mostra um estágio avançado de degradação. Estas três figuras mostram o avanço da degradação com o tempo para uma mesma concentração de polímero.
Se compararmos as figuras 3c e 4, podemos verificar os diferentes níveis de degradação que duas membranas com concentrações diferentes de polímero, 3% e 10% respectivamente, apresentam para o mesmo tempo de degradação (30 dias). É evidente que a membrana de concentração menor é mais sensível à degradação em tampão fosfato que a de maior concentração. Esses dados são confirmados pelo que já foi observado nas análises tennogravimétricas.
Embora as análises por Microscopia Eletrônica de Varredura consigam mostrar nitidamente o processo de degradação em função do tempo para as membranas com mesma concentração de polímero e mostrar também que quanto maior essa concentração menos atingida pela degradação ficará a membrana, não se pode chegar a nenhuma conclusão a partir desta técnica quando comparamos membranas com mesma concentração de copolímero com ou sem plastificante.
Conclusões
Dados de DMA para as membranas do copolímero antes da degradação mostraram que o plastificante diminue os valores de T g. Para as membranas sem plastificante, os valores de T g aumentam para menores concentrações do polímero, enquanto para as membranas com plastificante, para uma mesma concentração do polímero, a Tg diminue em função da quantidade de plastificante. Esses dados foram confirmados por DSC, onde verificou-se a diminuição da Tg com a concentração e que essa diminuição é mais acentuada para tempos de degradação maiores. Verifica-se a partir de 60 dias de degradação um discreto pico endoténnico indicando a formação de regiões cristalinas, dados confirmados por difração de raios-X. Dados através de TGA mostraram que quanto maior a concentração do polímero maior a estabilidade térmica das membranas dentro dos tempos 15 e 30 dias de degradação e que a estabilidade ténnica das membranas sem plastificante é maior. Dados de MEV mostraram que as membranas são
266
morfologicamente densas com aparecimento de trincas em função do tempo de degradação. Tendo em vista o rápido tempo de degradação, essas membranas podem
ser indicadas para recuperação de queimaduras de pele.
(a)
(b)
(c)
Figura 3- Micrografias obtidas por MEV para membranas do copolímero PLGA 3% sem plastificante: a) antes da degradação, b) após 15 dias e c) após 30 dias
de degradação.
.............. ._._ .................... .....__
ANAIS DO CBEB'2000
Figura 4 - Micrografias obtidas por MEV para membranas do copolímero PLGA 10% sem plastificante
após 30 dias de degradação.
Agradecimentos
Os autores agradecem a F APESP (proc. 99/01381-9).
Referências Bibliográficas
[ 1] L. L.Hench, "Bioactive materials: The potencial for tissue regeneration - Founders Award, Society for Biomaterials 24th Annual Meeting, San Diego, CA, April 22-26, 1998", Journal of Biomedical Materiais Research, p.p. 511-518, 1998.
[2] M.Van der Elst , C. P. A. T.Klein., J. M. Blieck Hogervorst., P. Patka , H. J. Th. M. Haan11a, "Bone tissue response to biodegradable polymers used for intra medullary fracture fixation: a long term in vivo study in sheep femora", Biomaterials, vol. 20,p.p. 121 - 128, 1999.
[3] S.L. Ishaug Riley, G.M. Crane , A. Gurlek, M.J. Miller, A. M.Yasko., M. J.Yaszemski., A. G. Mikos, "Ectopic bone formation by marrow stromal osteoblast transplantation using poly ( DL - lactic - co glycolic acid ) foams implanted into the rat mesentery", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 36, p.p. l - 8, 1997.
[4] C.M. Agrawal , K. A. Athanasiou, " Technique to control pH in vicinity ofbiodegradating PLA-PGA implants", Journal of Biomedical Materiais Research , vol.38, p.p. 105-114, 1997.
[5] M.C. Wake , P.D. Gerecht , L. Lu , A. G Mikos,"Effects of biodegradable polymer particles on rat marrow derived stromal osteoblasts in vitro", Biomaterials , vol. 19, p.p.1255 - 1268, 1998.
[ 6] J.B. Park.. Biomaterials: An Introduction, Ed. Plenum Press, New York, 1979.
267
[7] L.L. Hench and E.C. Ethridge , Biomaterials: An Interfacial Approach, Ed. Academic Press, New York, 1982.
[8] W. D.Holder Jr., H.E.Gruber, A. L Moore, C.R. Cuberson , W. Anderson , K.J.L Burg, D.J. Mooney, "Celular ingrowth and thickness changes in poly L - lactide and polyglicolide matrices implanted subcutaneously in the rat", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 41, p.p. 412-421, 1998.
[9] R. A Zoppi, S. Contant , E. A. R Duek, F.R. Marques , M.L.F. Wada , S.P. Nunes, " Porous poly ( L- lactide) films obtained by immersion precipitation process: morphology, phase separation and culture of VERO cells", Polymer, vol. 40, p.p. 3275 - 3289, 1999.
[10] L.D.Harris, B. Kim , D.J. Mooney, "Open pore biodegradable matrices formed with gas foaming", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 42, p.p. 396- 402, 1998.
[11] T. Nakamura, Y. Shimizu, Y. Takímoto, T.Tsuda, Y. Li, T. Kiyotani , M. Teramachi , S. Hyon, Y. Ikada, K. Nishiya, Biodegradation and tumorigenicity of implanted plates made from a copolimer of ê - caprolactone and L - lactide in rat", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 42, p.p. 475-484, 1998.
[12] S.J. Peter , M.J. Miller , A. W. Yasko, M.J. Yaszemski , A. G. Mikos, "Polymer concepts in tissue engineering", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 43, p.p. 422 - 427, 1998.
[13] S. Li, S. McCarth, " Further investigatios on the hydrolytic degradation of poly ( DL -lactide)", Biomaterials, vol. 20, p.p. 35 44, 1999.
[14] Y. Zhang , S.Zale, L. Sawyer, H. Bernstein, "Effects of metal salts on poly ( DL - lactide co - glycolide) polymer hydrolysis", Journal of Biomedical Materiais Research, vol. 34, p.p.531 -538, 1997.
[15] S.M. Li, H. Garreau and M. "Structure-property relationships in the case of the degradation of massive aliphatic poly( a-hidroxy acids) in aqueous media, Part 2: degradation of lactide-glicolide copolymers: PLa37.5Ga25 and PLA75Ga25", J of Mater. Sei. : Mater. in Med., vol.l, p.p. 131-139,1990.
[16] K.H. Lam, P. Nieuwenhuis, I. Molenaar, H. Esselbrugge, J. Feijen, P.J.E. Dijkstra, J.M. Schakeraad, "Biodegradation of porous versus non porous poly(L-lactic acid) films", J. of Mater. Sei.: Mater. in Med., vol.5, p.p.181-189,1994.
[17] R.M. Luciano e E.A.R. Duek.; "Síntese e Caracterização de membranas de poli( ácido lático)". Tese de Mestrado, Defendida na Faculdade de Engenharia Mecânica, 1997.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Estudos Preliminares de Liberação de Ciprofloxacina em Compósito Hidroxiapatita:Colágeno
* Claudia Akemi Ogawa, Ana Maria de Guzzi Plepis
Laboratório de Bioquímica e Biomateriais, Instituto de Química de São Carlos Universidade de São Paulo, Brasil, 13560-970
Fone (OXX16) 273-9961, Cx. Postal 780 *[email protected]; [email protected]
Resumo - Compósitos hidroxiapatita:colágeno foram preparados em diferentes proporções a fim de se determinar qual a melhor proporção para a incorporação de antibiótico. A melhor proporção de HA:colágeno (1O:1) foi caracterizada e utilizada na incorporação e liberação de ciprofloxacina. As curvas calorimétricas mostrararm transições em torno de 40ºC, referentes à denaturação do colágeno. A razão A1235/A1450 do espectro no infravermelho do compósito HA:col (10:1) foi de 1,12, mostrando que o colágeno está preservado neste compósito. As fotomicrografias mostram fibras de colágeno uniformemente distribuídas em torno da hidroxiapatita. O teste de hidrofilicidade do compósito mostrou que o material foi capaz de absorver 183,2% de água em relação à sua massa seca. Para os estudos preliminares de liberação de antibiótico foi incorporado cerca de 5% de antibiótico em massa no compósito HA:col (10:1). O experimento de liberação foi realizado em tampão fosfato salino (PBS), pH 7 ,4, mostrando uma liberação máxima em torno de 90%.
Palavras-chave: Compósitos, Hidroxiapatita, Colágeno, Liberação controlada.
Abstract - Hydroxyapatite:collagen composites were prepared in different proportions in order to obtain the best proportion to incorporate antibiotic. The best proportion HA collagen (1O:1) was characterized and utilized for ciprofloxacin incorporation and liberation. DSC data showed transitions at 40ºC, which are referred to the collagen denaturation. Ratio A1235/A1450 from IR spectrum of the composite HA:col (10:1) was 1.12. This result shows that collagen is preserved in the composite. Micrographs of the material show collagen fibers, which are uniformly distributed among hydroxyapatite. Hydrofilicity test of composite shows water absorption of 183 .2% related to dry weight of the material. For the preliminary studies of liberation was incorporated about 5% of antibiotic in mass. The liberation experiment was made in phosphate buffer saline (PBS), pH 7.4, showing a maximum liberation around 90%.
Key-words: Composites, Hydroxyapatite, Collagen, Drug delivery.
Introdução
O desenvolvimento de biomateriais cerâmicos se deve à necessidade de se obter um material artificial para a reconstrução óssea em cirurgias de correção odontológica e ortopédica, visto que nem sempre é possível realizar um implante utilizando tecidos humanos ou de animais. Recentemente, diversos compósitos hidroxiapatita/colágeno (HA/col) foram desenvolvidos como biomateriais em potencial para a reconstrução óssea por apresentarem uma composição similar à do osso [1,2]. Os componentes individuais destes compósitos possuem características essenciais a um biomaterial, tais como biocompatibilidade e biodegradabilidade.
O colágeno promove cicatrização de fraturas e regeneração óssea e é também um agente hemostático [3]. Outras vantagens do colágeno como biomaterial são: baixo índice de irritabilidade ou alergenicidade (2% ), biodegradabilidade, habilidade em promover crescimento celular e facilidade de obtenção. O colágeno é quebrado no organismo pela enzima
268
colagenase. A razão da degradação é controlada pelo grau de entrecruzamento entre as moléculas de colágeno [ 4]. Como isto é um processo que ocorre naturalmente, os produtos de degradação também devem ser biocompatíveis. O aspecto mais importante na utilização de colágeno na forma de compósitos com biocerâmicas é o fato desta proteína ser a matriz em que os sais de fosfato de cálcio se depositam para dar origem ao tecido ósseo [5].
A hidroxiapatita tem sido amplamente utilizada na preparação de compósitos, seja combinada com filmes de gelatina [6], ou com membranas [7] ou soluções [1] de colágeno. Seu amplo uso se deve à sua similaridade com o tecido calcificado do osso humano. Uma desvantagem que limitaria seu uso como biomaterial é o fato de apresentar propriedades mecânicas deficientes, características das cerâmicas [8]. Assim, sua combinação com colágeno torna seu uso como biomaterial mais vantajoso.
Neste trabalho, foram preparados compósitos hidroxiapatita:colágeno em diferentes proporções a fim de se obter a melhor proporção para incorporação de
-
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
antibióticos. O cloridrato de ciprofloxacina foi o antibiótico escolhido neste trabalho em virtude de sua conhecida utilização no tratamento de osteomielite [9]. A ciprofloxacina pertence à família das fluoroquinolonas, antibióticos que exibem um largo espectro de atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Apesar de não se ter observado efeito teratológico na utilização de ciprofloxacina, seu emprego na forma oral pode causar efeitos colaterais tais como náuseas, vômitos, diarréias, dores abdominais, dores de cabeça, entre outros. Assim, no caso de osteomielite, por exemplo, sua utilização em biomateriais implantáveis é vantajosa por minimizar esse tipo de desconforto para o paciente, visto que a droga é liberada diretamente no sítio de ação. Além disso, a incorporação de drogas em compósitos a serem utilizados em implantes apresenta a vantagem de manter níveis constantes de droga no organismo e possibilitar menor freqüência de administração do agente ativo, resultando em maior conforto para o paciente e melhor eficácia do tratamento.
Metodologia
A hidroxiapatita utilizada foi sintetizada em laboratório a partir de nitrato de cálcio e fosfato de amorna, segundo método de Jarcho [10] e colaboradores. A hidroxiapatita sintetizada foi caracterizada através de espectrofotometria no infravermelho (IV), espectroscopia de dispersão de raios X, espectroscopia de difração de raios X e razão cálcio/fósforo (Ca/P). A razão Ca/P foi obtida através de análises de fósforo por espectrofotometria no ultravioleta/visível e análises de cálcio por espectrofotometria de absorção atômica. O colágeno foi extraído de serosa porcina, em meio alcalino [11] por 24 h. Seu peso molecular foi determinado através de eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS [12], referindo-se às cadeias al e a.2 que compõem a tripla hélice do colágeno. A cadeia al apresentou um valor de 98000 Da e a cadeia a.2 apresentou um valor de 95500 Da. A concentração de colágeno foi determinada por liofilização. Os compósitos HA:col (hidroxiapatita:colágeno) foram preparados adicionando-se hidroxiapatita a uma solução de colágeno 2,1% obedecendo-se as proporções 5:1, 10:1, 15: 1 e 20: 1 (m/m) de hidroxiapatita em colágeno. Os compósitos foram colocados em formas, congelados e liofilizados. Observou-se que as proporções 5: 1 e 1O:1 renderam mantas homogêneas, em que o colágeno estava totalmente agregado à HA. A proporção de HA:col 5: 1 encolheu após a liofilização. Os compósitos de proporções 15: 1 e 20: 1 se mostrarann mais quebradiços e soltando algumas partículas de HA. Assm, a proporção escolhida para incorporção de antibiótico foi a de HA:col 1O:1.
As mantas (1O:1) foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho (IV), difração de raio X, calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Determinou-se a quantidade de água absorvida pelo
compósito 1O:1 através da imersão do mesmo em água destilada por determinados períodos de tempo ( 1 O, 30, 60, 120 min e durante 5 dias). A absorção de água foi estudada com amostras do compósito previamente secas em dessecador, sob atmosfera de hidróxido de sódio (NaOH), a vácuo.
Os espectros no infravermelho foram realizados através de um equipamento de FTIR Bomem modelo MB 102, 4 cnf1 de resolução, com número de onda de 400 a 4000 cnf1
• As amostras foram analisadas na forma de pastilhas com KBr. Os difratogramas de raioX foram obtidos através de um Difratômetro automático (ânodo rotatório) de Raios X RIGAKU ROT AFLEX modelo RU-200B. Curvas de calorimetria exploratória diferencial foram medidas através de um DSC 201 O da TA Instruments. As fotomicrografias e os espectros de dispersão de raios X foram tirados por meio de um equipamento LEO 440 (LEO Electron Microscopy Ltd, Cambridge, England), com um detector Oxford (Oxford Instruments Inc., Concord, USA) utilizando-se feixe de 20 kev.
A incorporação do cloridrato de ciprofloxacina no compósito foi realizada no momento de preparo do mesmo. Misturou-se hidroxiapatita (HA) em colágeno obedecendo-se a proporção de 10:1 de HA em colágeno (m/m), a qual foi a melhor proporção observada ao se preparem as diferentes mantas. Em seguida, adicionou-se o antibiótico (equivalente a cerca de 5% em massa total de HA:col). O compósito foi então congelado e liofilizado. O estudo de liberação foi realizado imergindo-se uma amostra do compósito na forma de um disco de 1.4 cm de diâmetro, em 100 mL de tampão fosfato salino (PBS) pH sob agitação constante. Alíquotas de 1 mL de tampão foram retiradas em determinados períodos de tempo e repostas com tampão fresco. As alíquotas foram diluídas a 1 O mL com PBS e, em seguida, mediu-se a absorbância no UV, em 270,6 nm através de um espectrofotômetro de UV-visível Hitachi modelo U3000. Para a curva de calibração diluiu-se uma solução estoque de cloridrato de ciprofloxacina (150 µg/mL) para 0,6; 0,7; 1,5; 3,0; 6,0; 9,0 e 15 µg/mL, com PBS. A solução estoque de cloridrato de ciprofloxacina foi feita dissolvendo-se uma quantidade necessária de antibiótico no tampão, com auxílio de aquecimento.
Resultados e Discussão
Caracterizacão. Na Figura 1 é mostrado o espectro de dispersão de raios X (EDX) da hidroxiapatita sintetizada. O espectro obtido apresenta 3 picos, sendo um referente à excitação de um elétron da camada K do fósforo e dois picos referentes à excitação de dois elétrons da camada K do cálcio. Através deste espectro pode-se verificar que a amostra não contém traços de elementos contaminantes com número atômico maior ou igual a 11 (já que a técnica é limitada para átomos com número atômico inferior). Isto mostra que a síntese da hidroxiapatita foi bem sucedida.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Figura 1 - Espectro de dispersão de raios X da hidroxiapatita sintetizada.
O espectro no infravermelho da hidroxiapatita (HA) apresentado na Figura 2a mostra bandas próximas a 600 e 1100 cm·1
, correspondentes a íons fosfato. A banda larga na região de 3400 cm·1 é característica de moléculas de água estruturais ou adsorvidas na amostra. Uma banda estreita em cerca de 3560 cm·1 se deve aos íons Off estruturais. A banda referente a OH da ligação P-OH está em cerca de 870 cm·1
• O perfil do espectro obtido concorda com espectros de HA da literatura [13]. O espectro de absorção no infravermelho obtido da amostra de colágeno (Figura 2b) mostra bandas em cerca de 1658 cm·1 e 1552 cnf1 correspondentes à deformação axial da ligação C=O e à deformação angular da ligação N-H respectivamente, referentes às bandas de amidas I e II. O espectro também apresenta bandas características em 1235 e 1450 cm·1 referentes, repectivamente, à amida III e à ligação C-H do anel pirrolidínico. A integridade da estrutura da tripla hélice do colágeno pode ser mostrada pela relações de absorbâncias dessas bandas. Enquanto a primeira é sensível à presença de estrutura secundária do colágeno, a segunda independe da estrutura ordenada do tropocolágeno [14]. A integridade da estrutura secundária do tropocolágeno pode ser verificada quando o valor da relação das
absorbâncias em 1235 e 1450cm-l for maior ou igual a unidade, que é significativamente maior do que aquele que seria observado para estruturas desnaturadas, cujos valores estão por volta de 0,5 [14].
Através dos espectros de absorção no infravermelho da amostra de colágeno e do compósito (Figura 3), calculou-se a razão entre as absorbâncias (Am51 A1450). Os resultados apresentaram um valor da razão das absorbâncias de 1,0 para o colágeno e 1,12 para o compósito. Assim, comprovou-se que o colágeno estava preservado [14] no compósito hidroxiapatita:colágeno (HA:col) ( 1O:1 ).
ro ·e:; e
<CU .o o
<J)
.o <(
3.0
(a) 2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
"' 3.0 ·5 e '"' ~ 2.5 o
(b)
"' .o <(
2.0
1.5
1.0
0.5
o.o
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Número de onda (cm·')
Figura 2 - Espectros de absorção na região do infravermelho obtidos (a) da HA e (b) do colágeno
aniônico 24h.
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
º·ºº -0,05
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Número de onda (cm")
Figura 3 - Espectro de absorção no infravermelho obtido do compósito HA:col (1O:1 ).
O difratograma de raio X do compósito apresenta perfil semelhante a aquele esperado para hidroxiapatita não cristalina [ 15], mostrando picos característicos em valores de d iguais a 2,8 e 3,4. Na Figura 4 são mostrados os difratogramas obtidos da hidroxiapatita (HA) e do compósito HA:col na proporção 1O:1. Não se obteve difratograma de raio X do colágeno, por não ser este uma matriz cristalina e
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
não apresentando, portanto, difrato grama característico.
140
(a) 120
"' 100 Q_
s. Q) 80
"O ro
"O 'iii 60 e: 2 ..s 40
20
250
200
~ 150
w 'O .g
fl 'ê 100
1v~W~,1 w :S
50
25 30 35 40 45
Ângulo de Bragg, 20 (grau)
Figura 4 - Difratogramas obtidos (a) da hidroxiapatita sintetizada (HA) e (b) do compósito HA:col ( 10: 1 ).
Na Figura 5 (a e b) são apresentadas as curvas de DSC obtidas do colágeno e da hidroxiapatita (HA). A seção destacada na curva calorimétrica do colágeno está ampliada e inserida no gráfico, para melhor visualização da transição.
As análises por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram feitas com o objetivo de se determinar a estabilidade do colágeno antes e após a preparação das mantas e antes e após a adição de antibiótico. A curva do compósito (Figura 5c) apresentou transição em torno de 40ºC, referente à denaturação do colágeno. Também apresentou transições em torno de 1 OOºC, atribuídas à água presente no compósito, que pode ser proveniente tanto da HA como do colágeno. Na curva calorimétrica do compósito com 5% de antibiótico incorporado também se observa uma transição em tomo de 40ºC. Assim, pôde-se verificar que a incorporação de ciprofloxacina no compósito não provocou denaturação do colágeno.
Na Figura 6 são apresentadas fotomicrografias da amostra do compósito HA:col ( 1O:1 ), em duas ampliações diferentes (500 e 2000 vezes). Pode-se notar a presença de fibras de colágeno agregadas às partículas de HA e uma morfologia não compactada.
A quantidade de água absorvida pelo compósito foi determinada em função da importância da hidrofilicidade para um biomaterial, visto que cerca de 80% do corpo humano é constituído de água. Verificou-se que o compósito HA:col ( 1O:1) é capaz de
271
absorver cerca de 183% de seu peso em água logo nos primeiros 30 minutos de imersão.
(a)
(b)
(e)
~
(d)
o 50 100 150 200
Temperatura (ºC)
Figura 5 - Curvas de DSC (a) da HA, do colágeno aniônico (24h), (c) do compósito HA:col (10:1) e (d) do compósito HA:col (1O:1) com de antibiótico.
Liberação de antibiótico. Como mencionado anteriormente, as alíquotas de 1 mL de solução da célula de medida foram diluídas para 1 O mL com tampão fosfato salino (PBS) e submetidas à leitura no espectrofotômetro de UV-vis, a 270,6 nm. Após a retirada de cada alíquota, era adicionado mais 1 mL de tampão fresco ao volume total de PBS em que foi realizada a liberação da droga. Devido a essas diluições subseqüentes do tampão em que foi liberado o antibiótico, tornou-se necessário corrigir a massa obtida pelas leituras no espectrofotômetro utilizando-se a Equação (1 ):
Mn = mn - (mn-1 X 0,99) + Mn-1 (1)
onde: Mn = massa de antibiótico presente na solução no momento da retirada da alíquota; mn = massa de antibiótico considerando-se a diluição devido à reposição com tampão (com diluição para 1 O rnL já corrigida);
ANAIS DO CBEB'2000
M0 _1 = massa de antibiótico obtida na leitura imediatamente anterior.
Figura 6 - Fotomicrografias do compósito HA:col (10:1) ampliadas (a) 500 vezes e (b) 2000 vezes.
O gráfico apresentado na Figura 7 mostra a curva de liberação de ciprofloxacina a partir do compósito HA:col ( 1O:1 ). A relação mt/mO se refere à razão entre a quantidade de antibiótico liberada, obtida através do cálculo da Equação ( 1 ), e a quantia inicial de antibiótico presente na amostra. O gráfico mostra uma liberação constante após se atingir a taxa máxima de liberação. Verificou-se uma taxa máxima de liberação de quase 90%, após 10 horas de imersão. Estudos realizados com compósitos HA:col na forma de pasta na proporção de 20: 1, utilizando-se colágeno de serosa porcina com tratamento alcalino de 72 horas [ 16] mostram que cerca de 31 % da quantia total de antibiótico incorporada é liberada após 170 h. No caso do compósito HA:col (1O:1 ), na forma de manta, preparado com colágeno com tratamento alcalino de 24 horas, os estudos preliminares deste presente trabalho mostram que a liberação parece ser mais rápida, com uma taxa máxima de liberação ocorrendo após as primeiras 1 O horas de imersão no tampão. A liberação muito lenta de drogas pode não ser muito vantajosa, visto que poderia não surtir o efeito terapêutico desejado e até mesmo provocar resistência da bactéria ao antibiótico [ 1 7]. Assim, este estudo preliminar mostrando liberação de drogas utilizando a manta HA:col ( 1O:1) preparada com colágeno aniônico de 24 h parece bastante promissor visto que apresenta uma liberação relativamente rápida de cerca de 90% nas primeiras 1 O horas de imersão, tornando-se mais lenta depois.
272
O compósito HA: col ( 10: 1) (sem incorporação de antibiótico) também está sendo encaminhado para posteriores estudos biológicos em cães.
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
o 0,5 -§
E 0,4
0,3
0,2
0,1
o.o o 10 20 30 40 50 60 70 80
Tempo (horas)
Fioura 7 - Curva de liberação de ciprofloxacina a partir do compósito HA:col (1O:1) com 5% de antibiótico
incorporado.
Conclusão
Os estudos preliminares utilizando mantas HA:col preparadas com colágeno extraído de serosa porcina (com tratamento alcalino de 24 horas) mostram que o emprego deste colágeno apresent~u res1~ltados bastante satisfatórios. A melhor proporçao venficada foi de 1O:1. Este primeiro ensaio de liberação de antibiótico utilizando o compósito HA:col (10:1) é bastante promissor, visto que mostra uma liberação rápida nas primeiras horas de imersão .. A va~tagem deste tipo de liberação é que se pode unpedir uma concentração muito baixa do medicamento no sítio de ação no início do tratamento de uma infecção, evitando efeito terapêutico ineficiente e até mesmo uma possível resistência bacteriana ao antibiótico.
Agradecimentos
Os autores agradecem o auxílio técnico de Ézer Biazin, Glauco D.Broche Virgínia C. A. Martins.
C. A. Ogawa é Bolsista CAPES.
Referências
[1] C. Du, F. Z. Cui, Q. L. Feng, X. D. Zhu, K. -J. de Groot, "Tissue response to nanohydroxyapatite/collagen composite implants in marrow cavity'', Biomed. Mater. Res., vol. 42, pp. 540-548, 1998.
[2] D. Bakos, M. Soldán, I. Hemández-Fuentes, "Hydroxyapatite-collagen-hyaluronic-acid composite", Biomaterials, vol. 20, pp.191-195, 1999.
[3] A. C. Lawson, J. T. Czernuska, "Collagen-calcium phosphate composites", Proc. Inst. Mech. Eng., vol. 212,pp.413-425, 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
[4] K. Weadock, R. M. Olson, F. H. Silver, "Evaluation of collagen crosslinking techniques", Biomat. Med. Dev., Artif. Organs, vol. 11, pp. 293-318, 1984.
[5] S. Mann, J. Webb, R. J. P. Williams, "Biomineralization: chemical and biochemical perspectives", Weinheim, Germany, VCH, 1989.
[6] A. Bigi, S. Panzavolta, N. Roveri, "Hydroxyapatitegelatin films: a structural and mechanical characterization", Biomaterials, vol. 19, pp. 739-744, 1998.
[7] S. H. Rhee, J. Tanaka, "Hydroxyapatite coating on a collagen membrane by a biomimetic method", J. Am. Ceram. Soe., vol. 81, pp.3029-3031, 1998.
[8] D. S. Metsger, M.R. Rieger, D. W. Foreman, "Mechanical properties of sintered hydroxyapatite and tricalcium phosphate ceramic'', J. Mater. Sei.
Ma ter. Med., vol. 1 O, pp.9-17, 1999. [9] M. Ramchandani, D. Robinson, "ln vitro and in
vivo release of ciprofloxacin from PLGA 50:50 implants", J. Contra!. Release, vol. 54, pp. 167-175, 1998.
[10] M. Jarcho, C. H. Bolen, M. B. Thomas, J. Bobick, J. F. Kay, R. H. Doremus, "Hydroxyiapatite synthesis and characterization in dense polycrystalline form", J. Mater. Sei., pp.2027-2035, 1976.
[11] G. Goissis, A. M. G. Plepis, J. L. Rocha, "Processo de extração de colágeno de tecidos animais com auxílio de solventes orgânicos e meio alcalino", BR PI 9.405.043-0, 1994.
[12] U. K. Laemmli, "Cleavage of strutural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4", Nature, vol. 227, pp.680-685, 1970.
[13] M. R. Bet, "Preparação e caracterização de biocerâmicas compostas de colágeno e sais de fosfato de cálcio", Dissertação (Mestrado), São Carlos, 1995.
[14] M. F. Silvester, I. V. Yannas, M. J. Forbes, "Collagen banded fibril struture and the collagen platelet reaction", Thromb. Res., vol. 55, pp.135-148, 1989.
[15] M. Takechi, Y. Miyamoto, K. Ishikawa, T. Toh, T. Yuasa, M. Nagayama, K. Suzuki, "Initial histological evaluation of anti-washout type fastsetting calcium phosphate cement following subcutaneous implantation", Biomaterials, vol. 19, pp. 2057-, 1998.
[16] V. C. A. Martins, G. Goissis, A. C. Ribeiro, E. Marcantônio Jr., M. Bet, "The controlled release of antibiotic by hydroxyapatite:anionic collagen composites'', Artif. Organs, vol. 22, pp. 215-221, 1998.
[17] A. K. Dash, G. C. Cudworth II, "Therapeutic applications of implantable drug delivery systems", J. Pharmaeol. Toxieol. Met., vol. 40, pp. 1-12, 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Zirconia Femoral Component of the Total Knee Replacement
Svatava Konvickova, Ales Donat
Dept. of Mechanics, Faculty of mechanical Engineering Czech Tech11ical University i11 Prague, Technicka 4, 166 07, Czech Republic
Phone +420 2 2435 2655, Fax +420 2 3332 2482 [email protected], [email protected]
Abstract - The mai11 disadva11tage of the total knee replaceme11t with metallic femoral part is a relatively high fonnation oftoxic debris ofpolyethylene. The effort to minimize this abrasion has resulted in the application of ceramic materiais to be used for femoral compone11t. Although the situation seems to be similar whe11 replací11g no-completely bioínert materiais of hip joi11ts by ceramics there is a great difference betwee11 the híp joint and the knee joint. By the means of the cold isostatic pressing (CIP) method, some models of the ceramic ( Zirconia Y-TZP) FC were produced. 011 thus obtained component, basic physical a11d mechanical tests, were carried out. Also the necessary biocompatibility tests, were carried out. By the means of FEM, the co11tact pressures and stress distributions of two models of the knee replaceme11t were calculated, as well as the stress comparison a11alysis of these models. The introductory physicalmecha11ical properties of the material of the compone11ts, produced by the CIP method, reach a demanded level. The first tests executed 011 the knee simulator are also promisi11g. There are 11ot any sig11ificant díffere11ces betwee11 the stress distributions i11 the metallic and ceramic FC. The co11tact pressures were proved to be qua11titatively ide11tical in the two types.
Key-words: zirco11ia knee, total knee replacement
Introduction
The main disadva11tage of knee endoprosthesis with the metallic femoral compo11e11t (FC) a11d UHMWPE tibial plateau is a relatively high formation of toxic debris co11sisti11g of polyethylene. Thís is a major cause of ostheolysis, or gradual bo11e degeneratio11 a11d subsequent looseni11g of the prostheses. Efforts to mmumze this abrasion have resulted in the application of ceramic materiais suitable for use with FC. This research has been carried out in the followi11g fields: verification of suitability of the cold isostatic pressi11g method (CIP) of creati11g a11 i11termediate product of the ceramic FC, experimental research, and FEM stress compariso11 a11alysis, of both the metallic a11d ceramic femoral compo11e11ts.
274
Methodology
Although the co11ditions appear to be similar whe11 replaci11g 11011-complete bio-inert materiais of hip joints with ceramics, there is a great differe11ce between the geometry of the híp joi11t a11d that of the knee joi11t. For reasons of shape complication, the injectío11 moldi11g system was chose11. Manufacture of the prototype model for the knee mold also presented difficult problems. Havi11g coped with the CAD construction of the k11ee compo11ents, this study aimed to províde a fast method of provídi11g the 3D models necessary for the mold formatio11. After estimati11g ali parameters, príority was give11 to the process of the 3D Rapid Prototypi11g. Based 011 CAD construction, models were manufactured 011 the base of ABS, according to the 3D RP method (FDM - Stratasys). These models were used for ma11ufacturi11g sample moulds for the CIP method of ceramíc semi-products (Zírconia Y-TZP ceramic). Based on the results of
1
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
previous works, pnonty was given to the method of forming ceramic powder by means of the CIP method. The following thermal operations were carried out in an oxidative atmosphere. Corrections of the dimensions of functional areas were carried out on a CNC milling machine.
Utilizing components obtained in the method previously described, basic physical and mechanical tests were carried out, according to ISO 13356, EN 843 and 623. Testing particles were manufactured from zircon, according to the established standards ISOEN 843-1 and 4 for measuring the bending strength and micro-hardness. The fracture toughness was determined through a micro-hardness test by calculations from previously determined values, The required volume mass, in accordance with ISO-EN 623-2 reached the value of 6.03-4 g/cm3 (i.e., 99.6 % of theoretical density). The calculation of Weibull modulus was carried out, based on the bending strength measurement.
Table 1: Material properties of zirconia ceramics
Properties Units Value
Density g/cm 6.05
Grain Size µm <l
Hardness HV 1 daN/111111- 1550
Flexural strength 3pt MP a 1150
Fracture toughnes N.111111-312 6.2
Weibull modulus m 33
Laboratory data co11fir111ed the increased abrasion resistance with the ceramic combination FC against the tibial component made from UHMWPE. For further evaluation of the product, it was recommended that the cyclic fatigue test be carried out on a knee simulator. For the purpose of this study, a knee simulator was designed. The necessary biocompatibility tests, according to ISO CSN 30993-1, were carried out for the following: cytotoxicity, carcinogenity, allergization, genotoxicity (Ames test) and implantation compatibility.
By means of FEM, the contact pressures and stress distributions of two models of the knee replacement were calculated, as well as the stress comparison analysis of these models. The first model had metallic components and the second model was manufactured of ceramic FC. Each of the FE models consisted of 15956 elements and 96057 degrees of freedom. Non-linear and contact analyses were performed, observing the knee joint in full extension
under femoral-tibial force loading, corresponding to measurement of three times BW. The lower side of the tibial plateau was fixed. The maximum contact pressures resulted in 8.2 MPa (the metallic FC) and 8.2 MPa (the ceramics FC). While the maximum Mises stresses were 5.7 MPa (the metallic FC) and 7.4 MPa (the ceramics FC). The maximum Mises stresses in the tibial plateau resulted in 7.0 MPa (the metallic FC) and 7.1 MPa (the ceramics FC).
Discussion and Conclusions
The CIP method has demonstrated a progressive technology for production of the ceramic FC, using the best mechanical properties of the final components. The CIP method gives perspective to small-scale serial production of the anatomical-shaped FC made of bioceramics. The introductory physical-mechanical properties of the material of the components, produced by the CIP method, reach a demanded levei. The first tests executed on the knee simulator are also promising. There are not any significant differences between the stress distributions in the metallic and ceramic FC. The contact pressures were proved to be quantitatively identical in the two types.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
References
[l] A. Ravaglioli, A. Krajewski: Bioceramics. Chapman & Hall, London, England, 1992.
[2] J. Valenta: Biomechanics. London-New YorkTokyo, Elsevier, 1993.
[3] M. Z. Bendjaballah, A. Shirazi-Adi: Finite element analysis ofhuman knee joint in varus-valgus, Clinica! Biomechanics, pp. 139-148, No.3, 1997.
276
j 1 ' 1 f 1 l f t
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Alterações Estruturais em Válvulas Cardíacas Biológicas Induzidas pelo Armazenamento em Aldeídos
A.F. Giglioti, G. Goissis
Departamento de Química e Física Molecular Instituto de Química de São Carlos USP Av. Dr. Carlos Botelho 1465, Cx. P. 780, São Carlos - CEP 13560-970, SP, Brasil
Fone (OXXl 6)273-9961, Fax (OXXl 6)273-9985 [email protected]. usp. br, [email protected]. usp. br
Resumo - Muito dos problemas observados com as biopróteses pós-implante estão associados aos processos de fixação e armazenamento com aldeídos (glutaraldeído e formaldeído ), cuja química em solução é bastante complexa. Este trabalho estudou a impermeabilização do pericárdio bovino pela fixação com glutaraldeído, a natureza heterogênea das reações de reticulação do pericárdio bovino com glutaraldeído e as variações estruturais decorrentes do seu armazenamento em soluções tamponadas de formaldeído. O pericárdio bovino foi fixado com glutaraldeído (0,001-0,5%), seguido do armazenamento em solução tamponada de formo!. O material foi caracterizado por espectroscopia UV-Visível e estabilidade ténnica. Os resultados mostraram que a estequiometria do glutaraldeído é importante em relação ao processo de impermeabilização, provavelmente a nível das ligações cruzadas de natureza polimérica. Após 63 dias de armazenamento os dados de análise térmica mostraram alterações estruturais significativas sugerindo mudanças no padrão de ligações cruzadas induzidas pelo formaldeído. Este comportamento a médio prazo pode comprometer significativamente o comportamento das biopróteses pós-implante, principalmente no que se refere à calcificação.
Palavras-chave: Pericárdio Bovino, Biopróteses Glutaraldeído, Reticulação.
Abstract - Major problems observed with bioprostheses post-implantation are associated with fixation and storage in aldehydes ( glutaraldehyde and formaldehyde), which are characterized by a complex chemistry in solution. This work studied the impermeabilization, the heterogeneous nature of cross-linking of bovine pericardium with glutaraldehyde and structural changes due to storage in formaldehyde buffered solutions. Bovine Pericardium cross-linking were carry out with glutaraldehyde (0,001-0,5%) followed by storage in formaldehyde buffered solutions. Cross-linking and structural change were perform by UV-visible spectroscopy and thennal analysis. The results showed that glutaraldehyde stoichiometry had significant effects on the impermeabilization of bovine pericardium, probably as a result of polymeric cross-linking. Storage of bioprostheses for 35 days, in formaldehyde buffer was accompanied by significant structural changes associated with formaldehyde: glutaraldehyde exchange in the Schiffbase chemical crosslinks. However the initial bovine pericardium impenneabilization maybe prevented by use of lower glutaraldehyde concentration at the beginning ofbovine pericardium fixation; the storage ofbioprostheses in formaldehyde is followed by significant changes in collagen matrix, that may compromise bioprostheses performance post-implantation, particularly with respect to calcification.
Key-words: Bovine Pericardiun, Bioprostheses, Glutaraldehyde, Cross-linking.
Introdução A principal função das válvulas cardíacas é a
regulação do fluxo sangüíneo. Mas estas válvulas são susceptíveis a sofrer lesões, devido a problemas de natureza patológica como a mal formação congênita, doenças reumáticas, sífilis, processos infecciosos, artrite e processos de calcificação [ 1] e algumas vezes precisam ser substituídas por próteses mecânicas ou biológicas (biopróteses). No entanto, os substitutos valvulares, apesar de propiciarem um aumento de sobrevida, devido a melhora da função cardíaca, não são isentos de complicações pós-implante. O maior problema das biopróteses são falhas estruturais causadas por rupturas na superfície do material, cuja conseqüência é a calcificação. Estas falhas estruturais
277
estão associadas aos processos de fixação e armazenamento do pericárdio bovino (PB, matériaprima para confecção das biopróteses) com aldeídos (glutaraldeído-GA [2] e formaldeído ). A fixação tem como objetivo reduzir a antigenicidade e melhorar as propriedades mecânicas do PB através da reação do GA com ê-amino grupo de lisina (Lys) e hidroxilisina (Hyl) presentes no colágeno para formar ligações cruzadas (reticulação) do tipo base de Schiff. Entretanto, estas reações não são homogêneas em virtude da heterogeneidade do tecido e da química complexa do GA, cujas soluções são caracterizadas por misturas complexas em equilíbrio contendo GA livre, formas mono e diidratadas, hemiacetais cíclicos (monomérico e polimérico) e vários polímeros o:,,~-insaturados. Como
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
consequencia, têm-se a formação de ligações de reticulação poliméricas [3] do tipo poli-GA, resultando na impermeabilização superficial do tecido. A impermeabilização tem como resultado regiões internas da matriz que mantém suas características originais, que por exposição, após ruptura mecânica são responsáveis pelo início do processo de calcificação, prejudicando significativamente e de modo progressivo a performance hidrodinâmica das válvulas biológicas. As ligações cruzadas poliméricas também são responsáveis pela liberação de GA livre pós-implante, resultando em manifestações citotóxicas [ 4].
As condições de estocagem para preservação de válvulas cardíacas biológicas são críticas e normalmente o prazo de validade é de no máximo dois anos e meio. Quando estocadas em solução tampão de GA 0,5% (pH 7 ,2-7 ,4) por um longo período, e à temperatura ambiente, apresentam alterações importantes, como por exemplo, decréscimo de pH, o qual é inibido para armazenamentos feitos na temperatura de 5 ºC [5]. As condições de annazenamento são mais críticas para as soluções utilizadas contendo o formaldeído [6]. Para o caso de válvulas porcinas, foi demostrado que este reagente [7,8] ao longo do tempo, interfere com as ligações cruzadas do tipo base de Schiff formadas pelo GA, e por uma reação de substituição, quebra as ligações cruzadas originais do material. Por outro lado, há evidências também que o armazenamento destas mesmas biopróteses por um período de 5 anos reduz a calcificação dos matenais resultantes quando implantados em subcutâneo de rato [9].
Este trabalho teve como objeto estudar a impermeabilização que ocorre em pericárdio bovino fixado com GA e destinado á confecção de biopróteses e também as alterações estruturais decorrentes de seu armazenamento por longos períodos em solução tamponada de formaldeído.
Metodologia
Determinacão de Impermeabilizacão do Pericárdio Bovino com Glutaraldeído
Foi determinada pela verificação indireta da concentração residual de GA nas reações de reticulação do GA com PB utilizando-se corpos de prova como se segue: Duas peças de PB de 4x4 cm (quatro conjuntos) isentas de proteínas, foram tratadas com volumes estequiométricos de soluções de GA, e em tampão fosfato 7,4 (TF), com concentrações variáveis de 0,001, 0,005, 0,01 e 0,05%. Esta estequiometria, baseou-se na reação de 1 mol de GA para 2 moles de c-amino grupo de Lys e Hyl, cuja concentração total é de 4.3 µ-moles de NH2/cn/ de PB (concentrações de Lys e Hyl em PB são de respectivamente 4,5 e 1,3 g/100 g de colágeno) 13
•
O tempo da reação de reticulação foi de 2 horas à 45ºC e após os tempos de 1 O, 20, 30, 60 e 120 minutos foram adicionadas 3 peças de PB (corpos de prova) de dimensões de 2x20mm, os quais foram deixados reagir por 5 minutos. Nestes mesmos intervalos amostras do material principal (peças de PB 4x4cm) também foram retiradas e a evolução da reação, tanto nos corpos de
278
prova quanto nas amostras do material principal foram determinadas através da medida da temperatura de encolhimento (Ts).
A valiacão de Heterogeneidade Química da Reacão do Glutaraldeído com Pericárdio Bovino
Tratou-se 7 conjuntos cada um contendo 2 peças de PB (2x4 cm) isento de proteínas livres, com uma solução de GA 0.5% (6 mL/cm\ Cada conjunto foi deixado reagir por 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos respectivamente. Das peças de cada conjunto, uma foi lavada 3 vezes ( 15 minutos) com TF. A outra, 3 vezes (15 minutos) com tampão glicina/borato pH 9,2 (TGB) seguido por 3 vezes ( 15 minutos) com TF. Todas as soluções resultantes, inclusive o sobrenadante da reação antes e após o tratamento com TGB foram submetidas à espectroscopia de UV-Visível no intervalo entre 200 e 550 nm.
Determinacão das Alterações Estruturais em Pericárdio Bovino Após a Reticulação com Glutaraldeído
Pericárdio Bovino ensaiados foram aqueles tratados com GA a 0,5% em TF por um período de 18 dias e lavados em TF. Destes 3 amostras de PB (2x2 cm) foram lavadas com TGB e 6 amostras não foram lavadas em TGB. Após todas as amostras foram armazenadas em tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,4, 4% em fonnaldeído. Estes PB foram colocados na estufa a 37ºC por períodos de 7, 35 e 63 dias, com a finalidade de induzir eventuais alterações estruturais em função das condições de armazenagem. Todos procedimentos de tratamento de PB com GA e sua armazenagem seguiram os procedimentos convencionais. Após cada período de armazenagem, as amostras foram lavadas em TF, sendo que das amostras não lavadas previamente em TGB, 3 passaram por lavagem com TGB. Variações estruturais foram acompanhadas por calorimetria exploratória diferencial.
Caracterizacão dos Materiais
Estabilidade Ténnica:
a - Temperatura de encolhimento (Ts): foram determinadas em um equipamento de ponto de fusão Quimis adaptado para Ts, utilizando-se amostras de 2 x
20 nun. A taxa de aquecimento foi de 2,0 ºC/min no
intervalo de 20 a 100 °c. Os valores de Ts (média de 3 detenninações), foram obtidos com as amostras imersas na solução TF, colocadas em um tubo de Pirex graduado de 20 mm imerso em banho de óleo de silicone.
b - Temperatura de desnaturação (Td): As temperaturas de desnaturação foram determinadas em amostras de PB previamente equilibrados em TF, em um equipamento TA INSTRUMENTS, modelo DSC 201 O calibrado com padrão de índio. A taxa de
aquecimento foi de IOºC/min de 20 a 180 °c. As amostras foram co1iadas em discos (massas de
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
aproximadamente 1 O mg) e colocadas em cadinho de alumínio e a varredura realizada em atmosfera de N2.
Espectroscopia de UV-Visível: Os espectros (HITASHI -U3000) foram obtidos
para o sobrenadante das reações de GA a 0.5% com PB em TF antes do tratamento com TGB, do sobrenadante tratado com TGB e das soluções resultantes do tratamento do pericárdio bovino com TGB. Este espectros foram obtidos em função do tempo de reação à 45 ºC e entre 200 e 550 nm.
Resultados e Discussão
A técnica do corpo de prova foi utilizada como uma determinação indireta da concentração residual de GA nas reações de reticulação medida como Ts. Serviu também e foi utilizada para a determinação dos tempos de reação do PB com concentrações variáveis de GA de 0,001 até 0,05%. Embora nominalmente estas concentrações sejam diferentes, as massas de GA contidas nos diferentes volumes são estequiométricas em relação àquela de NH2 presente na matriz. Isto foi alcançado pela utilização de volumes variáveis das diferentes soluções.
o ~ ~ ro ro m m ~ o ro ~ ~ ~ m ro m T81Jll(rm) T81Jll(ntj
a b Figura 1 - Temperatura de encolhimento (ºC) dos corpos de prova (a) e pericárdio bovino (b) correspondentes a reação com glutaraldeído nas concentrações entre 0,001 e 0,05%,no intervalo de O a 120 minutos e na temperatura de 45ºC.
Como mostrado pela Figura 1 a, o consumo completo do GA em solução foi observado após 60 minutos, para as concentrações de 0,001, 0,005 e 0,01 %, onde os valores de Ts determinados para os corpos de prova foram próximos daquele do PB nativo e de 63,7±0,6ºC.
Para a concentração de 0,05%, o desaparecimento completo de GA foi observado apenas após 120 minutos de reação, mostrando a impermeabilização da superfície do PB em função de
279
aumentos da concentração de GA. Para concentrações menores este efeito diminui progressivamente e praticamente não foi observado para a concentração de GA de 0,001 %. Outra característica que mostra a heterogeneidade química da reação do GA com PB é evidenciada na Figura 1 b. Embora os corpos de prova para as concentrações entre 0,001 e 0,01 % tivessem indicado a ausência do GA em solução após 60 minutos do início da reação (Figura la), as amostras de PB submetidas a reticulação mantidas nas mesmas soluções iniciais por mais 60 minutos (total de 120 minutos) continuaram a apresentar aumentos progressivos na estabilidade térmica. Os novos valores de Ts para as concentrações de 0,001, 0,005 e 0,01 % foram de respectivamente 73±0,8ºC, 74,8±0,4°C e 78,2±0,8ºC (Figura 1 b ), comparados com 70,9±0,3 ºC, 72,2±0, 1 ºC e 75,5±0,5°C determinados após 60 minutos de reação, embora ao final deste tempo a determinação de Ts em corpos de prova tivessem confirmada a ausência do GA em solução. Estas mesmas amostras de PB, isto é, após reação por 120 minutos, quando novamente aquecidas na mesma solução a 45°C induziram a um novo aumento da estabilidade térmica cujos valores para as concentrações acima foram de respectivamente 74,3±0,6, 77,4±0,3ºC e 80,l±l,4ºC. Estes resultados são evidências de que, embora o GA tenha desaparecido da solução após 1 hora de reação, a matriz de PB continua sendo reticulada como sugerido pelos aumentos de Ts. Muito provavelmente, estes aumentos observados nos valores de Ts são devidos a reações de reticulações por GA provenientes das ligações de reticulação do tipo poli-GA. Não é provável o envolvimento do GA na sua forma livre em vütude da sua alta reatividade com grupos da matriz e a estabilidade da base de Schiff formada.
Através da avaliação por espectroscopia de UVVisível, foram evidenciadas a presença de ligações cruzadas heterogêneas de GA em PB. Essas detenninações foram realizadas nas soluções resultantes pelo tratamento com TGB, tanto das soluções finais de reticulação, quanto das matrizes de obtidas após a reação. O tratamento com TGB tem como princípio a reação do a-NH2 grupo da glicina com aldeídos na forma livre ou polimérica para fonnar a base de Schiff, sem interferir com as bases de Schiff formadas entre o GA livre e os ê-amino grupo da lys e hyl.
A Figura 2b mostra que o tratamento dos sobrenadantes resultantes das reações de GA com PB em vários tempos, com TGB dá origem a um produto com Àmax em 439 nm. Entretanto, a Figura 2c mostra que a peça residual de PB quando tratada com TGB extrai além do produto com Àmax em 439 nm, um outro produto com Àmax em 334 nm, que aparentemente está relacionado com a estrutura do PB como sugerido pelos perfis de DSC de amostras de PB tratadas com GA 0.5%, seguidas de lavagens ou com TF ou com TGB (Figura 3). Para o PB lavado apenas em TF uma única transição foi observada em 87,0ºC(Figura 3, curva 1 ). Entretanto, a lavagem com TGB produziu um perfil diferenciado que foi caracterizado por uma transição de
'TE
~ ~ 2!( lX ~,' tf
u q
<%
ir'
ANAIS DO CBEB'2000
menor intensidade em 87,5ºC e uma principal em 91, 1 ºC , sugerindo claramente modificações no padrão de reticulação da matriz e portanto na estrutura da matriz(Figura 3, curva 2).
2,0.----..---------,
1,4
1,2
1,0
.m 0,8
j <'.i 0,6
0.4
0,2
-TF+GA+PBO - - -TF+GA+PB 10 • • • • TF+GA+PB 30 ...... , TF+GA+PB 60 ••••••TF+GA+PB 120mnutos
1,5
0,5
-TF+GA+TGBO - .. -TF+GA+TGB 10 • • • • TF+GA+ TGB 30 ....... TF+GA+TGB 60 •••••• TF+GA+TGB 120 minutos
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
' ~ : '·
~ I•
'" • 1 ..
' . \• 1:
-10
- - 30 ••• •60 - • • - 120 mmutos
400 450 500 550 °·~00~-2~50_,_3_,,00~"""'35-0 ~400 ........ _4 ..... 50~5""'00-'-~550 º·~oo._._2.i..so_,_3...1.oo__,_...J3so'--'--4.L...oo_,_4 ..... so_......J500'-==5so
Comprimento de onda {nm) Comprimento de onda (nm) Comprimento de onda (nm}
a b e Figura 2 - Espectros de absorção das soluções resultantes da reação do pericárdio bovino em solução de Glutaraldeído 0.5% em tampão fosfato 0.13 11101.L-1 pH 7.4, em função do tempo de reação à 45 ºC. (a) Sobrenadante antes do tratamento com tampão glicina/borato; (b) Sobrenadante tratado com tampão glicina/borato; ( c) Soluções resultantes do tratamento do pericárdio bovino com tampão glicina/borato.
-OJva1 ····D..rva2
4+---~--~--~--'-~ 80 100
Figura 3 - Curvas de estabilidade térmica para pericárdio bovino tratado com glutaraldeído 0.5%, após 1 O minutos de reação à temperatura de 45ºC.
Em virtude da heterogeneidade acima, a dúvida importante que pode ser levantada é se esta característica não induz a modificações estruturais das válvulas biológicas após a sua armazenagem, principalmente porque via de regra tem um limite de armazenagem por 2 anos e nonnalmente em soluções tamponadas de formaldeído ou glutaraldeído, este assunto tem sido abordado de modo mais intenso pela
280
literatura recente devido à relevância desses eventos no comportamento da válvula pós-implante.
A Figura 4a (curva 1) representa a curva de DSC do PB logo após o tratamento com GA conforme procedimento convencional utilizado para a confecção de biopróteses. O termograma foi caracterizado por uma única transição em 89 ,4 ºC, evidenciando que o material é constituído por uma única fase e conseqüentemente a reação do GA poderia ser considerada homogênea. Entretanto, o tratamento com TGB (Figura 4a, curva2) resultou em um termograma com duas transições intensas em 88,0 e 94, 1 ºC, sugerindo a presença de duas fases. Esse resultado está de acordo com aquele obtido por espectroscopia de UV (Figura 2c), onde o TGB altera quimicamente o padrão das ligações previamente introduzidas pelo tratamento preliminar com GA. A Figura 4d mostra os termogramas do PB após 63 dias de armazenamento em tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,4, 4% em formaldeído na temperatura de 37°C, seguido do tratamento com TGB. Embora o perfil do tennograma para o material antes do tratamento com TGB (Figura 4d, curva!) fosse similar ao material inicial (antes da estocagem em formaldeído) e caracterizado também por uma transição em 89,4ºC, o mesmo material após o tratamento com TGB apresentou transições em 81,6, 85,2 e 88,4ºC, evidenciando uma alteração progressiva da matriz, revelada pela ação do TGB. Este decréscimo de estabilidade térmica sugere uma regressão estrutural do PB, provavelmente devido a alteração no padrão das ligações de reticulação introduzidas originalmente pelo GA. Essas ligações provavelmente correspondem às reticulações
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
poliméricas como sugerem os resultados mostrados pela Figura 2b e 2c e também de acordo com os dados da literatura que descrevem a depolimerização progressiva deste tipo de ligação intercruzada. Os termogramas dos materiais após 7 e 35 dias de annazenamento (Figuras 4b e 4c ), embora diferente quanto ao perfil, mostram alterações na mesma direção.
(a)
-2
-OM1 - - Qr.o2
(e)
-2
-OM1 -- Qr.o2
\
1
' 83.0 m-1
' \
1
1,
9U 1
91,1
1
9?.1' 1
1
\ l
l
(b)
·1
' ' \
·2 1\ ,_ m<'
~ 8:10 1
1'l
2
-4 -ÜM1
-- G.r.o2
1D iU 8J 9J
(d)
·2
-'1M1 - - ílM2
Figura 4 Ten11ogramas de amostras de PB armazenadas em tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,0, 4% em formaldeído: (a) O dia de armazenagem; (b) 7 dias de armazenagem; ( c) 3 5 dias de annazenagem; (d) 63 dias de annazenagem.
O resultado mostrado pela Figura 5 (curva 1) corresponde ao material original, isto é, logo após o término da fixação com GA, seguido do tratamento com
281
80,1 ...
-Curva1 • • • •Curva2
84,9· . . 88.0
88,1
94,1
-4-t-----,------r--~--,
70 80 100
Temperatura (°C)
TGB. Como pode ser observado, o material tratado com TGB, em comparação ao material inicial mostra duas transições em 88,0 e 94, 1 ºC, evidenciando modificações estruturais após este tratamento. Este mesmo material foi armazenado em tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,4, 4% em formaldeído na temperatura de 37°C durante 63 dias, e o termograma desse material é mostrado pela Figura 5 (curva 2). Após este período foram detectadas no material três transições térmicas em 80,1, 84,9 e 88,lºC, cujo perfil foi muito similar ao termograma da Figura 4d (curva 2), obtido para o PB fixado em GA, mantido no tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,4, 4% em formaldeído por 63 dias seguido do tratamento com TGB. Figura 5 - Termogramas de amostras de PB previamente tratadas com tampão glicina/borato seguido do armazenamento em tampão acetato de sódio 0,2 mol/L, pH 5,0, 4% em formaldeído. Curva 1: O dia de armazenagem; curva 2: 63 dias de armazenamento.
Os resultados das Figuras 4 e 5 sugerem que além do rompimento de ligações intercruzadas, há uma participação efetiva do formaldeído na alteração estrutural do PB. Como mostrado pelos tennogramas da Figura 5, embora o tratamento do material original com TGB induza a alterações significativas no PB (Figura 5, curva 1 ), outras alterações significativas foram observadas após o TGB, pelo simples armazenamento por um período de 63 dias à 3 7ºC.
O esquema mostrado pela Figura 6 corresponde a uma proposta das reações que envolvem PB fixado com GA seguido do armazenamento em soluções tamponadas de formaldeído
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
~Nll. ~Nilo
o li e-~ H ,),-e 11 o e
poli-G A
·+ ~N-C li-~ li ·)'--C 11-1'-t
~N-C 11-(G AXG A)"C ll-N-t
~1'-Cll, ~N-Cl1 0
~Nll, ~N11,
'.!-
e li .-N-t li ,N-C 11,-c o o li
C li """"'N-t
3 1 a-pll 9.2 "b-pll 7.4
Figura 6 - Representação esquemática para as reações químicas que envolvem o pericárdio bovino fixado em glutaraldeído por armazenamento em soluções tamponadas de formaldeído. Conclusões
Os resultados acima mostraram que o processo de impermeabilização do PB promovido pelo GA é concentração dependente, provavelmente envolvendo a natureza qunmca das ligações poliméricas intercruzadas, em virtude das características do GA em solução, como evidenciado pelo tratamento deste materiais pós-fixação com tampão glicina/borato.
Resultados de análise térmica de materiais fixados por GA, após armazenamento por um período de até 63 dias em soluções de formo! tamponado, mostraram alterações estruturais negativas no sentido da formação de materiais menos estáveis termicamente. Esta regressão pode ser resultante de alterações do padrão, tanto das ligações intercruzadas poliméricas quanto monoméricas que se formam com ê-amino grupos presentes na matriz.
Embora as condições fisiológicas pós-implante não sejam similares aquelas utilizadas neste trabalho, levando-se em consideração o pH do plasma de 7,4 e a presença de quantidades significativas de aminoácidos, estas alterações estruturais podem ocorrer a médio e longo prazo, podendo comprometer a performance da bioprótese pós-implante, principalmente a calcificação.
Agradecimentos Os autores agradecem aos Srs. Ezer Biazin e
Glauco D. Broch pela assistência técnica, A.F. Giglioti (Proc. nº 98/03141-2) é bolsista FAPESP, Proc. nº 98/03141-2, no programa de Mestrado em FísicoQuímica do IQSC, São Carlos - USP.
Referências
[l] Y.S. LEE, "Morphogenesis of calcification in porcine bioprosthesis: insight from high resolution electron microscopic investigation at molecular and atomic resolution". J. Electron Microsc. v.42, pp.156-165, 1993.
[2] A. WOODROOF, "Use of glutaraldehyde and formaldehyde to process tissue heart valves". J. Bioeng. v.2, pp.1-19, 1978.
[3] D.T. CHEUNG, P. NATASHIA, E.C. KO, M.E. NIMNI, "Mechanism of cross-linking of proteins by glutaraldehyde. III: Reaction with monomeric and polimeric collagen in tissue". Connect Tis. Res. v.13, pp.109-115, 1985.
[4] T. SONG, L. VESELY, D. BOUGHNER, Effects of dynamic fixation on shear behavior of porcine xenografts valves''. Biomat. v.22, pp.89-98, 1990.
[5] M. JULIEN, D.R. LÉTOUNEAU, Y. MAROIS, A. CARDOU, M.W. KING, R. GUIDOIN, D. CHACHRA, J.M. LEE, "Shelf-life of bioprosthetic heart valves: a structural and mechanical study". Biomat. v.18, pp.605-612, 1997.
[6] E. Khor, "Methods for the treatment of collagenous tissues for bioprostheses". Biomat. v.18, pp.95-105, l 997.
[7] M. Moczar, J. P. Mazzucotelli, P. Bertrand, M. Ginat, J. Leandri, D. Loisance, "Deterioration of bioprosthetic heart valves". ASAIO J. v. 40, pp.697-701, 1994.
[8] E. Gendler. S. Gendler, M. E. Nimni, "Toxic reactions evoked glutaraldehyde-fixed pericardium and cardiac valve tissue bioprostheses". J. Biomed. Mater. Res. v.18, pp.727-736,1984.
[9] W.M. Me Clurg, S. Rogers, P. V.Lawford, H. Hughes, "Acids hydrolizable aldehydes in longterm storade conunercial bioprosthetic heart valves". Cardiv. Pathol. v.7, pp.233-237, 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Colágeno Aniônico a partir de Serosa Porcina: Características e Preparação de Compósitos com Ramsana como Géis injetáveis.
1Márcio de Paula, 1Virginia Conceição Amaro Martins, 2José Carlos da Silva Trindade 1Gilberto Goissis
1Departamento de Química e Física Molecular IQSC- USP - Av. Dr. Carlos Botelho 1465, São Carlos- CEP 13560-250, SP-Br - Fone (OXX16)273-9961, Fax (OXX16)[email protected], [email protected]
2Departamento de Urologia Faculdade de Medicina, UNESP, Botucatu, São Paulo, SP-Brasil
Resumo - Este trabalho descreve a preparação e a caracterização de géis de colágeno aniônico obtidos de serosa porcina isoladamente ou na forma de compósitos com ramsana, com o propósito de desenvolver géis injetáveis de colágeno. Os materiais foram caracterizados por eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS, espectroscopia de infravermelho, estabilidade térmica, e a detenninação de propriedades viscoelásticas. Os materiais obtidos, independentemente do processamento são formados por colágeno não desnaturado, com preservação da estrutura secundária da proteína e com conteúdos de grupos carboxílicos variáveis entre 218,5±3,5 para colágeno nativo até 334,0±2,5 para os materiais submetidos a 125 horas de hidrólise seletiva de grupos carboxamidas de asparagina e glutamina. Avaliação do viscoelástic, mostrou um melhor comportamento para os géis obtidos após 72 horas de hidrólise com valores de módulo elástico de respectivamente 43 e 48Pa para o colágeno aniônico e na forma de compósito com ramsana. A partir deste material, géis de colágeno de concentração variável entre 2,5 e 4% puderam ser preparados na ausência de glutaraldeído e sem a precipitação de fibrilas. Resultados preliminares realizados com o compósitos colágeno aniônico (72h): ramsana na proporção de 75: 1 mostraram uma reação tecidual compatível com a utilização deste material em correções plásticas.
Palavras-chave: Serosa, colágeno aniônico, ramsana, compósito, módulo elástico.
Abstract This work describes the preparation and characterization of anionic collagen gels from porcine serosa and as composites with rhamsan intended as injectable collagen biomaterials. Materiais were characterized by SDSpolyacrylamide gel electrophoresis, infrared spectroscopy, thermal stability and viscoelastic properties. Independently from processing conditions, the collagen materials described in this work were characterized in all cases by the preservation of protein tripie helix secondary structure, with variable carboxyl group content in the range from 218,5±3,5 (native collagen) to 334,0±2,5 for materiais submitted to 125h hydrolysis due to the selective cleavage of asparagine and glutamine carboxamide groups. Improved viscoelastic behavior was determined in gel samples after 72h of hydrolysis that showed elastic module in the range from 43 a 48Pa for anionic collagen and the anionic collagen:rhamsan composite. With this materiais, collagen gels were prepared in concentration from 2.5 to 4.0% without the need of glutaraldehyde stabilization or microfibril precipitation. Preliminary results with anionic collagen 72h): rhamsan composite with 75:1 ratio (w/w) implanted at the vesical membrane ofrabbits showed that the gels were biocompatible and with a tissue response compatible for plastic reconstruction.
Key-words: Serosa, anionic collagen, rhamsan, composite, elastic module.
Introdução
O colágeno, devido a várias de suas propriedades, dentre elas sua baixa alergenicidade, vem sendo utilizado como matéria prima para a fabricação de biomateriais para uso na medicina e odontologia sob as mais variadas formas 1• Na fonna de géis injetáveis, estes biomateriais são utilizados em correções plásticas em gera!2, na correção da incontinência urinária3
, no aumento das cordas vocais4
• Sua grande vantagem é a eliminação de técnicas c1rurgicas invasivas. Tecnicamente estes géis correspondem a suspensões fibrilares preparadas por fibrilogênese a paiiir de
soluções ácidas de colágeno, com concentrações de 35 mg/mL, onde por problemas de fluidez cerca de 90% do total das microfibrilas presentes devem apresentar diâmetros inferiores a 10µm5
, pois assim apresentam um comportamento viscoelástico, resultante do entrelaçamento das fibrilas, que é importante para facilitar a extrusão pela agulha e manutenção dos contornos necessários frente às pressões resultantes do tecido adjacente pós-implante6. Outra característica importante, é sua biodegradabilidade que é controlada pelo tratamento com glutaraldeído, que introduz as ligações cruzadas via base de Schiff entre os grupos ê-amino das cadeias laterais dos resíduos dos
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
aminoácidos lisina e hidroxilisina, presente na estrutura primária da proteína. Entretanto, na prática estes géis apresenta o inconveniente de precipitação durante extrusão e elevada citotoxidade associada ao glutaraldeído 7•
Os problemas da precipitação durante a extrusão do gel tem sido minimizados pela adição de glicosaminoglicanas (GAGs), um regulador do tamanho das microfibrilas8 ou ácido hialurônico (AH)9
• Os dois polissacarídeos apesar de facilitarem o escoamento8
·9
tem seu uso limitado em função das dificuldades de suas extrações e purificações 10
• Para o caso do AH (Figura la), o mecanismo proposto para a maior facilidade no escoamento de géis de colágeno está baseado na sua fraca interação com o colágeno que confere ao gel uma superficie negativa que inibe o processo de agregação por repulsão eletrostática9
. Com base neste mecanismo de estabilização, a proposta deste trabalho é de desenvolver e caracterizar géis injetáveis de colágeno aniônico na presença de ramsana, um polissacarídeo de origem bacteriana com ação lubrificante (Figura 1 b) em substituição às GAGs e AH, no intervalo de concentração entre 2,5 e 6%. Resultados anteriores obtidos na presença deste polissacarídeo, mostraram que além de boas características de injetabilidade 11
, na forma de membranas se mostrou altamente b. . lp 10compat1ve -.
coo o
H OH
~~ º~~º
H NHCOCH 3
(a)
(b)
n
Figura 1. (a) Estrutura da unidade repetitiva do ácido hialurônico; (b) Estrutura primária de uma das cadeias da dupla hélice da ramsana.
Metodologia
Preparação de Géis de Colágeno Auiônico: o colágeno foi obtido por tratamento de serosa porcina (SP) em meio alcalino 13 por tempos entre O a 125 h. O excesso de sais foram removidos por lavagens com ácido bórico a 3% (3x, 6h), 0,3% EDT A pH 11,0 (3x, 6h) e água deionizada (6x, 2h) seguido da extração com solução de ácido acético pH 3,5. A concentração final
de todas as preparações foram de cerca 1 %, detenninado por liofilização.
Caracterização do Colágeno
Titulação Potenciométrica: amostras de serosa bovina (SB) preparada como descrito acima, cerca de 600 mg foram equilibradas em solução de ácido trifluoroacético, pH 2.0 (0,5molesL-1
) seguido de liofilização. A seguir foram tituladas com solução padrão de NaOH, entre o intervalo de pH entre 2 e 7 para a determinação do grau da hidrólise seletiva de grupos carboxiamidas de Asn e Gln presentes na matriz colagênica original. Os resultados obtidos correspondem à médias de 3 determinações independentes.
Massa Molecular: estas foram determinadas pôr eletroforese em gel Poliacrilamida/SDS 14
, usando-se os géis, para empacotamento de 5% e para separação de 10%. A razão ai/a2 foram determinadas pôr medidas densitométricas após coloração dos géis com Coomassie Blue; em comparação com o padrão conhecido (Collagen 1000, CLR, Germany e Tropocoll, Devro Ltda. USA). Esta caracterização foi feita para os géis submetidos à hidrólise por 72h, antes e após purificação por precipitações e redissoluções sucessivas com soluções tampão de fosfato de sódio pH 7,4 (0,13 molr1
) e ácido acético pH 3,5.
Espectroscopia de /J~fravermelho (iv): espectros de absorção foram obtidos de membranas secas em moldes de Teflon dos géis de colágeno (SP) (0,4 mg/cm2
) em um espectrofotômetro NICOLET 5SXC FT-IR de 400 a 4000 cm- 1
, com resolução de 2 cm-1• As
razões 1235/ 1450 foram determinadas como uma medida da integridade da tripla hélice do colágeno.
Estabilidade Térmica: foram medidas como temperatura de desnaturação (Td) ou temperatura de encolhimento (Ts) em PB (pedaços de tecido), ou em membranas de colágeno de SP secas em moldes de PVC:poliestireno, com concentrações próximas de 4,0 mg/cm2
•
Géis de Colágeuo Aniônico:Ramsana: estes géis foram preparados por adição de soluções de ramsana ao gel de colágeno aniônico, que após homogeneização, foram dialisados contra solução de tampão fosfato O, 13 mol/L (pH 7 ,4) até força iônica constante. O gel resultante foi centrifugado a 17.000 rpm por 120 minutos a 20ºC, e suas concentrações ajustadas entre 2.5 e 6% (em peso) por evaporação da água em atmosfera controlada.
Módulo elástico: foi determinado em um reômetro da TA INSTRUMENTS (modelo AR 1 OOON), usando geometria de placa paralela ( 4 cm de diâmetro) com temperatura de 3 7ºC (sistema Peltier), 1,5mm de "gap", oscilação de "stress" de 0,1 à 80Pa e freqüência angular de 1 Orad/s. Foram utilizados 1 O,OmL de géis de colágeno ou colágeno:ramsana 0,7% (pH 3,5) obtidos por diferentes tempos de hidrólise alcalina.
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
Liofilização: a determinação da concentração da solução de colágeno e dos géis colágeno aniônico:ramsana, foram feitos pela liofilização de 2,00g da solução de colágeno, previamente congeladas em nitrogênio líquido, e colocadas em um liofilizador da EDWARDS modelo FREEZE DRYER, até que as amostras atingissem pesos constantes, sendo esta determinação feita em duplicata.
Resultados e Discussão
A caracterização dos géis de colágeno obtidos por hidrólise alcalina seletiva de grupos carboxamidas de serosa bovina por eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS é mostrada aqui para o gel de 72 horas (Figura 2, aplicação c ). Esta, mostrou que o material antes da purificação, foi caracterizado pela presença das bandas correspondentes às cadeias al e a2, juntamente com contaminantes com massas moleculares bastante variáveis. Embora não mostrado, a técnica densitométrica mostrou que a relação das intensidade entre as cadeias al e a2 foi de 2: 1, como esperado para o colágeno do tipo I, o principal ,. componente da serosa. '. As massas moleculares calculadas foram de 1O1000 Da para cadeia ai e 95000 Da par~ a cadeia a2. Estas massas moleculares foram determinadas a partir de uma curva de calibração obtida pela mobilidade, no mesmo gel, de proteínas com massas moleculares conhecida (Figura 2, aplicação a).
(:li
Figura 2. Gel de eletroforese em poliacrilamida/SDS a 7%. (a) Gel das proteínas utilizadas como padrão (albumina bovina, ovoalbumina, ~galactosidade, anidrase carbônica, miosina); (b) amostra do gel de colágeno aniônico pH 3,5; (e) amostra do gel de colágeno aniônico purificado.
Embora as diferenças em relação à presença de componentes de baixo e elevado peso molecular, os materiais obtidos por tempos de hidrólise diferentes apresentaram características similares aquele aqui descrito para o material submetido a 72h de hidrólise. Grande parte de material contaminante, principalmente aqueles componentes com massas moleculares menores que 100.000 Da, foi removido pela precipitação do gel
285
por adição de NaCl, seguido de solubilização em solução de ácido acético pH 3,5 (Figura 2, aplicação c).
Embora não mostrado, no espectro de infravermelho, as bandas típicas para colágeno foram
observadas em 1652 e 1550 cm·', (amidas I, C=O e NH), e a relação das absorbâncias para as bandas em 1235 e 1450 cm·' foram sempre superiores à unidade, mostrando que a estrutura secundária do colágeno foi preservada. Estas bandas correspondem respectivamente ao estiramento da ligações C-N (amida III), sensível a variações estruturais do colágeno e ao empacotamento do anel pirrolidínico da prolina e hidroxiprolina que não são sensíveis a variações da estrutura secundária da proteína. Para colágeno formatado em meio ácido estas relações são próximas à unidade (forma "swollen") e aumentam até 1,4 para a estrutura fibrilar que se desenvolve a valores de pHs proxnnos da neutralidade16
• Bandas de absorção para a ramsana foram observadas em 1700 e 1200 cm·', correspondentes às ligações ésteres na forma de acetatos 16
•
g 1ií ~ i5 ro ü ()}
"O o X ::> ü:
20 30 40 50 60
Temperatura (ºC)
Figura 3. Calorimetria exploratória diferencial para membranas de colágeno aniônico após 72 horas de hidrólise e na forma de compósito com ramsana na proporção 75:1, formatadas a pH 3,5.
As curvas de estabilidade térmica determinadas por DSC para membranas de colágeno aniônico:ramsana 75:1 em comparação com aquela preparada apenas com o colágeno aniônico nativo, após equilibração a pH 3,5 são mostradas pela Figura 3. Os valores de T d foram de respectivamente 49, 1 e 4 7 ,4 ºC respectivamente e mostram que o processo de hidrólise não desnatura a estrutura secundária do colágeno. No intervalo estudado, matrizes colagênicas desnaturadas não apresentam qualquer transição. Por outro lado, a diferença observada sugere uma interação entre o colágeno aniônico e a ramsana. No intervalo estudado não foi detectada transição para a ramsana devido á sua estabilidade térmica' 5·' 7.
ANAIS DO CBEB'2000
O incremento de grupos carboxílicos introduzidos pela hidrólise seletiva de grupos carboxiamidas de Asn e Gln em SP, determinado dentro do intervalo de pH 2,0 a 7 ,O mostrou em função do tempo do tratamento alcalino, um aumento progressivo no número de grupos tituláveis das matrizes colagênicas, que variou de 229,3 ± 3,5 Eq/mol de colágeno nativo até 345,7± 2,5 Eq/mol de colágeno após 125h de hidrólise (Figura 4).
Os valores esperados para SP nativa e aquele totalmente hidrolisado, assumindo a hidrólise completa dos resíduos são respectivamente 231 e 361 15
. Estes valores foram calculados com base na estrutura primária da molécula de tropocolágeno. Correções para os grupos a-carboxílicos (3 resíduos) e imidazólicos dos resíduos de histidina (pKa = 6,5 18
), dentro do intervalo de pH estudado, resultaram em 218,5±3,5 e 334,0±2,5 grupos tituláveis/mo! de tropocolágeno para PB nativo e após l 25h de tratamento alcalino respectivamente.
360 o e
/~ ~ 340 ,g> õ u 320 õ :E ;;;
300 ·~ > ·ro ]
280 ;::
"' 8. 260 " r " ~ "O 240
~ ?z
220
o 20 40 60 80 100 120 140
Tempo de Hidrólise (h)
Figura 4. Variação do número de grupos carboxílicos em serosa porcina em função do tempo de hidrólise seletiva de grupos carboxiamidas de asparaginas e glutaminas internas.
Esses valores correspondem a um aumento real líquido de 116 grupos tituláveis para material tratado,
1· comparado com o valor esperado de 130 ° para a SP, mostrando que após este período, a maioria dos grupos carboxiamidas de Asn e Gln presentes no PB foram completamente hidrolisados a grupos carboxílicos, com a extensão da hidrólise controlada pelo tempo da reação (Figura 4).
O módulo elástico de géis de colágeno obtidos a partir de SP tratada por diferentes tempos de hidrólise e em associação ou não com ramsana na proporção de 75:1 (Figura 5), foram determinadas para avaliação preliminar das propriedades viscoelásticas dos diferentes tipos de géis. Como mostram os resultados da Figura 5a, as regiões de comportamento viscoelástico são mais evidentes para géis submetidos a tempos de hidrólise de 72h, com valores de 43 a 48Pa, e com melhor comportamento viscoelástico observado na presença de ramsana (figura 5b ). Embora não mostrado, para o tempo de hidrólise de 48h não foi detectada qualquer região de comportamento linear para o módulo
elástico (G'). A partir deste material, géis de colágeno com concentrações variáveis entre 2,5 e 4,0% puderam ser preparados sem a necessidade de estabilização com glutaraldeído e sem a precipitação de fibrilas.
2.0
1,8
1,6
1.4
1,2
1,0
ê!J 0,8
e;; 0,6 .Q
0.4
0,2
o.o -0,2
-0,4
-0,6
1,8
1,6
1.4
1.2
1,0
G' 0,8
ãí 0,6
.Q º" 0.2
o.o -0.2
-0,4
-0.6 -1,0
-1,0
_,,._ logG'24h -<>-logG'48h
logG'72h ......-1ogG'96h
JogG'ransana
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
-m-24h -•-48h
;; ,, 72h -"l-96h
log(%strain)
(a)
-0,5 o.o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
log (%Strain)
(b)
Figura 5 .. Avaliação do comportamento viscoelástico de materiais de colágeno. (a) colágeno aniônico em função do tempo de hidrólise; (b) idem, na forma de compósitos com ramsana na proporção de 75:l(m/m)
Figura 6. Compósito colágeno aniônico:ramsana 75:1, concentração do gel 2.5% (m/m). (a) ilustração do implante na membrana vesical
ANAIS DO CBEB'2000 Biomateriais
de coelho; (b): formação de pseudo-cápsula após 120 dias do implante. H.E, 200x.
Os resultados para géis de colágeno amonico:ramsana a 2.5% injetados na membrana vesical de coelhos (Figura 6) mostraram que 30% dos implantes após 120 dias foram caracterizados por intensa fibrose ou formação de pseudo cápsula, que são eventos mais convenientes para o caso de efeitos plástico do que cicatrizes hipertróficas. Uma observação técnica foi que sob condições práticas de cirurgia normal, este gel escoa com facilidade através da agulha.
Conclusão
Os materiais obtidos independentemente do processamento, são formados por colágeno não desnaturado, com preservação da estrutura secundária da proteína e com conteúdos de grupos carboxílicos variáveis entre 218,5±3,5 para colágeno nativo até 334,0±2,5 para materiais submetidos a 125 horas de hidrólise seletiva de grupos carboxamidas de Asn e Gln.
Os ensaios reológicos, mostrou um melhor comportamento para os géis obtidos após 72 horas de hidrólise com valores de módulo elástico de respectivamente 43 a 48Pa para o colágeno aniônico e na forma de compósito com ramsana. Este resultado está de acordo com aquele de análise térmica que sugere a ocorrência de uma interação entre o colágeno e a ramsana. A partir deste material, géis de colágeno de concentração variável entre 2,5 e 4% puderam ser preparados na ausência de glutaraldeído e sem a precipitação de fibrilas. Resultados preliminares realizados com o compósito colágeno aniônico (72h): ramsana na proporção de 75: 1 mostraram uma reação tecidual compatível com a utilização deste material em correções plásticas.
Agradecimentos
A Ézer Biazin e Glauco D. Broch pela assistência técnica prestada e á F APESP pelo apoio financeiro (PROC. nº 97 /04558-1) a este projeto. Márcio de Paula é Bolsista F APESP no programa de Pós-graduação do Instituto de Química de São Carlos.
Referências
[l] K.P.Rao, K.T.Joseph, "Collagen graft copolymers and their biomadical applications". Collagen: Biatecnalogy. CRC Press, v.3, pp. 63-65, 1988.
[2] E.N.Kaplan, "Clinicai utilization of injectable collagen". Ann. Plast. Surg., v.10, pp.437-51, 1983.
[3] M.P.Leonard, "Endoscopic injection of glutaraldehyde cross-linked bovine dermal collagen for correction of vesicoureteral reflux". J. Ural., v.145, pp.115-19, 1991.
[4] C.N.Ford. "Injectable collagen in laryngeal reabilitation". Lmynag", v. 94, pp.513-18, 1984.
287
[5] J.M. McPherson, D.G.Wallace, "Collagen fibril formation in vitro: a characterization of fibril quality as a function of assembly aondictions". Coll. Rei. Res., v.5, pp. 119, 1985.
[6] D.G. Wallace, et. ai. "Injectable Collagen for tissue augmentation". Callagen Biachemist1y an Molecular Bialogy. M. Nimni, CRC Press, Boca Raton, v.3, 1987.
[7] J.M. McPherson, et. ai. "An Examination of the biological response to injectable glutaraldehyde cross-linked collagen implants". J. Biamed. Mater. Res., v. 20, pp. 79-92, 1986.
[8] G.C. Wood, "Formation of fibrils from collagen solutions". Biachem. J., v. 75, pp.598-605, 1960.
[9] B. O'Brink, "The influence of glycosaminoglycans on the formation of fibers from monomeric tropocollagen in vitra". Eur. J. Biachem"' v. 34, pp. 129, 1973.
[10] V. Crescenzi, "Polysaccharide science and technology: development and trends". TR!P, v. 23, pp.104-109, 1994.
[11] J. C. G. Ferreira, "Géis injetáveis de colágeno:ramsana: Caracterização e Aplicação". São Carlos,. Tese (Dautarado)-Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo,pp. l 03, 1990.
[ 12] G. Goissis et ai. "Biocompatibility studies of anionic collagen membranes with different degree of glutaraldehyde cross-linking". Biamat., vol. 20, pp. 27-34, 1999.
[13] G. Goissis,. C. M. Moriaky, "Processo de solubilização de tecido conjuntivo na presença de dimetilsulfóxido e concentração salina variável". Patente Industrial, n. 9.000.972, 1990.
[ 14] U.K. Laemmli, "Clevage of structural proteins during the assembly of the head of bactereophage T4.Na~,v.227,p.680, 1970
[15] G.N.Ramachandran,., Treatise on Callagen, London, Acad. Press, v. 1,1967.
[ 16] P .L. Gordon,.,et.al. "The far infrared spectrum of collagen". Macromalecules, v.7, p.954-56, 1974.
[ 17] S. P. Campana, "Contribuição ao estudo da relação estrutura/propriedade em polissacarídeos bacterianos: Estudos físico-químicos e viscosimétricos com welana e ramsana". Tese (Dautarada)-Instituto de química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1990.
[ 18] H.R.Mahller,E.H.Cordes, "Bialogical Chemisfly "; Harper and Row Publishers; New York; p 87, 1996.
ANAIS DO CBEB'2000
Biomateriais
Dispositivos de Assistência Ventricular: Uso do Pericárdio Bovino no Revestimento da Câmara de Sangue
Sergio A. Hayashida 1, Oliver Hollbemd2
, M. de Lourdes L. Silva3, Marina J. S. Maizato4
,
ldágene A. Cestari5, Adolfo A. Leimer6
, Klaus A. Affeld7
I.3
A·5•6Centro de Tecnologia Biomédica InCor HC-FMUSP, SP,
Instituto do Coração (InCor), HC-FMUSP, São Paulo, Brasil, 05403-000 Fone (OXXl 1)3069-5240, Fax (OXXI 1)3069-5529
2•7Laboratório de Biofluidodinâmica, Humboldt University, Berlim, Alemanha
[email protected], [email protected]
Resumo - Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de um dispositivo de assistência ventricular (DA V) pulsátil implantável, cuja câmara de sangue é revestida com pericárdio bovino. A utilização deste material tem por objetivo melhorar a biocompatibilidade da superficie interna do DA V, que fica em contato com o sangue. Para o uso como revestimento, o pericárdio foi tratado com glutaraldeído e moldado na geometria do DA V. O desempenho do DAV foi avaliado dinamicamente em simulador hidráulico do sistema arterial, tendo fornecido débito máximo de 6 L/min., compatível com os níveis de assistência requeridos clinicamente.
Palavras-chave: Pericárdio Bovino, Assistência Ventricular, Biocompatibilidade
Abstract - ln this work, we present the development of an implantable pulsatile Ventricular Assist Device (VAD) with a pericardium-lined blood chamber. The use of this biological material is expected to improve biocompatibility of the blood contacting surface of the VAD. To be used as an inner lining, the bovine pericardium was treated with glutaraldehyde and molded according to the blood chamber geometry. The performance of the V AD was evaluated dynamically using a hydraulic simulator of the arterial system providing a maximum flow of 6 L/min. compatible with the required flow for its clinicai use.
Key-words: Bovine Pericardium, Ventricular Assistance, Biocompatibility.
Introdução
Um dos principais problemas na aplicação clínica de assistência circulatória mecânica a longo prazo são as complicações trombo-embólicas. Estas são causadas por um fluxo não ótimo dentro da bomba sangüínea e pelo contato do sangue com materiais poliméricos sintéticos. O fluxo pode ser melhorado com a utilização de métodos modernos da mecânica dos fluidos, mas ainda não temos disponível um material sintético não trombogênico e não hemolítico 1
• O pericárdio bovino tratado qunmcamente com glutaraldeído tem uma estrutura que se assemelha à parede do vaso sangüíneo natural e tem sido utilizado por muitos anos na confecção de válvulas cardíacas com bom desempenho clínico2
. Este material não requer o uso de anticoagulantes e apresenta alta resistência mecânica. Estas propriedades possibilitam sua aplicação em próteses valvares cardíacas e enxertos para uso cirúrgico. Estas considerações sugerem a possibilidade de sua utilização em dispositivos de assistência ventricular (DA V) pulsáteis, no revestimento de superficies que ficam em contato com o sangue3
.
O DA V desenvolvido e apresentado neste trabalho foi construído a partir de 2 calotas simétricas
288
compostas por uma estrutura rígida externa de baixo perfil de cloreto de polivinila (PVC) e uma parte deformável (membrana flexível de poliuretano). O espaço entre a estrutura rígida e a membrana flexível de cada metade forma uma câmara de ar, onde é aplicado o pulso de pressão. As câmaras pneumáticas são ligadas ao sistema de controle e acionamento através de tubos flexíveis. A câmara sangüínea foi formada pela união das 2 calotas revestidas internamente com pericárdio bovino moldado. Esta câmara apresenta 2 aberturas com diâmetros de 20 mm para conexão das cânulas de entrada e saída de sangue confeccionadas com silicone. Foram utilizadas válvulas de pericárdio bovino semelhantes às utilizadas na prática clínica, com o anel adaptado para sua colocação nas cânulas.
Metodologia
Revestimento: Para a obtenção de membranas de pericárdio com geometria compatível com a das calotas externas do dispositivo, o pericárdio fresco foi tratado e fixado em um molde metálico.
A fixação das 2 calotas rígidas externas com as membranas flexíveis de poliuretano revestidas
ANAIS DO CBEB'2000
Biomateriais
internamente com pericárdio (Fig. 1 ), foi feita através de uma moldura metálica, flanges e parafusos.
Testes estáticos: Para avaliarmos os efeitos da fixação do pericárdio sob pressão da flange foram testadas amostras de pericárdio bovino, anteriormente expostas a diferentes níveis de pressão, através de ensaios de tração4 subseqüentes. Os ensaios foram realizados de acordo com a Norma ASTM D6338-90, com um equipamento de ensaios mecânicos lZratos 5002, com uma célula de carga de 100 kgf, com corpos de prova Tipo V.
Foram realizados ensaios "in vitro" para a verificação da vedação da câmara sangüínea revestida com o pericárdio com pressões de até 300 mmHg.
Testes dinâmicos: O dispositivo foi montado num sistema de ensaios confonne ilustrado na Figura 2, para a realização dos testes de desempenho. Os testes dinâmicos foram realizados pela conexão do dispositivo a um propulsor eletropneumático desenvolvido em nossos laboratórios5
·6
. O desempenho hidrodinâmico do protótipo desenvolvido foi realizado num circuito hidráulico, que é um modelo simplificado do sistema cardiovascular sistêmico, apresentado na Figura 2. Consiste basicamente de 3 câmaras construídas em acrílico, ligadas por uma tubulação flexível de PVC dotada com registros hidráulicos. A câmara a1terial é fechada com um volume total compartilhado entre o fluido bombeado e um volume de ar variável. Simula a complacência do leito arterial sistêmico e recebe o fluxo do DA V. A complacência pode ser variada alterando-se o volume de ar contido na câmara. A pressão gerada na câmara arterial impulsiona o fluido através da tubulação até uma câmara auxiliar aberta para a atmosfera e a seguir para uma terceira câmara fechada com um uma membrana complacente que simula a câmara atrial esquerda. A tubulação que liga as câmaras possui um registro que varia sua resistência ao fluxo. A seção transversal do registro e a resistência intrínseca da tubulação definem o equivalente à resistência periférica circulatória. Um segundo registro está localizado entre a câmara auxiliar e a câmara atrial esquerda que permite variar a pressão da última.
Resultados
A Figura 1 mostra as 2 calotas que compõem o compartimento sangüíneo revestidas com o pericárdio bovino e os 2 anéis moldados com o mesmo material, que foram utilizados na fixação das biopróteses valvares.
Os ensaios de tração estática realizados nas amostras de pericárdio submetidas à diferentes pressões não demonstraram diferenças significativas na tensão de ruptura (teste de Kruskal-Wallis para amostras não paramétricas com a= 5%), em relação às várias pressões e também ao material não pressionado. Não foram detectados vazamentos durante os testes estáticos ou dinâmicos, realizados sob condições de fluxo e pressão semelhantes às fisiológicas.
289
Figura 1 - Anéis e calotas revestidas com pericárdio
bovino moldado
Figura 2 - DA V implantável ligado ao simulador hidráulico do sistema circulatório
As curvas de desempenho hidrodinâmico do protótipo desenvolvido, utilizando-se um sistema automático ("full to empty") do propulsor pneumático, estão apresentadas na Figura 3. O fluxo versus pré-carga foi obtido variando-se a pressão de enchimento interna da prótese com a utilização de pressão auxiliar de -1 O e -20 mm contra uma póscarga fixa de 100 mm Hg.
1000....-~~~~~-....~~~~~~-,--~~~~~-,
6000
<: 5000
~ 4000 .§. o 3000 X ::J ü: 2000
1000
o - - - - -
o
- - - - -, -- ,- -, - - - - - --,- - - - - - - - -, - - - - - -
5 10
Pré-Carga (mmHg)
+ Pressão = OmmHg 111 Pressão = -10mmHg "- Pressão = -20mmHg
15
Figura 3 - Desempenho hidrodinâmico: Fluxo do DA V em função da pré-carga
ANAIS DO CBEB'2000
Biomateriais
Discussão e Conclusões
O pericárdio bovino é constituído basicamente por fibras colágenas; não apresenta espessura homogênea e não é um material isotrópico. Sua utilização em próteses valvares cardíacas não é afetada por estas características pois são empregadas peças pequenas que podem ser selecionadas de maneira adequada. No entanto, com a utilização de placas maiores, advirão deformações irregulares e imprevisíveis. Ao usarmos o pericárdio, não como constituinte de uma bolsa de sangue, como já foi tentado3
, mas sim como revestimento de uma membrana flexível de poliuretano, este comportamento pode ser evitado.
Na Figura 3 podemos observar que com uma pressão de enchimento "atrial" de 1 O mmHg, o dispositivo desenvolvido é capaz de fornecer um fluxo acima de 4,5 L/min, mesmo sem o auxílio de pressão negativa interna. Este desempenho é adequado para a assistência temporária e é similar ao obtido por um DA V pneumático paracorpóreo já disponível para uso clínico5
'6.7.
Os ensaios de durabilidade deixam antever a adequação do dispositivo a suportes circulatórios de duração média.
Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da utilização do pericárdio bovino no revestimento interno das superficies que entram em contato com o sangue nos dispositivos de assistência circulatória. Considerando-se a alta resistência mecânica e baixa trombogenicidade do pericárdio, espera-se que sua utilização melhore o desempenho dos DAV, reduzindo as complicações relacionadas a coagulação e sangramento 8•
290
Agradecimentos
Este trabalho teve o apoio financeiro da CAPES e Fundação E. J. Zerbini.
Referências
[ 1] K. Affeld, Andreas Ziemann, & Leonid Goubergrits, "Technical obstacles on the road towards a permanent left ventricular assist <levice'', Heart Vessels, Suppl. 12, pp. 28-30, 1997.
[2] L. C. Pelletier, M. Carrier, Y. Leclerc, 1. Dyrda, "The Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis: Clinica! experience with 600 patients", Ann. Thorac. Surg., vol. 60, pp. S297-302, 1995.
[3] D. Chatel, "Concept of totally biological internai coating for newly shaped artificial ventricles", Artif Organs, vol. 20(7), pp. 814-817, 1996.
[ 4] Annual Book o.f ASTM Standards, D638-90 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, pp. 157-168, 1995.
[5] M. S. Oshiro, S. A. Hayashida, A.A. Leirner, A. D. Jatene, "Sistema de acionamento pneumático, controle e monitorização em dispositivos de assistência ventricular", Revista Bras. de Engenharia, vol. 6, pp. 8-11, 1990.
[6] M. S. Oshiro, S. A. Hayashida et al., "Design, manufacturing, and testing of a paracorporeal pulsatile ventricular assist <levice: São Paulo Heart Institute V AD", Artif. Organs, vol 19(3), pp. 274-279, 1995.
[7] 1. A. Cestari, S. A. Hayashida et al., "Avaliação do desempenho in vivo do Dispositivo de Assistência Ventricular (DA V) InCor", Anais do IV Fórum de Ciência e Tecnologia em Saúde, pp. 395-6, 1998.
[8] S. J. Quaal, Cardiac Mechanical Assistance Beyond Ballon Pumping, USA: Mosby-Year Book, Inc., 1993.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação do Risco de Produtos Médicos
Cezar Luciano C. de Oliveira1
1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária Gerência Geral de Correlatos
Fone: (OXX61) 448-1063, Fax: (OXX61) 448-1031 [email protected]
Resumo - A diversidade de produtos médicos, conduziu diversos países a incluirem em suas legislações sanitárias classificações destes produtos conforme seu potencial risco à saúde de pacientes, usuários ou outras pessoas, visando adotar um controle sanitário diferenciado, segundo este risco. Estas classificações, baseadas no princípio tecnológico e na aplicação do produto, possibilitam identificar os fatores de risco associados a cada grupo de produtos médicos, que por sua vez são referência para indicar os Requisitos Essenciais [ 1] para segurança de pacientes, usuários ou outras pessoas, auxiliado as autoridades sanitárias na avaliação do risco destes produtos, a partir de informações apresentadas por seus fornecedores (fabricantes ou importadores). Neste sentido, os países que compõem o Mercosul vem harmonizando suas legislações sanitárias, utilizando como referência as recomendações internacionais do Grupo de Estudos Ida "Global Harmonization Task Force" [2].
Palavras Chave: produtos médicos, classificação de risco, fator de risco, avaliação do risco.
Abstract The diversity of medical <levices, guided many countries to include in their health legislation, classifications about these <levices in accordance with the potential risk to the health of patients, users or other persons, looking at the sanitary contrai corresponding to the risk. These classifications based on the <levice technology and its use, make possible to identify the risk factors associated to each group of medical <levices. These factors are references to indicate the Essential Requirements [l] to assure the safety of patients, users or other persons and help the responsible authorities in the risk assessment of these products, based on the informations presented by the suppliers. ln this way, the Mercosul coutries are developing a united health legislation, using as reference the international recomendations of the "Global Harmonization Task Force Study Group I " [2].
Key-words: medical <levices, risk classification, risk factor, risk assessment.
Abrangência da Avaliação de Risco
Os materiais, artigos e equipamentos de uso médico, odontológico e laboratorial, constituem o conjunto de produtos médicos abrangidos pela legislação sanitária e sob controle das respectivas autoridades sanitárias em todos países.
Para realização deste controle estas autoridades adotam modelos para garantir a segurança e qualidade destes produtos às suas populações, constituídos dos seguintes componentes:
a) Sistema da qualidade da produção (Boas práticas de Fabricação - BPF);
b) Pesquisa clínica do produto realizada com seres humanos;
c) Regulamentos e normas técnicas, contendo prescrições para segurança e qualidade do produto;
d) Registro da empresa fornecedora e de seus produtos na autoridade sanitária competente.
Dado a diversidade dos produtos médicos, com mais de 4000 itens diferentes, diversos países tem adotado em suas legislações sanitárias, classificações destes produtos segundo o potencial risco à saúde de suas populações, incluindo o "Food and Drug Administration - FDA" dos Estados Unidos da América (EUA), em seu " Code of Federal Regulations" [3], os
países da União Européia, conforme a Directiva 93/42/CEE [4] e mais recentemente o esforço de harmonização para adotar uma classificação internacional, realizada pelo Grupo de Estudos I da " Global Harmonization Task Force"[2].
Deste modo, quanto maior o potencial risco do produto, mais estritos são os requisitos dos componentes do modelo. Assim sendo, a aplicação correta do modelo dependerá da avaliação exata do risco do produto, sob pena de exercer um controle menos rigoroso a produtos de significativo risco à saúde ou aplicar um controle rígido a produtos de menor risco, onerando a infraestrutura sanitária.
Neste contexto, os países que compõem o Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vem harmonizando desde 1994 o conteúdo dos componentes do modelo a ser por eles aplicados aos produtos médicos, adotando como referência para classificação e avaliação de risco, os requisitos recomendados pela "Global Harmonization Task Force" [2], compatíveis com a Directiva 93/42/CEE [4] da União Européia.
Neste sentido, foram aprovadas no Mercosul a Resolução GMC n.º 72/98 [!], que dispõe sobre os "Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos" e a Resolução GMC n.º 37/96 [5], que classifica estes produtos conforme seu potencial
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
risco à saúde e prevê as informações a serem apresentadas à autoridade sanitária, para que esta possa avaliar o risco dos produtos, visando a aplicação correta do modelo e o adequado controle sanitário.
Classificação de Risco
Qualquer classificação de risco adotada pela legislação sanitária, utiliza como referência para sua aplicação dois componentes:
a) o conteúdo tecnológico do produto, incluindo seu princípio de funcionamento; e
b) o uso ou aplicação a que se destina o produto. Com base nestes dois componentes, os países
que compõem o Mercosul, classificaram os produtos médicos em 4 tipos:
1. Produtos médicos não-invasivos - produtos que não tem contato com o paciente ou contata apenas a pele intacta ou superficialmente ferida.
2. Produtos médicos-invasivos - produtos que penetram total ou parcialmente dentro do corpo humano, seja através de orificio do corpo ou através da superficie corporal por meio ou no contexto de uma intervenção cirúrgica.
3. Produtos médicos ativos - produtos cujo funcionamento depende de fonte de energia elétrica ou qualquer outra fonte de potência distinta da gerada pelo corpo humano ou gravidade e que funciona pela conversão desta energia .
4. Produtos médicos especiais - produtos com características tecnológicas e de aplicação particulares,
Tipo de Produtos
Produtos Médicos Não-Invasivos
Regra 1
Regra 2
Regra 3
Regra 4
tais como preservativos, soluções de limpeza e desinfecção e produtos que utilizam tecidos de origem animal, entre outros.
Para estes 4 tipos de produtos médicos estão associados 18 regras que subdividem estes produtos em 51 grupos, conforme exemplificado nas Figuras 1 e 2, enquadrados conforme suas características tecnológicas e de aplicação, em uma das 4 classes de risco, especificamente:
a) Classe I - produto médico de baixo risco; b) Classe II- produto médico de médio risco; c) Classe III - produto médico de alto risco; d) Classe IV - produto médico de máximo risco.
Fatores de Risco
Conforme comentado no item anterior (Classificação de Risco), cada grupo de produtos médicos possui características tecnológicas e de aplicação particulares, às quais estão associados fatores de risco.
Assim sendo, se pegarmos o exemplo da Figura 2, identificamos que um "produto médico cirurgicamente invasivo de curto prazo (menos de 30 dias de uso contínuo) que produz efeito biológico ou é absolvido pelo organismo", tal como um "fio para sutura cirúrgica", possui como principais fatores de risco a ele associado, a toxicidade, biocompatibilidade e esterilidade. Este raciocínio é extensivo a todos os 51 grupos de produtos, a cada qual podem ser associados fatores de risco, conforme exemplificado na Figura 3.
Grupo 1 Classe
Grupo 2.1 Classe
Grupo 2.2 Classe
Grupo 3.1 Classe
Grupo 3.2 Classe
Grupo 4.1 Classe
Grupo 4.2 Classe
Grupo 4.3 Classe
Figura 1 - Esquema do enquadramento dos produtos médicos não invasivos.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
REGRA GRUPO DE PRODUTOS CLASSE
que fornece energia na forma de radiações ionizantes
que produz efeito biolifogi$l(D!CIDU é absorvidael~w.--1 p g
que sofre alterações químicas no organismo ou administra medicamentos
Regra 7
Tecnologia cirurgicamente invasiva de curto prazo (menos
de 30 dias de uso contínuo)
em contato direto com o sistema nervoso central
para diagnóstico, monitoração ou correção de disfunção cardíaca ou do sistema circulatório central, em contato direto
Figura 2 - Classificação de risco de produtos médicos invasivos enquadrados na Regra 7.
Cabe lembrar que como cada grupo de produtos médicos é constituído por vários produtos, pode ocorrer que algum fator de risco identificado não esteja associado a algum produto do grupo, uma vez que esta é uma relação exaustiva, conforme as características tecnológicas e de aplicação dos produtos do grupo.
De modo geral, identificamos 20 fatores de risco que devem ser considerados na avaliação de risco de um produto médico, conforme sua tecnologia e aplicação, a seguir resumidos:
1. Toxicidade; 2. Flamabilidade; 3. Biocompatibilidade; 4. Contaminantes residuais; 5. Incompatibilidade com outros materiais,
substâncias e gases; 6. Infecção e contaminação microbiana
(esterilidade); 7. Incompatibilidade de conexão e combinação
com outros produtos; 8. Instabilidade e limitações de características
tisicas e ergonômicas; 9. Sensibilidade a condições ambientais
(temperatura, pressão, campos eletromagnéticos); 1 O. Interferência recíproca com outros produtos; 11. Deterioração por envelhecimento
(manutenção e calibração); 12. Imprecisão ou instabilidade de medida;
13. Características das radiações emitidas pelo produto;
14. Controle das radiações, energias ou substâncias administradas pelo produto;
15. Proteção a radiações, energias ou substâncias administradas;
16. Inteligibilidade das informações aos usuários; 17. Repetibilidade e confiabilidade de sistemas
programáveis; 18. Garantia de fonte de energia para
funcionamento; 19. Adequabilidade de alarmes para alertar
disfunções; 20. Suscetibilidade a choques elétricos. Ainda, cabe destacar que um mesmo fator de
risco pode estar associado a diferentes produtos médicos, entretanto, este fator será tão mais crítico quanto mais elevada for a classe de risco do produto.
Requisitos Essenciais de Segurança
Uma vez identificados os fatores de risco associados a detem1inado produto médico, o próximo passo é selecionar os Requisitos Essenciais aplicáveis a este produto para garantir o seu uso seguro e eficaz.
Estes Requisitos estão estabelecidos na Resolução GMC n.º 72/98 [l] e orientam o fornecedor do produto médico quanto aos cuidados a adotar em seu
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
projeto e fabricação para que os fatores de nsco associados ao produto, nao ocas10nem danos a saúde.
FATORES DE RISCO
• Interferência recíproca com outros produtos
• Incompatibilidade de conexão e combinação com outros produtos
• Instabilidade e limitações de - de forma potencialmente -perigosa ao organismo características físicas e ergonómicas
Regra 9 • Deterioração por envelhecimento (manutenção e calibração)
• Características das energias emitidas Tecnologia ativa
para terapia através de administração ou • Controle das energias emitidas
troca de energia • Proteção às energias emitidas
- gerada por radiações - • Inteligibilidade das informações aos usuários ionizantes
• Repetibilidade e confiabilidade de sistemas programáveis
• Adequabilidade de alarmes para alertar disfunções
• Incompatibilidade de conexão e
............ ,,
tecnologia ativa destinada a controlar ou monitorar
tecnologias ativas da Classe III
combinação com outros produtos • Interferência recíproca com outros
- produtos • Deterioração por envelhecimento
(manutenção e calibração) • Sensibilidade a condições ambientais • Imprecisão ou instabilidade de medida
Figura 3 - Fatores de risco associados a produtos médicos ativos enquadrados na regra 9.
Ainda, cabe destacar que como os Requisitos Essenciais estão relacionados à classificação dos produtos médicos e aos fatores de risco a eles associados, estes foram agrupados em Requisitos relativos a (item da Resolução):
a) Propriedades Químicas, Físicas e Biológicas (item 7);
b) Infecção e Contaminação Microbiana (item 8); c) Propriedades Relativas a Fabricação e ao Meio
Ambiente (item 9); d) Produtos Médicos com Função de Medição
(item 10); e) Proteção Contra Radiações (item 11 ); f) Produtos Médicos Conectados ou Equipados
com uma Fonte de Energia (item 12). Assim sendo, utilizado o exemplo da Figura 3,
observamos que a um "produto médico ativo para terapia através de administração ou troca de energia", são aplicáveis os itens 11 e 12 da referida Resolução, especificamente para os fatores de risco identificados, os Requisitos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.6, 12.7.1, 12.7.4, 12.8.1, 12.8.2 e 12.9, alguns dos quais transcrevemos a seguir para ilustração:
11.1. Os produtos médicos devem ser projetados e fabricados de forma que se reduza ao mínimo, compatível com a finalidade esperada, qualquer
296
exposição dos pacientes ou consumidores, operadores e outras pessoas às radiações, sem que isto limite a aplicação dos níveis adequados indicados para fins terapêuticos ou diagnósticos.
11.2.2. Quando os produtos médicos forem destinados a emitir radiações potencialmente perigosas, visíveis e/ou invisíveis, devem estar equipados de indicadores visuais e/ou sonoros que sinalizem a emissão da radiação.
11.3. Os produtos médicos devem ser projetados e fabricados de fonna que se reduza ao mínimo possível a exposição de paciente ou consumidores, de operadores e outras pessoas à emissão de radiações não intencionais, parasitas ou dispersas.
12.8.1. O projeto e a fabricação de produtos médicos destinados a fornecer energia ou substâncias ao paciente ou consumidor, devem ser tais que o fluxo possa ser regulado e mantido com precisão suficiente para garantir a segurança do paciente ou consumidor e do operador.
12.9. A função dos controles e indicadores deve estar indicada claramente nos produtos médicos.
Procedimentos de Avaliação de Risco
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
A avaliação do risco de um produto médico pela autoridade sanitária competente, dependerá desta dispor das informações necessárias e suficientes sobre o produto, que comprovem sua conformidade aos Requisitos Essenciais a ele aplicáveis.
Estas informações são aquelas previstas para a concessão da autorização de funcionamento do fornecedor e do registro de seu produto, particularmente:
a) a comprovação de adoção das prescrições das Boas Práticas de Fabricação BPF;
b) as evidências científicas de segurança e eficácia do produto, obtidas a partir de pesquisas clínicas realizadas com o produto;
c) a comprovação da conformidade do produto com os requisitos de segurança e qualidade sanitária estabelecidos em regulamentos e normas técnicas;
d) as informações sobre o produto, descritas em seu rótulo e instruções de uso (manuais).
Assim sendo, a criteriosa análise destas informações, para verificar o cumprimento dos Requisitos Essenciais aplicáveis ao produto médico, constitui a avaliação de risco que possibilita garantir a segurança e qualidade sanitária necessária para uso do produto médico pela população.
A crítica entre a coerência do conteúdo destas informações e as exigências dos Requisitos Essenciais aplicáveis ao produto médico conforme seu Grupo de enquadramento e Classe de risco, constitui objeto de trabalho a ser desenvolvido.
Referências Bibliográficas
[l] Grupo do Mercado Comum - Mercosul. Resolução GMC n.º 72/98, relativa a Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos.1998.
[2] Global Hannonization Task Force. Recomendation on Medical Devices Classification, Study Group I.GHTF.SGJ.N015R4. Jan. 1999.
[3] Food and Drug Administration - FDA. Code of Federal Regulations.Title 21, Parts 800 1299.1999.
[4] Conselho das Comunidades Européias. Directiva 93/42/CEE, relativa aos Dispositivos Médicos (Medical Devices).Jornal Oficial das Comunidades Européias, n.º L 169, 12/07/93. p. 1-43.1993.
[5] Grupo do Mercado Comum - Mercosul. Resolução GMC n.º 37/96, relativa a Registro de Produtos Médicos. 1996.
297
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Testes de Controle de Qualidade em Equipamentos de Angiografia por Subtração Digital - Resultados Preliminares
Lammoglia, P. 1; Furquim, T.A.C.2
; Costa, P.R. 3; Caldas, L.V.E.4
I.4 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN) C.P. 11049- 05422-9970 - São Paulo - SP -Brasil 1.
23Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE/USP) Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - 05508-900 - São Paulo - SP -Brasil
lamoglia@iee. usp. br; tfurquim@iee. usp. br; [email protected]; [email protected]
Resumo - Para a obtenção do melhor diagnóstico clínico em exames radiológicos, é necessário um controle adequado dos parâmetros que afetam a qualidade da imagem. Isto é possível com a implementação de um Programa de Controle de Qualidade (PCQ). Em departamentos que utilizam sistemas de Angiografia por Subtração Digital (ASD), a implementação desse tipo de programa é essencial, devido às altas doses aplicadas aos pacientes e ao corpo clínico envolvido e também devido à grande invasibilidade dos exames e a probabilidade de ocorrência de reações nos pacientes. Este trabalho mostra o desenvolvimento de testes de Controle de Qualidade em equipamentos de ASD. Estes testes são baseados em normas internacionais e podem avaliar estes equipamentos em termos de sua resolução espacial, desempenho em baixo contraste, linearidade, artefatos de subtração e taxa de kerma no ar. Para a realização destes testes, foram utilizados simuladores não-invasivos de pacientes e uma câmara de ionização. Estes simuladores representam situações clínicas, garantindo uma avaliação individual dos componentes do sistema de ASD.
Palavras-chave: Angiografia por Subtração Digital, Controle de Qualidade, Fluoroscopia, simulador
Abstract - ln order to obtain the greatest clinicai value in radiological exams an adequated contrai of factors which affect the image quality is necessary. This is possible with the implementation of a Quality Control Program (QCP). ln diagnostic image departments that make use of Digital Subtraction Angiography (DSA) systems, this kind of control is essential due to the high radiation doses applied to patients and staff, and due to the invasives exams. This work presents an overview of the developed Quality Control tests in DSA equipments. These tests are based on international standards and they can evaluate the performance of DSA systems in terms of its spatial resolution, low-contrast detail identification, contrast linearity, subtraction artifacts and kerma in air rate. An ionization chamber and non-invasive tissue-equivalent plastic phantoms were used. These phantoms simulate clinicai situations, allowing the evaluation of individual components ofthe DSA system.
Key-words: Digital Subtraction Angiography, Quality Control Program, Fluoroscopy; Phantom
Introdução
A Angiografia por Subtração Digital (ASD) é uma das técnicas de fluoroscopia digital mais amplamente utilizadas atualmente. Nesta técnica, quando uma patologia é suspeitada (estenose, aneurisma, ulceração, calcificação, etc), um catéter é introduzido na artéria femoral do paciente e segue até a região de interesse[I1. Uma imagem fluoroscópica é obtida a partir do sinal do Intensificador de Imagens (II), digitalizada e armazenada no computador (máscara). Imediatamente depois, é injetado um agente de contraste e uma nova imagem é obtida. As duas imagens diferem uma da outra somente pelo material de contraste presente na segunda imagem. Uma imagem é então subtraída da outra ponto por ponto (pixel por pixel), e o resultado disso é uma clara definição das estruturas dos vasos sanguíneos, sendo que toda a informação desnecessária é desprezada.
Por ser uma técnica invasiva, capaz de causar reações no paciente e ainda por utilizar radiação
298
ionizante (tudo é feito sob regime de fluoroscopia), estes sistemas devem sempre se manter em ótimo estado de funcionamento, tanto para evitar a repetição de exames, onde não seja possível uma perfeita visualização das patologias, ou que a dose no paciente e no corpo clínico estejam altas demais. Para isso, estes equipamentos devem passar por um Programa de Controle de Qualidade (PGQ) capaz de testar os parâmetros de desempenho destes equipamentos e a taxa de kerma no ar na entrada da pele do paciente. Este trabalho mostra testes (de aceitação e de constância) que devem ser realizados para a verificação da qualidade da imagem dos equipamentos de ASD e a taxa de kenna no ar no paciente.
Metodologia
O método utilizado para avaliar o desempenho do sistema de ASD envolve o uso de simuladores nãoinvasivos de pacientes (phantoms) que garantem uma
ANAIS DO CBEB'2000 Controle e Garantia de
avaliação individual dos componentes do sistema sem a necessidade de desmontar o equipamento. Estes simuladores (Nuclear Associates, INC.) foram desenvolvidos seguindo prescrições de normas12le publicações[3l internacionais, sendo eles: • Bloco em Cunha - capaz de cobrir uma faixa
dinâmicaª de 1: 15 e de ser interposto um sobre o outro para formar um bloco sólido de atenuação similar à gerada por um paciente normal;
• Bloco Simulador de Ossos - é constituído de ossos ou de material muito similar a ossos em suas características de atenuação e espalhamento;
• Bloco Branco - usado para máscara das imagens (pré-contraste), deve ser da mesma espessura e do mesmo material que os blocos que serão posicionados em seu lugar (pós-contraste);
• Bloco de Resolução Arterial - ao todo são 3 blocos de concentrações diferentes de iodo (15 mg/cm3
,
150 mg/cm3 e 300 mg/cm3), cada um deles com
artérias de 1, 2 e 4 mm de diâmetro com simulações de aneurismas e estenoses de 25%, 50% e 75% do diâmetro de cada artéria;
• Bloco de Registro placa de alumínio para teste de artefatosb, com buracos de 3,2 mm de diâmetro;
• Bloco de Linearidade - contém seis regiões com espessuras diferentes de iodo (0,5; 1; 2; 4; 10 e 20 mg/cn/), e testa a linearidade dos valores de pixel do equipamento;
• Bloco de Resolução Espaciaf - padrão de ensaio de 0,1 mm Pb e de 0,01 mm Pb. Outro equipamento utilizado foi a Câmara de
Ionização (Radcal, 9015) capaz de medir kerma no ar [2l a um valor inferior a 1 µGy para irradiações únicas ou de 1 O µGy para uma série de irradiações.
Os testes foram realizados no Hospital e Maternidade São Camilo (São Paulo) em um equipamento de hemodinâmica Philips Integris com matriz de 1024 pixeis, capacidade de varredura de 525 ou 1048 linhas de vídeo e abertura do II de 23 cm.
Resultados
Como resultados destes testes foram obtidas avaliações dos parâmetros de desempenho do sistema de ASD, tais
como:
!) Resolução Espacial - A resolução espacia][3l é a medida da capacidade de um sistema de imagem em identificar objetos adjacentes, e é especificada em pares de linhas por mm (pi/mm). Os fatores que têm a maior influência sobre a resolução espacial são: a magnificação geométrica, o tamanho da abertura do II, tamanho do ponto focal e tamanho da matriz de pixeis.
Médico-Assistenciais
Esta resolução deve ser analisada nas direções verticais e horizontais das linhas de varredura de vídeo e também a 45º destas direções. Tipicamente, o padrão de Pb de 0,01 mm deve indicar resolução vertical e horizontal de pelo menos 1,6 pi/mm para II de 15 cm e pelo menos 1,2 pl/nm1 para II de 23 cm, para tamanho da matriz de 512 pixeis e sistema de vídeo de 525 linhasl4l.o teste realizado para verificação da resolução espacial no sistema de hemodinâmica pode ser visto na Figura 1 e os resultados deste teste estão representados na Tabela 1. Este teste mostrou que a resolução espacial do equipamento está dentro dos limites esperados.
Figura 1 Teste para verificação resolução espacial no sistema de hemodinâmica Philips Integrís.
Tabela 1 Resultados do teste de resolução no sistema de hemodinâmica Philips lnterrrís
Tolerâncias Posição do padrão de
Resolução espacial (Para 0,01 mm Pb, 512
testes Pixeis e 525 linhas de vídeo)
Paralelo às linhas de O, 1 mm Pb: 1,6 pi/mm varredura verticais e horizontais do vídeo
0,0 l mm Pb: 1,4 pl/mm Resolução 2: l,2 pl/mm
A 45 ° das linhas de para II de 23 cm varredura verticais e O, 1 mm Pb: 1,8 pl/mm horizontais do vídeo
2) Desempenho em baixo contraste - Os equipamentos de ASD[3l em geral possuem excelente desempenho em baixo contraste, fator que torna possível a introdução de baixa quantidade de iodo a ser injetada no paciente. Neste teste, é verificada a visualização de aneurismas e estenoses de acordo com o tamanho dos vasos e suas concentrações de iodo. Estas informações devem ser comparadas com as especificações fornecidas pelos documentos acompanhantes dos equipamentos. É
a importante a conscientização de que o desempenho em Faixa de atenuação que pode ser utilizada para subtração.
h baixo contraste pode ser otimizado pelos parâmetros Estrutura visível na imagem que não representa uma estrutura · , ·
dentro do objeto e que não pode ser explicada pelo rnído ou pela ªJUStaveis pelo operador e é dependente de vários Função de Transferência de Modulação do Sistema. fatores como: qualidade do feixe, magnificação e Capacidade do sistema de ASD de apresentar pequenas estruturas geométrica, tamanho da matriz de pixel e exposição no de alto contraste. OBS: Esta resolução depende tanto do desempenho II (onde pode ser encontrado o ponto de otimização, em
1~ liiil1lll1ll111111111111111-1111111111111
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
que o ruído quântico é diminuído, permanecendo apenas o ruído eletrônico). A Figura 2 representa o teste de desempenho em baixo contraste realizado no equipamento e a Tabela 2 apresenta os resultados encontrados neste teste no mesmo equipamento.
Figura 2 Teste para verificação do desempenho em baixo contraste em equipamento de hemodinâmica Philips lntegris
Tabela 2 Resultados de Teste de desempenho em baixo contraste em eqmpamento d 1 d. ' . PI T l e 1emo mmmca 11 1ps ntegns
Concentração de Iodo Visualização de Visualização de (11: Aneurismas Estenoses:
0* = 1 mm: nenhuma 0 = 1 mm: nenhuma 15 111glc11r' 0 2 mm: nenhuma 0 = 2 mm: nenhuma
0 4mm: 75% 0 4 mm: 75%
0 ! mm: nenhuma 0 = 1 mm: nenhuma 150 mglcnr' 0=2 mm:25% 0 =2 mm: 50%
0=4 mm:25% 0 =4 mm: 25%
0 l mm:25% 0 ! mm: 50% 300 111glc1113 0 2 m111: 25% 0 2111m: 25%
0 4111m: 25% 0 =4mm: 25%
0 * Diâmetro da artéria
3) Linearidade do Contraste Os sistemas de ASD utilizanP1 o processamento logarítmico do sinal de vídeo para garantir que um vaso de diâmetro e concentração uniformes de iodo apareça na imagem subtraída com diâmetro e contraste uniforme, desprezando estruturas posicionadas acima delas como ossos, ar e espessuras variadas de tecido. Este processamento logarítmico do equipamento torna a diferença do sinal de contraste diretamente proporcional à espessura de iodo. Uma imagem subtraída foi obtida com o Bloco de Linearidade. Os valores de pixel são graficados em função da densidade de superficie (espessura) de iodo (mg/cm2). O ajuste destes dados deve ser uma linha reta, com ajuste de chi-quadrado = 1. Este ensaio detecta problemas (ou falta de ajuste) no processamento logarítmico do equipamento e deve ser confirmado pelo teste de contraste e uniformidade espacial. Um exemplo de um teste de linearidade do contraste é representado na Figura 3.
300
Figura 3 Teste para verificação da linearidade do contraste em sistema de hemodinâmica Philips Integris
4) Artefatos de Subtração - Se a localização de pixel de um objeto de background [3l se mover durante o modo máscara, o resultado será uma mistura no registro e a introdução de artefatos na imagem. Esta mistura no registro pode ser causada por: deficiências na cadeia de imagem, movimentação do paciente e instabilidades no tubo de raios X ou no II. Este teste é realizado com o bloco de registro e o bloco em cunha aberto para alcançar toda a faixa dinâmica do equipamento. É realizada a subtração e como resultado não devem aparecer degraus ou círculos na imagem. Neste teste, não houve visualização residual de degraus e grades na subtração da imagem.
5) Taxa de kerma no ar Baixos níveis de radiação em um sistema de ASD afetam a qualidade das imagens produzidas mas também estão associados ao potencial de risco ao paciente e ao corpo clínico envolvido no procedimento. Para a verificação deste parâmetro foi utilizado um simulador PEP (phantom equivalent patient), e a taxa de kerma no ar na entrada na pele do paciente foi medida. Os parâmetros utilizados foram: 75 kVp e 24,3 mA. O resultado da taxa de kerma no ar foi de 2,9 mGy/min, sendo que a taxa de kerma no ar máxima permitida[5l é de 50mGy/min para fluoroscopia.
Discussão e Conclusões
A partir dos testes realizados neste equipamento, tem-se que: 1) A resolução espacial deste equipamento está de acordo com os limites exigidos pelas normas. Se isso não fosse verdade, os parâmetros que afetam esta resolução deveriam ser devidamente analisados, sendo eles: o Intensificador de Imagens, a magnificação geométrica, o tamanho do ponto focal, a cadeia de TV e o tamanho da matriz de pixeis. 2) O desempenho em baixo contraste do equipamento é dependente de vários fatores como a qualidade do feixe, a magnificação geométrica, o tamanho da matriz de pixeis e exposição no Intensificador de Imagens. Neste teste, o usuário tem a informação quantificada de qual é o desempenho do equipamento em resolver objetos de baixo contraste, aneurismas e estenoses.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
3) No teste de linearidade do contraste, os problemas no processamento logarítmico do equipamento podem ser detectados e confirmados pelo teste de uniformidade espacial e contraste. 4) O teste de artefatos de subtração indica problemas na subtração e registro da imagem e pode ser causado por: deficiências na cadeia de imagem, movimentação do paciente e instabilidades no tubo de raios X e no Intensificador de Imagens. 5) O teste para verificação da taxa de kerma no ar na entrada da pele do paciente demonstrou estar dentro dos limites impostos pelos padrões de referência. Devem ser realizadas também medidas de taxa de kerma no ar na entrada ativa do Intensificador de Imagens, que quando excessivamente alta, pode danificar o sistema, ou quando excessivamente baixa, prejudica a qualidade da imagem devido ao aumento do ruído quântico. Além disso a taxa de kerma no ar para o corpo clínico envolvido no ensaio também deve ser devidamente medida.
Os testes citados no trabalho devem ser realizados em todos os departamentos que utilizam equipamentos de Angiografia por Subtração Digital ou hemodinâmica numa periodicidade de seis meses. Estes testes garantem uma avaliação rápida, precisa e individual dos componentes do sistema, e proporcionam a otimização destes parâmetros, garantindo que o sistema esteja sendo utilizado o mais adequadamente possível. Com a implementação destes testes, possíveis problemas que prejudicam a qualidade da imagem formada podem ser detectados, corrigidos e evitados.
Agradecimentos
Os autores agradecem à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (F APESP) pelo suporte financeiro do presente trabalho e também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro parcial. Os autores agradecem também ao Dr. Carlos Augusto Dias, e à toda equipe do setor de hemodinâmica do Hospital e Maternidade São Camilo, local onde foi possível realizar o desenvolvimento dos testes.
Referências
[ 1] WOLBARST, A.B. Physics of Radiology - Norwalk: Appleton & Lange, 1993
(2] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61223-3-3 Acceptance tests - Imaging pe1j'or111ance ()/'X ray equipme/11 for digital subtraction angiography, 1996.
[3] AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE. AAPM Report nº 15. Pe1jorma11ce evaluation and quali(v assurance i11 digital subtraction angiography, New York, 1985.
(4] NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS. NCRP Repor! 99. Quality Assura11ce for Diagnostic lmaging Equipmelll, 1988.
[5] PORTARIA SVS MS-453. Diretrizes em radiodiagnóstico médico e odontológico, Diário Oficial da União de O 1 de junho de l 988.
301
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
A Informática como Instrumento de Qualidade em Instituições de Saúde
José Antonio M. Xexéo 1•2
; José Roberto Blaschek1; Ana Regina C. da Rocha1
1 Programa de Engenharia de Sistemas e Computação COPPE, UFRJ Caixa Postal 68511 CEP 21945-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumo - Este trabalho discute a potencialidade dos sistemas de informação no apoio a programas de qualidade em organizações de saúde e propõe uma metodologia para estabelecer requisitos para que sistemas de informação proporcionem, como fonte de indicadores de qualidade, o acompanhamento não só dos objetivos mas também das atividades de implantação desses programas.
Palavras-chave: informação, qualidade, indicadores, saúde, metodologia
Abstract - This paper aims defining a methodology that identifies non-functional requirements for hospital information systems (HIS) that guarantees the access to quality indicators related to the implementation of quality programs on health institutions.
Key-words: information, healthcare, quality, methodology, indicators
1. Introdução
É consenso que a assimilação, a divulgação e a aplicação das técnicas de gestão da qualidade são vitais para o sucesso e até mesmo sobrevivência das empresas. As instituições de saúde não são exceção. Precisam incorporar qualidade ao seu pensamento estratégico para desenvolver o modelo intelectual, promover a cultura organizacional e adotar as técnicas necessárias à capacitação de suas organizações para atingir três importantes objetivos: melhorar o atendimento clínico para pacientes, atrair e manter uma ampla faixa de clientes e diminuir a taxa de crescimento dos custos 1
•
Entretanto, implantar e acompanhar programas de qualidade na área de saúde é tarefa complexa porque envolve relacionamentos com atributos fortemente dependentes das ações, percepções e reações de indivíduos interagindo em processos de alta sensibilidade. Cada paciente tem história e reação singulares. As soluções, portanto, também são particulares e permeadas pela influência de médicos, enfermeiras, familiares e administradores - que devem ser reconhecidas e classificadas2
•
Operacionalmente também há diferenças significativas. A força de trabalho é fragmentada. Mesmo tarefas simples exigem comunicação e cooperação entre vários setores e empregados. O trabalho flui entre vários departamentos numa grande variedade de formas3
.
Há complicação adicional porque os dados não estão explícitos. As informações são construídas em um processo de busca e interpretação. Diagnósticos e tratamentos têm sempre um componente de incerteza em nível desconhecido para outras áreas de atividade. Isso dificulta definir, estabelecer ou selecionar padrões e indicadores de qualidade.
2.Qualidade em Hospitais
Diversos autores relatam expenencias de implantação de programas de qualidade em hospitais, entre eles: Fahey4, Tamworth Base Hospital; Materna5
,
Community Memorial Hospital; Matherly6, Blount Memorial Hospital; Dasch7
, Naval Hospital Orlando; Burney8, Virgínia Beach Surge1y Center; Chesney9, Barnaby Hospital; Appleman10
, Naval Medical Center; Shaw 11
, Strong Memorial Hospital; Roland 12, Chesshire
Medical Center; Stratton13, Overlook Hospital; Bates 14
,
Brigham and Women 's Hospital. Brashier3 relata a experiência da análise de programas de qualidade implantados em 9 hospitais.
Entre os fatos revelados pela análise desses relatos anotamos alguns mais relevantes para essa discussão:
a. os objetivos identificados nos programas mostram diferenças que refletem a mudança de foco ocorrida ao longo dos anos. Fahey4 e Materna5 detectam objetivos de controle e redução de custos. Roland 12 encontra preocupações com a focalização no cliente, nos processos e nos sistemas. Stratton13 relata a preocupação em vencer a concorrência com o aumento da satisfação do cliente. Bates 14 preocupa-se com o uso dos Sistemas de Informação (SI) para medir e aperfeiçoar a qualidade.
b. entre outros, os seguintes pontos são considerados importantes para a obtenção de sucesso: envolver a direção5
•6•12
; envolver os médicos3; identificar o
problema 11; estabelecer o objetivo de fonna clara3
•11
;
instituir mecanismos para permitir disseminação da informação em tempo útil e abrangência suficiente 10
;
educar e treinarH·5·7
.1 u 2·; integrar o programa na cultura
da empresa3'12
; realizar pesquisas sobre a satisfação do usuário3
; minimizar a reação aos programas de qualidade ou situações de mudança5
·6
·11
; desenvolver mecanismo de acompanhamento para garantir eficácia 10
;
medir3; desenvolver uma cultura de interesse pelo
paciente 4·8· 9
•
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
c. as necessidades de melhoria representam a visão da alta direção. A participação das outras partes interessadas não é significativa. Não há, portanto, a administração dos conflitos provocados pelas diferentes interpretações do que seja qualidade. Todos são entrevistados, ouvidos e as expectativas e necessidades declaradas são arroladas. O intérprete, entretanto, é quem ouve, é quem registra, é a empresa; é ela quem determina o que é a necessidade do usuário. Esse comportamento prejudica a construção de uma visão de qualidade consistente e compartilhada pela maioria dos funcionários e clientes das organizações.
d. a área chave de acompanhamento e avaliação também possui lacunas a preencher, entre elas:
+ não há referência ao uso de processos sistemáticos de realimentação de informações para disparar ações de melhoria da qualidade;
+ não há ênfase nas características das medidas realizadas durante os Programas. Finison15 sugere algumas características para as medidas na área de saúde; entre elas: refletir um relacionamento explícito entre as demandas dos clientes e as variáveis-chave dos processos; refletir preferência por dados que sejam variáveis contínuas sobre dados que sejam atributos dicotômicos, porque os primeiros são mais potentes estatisticamente e melhor incorporam o conceito de melhoria contínua.
+ não há referências ao uso de indicadores de qualidade para acompanhamento das atividades de implantação dos programas de qualidade. A adoção desse procedimento, simultaneamente com os resultados dos projetos, implica identificar grande variedade e quantidade de indicadores e utilizar sistemas de informação como instrumentos de acompanhamento desses indicadores.
+ não há medida da presença ou dos níveis de adoção dos princípios da qualidade no desenvolvimento dos processos que estabelecem. Isto quer dizer, por exemplo, que não são estabelecidos a métrica e o processo de medida para avaliar o nível de integração alcançado na empresa após um determinado período de deflagração do programa. A avaliação dos resultados do programa quase sempre se baseia nos resultados obtidos nos parâmetros do negócio - redução de custos, por exemplo - sem estabelecer relações de causa e efeito com a adoção dos princípios de qualidade. Assim, as metodologias propostas não podem relacionar os resultados alcançados pelo programa aos níveis de agregação dos princípios de qualidade ao programa. Essa tarefa pode ser realizada de forma indireta utilizando qualquer das seguintes propostas como referência: Ahire 16
, Black17 ou Thiagarajan18.
+ em apenas um caso há uso intensivo e objetivo de SI. Bates14 relata o trabalho de aperfeiçoamento dos SI já existentes em um hospital para que possam apoiar um sistema de medida e melhoria da qualidade. Esse fato pode estar ligado à dificuldade, também constatada, de integrar os serviços, instituir objetivos comuns e estabelecer indicadores adequados para serviços médicos. Os sistemas de informação atendem as operações dos serviços de apoio (controle de
admissão/alta) e da infra-estrutura médica (serviços de laboratório) há mais de uma década. Os sistemas de informação clínicos são muito mais recentes e ainda encontram resistências, mas são necessários tanto para medir a qualidade do atendimento e resultados quanto para melhorar o desempenho dos prestadores de serviço19
•
e. não há preocupação de adotar uma metodologia que sistematize o trabalho de implantação dos programas de qualidade, muito menos com o apoio de SI. Quase sempre a organização identifica um problema pontual, em área restrita, e o enfrenta com equipes limitadas, determinando objetivos e acompanhando resultados por meio de relatórios e observações. É natural procurar as metodologias consagradas no setor industrial como modelos para a implantação de programas da qualidade em instituições de saúde. É resultado da influência de pesquisadores como Feigenbaum, Crosby, Deming, Juran, Ishikawa e Oakland. A escolha descrita em Stratton13 é um bom exemplo. Brashier3 também tem uma proposta especificamente ligada à área hospitalar. Entretanto, a análise dessas propostas mostra que embora abordem um amplo domínio da qualidade, não contemplam alguns determinantes importantes com a ênfase necessária para adotá-las na implantação de programas de qualidade em instituições de saúde. Inicialmente, não há qualquer justificativa para a escolha dos princípios incorporados a essas metodologias. Alguns, como prontidão na resposta e administração da informação, hoje considerados como essenciais para alcançar bons níveis de competitividade, são deixados de lado. Além disso, não há interpretação ou prev1sao de procedimentos para associá-los à missão, aos objetivos ou a quaisquer outros elementos do programa de qualidade correspondente. Em conseqüência, não há procedimentos previstos para estabelecer prioridades entre esses princípios em função prioridades estabelecidas entre os elementos aos quais estariam associados. Tudo se passa como se todos os princípios adotados fossem igualmente relevantes em todas as ocasiões.
2. O Papel dos Sistemas de Informação
Companhias com foco em qualidade valorizam o papel dos sistemas de informação nos processos de implantação de programas de qualidade porque muitas funções críticas para o sucesso desses programas são dependentes da coleta, processamento e disseminação de dados sobre o desempenho de processos organizacionais20
.
O processamento e a análise das informações empresariais geram tendências, projeções e estabelecem relações de causa e efeito para apoio à decisão nos vários níveis da empresa. O acesso à informação capacita o gerente envolvido com qualidade para tomar decisões em um amplo espectro de questões, incluindo detenninação das preferências do consumidor, planejamento e avaliação da qualidade, capacitação dos empregados, inovação. Portanto, a informação é um agente de mudança, a qualidade ê intensiva em
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
informação e a organização responsável pelos sistemas de informação desempenha papel crucial no processo.
Os gerentes já perceberam que o Gerenciamento de Sistemas de Informação (MIS) precisa desempenhar papel chave no movimento pela Qualidade Total para permanecer como um componente estratégico do negócio. O MIS precisa ser combinado com TQM para criar um Sistema de Informação da Qualidade (QIS). O QIS exige o desenvolvimento e a implementação de uma metodologia que observe os objetivos do negócio e inclua um sistema computacional para atingir esse objetivo21
.
Zahedi22 discorre sobre algumas características que os QIS devem possuir. Assim, segundo a autora, é necessário desenvolver bases de dados, capacidade gráfica, sistemas inteligentes e capacidade de comunicação. As bases de dados devem dizer respeito a dados internos e externos. Os dados internos medem principalmente qualidade de processos e custos de qualidade. Os dados externos visam, em primeiro lugar, as necessidades e desejos de clientes externos. A capacidade gráfica decorre das características das próprias técnicas de controle da qualidade. A adoção de sistemas especialistas é hipótese aventada pela necessidade de gerenciar o conhecimento acumulado nos processos de melhoria contínua. A natureza interfuncional e interdepartamental do gerenciamento da qualidade requer um amplo projeto de canais de comunicação.
Estudos na área hospitalar também estabelecem essa interdependência entre qualidade e informação. Avaliando a qualidade dos serviços de saúde australianos, Fahey4 detecta que as organizações de saúde reconhecem a necessidade de dados mais objetivos e confiáveis para servirem de apoio para planejamento e decisões gerenciais. Matema5
, relatando experiência de hospital canadense em programa de TQM, identifica como objetivo a administração da informação e o aperfeiçoamento da comunicação. Anderson 19 registra três funções onde os sistemas de informações clínicos desempenham papel importante na melhoria do atendimento ao paciente: gerenciamento da informação clínica, proporcionando aperfeiçoamento significativo na elaboração, organização e localização de informações clínicas; apoio ao processo decisório clínico, aumentando, por exemplo, a velocidade de acesso às informações; gerenciamento do tratamento do paciente, facilitando, por exemplo, a integração dos dados levantados em diferentes setores do hospital.
Nesse contexto, a informática é o recurso chave no processamento e interpretação de informações e fator de sucesso nessa busca por qualidade em saúde2
• A prática da medicina está intrincadamente entrelaçada com o gerenciamento da informação23
. Os Sistemas de Informação Hospitalar são o instrumento de concretização desse potencial e têm por objetivo, segundo Wiederhold24
, gerenciar a informação que os profissionais de saúde precisam para exercer suas funções eficiente e eficazmente. Johanston25 define SIH como um sistema computacional, instalado em um hospital, para registrar informações sobre o paciente, de maneira que todos os departamentos do hospital possam
304
compartilhá-las. Os focos diferentes desses autores são complementares e reúnem conceitos imp01tantes sobre as informações médicas a respeito dos pacientes, tais como: a existência de uma única fonte e conseqüente consistência em todas as aplicações; a disponibilidade em tempo, form11 e lugar e a possibilidade de utilizá-las como fonte para a determinação de indicadores de qualidade.
Os investimentos norte-americanos para enfrentar esses desafios são vultosos. A indústria de saúde aplicou, em 1996, entre 12 e 16 bilhões de dólares em Tecnologias da Informação. Crescimento acentuado ocorre nos segmentos de prontuário eletrônico, aperfeiçoamento dos Sistemas de Informação Hospitalar (SIH), implantação de intranets para compartilhamento de informações e uso da Internet para disseminar informações e proporcionar diagnóstico remoto via telemedicina. O objetivo dos administradores é explorar a Tecnologia da Infonnação na redução de custos e, simultaneamente, aumentar a qualidade 14
•19
•26
•27
•
O controle e a redução de custos sem prejuízo da qualidade4
•5
•14 são objetivos mantidos ao longo dos anos
e isso - segundo Bates 14 - demanda medidas de rotina.
Uma das sugestões são os pathways - instrumento de gerenciamento clínico que define objetivos e resultados para o tratamento de clientes, orienta a colaboração, proporciona a coordenação e a continuidade do tratamento envolvendo clientes e familiares e procura reduzir a necessidade de recursos28
• Os sistemas de informação são úteis no uso de pathways de várias formas. Primeiramente, porque muitos deles são essencialmente conjuntos seqüenciais de ordens, ou seja, procedimentos-padrão e a manipulação desse tipo de documento é uma das aplicações típicas dos SI. Depois, porque a seqüência do procedimento determina momentos específicos para a ocorrência de detenninados eventos e isso, por exemplo, permite a automação da coleta dos dados necessários naquele instante 14
•
Apesar dessas advertências e providências, Bates14
classifica as rotinas de medida de qualidade, atualmente praticadas na área de saúde, como relativamente prn111t1vas e conclui que medir qualidade sem ferramentas de automação consome muito tempo e dá muito trabalho. Sugere, então, os sistemas de informação como uma alternativa de baixo custo para coletar, grupar e manipular informações de todos os pacientes e, talvez o mais impo1tante, usar essas informações para aumentar a qualidade do atendimento.
Há três modelos de abordagem na literatura que podem ser usados para relacionar qualidade, sistemas de informação e prestação de serviços médicos. O primeiro é apresentado em Khalil29 como resultado da comparação entre dois modelos de referência desenvolvidos pela Sociedade de Gerenciamento da Informação (SIM) para orientar - em um contexto de TQM - as atividades das organizações que, dentro das empresas, desenvolvem os sistemas de informação. O autor conclui pela necessidade de modificações e propõe um terceiro modelo para relacionar TQM e Sistemas de Informação. Nesse, o autor considera que a visão e os objetivos do TQM determinam o tipo e a importância
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
relativa dos princípios a serem aplicados e influenciam a visão e os objetivos da função Sistemas de Informação (SI) e, por conseqüência, os próprios sistemas de informação. O TQM bem implementado aumenta a qualidade da função SI, que por sua vez, em um processo de retroalimentação, apoia o programa de TQM. A realização da proposta, entretanto, não é simples. O nível de abstração ainda é elevado. O autor trata das relações mais gerais mas não entra em detalhes de atividades ou procedimentos.
Forza30 propõe um modelo de referência e medidas associadas para estudar o papel dos SI na gerência da qualidade. O problema também é tratado num alto nível de abstração, abordando três dimensões: gerenciamento da qualidade, fluxo de informação e desempenho da qualidade. A primeira dimensão lida com aspectos de projeto, processo e transformação e suas relações com clientes e fornecedores. A segunda considera o fluxo de informação e tecnologia que apoia gerentes e empregados nas suas funções e atividades para a melhoria da qualidade. Desempenho é o resultado e compreende tanto o desempenho absoluto quanto o comparativo com os concorrentes. A conclusão da pesquisa indica: as práticas de gerenciamento da qualidade são fortemente ligadas aos fluxos de informações; a contribuição de ambas as dimensões para desempenhos de alta qualidade é muito grande e as tecnologias da informação parecem contribuir para esse objetivo; em termos de fluxo de informações, as ligações com clientes e fornecedores influenciam fortemente o desempenho da qualidade.
O terceiro modelo é devido a Bates 14• É mais
detalhado. Entretanto, ainda não responde às análises anteriores. Em primeiro lugar, não inclui entre seus usuários os médicos, os enfermeiros, os familiares e a administração do sistema de prestação de serviços. Depois, não trata do processo, somente da tecnologia. Estão faltando, como nos anteriores, entre outros aspectos, a discussão dos procedimentos de pesquisa junto aos usuários e as técnicas de medição dos requisitos de qualidade.
4. Descrição da Metodologia Proposta
A discussão anterior explicita a relevância do interrelacionamento existente entre Sistemas de Informação, Programas de Qualidade e Tratamento Médico. Há necessidade, portanto, de uma metodologia que oriente os executivos na implantação de Programas de Qualidade Total em Organizações de Saúde com o apoio dos Sistemas de Informação. Entretanto, as propostas existentes não satisfazem em vários aspectos analisados. Nós sugerimos, neste trabalho, uma metodologia que adote o conceito genérico da figura 1 e os passos a seguir indicados:
i) Organizar programas de motivação, adaptação e conscientização.
Essa fase é preparatória e fundamental. Tem por objetivo conseguir a adesão de todos à qualidade. É o momento de obter o comprometimento das gerências . Reduz as reações à situação de mudança e introdução de inovação. É participativa e forma facilitadores e agentes
de mudança. Há várias maneiras de realizá-la; um exemplo é o estabelecimento de Programa 5S, por sua capacidade de mobilização e facilidade de implantação. Outro é a adoção limitada e parcial das normas ISO. Também é importante, seguindo sugestão de Reid31
, a realização de uma série de palestras curtas - no ambiente não ameaçador da fase preliminar - para reduzir a ansiedade sobre os novos métodos antes da pressão da obrigação de aprender. O tipo de programa e a forma de implementação são função do porte, da cultura, do escopo do projeto e do estágio da qualidade vigente na empresa.
ii) Estabelecer os objetivos do Programa de Qualidade To tal
Essa fase inicia com o levantamento e registro das expectativas dos diversos agentes envolvidos com o Programa de Qualidade To tal. Segue com a consolidação dessas expectativas nos objetivos de qualidade para o Programa. Contemplar essas diferentes visões implica projetar interesses divergentes e conciliálos. As técnicas da Engenharia de Requisitos, principalmente no que se refere à elicitação de requisitos de qualidade são apropriadas para uso nessa fase. A ferramenta proposta em Brynjolfsson32 é importante para identificar as interações - e o grau de estabilidade existente nessas interações - entre os processos que ocorrem durante a mudança. O procedimento detecta interferências, pontos sensíveis e otimiza o planejamento das atividades de transição. Valorizando o estado vigente, o ajuste final integra esses objetivos com os esforços já realizados para a melhoria da qualidade através da proposta de Cupello33
.
A tarefa de elicitação merece discussão destacada visto que os processos encontrados na literatura limitam-se, quase sempre, a identificar opiniões de representações de categorias definidas a priori. Por exemplo, as técnicas usualmente utilizadas identificam a opmiao de enfermeiras e pacientes ouvindo representantes das duas categorias. Esse procedimento pode identificar a opinião das categorias definidas mas não garante a identificação de todas as classes de opinião existente no universo de enfermeiras e pacientes. O nosso objetivo, entretanto, é a determinação dessas classes, pelo menos as relevantes. Isto quer dizer, por exemplo, que embora algumas enfermeiras possam ter um ponto de vista diferente de alguns médicos, não impedem que outras tenham pontos de vista semelhantes a de um grupo de pacientes. Assim, em um mesmo universo da área de saúde formado por médicos, enfermeiras, pacientes, familiares, administradores e outras categorias é possível ter uma, duas, três, quatro ou tantas classes quantos pontos de vista diferentes existentes no universo dos indivíduos em questão. Esse raciocínio leva à necessidade de determinar essas classes de ponto de vista a posteriori, como resultado do processo de elicitação. Nesse caso, a técnica de elicitação precisa atender a esse requisito. A vantagem é evidente; a representatividade é maior, visto que os pontos de vista divergentes também são elicitados devem surgir na coleta, como resultado de um bom projeto amostral.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Nesse quadro, ganha perspectiva a utilização da teoria W de Boehm34 e da teoria fuzzy para classificação35
.
iii) Identificar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para os objetivos estabelecidos.
Técnica tradicional. Aqui é dividida em duas fases. A primeira é constituída por reuniões específicas com os agentes interessados, para identificar e priorizar esses fatores através das respostas desses agentes a um questionário. A segunda trata da consolidação dessas respostas em reuniões JAD.
iv) Estabelecer procedimentos para medir a influência dos Princípios da Qualidade na consecução dos objetivos do Programa.
Esses procedimentos consubstanciam-se na realização de duas etapas. A primeira se refere à associação dos objetivos aos Princípios. A segunda diz respeito à medida desses Princípios. As propostas de Black [96] e Ahire [96] cabem nas duas fases. A associação dos objetivos deve ser feita, indiretamente, com os fatores constitutivos dos Princípios, como identificados pelos autores. As medidas devem usar as escalas constrnídas por eles.
v) Estabelecer indicadores de qualidade mensuráveis e que reflitam relacionamento explícito entre a demanda dos clientes e as variáveis-chave do processos. Esses indicadores são obtidos em um processo bottom-up formado por uma sucessão de reuniões e entrevistas com os agentes envolvidos no processo. As informações obtidas dessa forma são posteriormente consolidadas em reuniões JAD.
vi) Estabelecer os requisitos para que os Sistemas de Informação gerem e facilitem o acesso a esses indicadores.
Essa última etapa é o resultado do mapeamento dos indicadores identificados no passo anterior em requisitos para os Sistemas de Informação.
5. Conclusão
A metodologia proposta acrescenta diversos procedimentos às metodologias existentes, com o objetivo de atender aspectos não abordados mas levantados como necessários na análise de diversos casos de implantação de TQM em hospitais. Segue uma seqüência coerente de procedimentos, seguindo até o estabelecimento de indicadores de qualidade que refletem tanto os resultados do Programa quanto o andamento de suas atividades. Além disso, estabelece reqms1tos para que esses indicadores sejam acompanhados através de Sistemas de Informação.
Os procedimentos serão validados na Unidade de Cardiologia e Cirnrgia Cardiovascular/Fundação Bahiana de Cardiologia da Universidade Federal da Bahia. Entretanto, já foram realizadas experiências preliminares bem sucedidas com a seqüência de procedimentos propostos para a segunda fase da metodologia (fase ii). O objetivo foi verificar a aplicabilidade da teoria fuzzy de classificação para a identificação das classes de opinião existentes num universo de indivíduos pertencentes a categorias qualificadas a priori. A pesquisa de campo foi concretizada com a aplicação de um questionário a 86
306
alunos de três diferentes cursos universitários. Cada entrevistado ordenou dimensões da qualidade confirme o seu ponto de vista de relevância. A identificação das classes de opinião foi realizada, como sugerido, com técnicas da teoria fuzzy de classificação. A manipulação dos dados foi bastante simples e a análise do resultado mostrou que havia classes importantes formadas por alunos de mais de um curso, levantando indícios da propriedade da sugestão contida na metodologia proposta.
MEDIDAS
SI
REQU!SrTOS SI
INDICADORES
OBJETIVOS PROGRAMA QUALIDADE
t VISÃO INTEGRADA
QUALIDADE
PROVEDOR MEDIADORES CLIENTE
Figura 1 - a sequência de procedimentos
5. Referências
[l] Lawrence D. M. Early, J. F. Strategic Leadership for Quality in Health Care, Quality Progress, April 1992
[2] Xexéo, J. A. M., Sistemas de Informação e Qualidade em Saúde, Anais do VI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, Curitiba, Pr, out 1998, pg 49-50
[3] Brashier, L. et ai, Implementation of TQMICQI in the Health-Care Industly: A Comprehensive Model, Benchmarking for Quality Management & Technology, Vol 3 Issue 2, 1996
[4] Fahey, P. P., Ryan, S. Quality Begins and Ends with Data, Quality Progress, April 1992
[5] Materna, S., Rothe, K., A Canadian Hospital Implements Continuas Quality Jmprovement, Quality Progress, April 1992.
[6] Matherly, L. L., Lasater, H. A., Implementing TQM in a Hospital, Quality Progress, 1992
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
[7] Dasch, Martha L., Hospital Sets New Standard as Closure Approaches: Quality is Contínuos, Quality Progress, October 1995
[8] Burney, R., TQM in a Surge1y Center, Quality Progress, January 1994.
[9] Chesney, E., Dickenson, J., Lawrence, A., Talmanis, C., Jmproving Healtlz Care on a Tight Budget, Quality Progress, April 93
[ 1 O] Appleman, K., Large, K., Navy Hospital Fights Desease With a Quality Team, Quality Progress, April 1995.
[11] Shaw, D., et al., Learning jiwn Mistakes, Quality Progress, June 1995.
[12] Roland, C., et al., Jnsights into Improving Organization Pe1jormance, Qualiy Progress, March 1997.
[13] Stratton, B., Overlook Hospital Emergency Department: Meeting the Competition with Quality, Quality Progress, October 1998
[14] Bates, D., Pappius, E., Kuperman, G., Sitting, D., Burstin, H., Fairchild, D., Brennan, T., Teich, J., Using Jnformation Systems to Measure and Improve Quality, International Journal of Medical Infonnatics, 53 (1999), 115-124
[15] Finison, L. J., What are Good Health Care Measurements? Quality Progress, April 1992
[16] Ahire, S. L., Golhar, D.Y., Waller, M. A., Development and Validation of TQM Implementation Constructs, Decision Sciences, v. 27, n. 1, 1996.
[17] Black, S. A., Porter, L.G., Jdentification of the Criticai Factors ofTQM, Decision Sciences, v.27, n. 1, 1996
[ 18] Thiagarajan, T., An empirical analysis of criticai factors of TQM - Benchmarking for Quality Management & Technology, vl 5 nr 4 1998
[ 19] Anderson, J. C., Clearing the Way for Physicians' Use of Clinicai Jnjormation Systems, Co1mnunications ofthe ACM, Vol 40 No 8, August 1997.
[20] Pearson, J. M., McCahon, C. S., Hightower, R. T., Total Quality Management: Are information systems managers ready?, Infonnation & Management 29 ( 1995)
[21] Keith Jr, R.B., MIS + TQM = QIS, Quality Progress, april 1994
[22] Zahedi, F., Quality injormation systems: a unifjdng .fiwnework, Int J. Technology Management, vol 16, Nos 41516, 1998
[23] Shortlife and Perreault, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care, ed Shortlife and Perreault, Addison-Wesley, 1990
[24] Wiederhold, G. et al, Hospital Injonnation Systems, chap 7 in Medical Informatics: Computer Applications in Health Care, ed Shortlife and Perreault, Addison-Wesley, 1990
[25] Johanston, H., Sistema de Informação Hospitalar: Presente e Futuro, Revista Informédica, Vol 2 nl, 1993.
26. Raghupathy, W., Health Care Information Systems, Communication ofthe ACM, August, 1997.
[27] Ferratt, T., De, Prabuddha, An Jnfonnation System Involving Competing Organizations, Communications of the ACM, December 1998, vol 41, nr 12
[28] Westra, B., Criticai Pathways in Home Care, Internet WWW page, at URL: http://carefacts.com/art2.html, 09/0211999.
[29] Khalil, Omar E., Information Systems and total Quality Management: Establishing the Link, SIGCPR 94, Virginia, EUA.
[30] Forza, C., The impact of injormation systems on quality pe1jormance: an empírica! study, International Journal of Operations & Production Management, Vol 15, No 6, 1995, pp 69-83.
[31] Rei d, Thomas F., Technology Transfer is not Just Training, IEEE, 1993.
[32] Brynjolfsson, E., et al., The matrix of change, internet, url: http://ccs.mit. edu/ccswpl89.html, 25109196.
[33] Cupello, James M., A New Paradigm for Measuring TQM Progress, Quality Progress, May 1994.
[34] Boelun,B., et al., The01JHV software project management: principies and examples, ieee transactions software engineering, July 1989.
[35] Ross, T.J., Fuzzy Logic i,vith Engineering Applications, International Edition, McGraw-Hill, Inc., 1995
Agradecimentos
O autor agradece ao Instituto Metodista Bennett e à Universidade Estácio de Sá o apoio recebido.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação dos Níveis de Ruído Ocupacional em Unidades de Tratamento Intensivo
Léria Rosane Holsbach 1, José Antônio De Conto2 , Paulo Cesar Cardoso Godoy3
u Engenharia Biomédica Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMP A), Brasil, 90020-090
Fone (OXX51)214-8546, Fax (OXX51)214-8585 2 Departamento de Matemática
Universidade Federal do Rio Grande do Sul leria@santacasa. tche. br, j [email protected]
Resumo - Este artigo apresenta um trabalho desenvolvido em uma Unidades de Tratamento Intensivo sendo, duas adultas, uma pediátrica e uma neonatal da Innandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS. Realizando um mapeamento de medições dos valores recomendados pela NBR 1O151 (Avaliação do Ruído em Área Habitadas Visando o Conforto da Comunidade), NBR 1O152 (Níveis de Ruído para Conforto Acústico) e ANSI - 1991 (Specification for Personal Noise Dosimeters). O objetivo principal do trabalho é conscientizar, prevenir e controlar o mído em Unidades de Tratamento Intensivo. Foram realizadas medidas de níveis de ruído em um detenninado período de tempo sendo feitas duas medições durante o dia. O resultado do trabalho apresentou níveis de mído acima dos valores recomendados pelas Normas Brasileiras. O mapeamento das fontes de ruído mostrou que além dos alannes dos equipamentos uma das fontes principais de mído é causada pelo pessoal da equipe de profissionais da Unidade de Tratamento Intensivo. Conclui-se que existe uma necessidade de elaborar um programa educativo de conscientização para a redução do nível de ruído sonoro.
Palavras-chave: Ruído, Conscientização, Prevenção.
Abstract - Este artigo apresenta um trabalho desenvolvido em uma Unidades de Tratamento Intensivo sendo, duas adultas, uma pediátrica e uma neonatal da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre RS. Realizando um mapeamento de medições dos valores recomendados pela NBR 1O151 (Avaliação do Ruído em Área Habitadas Visando o Conforto da Comunidade), NBR 1O152 (Níveis de Ruído para Conforto Acústico) e ANSI - 1991 (Specification for Personal Noise Dosimeters). O objetivo principal do trabalho é conscientizar, prevenir e controlar o mído em Unidades de Tratamento Intensivo. Foram realizadas medidas de níveis de ruído em um determinado período de tempo sendo feitas duas medições durante o dia. O resultado do trabalho apresentou níveis de ruído acima dos valores recomendados pelas Nonnas Brasileiras. O mapeamento das fontes de ruído mostrou que além dos alannes dos equipamentos uma das fontes principais de ruído é causada pelo pessoal da equipe de profissionais da Unidade de Tratamento Intensivo. Conclui-se que existe uma necessidade de elaborar um programa educativo de conscientização para a redução do nível de ruído sonoro.
Key-words: Noise, Awareness, Prevention.
Introdução
Nossa civilização, auxiliada pelo crescente avanço tecnológico, tem sofrido cada vez mais as conseqüências da exposição excessiva aos ruídos. É fácil constatar que nos grandes centros urbanos o nível de ruído é tão excessivo que põe em risco a integridade fisica e psicológica dos habitantes.
A exposição excessiva ao ruído pode causar muitos problemas a saúde, incluindo a perda auditiva entre outros danos.
Altos níveis de ruído interferem na comunicação, perda de atenção, irritabilidade, fadiga, dores de cabeça, elevação da freqüência cardíaca e pressão arterial, vasoconstrição periférica, aumento da secreção e da mobilidade gástrica, contração muscular (Braz, J.R.C. e Vane, L. A.)[l], tanto nas equipes de
308
profissionais da Unidade de Tratamento Intensivo como nos pacientes conscientes (Falk, S.A.)[2].
Nas Unidades de Tratamento Intensivo, constatou-se o crescente emprego de equipamentos com alannes sonoros usados para o monitoramento de parâmetros fisiológicos de pacientes graves, trazendo um acréscimo de ruído sonoro ao ambiente.
Conforme a norma, NBR 10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico, hospitais com níveis superiores a 45 dB são considerados desconforto sem necessariamente implicar risco à saúde.
No encontro internacional sobre ruído ocupacional promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1995 - Genebra, houve um consenso geral entre os especialistas com a finalidade de proteger os trabalhadores da perda auditiva. O limite de exposição ocupacional deve ser 85 dB para oito horas
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
de trabalho. Este limite varia em outros países EUA 90dB, Holanda 80dB. No entanto, os ruídos podem ultrapassar esses níveis como ocorre durante o funcionamento de aparelhos como: ar condicionado, ventilador pulmonar, alannes de incubadora, monitor de sinais vitais, aspiração, bombas de infusão, etc.
A falta de controle da poluição sonora nos ambientes hospitalares, principalmente nos que hospedam pacientes em estado grave, pode ser portanto um fator negativo na recuperação dos mesmos.
Materiais e Métodos Recursos Materiais e Humanos
Para a execução dos trabalhos foi utilizado um decibelímetro fabricado pela MINIP A e outro pela Quest modelo 2800 precisão tipo 2, estudo de leis, normas e literatura especifica.
Métodos Locais e Escolha dos Pontos de Medição
O mapeamento de medições foi realizado em quatro Unidades de Tratamento Intensivo (UTI): UTIPediátrica, UTI-Neonatal (ensino) e duas UTis adultas (Central e Hospital São Francisco).
Inicialmente consistiu na escolha dos pontos onde seriam realizadas as medidas. Para auxiliar a escolha destes pontos, foram obtidas as plantas baixas das Unidade de Tratamento Intensivo e nelas foram marcados os pontos conforme orientação NBR 10151/1987 - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade.
A escolha destes pontos visou a obtenção de dados que refletissem principalmente o nível de ruído o qual os pacientes estivessem submetidos junto aos leitos. Outros pontos foram escolhidos visando a obtenção de dados que refletissem o nível de ruído que a equipe de profissionais está submetida.
Período e Processo de Medição
As medidas de ruído foram executadas em pontos pré-detenninados utilizando o decibelímetro nas faixas A e C. Os níveis de pressão sonora ponderada A fornecem uma medida que abrange a faixa de freqüências onde o ouvido humano possui maior sensibilidade (500Hz a lOKHz) já os níveis de pressão sonora ponderada C fornecem uma medida global de ruído, abrangendo uma faixa mais larga de freqüências (30Hz a lOKHz). Todas as medidas foram realizadas no modo FAST, que fornece o valor de pico do nível de pressão sonora.
Foram realizadas duas medições por dia, uma em tomo de 09h30min e a outra aproximadamente l 6h. Os horários foram escolhidos visando resultados com possíveis variações do nível de pressão sonora, com os horários de visita, troca de equipe de profissionais etc. As medidas nos leitos foram realizadas na altura da cabeça do paciente (próximo aos ouvidos), conforme
estabelecido pelas normas. As medidas em locais de circulação e posto de observação, prescrição e discussão de casos foram realizadas a aproximadamente 1,20 m de altura.
Análise dos Dados
Para representar o nível de ruído total, escolhemos como indicador a média aritmética das médias aritméticas dos níveis de pressão sonora medidos em cada UTI, organizados por dia e turno. Além disso pode-se verificar o comportamento diário dos níveis de pressão sonora médio através dos gráficos constantes abaixo:
Manhã
72.00 ,.-------------~
70,00
rg 68,00
.g 66,00 '5 o:
64.00
62,00
60,00 +-+-t-f-1-+-+-t-f-t-++-t--+-+-+-+-+_,_,
dias
Figura 1 - Gráfico de medição de ruído sonoro em três Unidades de Tratamento Intensivo no período da manhã
Tarde
72.00
70,00
68,00
"' -t-UTl Central '1 66,00 -.-uTI Neonatal .g '5 -11-UTl Pediãtnca o: 64,00
62.00
60,00
dias
Figura 2 - Gráfico de medição de ruído sonoro em três Unidades de Tratamento Intensivo no período da tarde.
Uti HSF
72
70
!g 68
066~ A &64 - ~ "..
62
60-t--r--r--i---t--i----t---1-'"t'--1
dias
l-11- Uti HSF 1
Figura 3 Gráfico de medição de ruído sonoro em uma UTI (Não utilizada para ensino) no período da
manhã/tarde.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Resultados
Os resultados das medições dos níveis sonoros foram acima dos valores recomendados pela norma brasileira de Níveis de Ruído para Conforto Acústico Ambiental ( NBR 10152) para este tipo de ambiente. O trabalho revelou a necessidade da redução dos níveis de ruído devido às interferências negativas sobre os pacientes e a equipe de profissionais.
As primeiras fontes de ruídos, além dos alarmes dos equipamentos e ar condicionado, são manipulações de objetos, arrastar de cadeiras, batidas de portas e conversas.
Conclusão e Discussão
Conclui-se que deve haver uma mudança no comportamento da equipe de profissionais. É necessário desenvolver um programa preventivo e educativo como campanhas educacionais conscientizando a importância da redução do nível de ruído.
Os níveis dos alarmes dos equipamentos são utilizados no nível máximo devido as conversas, distâncias dos leitos aos postos de observação em Unidades de Tratamento Intensivo que não possuem monitoração central, arrastar de cadeiras, manipulação de objetos, etc. Altos níveis de ruído, além de causar danos à saúde pode interferir na comunicação, podendo causar sérios danos aos pacientes. Com avaliação dos efeitos e a conscientização da equipe de profissionais é possível controlar o nível de ruído sonoro.
Agradecimentos
Agradecemos a Equipe de Técnicos da Engenharia Biomédica , as Equipes de Profissionais das Unidades de Tratamento Intensivo da Pediatria, Neonatologia, Central e a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Francisco e a Innandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS.
Referências
[1] J. R. C. Braz "Anestesiologia - Risco Profissional para o Anestesiologista", cap.l, 1996.
[2] S. A. Falk e N.F. Woods ,"Hospital Noise - Leveis and Potencial Health Hazards ", 1973.
[3] U. P. Santos , M. P. Matos, T. C. Morata e V. A. Okamoto, "Ruído Riscos e Prevenção", Editora Hucitec, 2-ª Edição - 1996 -
[ 4] A. V. Azevedo "Manuais CNI (Confederação Nacional da Indústria) - Avaliação e Controle do Ruído Industrial", 1984
[5] G. G. Ortega " Acústica Aplicada a La Construcción el Ruído", Ediciones ISPJAM, 1988
[6] A. A. Nudelmann, E. A. Costa , J. Seligman, R. N. Ibafiez "P AIR Perda Auditiva Induzida pelo ruído", Editora Bagagem Comunicações Ltda, Porto Alegre, 1997
[7] NBR 1O151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade - ABNT -Dez./1987
[8] NBR 10152 - - Níveis de Ruído para Conforto Acústico - ABNT Dez./1987
[9] ANSI sl.25 ( 1991) Specification for Personal Noise Dosimeters
[10] A. L. H. Veit "Avaliação dos Níveis Sonoros em Ambiente Hospitalar'', Porto Alegre: UFRGS, 1999. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
310
' i
1 1 ft 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 l i 1
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Cursos de Qualificação e Requalificação de Técnicos de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares no Oeste do Paraná e de Santa Catarina
Wilson Henrique Veneziano 1, João Israel Bemardo2 & Maria de Lourdes Bernartt3
1 Professor CEFET/PR-Pato Branco, Mestre em Engenharia Elétrica-Engenharia Biomédica 2 Professor CEFET /PR-Pato Branco, Mestrando em Tecnologia
3Professora CEFET /PR-Pato Branco, Mestra em Educação Rodovia PR 469, Km 1 Pato Branco/PR. CEP 85503-390 Te!. 46-225-2511
Resumo Tendo em vista a deficiente manutenção con-etiva dos equipamentos médico-hospitalares dos 82 hospitais e inúmeras clínicas do Sudoeste do Estado do Paraná e Oeste de Santa Catarina, realizou-se durante um ano uma pesquisa juntamente a profissionais da área e diretores de hospitais para a melhoria desses serviços. Foi aproveitada a experiência anterior dos proponentes em cursos básicos de qualificação profissional e analisadas propostas da Organização Mundial de Saúde e experiências brasileiras, considerando também aspectos financeiros. Elaboraram-se um Curso Técnico em Manutenção de Equipamentos Médico-hospitalares (1200 horas-aula) e cursos básicos de qualificação profissional (restritos a classes de equipamentos, para a formação de auxiliares). Os cursos são modulares e contemplam o ensino à distância através de apostilas, exercícios, fitas de vídeo, autotestes, contato telefônico, fac-simile e internet. A região de abrangência estende-se também ao Norte da Argentina e Paraguai. O embasamento legal encontra-se nos Decretos n. 05
2208 e 2494 de 1997, na Portaria 301 de 1998 e na Lei 93 94 de 1996.
Palavras-chave: manutenção, equipamento médico-hospitalar, ensino.
Abstract - Having in mind the deficient corrective maintenance of the hospital medical equipment of the 82 hospitais and severa! clinics in Southwestern Parana and in Western Santa Catarina-Brazil, during one year a research has been carried out involving professionals of the area and directors of hospitais in order to contribute to the improvement of these services. The authors' prior experience ofbasic professional qualification courses was considered and proposals of the World Health Organization and Brazilian experiences were analyzed, considering financial aspects too. A Technical in Medical Hospital Equipment Maintenance Course and basic ones for professional qualification (restrict for classes of equipments for auxiliaries fonnation) were planned. The courses are based on the study of modules and at a distance teaching through books, video tapes, self-testing exercises, phone orientations, fax and internet. The embracing region is either North of Argentina and Paraguay. The legal bases are on the Brazilian Decrees 2208 and 2494/97, the Regulation 301/98 and the Civil Law 9394/96.
Key-words: maintenance, medical equipment, training.
Introdução
As regiões Sudoeste do Estado do Paraná e Oeste de Santa Catarina englobam cerca de noventa municípios, com uma população de, aproximadamente, oitocentos mil habitantes, 82 hospitais com 3400 leitos, sendo 60 de unidade de tratamento intensivo. Nessas regiões, a situação dos equipamentos biomédicos não difere da problemática relatada em outras partes do País[l]. A pesquisa realizada na 7ª. e 8ª. Regionais de Saúde (no Sudoeste do Estado do Paraná) e em estabelecimentos assistenciais de saúde evidenciou a carência de profissionais especializados em manutenção corretiva de equipamentos médico-hospitalares em geral e a baixa formação escolar desses profissionais (a maioria deles sequer possui formação em nível de segundo grau escolar). Diretores de hospitais e clínicas, por diversas vezes, procuraram a Unidade de Pato Branco do CEFET /PR, local de atuação dos proponentes, expondo sobre a necessidade de
311
prestadores de serviço qualificados, uma vez que diminuiria o envio de equipamentos para a Capital dos Estados, e conseqüentemente, a redução dos custos.
Estes Cursos de Qualificação e Requalificação de Técnicos de Manutenção de Equipamentos MédicoHospitalares, estão legalmente embasados nos Decretos N.05 2.208 (Educação Profissional) e 2.494 (Ensino à Distância) de 1997 e na Portaria N.05 301 de 1998 (Ensino à Distância), todos em complementação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional[2].
Metodologia
De julho de 1997 a maio de 1998, os proponentes, engenheiros na manutenção de equipamentos médicohospitalares embasados em suas expenencias acadêmicas na área de educação tecnológica, realizaram pesquisas sobre a situação e manutenção dos equipamentos biomédicos nas regiões Sudoeste do
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Paraná e Oeste catarinense, e, discussões com responsáveis de estabelecimentos assistenciais de saúde sobre a viabilidade de um programa de treinamento que viesse atender a realidade regional, nessa área. Propostas[3] inúmeras foram analisadas, nesse período, inclusive, as da Organização Mundial de Saúde[6] e a de especialistas· estrangeiros[ 4,5]. Analisaram-se, ainda, cursos desse gênero oferecidos em outros Estados e as causas do restrito sucesso de alguns. Pesquisas de mercado e análise financeira da viabilidade da implantação, também fizeram parte da preocupação dos autores.
Resultados
Foi elaborado um projeto de curso técnico, englobando cursos básicos de qualificação profissional. Dois módulos do curso proposto foram realizados de maneira experimental e sem ônus financeiro para os treinandos. Com base na análise destas experiências chegou-se a um formato final de cursos de qualificação e requalificação profissional.
O público alvo são as pessoas sem treinamento que já trabalham nessa área e alunos do ensino médio. Para atender às necessidades da região e da clientela é, assim, formatado: gratuito para o aluno; período noturno, com a duração média de três semestres; composto por módulos didáticos (em vez de disciplinas) de cinco a quinze horas de aula semanais, com duração máxima de dois meses. Alguns módulos são optativos, confonne o interesse de cada aluno. Os módulos obrigatórios são nas áreas de sensores, segurança, fisiologia básica, instrumentação microprocessada e outras. A carga horária total é de 1200 horas de aula, sendo 830 práticas e presenciais e 370 de estudo à distância. Este pode realizar-se por meio de apostilas, exercícios, textos para leitura, fitas de vídeo, autotestes elaborados pelos docentes do curso, ainda, por contato telefônico, via fac-símile e Internet. Nas aulas presenciais, são apresentados os resultados desses estudos, mediante a exposição teórico/prática de atividades a serem aplicadas pelo professor. O local para as aulas práticas são os laboratórios da Unidade de Pato Branco do CEFET-PR e/ou empresas com capacidade para tal. As avaliações finais são na Escola. Há proposta de que o acesso ao curso seja mediante convênio de empresas com o CEFET-PR ou através de testes de conhecimento geral e específico, sendo ofertadas, a princípio, 30 vagas por turma.
O Diploma de Técnico em Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares é obtido pelo aluno ao cumprir um número mínimo de módulos dentre os obrigatórios e optativos e realização de estágio supervisionado. O curso possibilitará a profissionais de algumas áreas técnicas a obtenção do mesmo diploma, desde que cumpram alguns módulos específicos, como é o caso do Técnico em Eletrônica. Os módulos que envolvem um número muito grande de aulas práticas em laboratório, como Eletrônica Analógica e Sensores devem ser cursados, quase que em sua totalidade, na
Escola, e em empresas de semelhante natureza, mediante convênio a ser estabelecido. O aluno pode realizar até três módulos, simultaneamente, de acordo com suas possibilidades, potencialidades intelectuais e escolaridade.
Discussão e Conclusões
A flexibilidade do curso e o aproveitamento da experiência profissional do aluno em certos tipos de equipamentos, podem desobrigá-lo de parte de algum módulo específico. Os módulos optativos permitem ao aluno o treinamento/qualificação em certas classes de equipamentos de seu interesse.
O curso engloba, também, equipamentos de apoio, de grande difusão nos hospitais e clínicas. O benefício social estender-se-á até para hospitais do Norte da Argentina e do Paraguai, próximos de Pato Branco, locais de onde poderão advir alunos. Há condições de aproveitar os docentes (já qualificados), a infra-estrutura predial e os equipamentos do Cefet/PR-Pato Branco.
Agradecimentos
Aos diretores de hospitais e clínicas de Pato Branco, Francisco Beltrão e região e às Regionais 7". e 8ª. de Saúde do Estado do Paraná.
Referências [l] Ministério da Saúde, "Saúde & Tecnologia"
Brasília: n. 1, 1994. [2] Brasil, "Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional". Brasília: Diário Oficial da União, n. 9394, 1996.
[3] W. H. Veneziano and R. Garcia, "Centros Regionais de Engenharia Clínica em Santa Catarina-Brasil", in VII SIMPOSIO LATJNOAMERICANO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA .. Bucaramanga, 1996, pp. 128.
[4] M. Frize and M. Cheng, "Technical services for healthcare facilities: a model for developing countries', Medical & Biological Engineering & Computing, n. 32, pp. 335-337, 1994.
[5] G. I. Johnston, "A Basic Clinica] Engineering Model for Developing Nations", Journal of Clinicai Engineering, v. 18, n. 1, pp. 41-46, 1993.
[6] Word Health Organization, "Global action plan on management, maintenance and repair of health care equipment'', Généve: pp. 75, 1987.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Certificação NBR ISO 9002 da Clínica São Vicente da Gávea/ RJ. Caso Prático.
Ricardo Reis 1, Luiz Eduardo Costa2, Mareio Vale3
2·3Engenheiro Biomédico (PEB-COPPE/UFRJ) - ECCO Engenharia Clínica Consultoria Ltda.
1Engenheiro Eletrônico (CEFET/RJ) - ECCO Engenharia Clínica Consultoria Ltda. [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - Este artigo descreve os principais passos realizados para atender o item 4.11 da norma NBR ISO 9002 para a certificação da Clínica São Vicente da Gávea. Nele são apresentados, de forma ampla, os principais problemas encontrados e as respectivas soluções adotadas visando atender as exigências do organismo certificador BVQi.
Palavras-chave: Engenharia Clínica, Certificação NBR ISO 9002, Qualidade.
Abstract - This article describes the main steps accomplished to assist the item 4.11 of NBR ISO 9002 for Clínica São Vicente da Gávea certification. ln this article are presented, in a wide way, the main problems found and the respective solutions adopted in order to assist the demands ofthe certifier organism - BVQi.
Key-words: Clinicai engineering, NBR ISO 9002 Certification, Quality.
Introdução
A necessidade de melhorar ainda mais a qualidade de atendimento e de se colocar num patamar de excelência de serviços, levou a Clínica São Vicente da Gávea no Rio de Janeiro CSV /RJ a se qualificar para receber a Certificação NBR ISSO 9002.
O trabalho de Certificação perante a ISO 9002 tem como um de seus principais itens, o item 4.11 -Controle de Equipamentos de Medição (manter equipamentos de medição controlados e calibrados). Esta exigência fez com que a Diretoria da Clínica acionasse os serviços da ECCO Engenharia Clínica Consultoria Ltda por esta já ser uma prestadora de serviços dentro de suas instalações, e consequentemente, já conhecedora de todo o parque de equipamentos biomédicos e das necessidades para atender o pré requisito específico.
Metodologia
Para realizar o trabalho, a Clínica São Vicente da Gávea do Rio de Janeiro (CSV/RJ) foi dividida em vários grupos de trabalho, cada um ficando responsável em desenvolver os itens da nonna NBR ISO 9002.
A Engenharia Clínica teve a oportunidade de participar de 2 (dois) grupos de trabalho, o referente a compras e o referente a manutenção do hospital. No segundo grupo foi desenvolvido a metodologia para a própria CSV/RJ para realizar as manutenções preventivas e as calibrações em equipamentos biomédicos.
Para desenvolver a metodologia de calibração foram enviadas várias cartas solicitando aos fornecedores dos equipamentos biomédicos os respectivos Certificados de Calibração. No entanto,
esta simples cobrança não surtiu o efeito esperado, uma vez que alguns dos fornecedores não sabiam do que se tratava e da necessidade de tal documento.
Este fato inusitado, fez com que o Serviço de Engenharia Clínica local (SEC) aprendesse e desenvolvesse os processos de calibração necessários para poder repassá-los aos fornecedores.
Por ocasião da auditoria de pré-certificação basicamente não existia a implementação do item 4.11, o que gerou uma não conformidade maior por parte do órgão certificador. Durante os 45 (quarenta e cinco) dias que restavam para a Certificação foram desenvolvidos os procedimentos, foram importados os padrões rastreáveis para calibração e dado início a duas tarefas importantes. A saber : o gerenciamento e a execução.
O gerenciamento do controle metrológico foi desenvolvido, basicamente, através de reuniões com médicos( as) e enfermeiros( as) para que se determinasse quais os equipamentos ficariam sob controle metrológico, bem como também, seus parâmetros, faixas e incertezas requeridas. Esta classificação levou em consideração a experiência dos médicos, enfermeiros e Portaria 2.043 de 12 de dezembro de 1994 do Ministério da Saúde, que define, dentre outras coisas, o grau de risco dos equipamentos. Os resultados das reuniões e toda a parte do gerenciamento do item, constituíram um procedimento dentro do sistema de qualidade da Clínica São Vicente.
Uma vez definidos os equipamentos e seus parâmetros, uma equipe de até 4 (quatro) técnicos treinados em procedimentos pré-estabelecidos 1111craram a execução das calibrações, com o preenchimento do formulário de Protocolo de Calibração. Foram utilizados, para realização das
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
medidas, os padrões importados comprovando-se assim a rastreabilidade internacional
De posse destes protocolos devidamente preenchidos, os dados foram introduzidos em um sistema informatizado que emitiu os certificados propriamente ditos. Este sistema continha todas as fórmulas e tudo o que é necessário para a determinação do cálculo das incertezas.
Dois (2) registros evidenciavam uma calibração realizada. Primeiro uma etiqueta que foi colocada em cada equipamento após a realização das medições. Nesta etiqueta estavam identificados o equipamento calibrado e a data de validade. O segundo registro é o Certificado de Calibração onde se fez constar, dentre outras informações, os padrões utilizados e as incertezas encontradas. Cada Certificado foi objeto de aprovação pelo responsável pela Clínica que foi treinado na avaliação dos Certificados de Calibração.
Resultados
Os resultados das etapas anteriores credenciaram a Clínica São Vicente da Gávea a solicitar a auditoria e obtê-la através do organismo certificador BVQi - Bureau Veritas em outubro de 1997.
No entanto especial atenção deve ser dada ao controle da emissão dos futuros Certificados, que não devem expirar a data limite, sob o risco de serem colocados em uso sem a devida calibração renovada, tendo como penalidade máxima e perda do Certificado NBR ISO 9002.
Dos aproximadamente 850 equipamentos existentes na CSV, 400 têm seus parâmetros calibrados e são controlados pela Engenharia Clínica através de um sistema informatizado denominado GIMES de propriedade da ECCO Engenharia Clínica Consultoria Ltda.
Discussões e Conclusões
Percebe-se que quando o assunto está relacionado a calibração de equipamentos biomédicos o número de questionamentos e de necessidades é imenso.
Fazendo uma análise crítica, não podemos resumir a questão de calibração de equipamentos biomédicos a somente a questão da preparação para a Certificação NBR ISO 9002.
Deve-se ter em mente uma necessidade muito maior. A exigência maior reside na necessidade de obtermos informações mais precisas possível, e para isto, necessitamos conhecer a forma de como os parâmetros são obtidos e quais são as faixas e incertezas requeridas para cada tipo de equipamento.
Para se ter uma pequena noção da dimensão deste assunto, basta propagar estas perguntas para dentro de um dos ambientes de maior risco em um hospital, o Centro de Tratamento Intensivo. Será que algum dia os profissionais de saúde, dentro de seus hospitais e/ou clínicas, questionaram ou questionarão
314
os fabricantes de seus equipamentos com relação as medidas apresentadas e a incerteza requerida para cada parâmetro ?
Além de ser uma exigência muito dificil de ser atingida por uma empresa que está se candidatando a Certificação NBR ISO 9000, o conceito e a necessidade de calibração é bastante difundido e praticado dentro do ambiente das industrias.
Entretanto, sua aplicação é muito importante para ficar restrita no ambiente industrial. É necessário aumentar a abrangência e aplicação dos procedimentos, métodos, critérios de calibração, incluindo neste processo representantes do mercado consumidor (clientes), fabricantes, governo, entidades de classe, etc ... para que possamos tornar este sonho em uma realidade presente em todas as unidades de saúde deste país.
Dentro deste conceito de necessidade, observou-se também a falta de laboratórios de calibração credenciados pela rede brasileira de calibração (RBC) para os parâmetros médicos a serem medidos, tais como : Sa02, freqüência cardíaca entre outros. A solução encontrada para este problema foi a importação de simuladores / medidores já rastreados pela rede americana.
Agradecimentos
Gostaríamos de agradecer todas aquelas pessoas que contribuíram para alcançar os resultados planejados, em especial ao Dr. Roberto Matheis Londres - Diretor Presidente e a Enfermeira Marilena Martins Pereira Gerente da Qualidade, ambos da Clínica São Vicente da Gávea do Rio de Janeiro.
Referências
[l] "Conscientizaçào e Motivaçào para a Qualidade", Apostila do Curso Conscientização e Motivação para a Qualidade, 1997.
[2] "Confirmação Metrológica", Apostila do Curso Confirmação Metrológica, 1997.
[3] Norma NBR ISO 9002. [4] Norma NBR ISO 10012.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação do Microclima Proporcionado por Incubadoras Infantis
Fábio Iaione 1, Raimes Moraes2
J.2Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica (GPEB), Depto. de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil, 88040-900 Fone (OXX48)331-9594, Fax (OXX48)331-9770
1Centro de Engenharia Biomédica Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS, Brasil, 99010-080
Fone (OXX54)3 l l-2000, Fax (OXX54)-3 l l-6669 iaione@gpeb. ufsc. br, nnoraes@gpeb. ufsc. br
Resumo - Incubadoras para recém-nascidos são fabricadas de acordo com a norma NBR IEC 601-2-19. Contudo, estas devem ser examinadas periodicamente (seguindo um programa de manutenção preventiva) para avaliar se seu desempenho não foi degradado pelo uso.
Para avaliação do desempenho das incubadoras, a NBR lEC 601-2-19 requer a execução, sob diferentes condições de operação, das seguintes medições: temperatura do ar em cinco pontos diferentes, umidade relativa, nível de pressão sonora e velocidade do fluxo do ar. Portanto, os testes requerem a utilização de 4 instrumentos diferentes. Tais medições são geralmente obtidas manualmente por um operador para posterior análise. Desta descrição é possível observar que este procedimento é relativamente complexo, demandando bastante tempo para a sua execução. Para simplificar esta tarefa, este trabalho apresenta um sistema microprocessado projetado para realizar estas medições de forma semi-automática.
O equipamento possui três modos de operação: Medidor, Coletor e Testador. No modo Medidor, o equipamento apresenta medições de todos os sensores em seu display. No modo Coletor, medições são automaticamente realizadas a cada minuto e armazenadas na memória juntamente com a data e hora de aquisição. No modo Testador, o equipamento executa os testes recomendados pela NBR lEC 601-2-19. Durante este procedimento, o equipamento emite sinais sonoros, exigindo alterações do modo de operação da incubadora por parte do operador, de acordo com as mensagens exibidas em seu display. Após as alterações, o equipamento realiza as medições necessárias.
Resultados obtidos na avaliação de cinco incubadoras com o uso do sistema descrito são apresentadas.
Palavras-chave: Recém-nascido, incubadora, teste.
Abstract - Newbom incubators are built according to the lEC 60601-2-19 nom1 that establishes requirements to minimise patients and users risks. It also describes tests to assess whether these requirements are accomplished. Incubators must be periodically evaluated (according to a preventive maintenance program) to assure that their perfo1111ance have not been degraded by use.
To verify their functionality, the IEC 60601-2-19 demands the following measurements in different operating conditions: air temperature in 5 different places, relative humidity, sound levei pressure and aír flow velocity. Therefore, their assessment requires 4 different instruments. Usually, an operator manually carries out the measurements for later analysis. From above, one can realise that this is a quite complex procedure and very time consuming. To simplify the task, this work presents a microprocessed equipment to make ali measurements in a semiautomatic way.
The equipment operates in three different modes: Meter, Collector and Tester. ln the Meter Mode, measurements are presented on its display. ln the Collector Mode, measurements are automatically perfonned at each minute and stored in a memory along with the time and date of acquisition. These data can be downloaded to a PC. ln the Tester Mode, the equipment performs the measurements recommended by the IEC 60601-2-19. Along the procedure, the equipment beeps, demanding actions that are presented on the display. The operator has to change the incubator settings according to the messages. So, the equipment makes the measurements at different operating points.
The results obtained from the assessment of five incubators are presented.
Key-words: Newbom, incubator, test.
Introdução
A incubadora aquecida por convecção ou incubadora neonatal é um equipamento eletromédico usado para a manutenção da vida de recém-nascidos
prematuros. Sua função é proporcionar ao recémnascido um ambiente termoneutro através do controle da temperatura e da umidade relativa do ar. O ambiente termoneutro é aquele onde o recém-nascido produz o mínimo de calor possível, mantendo sua temperatura
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
corporal nonnal. Isto contribui para um desenvolvimento mais rápido do infante com menor incidência de doenças [l], [2], [3], [4] e [5].
Um dos principais requisitos na aquisição de uma incubadora é a certificação da mesma pela norma NBR IEC 601-2-19 (Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para segurança de incubadoras para recém-nascidos) que estabelece os requisitos que minimizam os riscos ao paciente a ao usuário, e os ensaios para verificar a conformidade com estes requisitos [6].
Entretanto, com o tempo, as incubadoras tendem a sofrer uma deterioração natural, e consequentemente, deixar de satisfazer os requisitos da norma. Como a incubadora é utilizada no tratamento de pacientes muito sensíveis e com capacidade de comunicação muito limitada, a verificação dos principais requisitos da norma, relacionados à segurança do paciente, deve ser realizada após manutenção corretiva ou na manutenção preventiva.
Os principais ensaios sugeridos nas seções 8 e 11 da norma NBR IEC 601-2-19 requerem a medição, no interior da incubadora, da temperatura do ar em cinco pontos diferentes, da umidade relativa, do nível sonoro e da velocidade do fluxo de ar. Estes ensaios implicam portanto na utilização de quatro equipamentos diferentes. Além disso, as leituras dos aparelhos devem ser registradas, por um operador, para uma análise posterior do desempenho da incubadora. Isso certamente exigiria uma mão de obra especializada, um custo elevado e um tempo relativamente grande para execução.
A descrição acima, aliada à realidade brasileira, evidencia a complexidade da execução destes ensaios. Por outro lado, a sua não realização implica em oferecer um atendimento que pode apresentar riscos aos recémnascidos.
Em função da inexistência no mercado de um equipamento para realizar esses testes, decidiu-se projetar e construir um aparelho eletrônico microcontrolado para verificar o funcionamento das incubadoras, tendo como base as Seções 8 (Exatidão de dados de operação e proteção contra características de saída incorreta) e 11 (Requisitos adicionais) da referida norma. Estas seções tratam especificamente das condições ambientais proporcionadas ao infante pela incubadora [6].
Deve-se enfatizar que o sistema não tem a finalidade de ce1tificar incubadoras pois, para tal fim, deveria realizar todos os ensaios das seções citadas da norma. Além disto, seria necessária a realização dos ensaios de outras seções da norma (abordam, por exemplo, a resistência mecânica, o risco de choque elétrico) e ainda, os ensaios da norma geral.
Metodologia
O aparelho desenvolvido baseia-se no microcontrolador 80C552 da família MCS-51 que possui entre as característica adicionais, um conversor analógico-digital interno de 1 O bits com 8 entradas.
Junto com o microcontrolador, formando a unidade de controle, estão ainda uma memória EPROM de 64 kBytes (que armazena o programa que controla o aparelho), uma memória RAM TIMEKEEPER de 8 kBytes (que possibilita o armazenamento dos dados medidos juntamente com a data e hora), uma referência de tensão para o conversor A/D e um conversor TTLRS232 (que permite a transferência de dados para um computador através da porta serial). O aparelho é alimentado por baterias recarregáveis ( 6V) e possui um circuito para recarregar as mesmas.
Para medição de temperatura foram utilizados cinco sensores do tipo circuito integrado (DS 1820), fabricado pela Dallas. Esses sensores possuem apenas três pinos e fornecem a leitura da temperatura através de um protocolo de comunicação serial. Permite ainda, que vários dele sejam ligados ao mesmo pino de I/O do microcontrolador.
Para medição da umidade relativa (UR) foi utilizado o sensor RHU 217-AT (General Eastern). Esse sensor possui um elemento resistivo sensível à umidade relativa e um circuito para o condicionamento do sinal. O sensor fornece uma tensão de saída entre OV e 3,3V para uma variação na umidade relativa de 0%U.R. a 100%U.R.
Para medição de ruído sonoro desenvolveu-se um circuito baseado em um microfone de eletreto. O sinal de saída é condicionado por filtros (projetados a partir de amplificadores operacionais) para se obter uma curva de resposta em freqüência ponderada em "A", e um conversor RMS-DC (AD636). Este último supre ao conversor A/D um nível DC proporcional ao valor RMS do sinal [7] e [8].
Para avaliar a velocidade do fluxo de ar, desenvolveu-se um circuito baseado em anemometria térmica. Este fornece potência para manter um pequeno termistor (NTC encapsulado em vidro) à 70°C. O circuito indica a velocidade do fluxo de ar, levando-se em consideração a temperatura do ar [9] e [10].
Todos os circuitos do aparelho ficam alojados dentro de uma caixa plástica que é deixada do lado de fora da incubadora. Os sensores foram fixados em uma plataforma. Quando esta plataforma é colocada dentro da incubadora, os sensores ficam nas posições sugeridas pela norma, com exceção do sensor de velocidade do ar, que fica no ponto V, próximo ao ponto A (Figura 1 ).
········· ··········
colchão
Figura 1 - Posicionamento dos sensores
Os sensores de temperatura ficam nos pontos A, B, C, D e E. O microfone fica 5 cm acima do ponto A e o sensor de umidade relativa, 1 O cm acima do mesmo ponto.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
A Figura 2 mostra o equipamento sendo utilizado com a base dos sensores posicionada dentro da incubadora.
Figura 2 - Protótipo sendo utilizado em uma incubadora
Para os sensores de temperatura, realizou-se uma calibração considerando o sensor A como o medidor de referência. Foram realizadas 3 séries de medições, sendo que, em cada série, as medidas do padrão local (sensor A) foram comparadas com as medidas dos outros sensores. Em cada série foram registradas aproximadamente 50 temperaturas diferentes, entre 30°C e 40ºC, com uma variação crescente.
Com os valores registrados nas 3 séries, para cada sensor, obteve-se uma reta de regressão média e os respectivos coeficientes de correção para aproximar as leituras às do sensor A. Os coeficientes de correção, para cada sensor, foram acrescentados no programa do microcontrolador para corrigir as leituras. Assim, a incerteza de medição total de cada sensor foi calculada pela soma quadrática entre o erro relativo ao sensor A, após correção, e a incerteza de medição do sensor A, especificada pelo fabricante (±0,5ºC). Tal procedimento resultou no valor de ±0,51 ºC em tomo de 34 ºC. Cabe observar que alguns testes importantes sugeridos pela norma NBR IEC 601 são relativos a homogeneidade da temperatura nos pontos A, B, C, D e E. Isto ressalta a iI:1portância de pequenas diferenças entre as leituras dos cmco sensores.
Para calibração do sensor de umidade relativa foi utilizado um termo-higrômetro calibrado (Minipa MTH-1360) como padrão local. Foram realizadas três séries de medições entre 30% e 80% de umidade relativa. Com as medidas obtidas nas três séries, calculou-se uma reta de regressão média que descreve o comportamento do sensor utilizado. Utilizando-se os coeficientes dessa reta, calculou-se coeficientes de correção que foram acrescentados no programa para corrigir as leituras do sensor, aproximando-as do padrão local. A incerteza de medição foi calculada pela soma quadrática da incerteza herdada do padrão local e do erro relativo a este, após a correção, resultando em ±4% (unidade de umidade relativa).
A calibração do circuito medidor de nível de pressão sonora foi realizada na câmara semi-anecóica
do Laboratório de Acústica e Vibrações da Universidade Federal de Santa Catarina. O medidor de nível sonoro usado como padrão local é da marca Bruel&Kjaer, modelo 2230. Este equipamento foi calibrado com um calibrador de nível sonoro Bruel&Kjaer, modelo 4230 (94dB±0,3dB).
Para a geração das ondas sonoras senoidais, com possibilidade de ajuste na amplitude e freqüência, foi utilizado um gerador de funções conectado a uma caixa acústica amplificada (componente de kit multimídia, marca Altec, modelo ACS90). Essa caixa acústica tem uma resposta de freqüência de 90Hz à 20kHz, o que exigiu a utilização de um outro alto-falante, do tipo woffer, para as medidas abaixo de 1 OOHz.
Foram realizados vários testes sugeridos pela norma IEC651 (Sound Levei Meters) (11]. As medidas da tensão de saída, obtidas para níveis crescentes de pressão sonora à freqüência de 1 OOOHz, foram usadas para modelar o circuito através de uma regressão polinomial de ordem 3, cujos coeficientes foram usados pelo software do aparelho para indicar a pressão sonora em função das leituras do conversor A/D.
A incerteza de medição total obtida através da soma quadrática de todos os erros foi de ±1,0dB. Tal valor é compatível com o especificado pela norma IEC65 l (±l ,5dB) para um medidor do Tipo 3. A resposta em freqüência também ficou dentro dos limites para o Tipo 3.
Para calibrar o sensor de velocidade do ar utilizou-se um sensor eletrônico de fluxo (Honeywell -modelo A WM 5104 VN), colocado em uma tubulação de seção transversal conhecida. Através da leitura do sensor de fluxo, calculou-se a velocidade do ar.
Para modelar o medidor construído, ajustou-se um fluxo com velocidade de 0,35 mís (limite máximo permitido dentro da incubadora) e variou-se a temperatura do ar de 27 à 33°C, registrando-se as tensões de saída. Com os dados obtidos realizou-se uma regressão polinomial de ordem 3 para obter a equação que descreve a tensão de saída em função da temperatura do ar, para uma velocidade de 0,35mís. Os coeficientes da equação foram colocados no programa. Assim, o microcontrolador lê a tensão de saída do sensor e a temperatura do ar (ponto e verifica se correspondem a uma velocidade abaixo de 0,35 mís.
O aparelho construído funciona de três modos diferentes: medidor, coletor e testador. No modo medidor, o aparelho simplesmente mede as grandezas e mostra-as no visor. No modo coletor, ele realiza uma medida de todos os parâmetros a cada minuto, memorizando-os junto com a data e hora. Posteriormente esses dados podem ser transferidos para um computador PC através do programa Hyperterminal do Windows, que salva um arquivo texto que poderá ser aberto por vários outros programas (Excel, Mathcad, etc). No modo testador, o equipamento realiza vários testes baseados na norma NBR IEC 601-2-19. Nesse modo, mensagens são mostradas no visor para orientar o operador nos ajustes dos controles da incubadora e mostrar as falhas que eventualmente ocorrerem.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Numa primeira fase, o equipamento foi utilizado no modo coletor para testar cinco incubadoras utilizadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Para realizar esse teste, primeiramente colocou-se a base dos sensores dentro da incubadora (cúpula totalmente fechada), deixando o equipamento de teste desligado, por aproximadamente 5 minutos, para que a temperatura se estabilizasse em todos os sensores. Depois, ligou-se o aparelho de teste para iniciar a coleta de dados. Essas primeiras leituras indicam a temperatura e umidade relativa ambientes onde a incubadora foi testada e servem para verificar se as leituras dos 5 sensores de temperatura estão próximas. Após 5 minutos, ligou-se a incubadora e ajustou-se o controle de temperatura para o máximo aquecimento.
Quando a temperatura atingiu 36°C (temperatura observada no termômetro da cúpula), reajustou-se o controlador de temperatura da incubadora para manter este nível. O teste foi realizado sem e com água no reservatório de umidificação (ajustado em 50%). Cabe observar que nenhuma das incubadoras possuía sistema de umidificação ativo. A análise dos dados foi realizada através do programa comercial e levou-se em consideração os seguintes itens: temperatura ambiente (Tam); UR ambiente (URa); tempo para aquecer até temperatura de controle (Taq); diferença entre a temperatura média no ponto A após estabilização e a ajustada para controle (Tdif); diferença máxima entre as temperaturas médias nos pontos A, B, C, D e E após estabilização (Tdm); UR dentro da incubadora após estabilização (URi); velocidade do fluxo de ar (Va) e nível de pressão sonora (NPS).
Em outra fase, o aparelho foi utilizado experimentalmente no modo testador, sem o registro das falhas indicadas no visor, apenas com a finalidade de avaliar a facilidade de utilização.
Resultados
Todas a incubadoras testadas eram do tipo T AC (temperatura do ar controlada) e não possuíam controle de umidade em malha fechada.
A Tabela 1 apresenta as medidas realizadas nas cinco incubadoras sem a utilização de água no reservatório de umidificação (Grupo 1 ). Os testes foram repetidos nessas incubadoras com a utilização de água no reservatório (Grupo 2). A existência dos dois grupos foi motivada pelo fato de algumas instituições de saúde não usarem umidificação. Elas alegam que a ausência de água no reservatório reduz o risco de infecções [2]. Esses últimos resultados são apresentados na Tabela 2. As abreviações utilizadas nas tabela são:
Tam: Temperatura do ar ambiente; URa: Umidade relativa do ar ambiente; Taq: Tempo de aquecimento. Intervalo de tempo até a temperatura interna atingir a temperatura de 36°C; T dif: Diferença entre a temperatura média no ponto A, após estabilização, e a ajustada para controle; T dm: Diferença máxima entre as temperaturas médias nos pontos A, B, C, D e E, após estabilização; URi: UR dentro da incubadora após estabilização;
Va: Velocidade do fluxo de ar no ponto V; NPS: Nível de pressão sonora;
Tabela 1 - Resultados obtidos, no modo coletor, em cinco incubadoras. Essas medidas foram realizadas sem
a utilização de água no reservatório
Incub-> 1 2 3 4 5 Tam[ºC] 22,98 23,22 22,09 21,99 24,15 Taq [min. l 35 50 45 34 30 Tdif[ºC] -1,765 -1,108 -0,57 -3,372 -3,725 Tdm[ºC] 0,741 -0,824 -1,36 0,691 0,731
A-D A-B A-B A-D A-D URaí%] 48,7 54,5 60,5 63,9 66~ URií%1 29,2 28 ·r ~.7,2 31, Va [m/s] < 0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 NPSídBl < 60 < 60 < 60 < 60 < 60
Tabela 2 - Resultados obtidos, no modo coletor, em cinco incubadoras. Essas medidas foram realizadas com
a utilização de água no reservatório
lncub-> 1 2 3 4 5 Tam[ºC] 24,28 22,18 22,13 24,51 23,43 Taq[min.] 35 72 43 20 26 Tdif[ºCl 1-1,754 /"\ "~" -1,328 -2,858 -3,82 Tdm[ºC] 0,813 0,781 -0,796 0,83 0,711
A-D A-D A-B A-D A-D URaí%l 66 63,3 56,2 49,7 56,2 URi[%1 67,05 44,9 47 66 61,5 Va [m/sl < 0,35 < 0,35 <0,35 < 0,35 < 0,35 NPSídBl < 60 < 60 < 60 < 60 < 60
Discussão e Conclusões
O tempo médio para as incubadoras do Grupo atingirem a temperatura de 36ºC (Taq) foi de 38.8 minutos (D.P.=8.35). Para o Grupo 2, 39,2 minutos (D.P .=20,31 ). Isso mostra que o tempo de aquecimento não é influenciado pela utilização de água no reservatório de umidificação. De modo geral, percebe-se que o tempo de aquecimento aumenta quando há uma diminuição da temperatura externa a incubadora, o que já era esperado.
Em relação ao parâmetro T dif, percebe-se que 3 incubadoras foram reprovadas sem umidificação e 3 com umidificação. Utilizou-se o critério de ±l ,5°C da norma, como tolerância máxima.
Em relação a diferença entre a temperatura média no ponto A e nos pontos B, C, D e E (Tdm), verifica-se que pelo critério da non11a (tolerância máxima = ±0,8°C), 2 incubadoras do Grupo 1 e 2 incubadoras do Grupo 2 (não as mesmas) foram reprovadas. Esse índice de reprovação e falta de repetibilidade talvez possam ser explicados em função de fluxos de ar com velocidades muito baixas, já que nenhuma das incubadoras apresentou uma velocidade do ar acima do limite da norma (0,35 m/s). Assim, percebe-se a necessidade de avaliar o valor da velocidade do ar, e não apenas detectar se é maior ou menor que 0,35 m/s, como sugere a norma.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
A umidade relativa dentro das incubadoras do Grupo 1 ficou sempre fora da faixa de conforto térmico ( 40% à 60% ), mesmo para umidades externas acima de 60%. O valor médio foi de 31,18% U.R. (D.P.=3,6). Isso coloca em dúvida a prática utilizada em algumas instituições de saúde, de não utilizar água para diminuir o risco de infecções. Com uma umidade relativa baixa dentro da incubadora, aumentará a perda de calor por evaporação do recém-nascido, assim como a perda de água.
Para o Grupo 2, com o controle de umidificação ajustado em 50%, 3 incubadoras apresentaram uma umidade superior ao limite máximo da faixa de conforto, sendo que o valor médio foi de 57 ,29% U.R. (D.P.=10,58). Assim, sugere-se a utilização de sistemas de controle automático de umidade que possa ser adaptado nessas incubadoras.
Todas as incubadoras apresentaram um nível de ruído sonoro abaixo do limite sugerido pela non11a (60dB). Nenhuma das incubadoras apresentou uma velocidade do fluxo de ar acima do máximo permitido (0,35 m/s).
O aparelho construído, numa primeira etapa, foi utilizado pelo Centro de Engenharia Biomédica do Hospital São Vicente de Paulo, que sugeriu alguns melhoramentos. Atualmente, no modo testador, o aparelho emite um sinal sonoro quando são necessários ajustes nos controles da incubadora e também quando são detectadas falhas (indicadas no visor). Se o aparelho armazenar as mensagens de falha, permitindo .uma posterior transferência para um computador, o operador seria requisitado apenas para ajustar os controles da incubadora durante o teste, tornando-o assim mais fácil. O circuito medidor do nível de pressão sonora deveria ter uma faixa de medição maior para possibilitar a avaliação do ruído de fundo máximo permitido na sala de testes (50dB), pois atualmente a faixa de medição é de 58dB à 83dB.
Atualmente, o aparelho está sendo utilizado para avaliação pelo Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Santa Catarina. Após reunir e executar eventuais aperfeiçoamentos sugeridos pelos dois grupos citados, pretende-se obter um modelo para comercialização.
Os resultados deste trabalho mostraram que muitas incubadoras proporcionam um microclima que não é totalmente apropriado para o recém-nascido. Acredita-se que essa situação seja comum em outros regiões ou países, onde as incubadoras tem um longo ciclo de vida.
Espera-se que este trabalho contribua para um aumento na segurança e eficácia dos tratamentos utilizando incubadoras infantis.
Referências
[l] Amorim, Mardson Freitas. "Contribution a la conception et au developpement d'un nouvel incubateur: systeme de controle d'humidite et monitorage cardio-respiratoire". Tese de doutorado. Universite de Technologie de Compiegne, 1994.
319
[2] Arone, Evanisa Maria. "Variações da umidade relativa no microclima de uma incubadora". São Paulo: FANEM LTDA, 1995.
[3] Bach, Véronique et ai.. "Thermal environment in incubators for neonates'', ln: WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING. Nice, 1997. p. 636.
[4] Fanaroff, Avroy A. & KLAUS, Marshall H .. "Alto risco em neonatologia". 4. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1973.
[5] Hey, E. & Katz, G. "The optimum thermal environment for naked babies". Archives of disease in childhood, 1970. pp. 328-334.
[6] NBR IEC 601-2-19 "Equipamento eletromédico Parte 2: Prescrições particulares para segurança de incubadoras para recém-nascidos". ABNT, 1997.
[7] Gerges, Samir N. Y.. "Ruído:Fundamentos e controle". 1. ed. Florianópolis, 1992.
[8] Kinsler, Lawrence E. et ai.. "Fundamentals of Acoustics". 3. ed. Wiley, 1982.
[9] Fujita, Hiroyuki et al.. "A thermistor anemometer for low-flow-rate measurements". IEEE Trans. on inst. and meas. v.44, n.3 june, 1995.
[10] Okamoto, Ken et ai.. "A digital anemometer". IEEE Trans. on inst. and meas. n.2 april, 1994.
[ 11] IEC 651. "Sound levei meters". International Electrotechnical Commission. 1. ed. 1979.
;:! l '!,
>i <{
i: :1 y,
f,'. "l ;'t
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Impacto da Implantação de um Sistema de Garantia da Qualidade na Radiologia Odontológica no Estado de São Paulo
Alejandro Yacovenco 1, Luiz Tauhata2
, Antônio F.C. Infantosi3
1Programa de Engenharia Biomédica (PEB), Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), CETRE DO BRASIL, Brasil, 21945-970
Fone (OXX21)560-5108, Fax (OXX21)290-6626 2Depto. de Metrologia, Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD), Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Brasil, 22780-160 Fone (OXX2 l )442-9686, Fax (OXX2 l )442-9651
3Programa de Engenharia Biomédica (PEB), Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil, 21945-970
Fone (OXX21)560-5108, Fax (OXX21)290-6626 [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - O objetivo do presente trabalho é descrever o Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) e a metodologia de implantação e gerenciamento do Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) nos serviços de radiologia odontológica utilizando como área piloto o Estado de São Paulo. Esta baseou-se em orientar o profissional para obter, com segurança e com os recursos disponíveis, a melhor imagem para diagnóstico e interpretação. A estratégia consistiu na monitoração dos parâmetros de exposição e geométricos, além da introdução de procedimentos tais como controle do revelado e análise do índice de rejeição. Os resultados principais foram: redução da dose de radiação na entrada da pele dos pacientes de 84 % acima de 2,5 mGy para 43 %; redução do diâmetro do campo de radiação de 61 % acima dos 6 cm para 3 %; aumento da filtração total de 49 % inferior a 1,5 mm de alumínio para 100 % , e com conseqüente aumento da tensão de pico de 1,4 % acima de 65 kV para 18,7 %. Quanto ao controle do revelado e análise do índice de rejeição, que antes simplesmente não existiam, após a implantação do PGQ, foram implementados em cerca de 91 %. Os resultados mostraram que o desempenho foi muito bom, com todos os objetivos atingidos e que o processo elaborado permitiu resolver alguns problemas crônicos da radiologia odontológica.
Palavras-chave: Programa de Garantia da Qualidade, Qualidade na Odontologia, Dosimetria em Odontologia.
Abstract - The main purpose of this work is to describe the Quality Assurance System (QAS), and the process of implementation and management of a Quality Assurance Program (QAP) in Odontological Radiology Services using as a pilot area the state of São Paulo. The methodology was based on the orientation of the professionals to safely and with the available resources, to obtain the best image for diagnostic and its interpretation. The strategy was based in monitoring exposure and geometric parameters. Internai procedures were also considered such as development control and rejection rate analysis. The main results indicate a reduction of entrance skin dose from 84 % greater than 2.5 mGy to 43 %; reduction of size of radiation field from 61 % greater than 6 cm to 3 %; growth of total filtration from 49 % under 1.5 mm of aluminum to 100 %, and with consequently increase of pick voltage from 1.4 % greater than 65 kV to 18.7 %. About control of processing and analysis of rejection rate, that before were not considered, after implementation of the QAP was applied in 91 % of dentist's offices. Results shown that work was :fully accomplished and the elaborated process proved to solve most ofthe chronic problems of odontological radiology.
Key-words: Quality Assurance Program, Quality in Odontology, Dosimetry in Odontology.
Introdução
No Brasil, problemas da área radiológica, como o desempenho ineficiente de aparelhos de raios X que causam doses elevadas nos pacientes, imagens de baixa qualidade diagnóstica e taxas de rejeição elevadas, têm sido alvo de ação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), através do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).
A partir do Decreto 1754 de 14.03.1978 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que incluiu, entre as exigências para o licenciamento de instalações de
raios X a obrigatoriedade de um laudo de proteção radiológica do IRD, deu-se o ponto de partida do primeiro programa de controle de radiações em instalações de radio-diagnóstico (médico e odontológico) do país. O objetivo era quantificar e reduzir as doses recebidas pela população, e avaliar a eficácia do programa de controle de radiações como um todo [1,2].
Para atender o grande número de instalações odontológicas, o IRD introduziu um kit odontológico para inspeção via postal. Os dados apontaram uma distribuição de dose na entrada da pele dos pacientes
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
com mais de 80 % acima dos valores aceitáveis [2,3]. A superfície da pele [7]. Além da implementação, ficou distribuição de dose na pele, em 1982, mostrado na claro que, para o sucesso de um programa que figura 1, exemplifica a situação preocupante com tal incorporava ações com resultados favoráveis, seria realidade, resultando em esforços no sentido de necessário estabelecer mecanismos que garantissem a melhorar a situação da radiologia no país [4]. sua continuidade, pois constatou-se a descontinuidade
o acidente com Cs-137 na cidade de Goiânia, em do PGQ e o retorno dos índices anteriormente setembro de 1987, contribuiu bastante para sensibilizar alcançados [8]. as autoridades federais e estaduais para a questão da proteção radiológica abrangendo setores da Saúde, do Trabalho e do Meio Ambiente.
A CNEN, equipou-se de aparelhos modernos para atuar como laboratório de radiologia diagnó~tic~ e convenho-se com o Ministério da Saúde, com o mtmto de fiscalizar e implantar programas de controle de qualidade e redução de doses.
40
Nº Aparelhos= 598
10 15 20 25 30 35 40
Dose absorvida na entrada da pele (mGy)
Figura 1 Distribuição da dose absorvida na entrada da pele em exames odontológicos. Dados obtidos pelo IRD no Rio de Janeiro em 1982 [4].
Apesar dessas iniciativas, os resultados continuaram apontando para um quadro lamentavelmente ruim. Uma avaliação dos dados de inspeção realizadas pelo IRD no Rio de Janeiro, de 1990 a 1992, em cerca de 2.300 equipamentos de raios X dentários [ 4,5], revelou que mais de 80 % dos dentistas realizava exames com doses na pele dos pacientes superiores a 2,5 mGy (figura 2) e cerca de 85 % subrevelavam seus filmes. Levantamentos realizados em outros estados [ 5] indicaram quadro similar ou ainda pior.
Nos trabalhos realizados em diversos estados do Brasil, ficaram constatados problemas como doses altas, filmes com véu intrínseco elevado, e a baixa qualidade das imagens [4,5].
Em alguns estados, a Vigilância Sanitária não realizava seu trabalho de maneira adequada nas mensurações dos parâmetros, devido a limitações técnicas como, por exemplo, a não disponibilidade de aparelhos de medida para análise adequada e eficaz dos itens que envolvem a segurança da saúde coletiva. Nos países latino americanos a situação é similar àquela do Brasil. Mesmo no continente Europeu, onde existem aparelhos mais modernos, que atendem às normas, esta problemática está presente [6].
Em 1992, diante desta problemática, foi implementado um Programa de Garantia da Qualidade (PGQ) no Serviço de Radiologia do Hospital da Polícia Militar (HPM) do Estado do Rio de Janeiro alcançando resultados inéditos até então, ou seja, redução nos custos, na taxa de rejeição e na dose de entrada na
Nº Aparelhos= 1038
10 15 20 25 30 35 40
Dose absorvida na entrada da pele {mGy)
Figura 2- Distribuição da dose absorvida na entrada da pele em exames odontológicos. Dados obtidos pelo IRD no Rio de Janeiro no período de 1990 a 1992 [ 5].
Com os resultados positivos obtidos pelo PGQ implantado no HPM, buscou-se implantar, ampliar e divulgar o PGQ num polo maior: o Estado de São Paulo. A possibilidade, se concretizou e tomou força com o surgimento da Norma Técnica para os serviços radiológicos de saúde (Resolução SS-625 de 14.12.1994 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo) [9]. Além disto, a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD) junto à empresa CETRE, resolveram apoiar e investir num PGQ que propiciasse eficiência à baixo custo para reverter a situação difícil que se encontrava o setor de saúde na área radiológica. Optou-se assim pelo desenvolvimento de um Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ).
Metodologia
O SGQ compreendeu todos procedimentos necessários para a implantação e continuidade de um PGQ em cada um dos consultórios. Já o PGQ visa o equipamento e a execução dos procedimentos para melhor atendimento às questões de saúde nos serviços odontológicos.
Para o desenvolvimento do SGQ, surgiu a necessidade de conhecer melhor a classe dos cirurgiões dentistas, os problemas que envolviam os profissionais, suas necessidades e conflitos. Isto foi obtido através do acesso e colaboração da APCD (jornal, revista e TV), que permitiam estabelecer o perfil desse profissional assim como do paciente.
Descobriu-se que era necessário promover mudanças de valores ético-sociais e, por conseguinte, de atitude sobre a importância de participar do PGQ. O trabalho de conscientização foi feito por meio de diálogo, seminários, palestras, reportagens e matérias no jornal, e difusão de um programa que garantisse a elevação do nível das atividades em radiologia. O
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
trabalho se expandiu, estendendo-se até aos cirurgiões dentistas "anônimos".
Os trabalhos foram desenvolvidos criteriosamente, com temas sempre pertinentes, passando pelas normas e medidas de proteção, envolvendo aparelhos de raios X, até a qualidade da imagem. Existiram barreiras, divergências de idéias e alguns desafios, mas a ênfase à necessidade de mudanças por parte dos profissionais da área e de que o PGQ estava ao lado dele e não contra, foi muito decisivo na aplicabilidade. Explicitar a cobrança de taxas e o desleixo das autoridades frente às questões da fiscalização colaborou para o entendimento de muitos, dando credibilidade e apoio para um trabalho sério e pretensiosamente modificador de uma realidade.
Apresentando o Estado de São Paulo um grande contingente de dentistas, para realizar o trabalho fez-se necessário a formação de duas equipes de profissionais: uma técnica para a obtenção dos dados e outra administrativa que colaborasse com o trabalho burocrático efetivando e complementando o trabalho da primeira. Os profissionais das equipes foram treinados pelo autor para as tarefas a serem desempenhadas, de maneira a viabilizar o bom desenvolvimento do SGQ.
No período da implantação do SGQ foram realizados mais de 42 encontros regionais em diferentes cidades do Estado de São Paulo. O sucesso da estratégia adotada nos seminários e palestras pôde ser medido pelo alto número de solicitações para participar do programa, que conseguiu, em um pouco mais de dois anos, inspecionar mais de 12.000 aparelhos de raios X odontológicos do Estado de São Paulo. Foi também graças aos seminários, palestras, simpósios e cursos de capacitação em proteção radiológica, proferidos pelo autor deste trabalho, apoiados pela APCD e patrocinados pela empresa CETRE que se conseguiu colocar o profissional dentista como parceiro na implantação do PGQ em seu consultório. Na tabela 1 podem ser vistos os percentuais da participação no PGQ correspondentes a cada município sede do Estado.
Tabela 1: Participação relativa dos municípios do Estado de São Paulo no SGQ.
MUNICIPIO SEDE PARTICIPAÇAO (%)
Andradina 3,1 Araçatuba 3,4 Araraquara 1,0 Ban-etos 1,1
Baurn 3,0 Campinas 3,8 Piracicaba 4,2 Pres.Prudente l.8 Ribeirão Preto 3,4 Santos 4,2 São José do Rio Preto l.5 São José dos Campos 3,8 São Paulo 61,6 Sorocaba 4,1
Uma parte importante do SGQ foi a elaboração de um programa informatizado de avaliação dos dados. Assim sendo, com o objetivo de proporcionar suporte ao
SGQ foi desenvolvido um Sistema Informatizado de Apoio a Inspeção (SIAI) de modo a empregar uma metodologia uniforme para a realização das inspeções e emissão dos relatórios. O SIAI é um conjunto de módulos, implementados inicialmente em Microsoft Office 2.0, migrando posteriormente para um sistema totalmente integrado, elaborado em Access 7.0 e em ambiente Windows 3.11 [10].
O SIAI, além de servir como banco de dados, constitui-se em instrumento de gerenciamento das inspeções. O trabalho rotineiro de processamento dos dados de entrada provenientes das inspeções e sua comparação com dados de referência de limites de aceitação e de normas técnicas, foi realizado em um microcomputador tipo IBM-PC. O sistema informatizado permitiu aplicar uma metodologia uniforme para a realização de inspeções e emissão de relatórios.
O protocolo de avaliação dos parâmetros do aparelho de raios X contou com o controle dos parâmetros de expos1çao (kVP, mA, tempo de exposição, rendimento e consistência) e geométricos (filtração, colimação, tamanho do campo, forma e tamanho do localizador, resolução e contraste).
Resultados
Como a implementação do PGQ é dinâmica, alguns consultórios tiveram os trabalhos concluídos, outros em fase de implementação. Assim, para a descrição dos resultados atuais, utilizou-se uma amostra de 1.400 aparelhos de consultórios com PGQ implementado.
Na tabela 2 são apresentados todos os parâmetros medidos e os percentuais que atenderam o limite adotado para cada um deles, antes e após a implantação do PGQ.
Tabela 2 - Parâmetros medidos e os percentuais da amostra que atenderam o limite.
PERCENTUAL DE APARELHOS QUE ATENDERAM O
LIMITE FIXADO PARA CADA PARÂMETRO
Parâmetro Antes do Após o Limite PGQ PGQ (%) (%)
Quilovoltagem (kYp) 28 100 4%
Tempo Nulo (To) 74 100 Zero Tempo Exat. (TE) 58 100 10% Tempo Rep. (TR) 73 100 10%
Taxa Exposição ( X ) 72 100 10%
Linearidade (L;) 14 93 <0,1 Filtração Total (F,) 53 100 l,5mmAI Kemia de entrada (K) 16 57 2,5 mGy Campo Radiação (CR) 39 97 6 cm Localizador (L0 ) 54 92 20 cm
Conforme mostra a figura 3, a distribuição da freqüência de oconência de aparelhos de raios X em função da dose absorvida na entrada da pele, antes da implementação do PGQ, pode ser considerada como
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
resultante da superposição de pelo menos três grupos, de acordo com a dose: baixa, média e muito elevada.
O primeiro grupo, com doses baixas, era formado pelos aparelhos que acarretavam doses de até 2,5 mGy por radiografia. Esse grupo era formado por 29,2 % dos aparelhos da amostra. O segundo grupo, com doses médias, era formado por aparelhos que acaiTetavam doses entre 2,5 e 7 mGy por radiografia, e consistia em 51,4 % da amostra. Finalmente, o terceiro grupo, com doses muito elevadas era formado pelos aparelhos que depositavam doses acima dos 7 mGy por radiografia. Esse grupo era formado por 19,4 % dos aparelhos da amostra. É impmiante observar que alguns aparelhos deste grupo atingiam valores de dose absorvida de até 16 mGy.
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8.5 >9,0
Dose absorvida na entrada da pele (mGy)
Figura 3 - Distribuição de freqüência da dose de entrada na pele na amostra constituída de 1.400 aparelhos de raios X, antes e depois da implantação do PGQ.
Após a implementação do PGQ, figura 3, a distribuição de ocorrência pode ser descrita por uma log-normal, na qual se nota um aumento considerável dos aparelhos com valores de até 2,5 mGy. Esse aumento para 56 % representa um incremento de cerca de 90 % nos aparelhos que passaram a depositar dose até este limite.
Após a implantação do PGQ observou-se que aproximadamente 1 O % dos cirurgiões dentistas, cujos aparelhos situaram-se no grupo 2, adequaram-se ao nível de 2,5 mGy, e mais de 90 % do grupo 3. A explicação pode estar no limite adotado pela Norma Técnica SS-625. Os que ultrapassaram o limite oficial atenderam as orientações e seguiram as recomendações para se adequar ao nível mencionado. Já os cirurgiões dentistas cujos aparelhos atendiam ao limite oficial procuraram acomodar-se.
Foi observado, também, que as principais razões para a redução da dose absorvida na entrada da pele foram: a exposição correta e o processamento adequado. Uma análise da amostra, antes da implantação do PGQ, mostrou que aproximadamente 60 % dos aparelhos apresentavam superexposição e sub-revelação. Em outros 20 % foi constatada a utilização de soluções químicas degradadas ou com níveis de concentração muito baixos para uma boa revelação. Uma análise das técnicas de processamento e manipulação dos filmes mostrou que em 40 % dos casos elas eram inadequadas.
Na amostra tomada verificou-se que era constituída por aparelhos que tinham o valor de tensão
indicado pelo fabricante segundo a distribuição da tabela 3. As inspeções realizadas antes da implementação do PGQ indicaram que os valores médios da tensão medida se distribuíram conforme a tabela 4.
Tabela 3 - Porcentagem de aparelhos da amostra (AM) distribuídos segundo valor indicado pelo fabricante.
TENSÃO INDICADA PELO FABRICANTE 45 kV 50 kV 60 kV 5 kV 70 kV
AM 4.2% 35.8% 32,3% 20,4%
Tabela 4 Porcentagem de aparelhos da amostra (AM) distribuídos segundo valor da tensão média medida.
TENSÃO MEDIA MEDIDA 40-50 kV 50-60 kV 60-65 kV 65-70 kV - 70 kV
AM 13.8% 82,1% 2.7% LO 0,4%
Os resultados da medição da quilovoltagem permitiram classificar os aparelhos da amostra em três grupos. Grupo 1 contendo os aparelhos que apresentaram os valores da tensão de pico medida do feixe de raios X, constante, situando-se dentro de um intervalo de 4 % sobre a tensão indicada pelo fabricante. Grupo 2, contendo os aparelhos que apresentaram os valores da tensão de pico medida dentro de um intervalo de 1 O %, excluindo os do intervalo de 4 %. Grupo 3, seriam aqueles que apresentaram os valores da tensão de pico medida variando em mais de 1 O % em relação a tensão indicada pelo fabricante. A classificação e distribuição dos aparelhos segundo as variações dos valores da tensão de pico medida do feixe de raios X, estão na tabela 5.
Tabela 5 - Desvio percentual entre os valores medidos e indicados pelo fabricante, (f1kVp), da tensão de pico do feixe de raios X.
VARIAÇÕES ENTRE OS VALORES DA TENSÃO MEDIDA E INDICADA
4% 4%< 10 > 10% %
AM 15,4% 37,3% 47,3%
Embora as variações acima de 1 O % em relação ao valor de tensão indicada pelo fabricante ocorreram em aparelhos de 45, 50, 60, 65 e 70 kV, percentualmente, o grupo que mais contribuiu foi o de valor indicado entre 60 e 70 kV. Dos 840 aparelhos da amostra pertencentes a este grupo 71,8 % apresentaram variações superiores a 10 %. No grupo compreendido por tensões de 45 e 50 kV indicadas pelo fabricante, apenas 31, 7 % dos 560 aparelhos deste grupo da amostra, apresentaram variações superiores a 1 O % em relação a tensão indicada pelo fabricante. Constatou-se ainda, que dos 215 aparelhos da amostra que variaram dentro do intervalo de 4 %, 25 % apresentavam tensão de pico indicada pelo fabricante inferior a 50 kV. Resultando com isso em que apenas 161 aparelhos da
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
amostra se enquadraram a norma atendendo a resolução SS-625 em relação a esse parâmetro. A distribuição dos valores de tensão da amostra medidos antes e depois da implantação do PGQ, está mostrada na figura 4.
45 50 Ten:Uode p1eo (kVp)
Figura 4 - Distribuição da kVr medida da amostra antes e depois da implantação do PGQ.
Após a implementação do PGQ, tendo seguido o profissional as orientações fornecidas e estabelecendo linha de base para cada aparelho conseguiu-se adequá-lo e mantê-lo constante dentro do limite de 4 %, obtendose ainda um aumento significativo na kV (figura 4). Na tabela 6 é apresentada a distribuição da tensão média medida depois da implantação do PGQ.
Tabela 6 Percentual de aparelhos da amostra AM distribuído segundo valor da tensão média medida após a implementação do PGQ.
TENSÃO MEDIA MEDIDA 50-60 kV 1 60-65 kV 1 65-70 kV 1 -70kV
AM 74.4% 1 6,9% 1 12,5% 1 6,2%
Os fatores que mais contribuíram para o aumento significativo da kV foram: o correto dimensionamento da rede elétrica local, a adição de uma maior filtração para estreitar o espectro do feixe de raios X e, em alguns casos, pelo redimensionamento dos transformadores do circuito. Algumas dessas medidas foram executadas juntamente com os fabricantes preocupados com a qualidade do produto oferecido.
O teste da possibilidade de emissão dos raios X com o tempo zero no dial do seletor dos tempos apresentou 26,5 % dos aparelhos da amostra emitindo radiação. Para solucionar esse problema o profissional dentista foi orientado a procurar o fabricante ou o serviço de manutenção. Na avaliação efetuada após a implantação do PGQ constatou-se que todos os casos foram corrigidos.
Quanto à exatidão do tempo de exposição verificou-se que 42,8 % dos aparelhos da amostra apresentaram uma variação acima dos 1 O % em relação ao valor indicado no grau de concordância. Dos 350 aparelhos da amostra, com variações acima dos 1 O %, 62,3 % reprovaram para tempo de 0,5 segundos, apenas. Assim, dependendo de cada caso, as orientações foram para procurar o serviço de manutenção, solicitando o ajuste do dia] de tempos ou para adoção do valor médio medido como sendo linha de base. Estas medidas propiciaram, após implantação do PGQ que, todos os
324
aparelhos da amostra ficassem dentro do intervalo de 10%.
Quanto à reprodutibilidade do tempo de exposição verificou-se que em 28,7 % da amostra existia uma variação superior a 1 O % no grau de concordância entre várias medidas entre si. A orientação foi que o cirurgião dentista procurasse pelo serviço de manutenção ou o fabricante, dependendo de cada caso. Após a implantação do PGQ e realização de novas medições, não se constatou variação acima dos 1 O %.
O fato mais relevante, quanto ao parâmetro tempo de exposição, refere-se aos intervalos escolhidos pelos dentistas na realização dos exames. No levantamento realizado antes da implantação do PGQ observou-se que em 16, 7 % da amostra era escolhido um intervalo entre O, 1 a 0,8 segundos. Em 58,3 %, da amostra o tempo escolhido ficou no intervalo de 0,8 a 1,5 segundos. Nos restantes 25,0 % da amostra foram registrados tempos maiores ou iguais a 1,5 segundos. Várias eram as razões para a utilização de tempos tão elevados. A principal causa sem dúvida, era a pressa em revelar o filme, desrespeitando os procedimentos de processamento. Por outro lado, a utilização de soluções químicas vencidas ou exauridas também exigia tempos de exposição maiores. E a tudo isso podem-se somar os problemas relativos às variações no rendimento do aparelho e à qualidade do feixe. Com a implantação do PGQ, fornecendo ao dentista os procedimentos corretos de processamento e orientando quanto ao desgaste do aparelho pelos tempos de exposição longos, conseguiuse reverter o quadro. Nas avaliações efetuadas após a implantação do PGQ registrou-se: 50,2 % da amostra utilizando tempos do primeiro intervalo, 45,8 % da amostra do segundo e apenas 4,0 % da amostra registrando tempos de 1,5 segundos. É importante ressaltar que os tempos de exposição mais elevados, antes da implantação do PGQ, contribuíram de forma decisiva para a distribuição da dose e a sua redução refletiu-se diretamente na redução das doses obtidas após a implantação do PGQ.
Conclusões
Para a obtenção de bons resultados com relação à qualidade de imagem, segurança, proteção e precisão nos diagnósticos, são necessários, além de aparelhos de raios X que atendam as normas técnicas, profissionais conscienciosos e comprometidos com seu trabalho. Para tal, tornou-se necessária a forn1alização e normalização técnica, atendida através do desenvolvimento do SGQ, ou seja, a busca da qualidade.
Inúmeras foram as dificuldades decorrentes de experiências anteriores, talvez por terem sido mal sucedidas, e na resistência dos profissionais. Através do diálogo com os cirurgiões dentistas, a desmistificação de idéias e o suprimento da carência de cultura e segurança, pôde-se chegar a consolidação da implementação do PGQ nos serviços odontológicos.
As etapas, desde a explanação dos conceitos, capacitação e treinamento das equipes técnica e administrativa, foram paulatinamente alcançadas, através de reuniões e procedimentos de conscientização.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
A motivação dos cirurgiões dentistas para a importância de participar do programa como parceiro no PGQ foi também fundamental.
O SGQ conseguiu atender as necessidades e expectativas dos cirurgiões dentistas a um custo acessível. A metodologia para o desenvolvimento foi de grande sucesso, tendo sido o impacto de redução da dose elevado, em termos nacionais ou mesmo na América Latina, ou seja obteve-se um salto qualitativo na Radiologia Odontológica.
Anterior ao SGQ, existia um elevado número de aparelhos que não atendia às normas técnicas, tendo sido este número sensivelmente reduzido, com a implantação do SGQ. A redução da dose de radiação absorvida na entrada da pele ocorreu sem a necessidade de modificação da rotina de trabalho do cirurgião dentista. Além disto, este profissional passou a exigir dos fabricantes de equipamento radiológico a qualidade constante ; de material de divulgação. Tal comportamento, aliado a uma melhor qualidade nos serviços representa um grande avanço no que diz respeito à saúde pública.
Referências
[l] PEIXOTO, J.E., CAMPOS, M.C., CHAVES, R.Q. "A Database for the National Radiation Control Programme in Medical and Dental Radiography". ln: Proceedings do Simpósio Internacional sobre !nji·a-estrutura da Radiação organizado pela AIEA, Munique, Maio. 1990.
[2] PEIXOTO, J.E., BESSA, S.O., FERREIRA, R.S. "Exposure survey in oral radiology using a postal system". ln: Proceedings of the 6 th. lnternational Radioprotection Association, Berlim, Mai. 1984.
[3] ALMEIDA, C.D., FREITAS, L.R. "Programa de Raios X Odontológico no Rio de Janeiro". ln: Anais do VI Congresso Geral de Engenharia Nuclear, Rio de janeiro, 1996.
[4] VELASQUES, S., MOTA, H., Curso básico de licenciamento e fiscalização em radiologia médica e odontológica, Rio de Janeiro, IRD/CNEN, 1993.
[5] MOTA, H.C., ARAÚJO, A.M.C., PEIXOTO, J.E., et ai., Proteção Radiológica e Controle de Qualidade em Radiologia Dentária, Rio de Janeiro, IRD/CNEN, 1994.
[6] YACOVENCO, A., Desenvolvimento e implantação de um sistema de garantia da qualidade em radiologia odontológica. Tese de D.Se., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1999.
[7] Y ACOVENCO, A., Programa de Garantia da Qualidade em Radiologia Diagnóstica. Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1995.
[8] Y ACOVENCO, A, LIRA, S.H, INF ANTOSI, A.F.C, et ai., "Radiologia Diagnóstica y Programa de Garantia de Calidad: Evaluación Crítica", Revista Brasileira de Engenharia, v.13, n.3, pp.69-80, Jul.1997.
[9] SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Resolução SS-625, Norma Técnica
325
que disciplina o uso da radiação ionizante nos serviços de saúde no Estado de São Paulo, DOE, 12.12.94, Ofício CVS-SERSA n.124/95, São Paulo, 1994.
[10] YACOVENCO, A., VARELLA, M., FIGUEIREDO, W., et ai. "Programa de cadastro de datos para sopo1ie dei sistema de garantía de calidad", ln : Memorias 4 to. Congreso Regional IRPA de Seguridad Radiológica y Nuclear, v.2, pp. 4.95-4.98, Ciudad de La Habana, Cuba, Oct. 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação de Equipamentos de Ultra-som para Fisioterapia Segundo a Norma IEC 1689 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
Neli M. Ishikawa1•2
, André V. Alvarenga3, Luiz F. C. Paes4
,
Wagner C. A. Pereira5, João Carlos Machado6
L3.4.
5·6Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ, Caixa Postal 6851 O, CEP 21945-970 2 Instituto Nacional de Câncer, Seção de Reabilitação, Rua do Rezende n.º 128.
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-092 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo: Este trabalho apresenta a avaliação de 33 equipamentos de ultra-som para fisioterapia utilizando uma metodologia baseada na Norma NBR-IEC 1689. Os equipamentos analisados são de fabricação nacional e estrangeira, com tempo de uso variado, de diversas marcas e modelos, utilizados em serviços públicos e privados na cidade do Rio de Janeiro. Os parâmetros avaliados foram: intensidade acústica efetiva, área de radiação efetiva do cabeçote, freqüência ultra-sônica de trabalho, relação de não-uniformidade do feixe, intensidade máxima do feixe, tipo de feixe e forma de onda de modulação para o modo pulsátil. Nenhum dos equipamentos atendeu completamente a norma.
Palavras -chave: ultra-som, avaliação, equipamento de fisioterapia.
Abstract: This work presents an evaluation of 33 ultrasound equipments used in physiotherapy, based on the norm NBR - IEC 1689. The tested equipments have a broad range of characteristics: ma de at home and abroad, with different ages, different models and manufacturers; used in public and private services located in the city of Rio de Janeiro. The evaluated parameters were: acoustic effective intensity, effective radiating area, acoustic frequency, beam nonuniformity ratio, beam maximum intensity, beam type and acoustic pulsed waveform. None of the tested equipments satisfied, completely, the norm.
Key-words: ultrasound, evaluation, physiotherapy equipment.
Introdução
O ultra-som, US, tem sido empregado amplamente na área da saúde para diagnóstico por imagens, para tratamento de cálculo renal através da litotripsia e na fisioterapia. Na área de fisioterapia, o US faz parte da rotina para o tratamento de enfermidades do sistema músculo-esquelético, alterações do tecido conectivo e outros com o objetivo de diminuir a dor, reduzir a inflamação e melhorar a amplitude de movimento, [l] e [2]. Para realizar este tipo de tratamento, o US, a intensidade que o aparelho fornece pode variar de 0,1 a 3,0 W/cm2
, nas freqüências de 0,9 a 3,0 MHz. Nesta faixa de operação, efeitos biológicos adversos tem sido observados em adição aos benefícios pretendidos [3]. Por isso, a necessidade da sua correta calibração o que garante ao profissional de fisioterapia eficiência e segurança no seu uso.
A normatização do desempenho dos aparelhos de US para fisioterapia tem uma história com mais de 35 anos. Em 1963, foi publicada a primeira norma em fisioterapia, a IEC 150 - Measurement of Ultrasound Physiotherapy Therapeutic Equipment [4], que descreve um método para testar e medir a intensidade do equipamento de US terapêutico. Atualmente, esta norma encontra-se obsoleta. Em 1996, foi publicada no Brasil a NBR-IEC 601-2-5, contendo prescrições particulares
para Segurança e Equipamentos de Ultra-som para Terapia [5]. Em 1987 foi decidido criar uma substituição para a IEC 150, devido a falta de descrição das técnicas de medição e também por ser incompleta. Como resultado de um estudo apoiado pela Comunidade Européia, foi elaborada a norma IEC 1689, publicada em outubro de 1996 e no Brasil em março de 1998 pela ABNT, segundo a denominação NBR-IEC 1689 [6].
Conforme apontado por Hekkenberg [7], a IEC 1689 trouxe uma melhora na caracterização das medições dos parâmetros de desempenho dos equipamentos de fisioterapia de US. Neste aspecto, esta norma adotou um critério mais robusto para a determinação da área efetiva do feixe ultra-sônico irradiado. A medição dos parâmetros, citados na metodologia, deve ser realizada como uma rotina para que se tenha uma correta utilização do equipamento, assim prevenindo tratamentos inadequados por alterações das intensidades dadas pelos equipamentos. Estas medições devem ser consideradas também como a base de uma boa prática do fabricante, assegurando sua qualidade.
Além dos importados, operam hoje no Brasil equipamentos de US para fisioterapia fabricados por pelo menos cinco indústrias nacionais. Não há uma estimativa de quantos aparelhos de fisioterapia estão em funcionamento e nem de quantos tratamentos são
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
realizados por ano. Também não se sabe como estão funcionando estes aparelhos e se os mesmos fornecem segurança e eficiência no tratamento fisioterápico. Um dos primeiros trabalhos de avaliação de equipamentos de US de fisioterapia foi realizado em Piracicaba, SP, por Guirro et ai. [8]. Baseando-se na norma IEC 601-2-5, [5], os autores encontraram 31 equipamentos operando fora da norma, no que diz respeito à tolerância admitida entre a intensidade acústica medida e aquela especificada pelo fabricante do equipamento.
Devido à importância do assunto em questão, foi realizado uma avaliação de desempenho dos equipamentos, através de uma amostragem daqueles em uso no município do Rio de Janeiro, levando-se em consideração a norma brasileira NBR-IEC-1689 [6].
Metodologia
Método: Foi utilizada uma metodologia baseada na Norma NBR-IEC 1689 [6] e no trabalho de Hekkenberg et ai. [9], para a obtenção dos seguintes parâmetros listados a seguir. Os valores entre parênteses representam a tolerância, entre o valor medido e aquele indicado pelo fabricante, admitida pela norma: • Intensidade acústica efetiva(± 20%). • Área de radiação efetiva, ARE. do cabeçote aplicador
(± 20%), obtida através do mapeamento do feixe emitido pelo cabeçote.
• Freqüência ultra-sônica de trabalho(± 10%). • Relação de não-uniformidade do feixe R,vF. 30%). • Intensidade máxima do feixe. • Tipo de feixe: convergente, colimado ou
divergente. • Forma de onda de modulação para o modo pulsátil.
Para a determinação de ARE· RNF, tipo de feixe e consequentemente da intensidade acústica efetiva, o ponto de partida consiste no mapeamento do feixe acústico utilizando-se um tanque acústico, controlado por computador, e um hidrofone em forma de agulha e com raio do disco do elemento piezoelétrico, r, satisfazendo r ::;;  , sendo  o comprimento de onda.
Para o mapeamento, o passo do hidrofone deve ser entre 0,5 a 1,0 mm. O sinal captado pelo hidrofone é analisado e processado para os cálculos.
Após o alinhamento do feixe ultra-sônico do cabeçote com o sistema de mapeamento, é realizado uma varredura ao longo do eixo central do feixe para determinar a posição ZN (último máximo axial de pressão).
O processo de detenninação da ARE envolve, primeiramente, a medição da área da seção transversal do feixe, Asm em quatro planos perpendiculares ao feixe e distantes da face do cabeçote de Zj, Z2 ,Z3 e Z4,
cujos valores são determinados de acordo com os seguintes critérios:
Para ZN ~ 8,0cm, então:
Z1 = 1,0 cm, Z2 =2,0 cm, Z3 = 4,0 cm e Z4 = 8,0 cm. Para 4,0 cm< ZN < 8,0 cm, então:
327
Z1 = 1,0 cm, Z2 = 1,0 + [(ZN -1,0) / 3] cm, Z3 = 1,0 + 2 [(ZN - 1,0) / 3)] cm, Z4= ZN:
Para ZN::;; 4,0 cm, então:
Z1= 0,5cm, Z2 = 0,5 + [(ZN - 0,5) / 3] cm, Z3 = 0,5 + 2 [(ZN - 0,5) I 3] cm, Z4 = ZN.
Em cada plano de mapeamento, os limites de varredura, devem ser suficientemente amplos tal que o nível do sinal do hidrofone em qualquer parte externa à região varrida seja pelo menos 26 dB abaixo do sinal de pico neste plano. Entretanto, para cabeçotes aplicadores com ZN::;; 130mm, o nível do sinal, que exceder os limites da varredura global deve ser de pelo menos 32 dB abaixo do sinal do pico. Para manter uma exatidão melhor do que 2 %, o número de pontos de varredura que contribuem para a medição do deve ser de, pelo menos, 100. Para obter informação de simetria do feixe, uma varredura quadrada de 50 por 50 pontos é a mais apropriada [6] e [9].
A AsrF corresponde a uma área mínima no plano de varredura sobre a qual 75% da potência acústica irradiada pelo transdutor está dentro da área delimitada pelo mapeamento. Sua determinação é obtida com a realização das seguintes etapas:
1) Os valores do sinal elétrico do hidrofone no quadrado, u/ são ordenados em ordem decrescente; sendo l:S; i ~ onde N é o número total de pontos do plano ocupados pelo hidrofone.
2) Procura-se um valor para n tal que:
(1)
De posse do valor n, então é calculado como n · L1s , sendo L1s o tamanho do passo da varredura.
Da regressão linear aplicada aos 4 valores de AsTF resultam o AsrF para Z = O, AsTFo , e o gradiente de regressão linear, m, que por sua vez fornece o coeficiente de regressão linear, Q, (Q m 1 AsrFo) utilizado para a classificação do feixe em:
Convergente: Q < -0,05 cm-1 •
Colimado: -0,05 cm-1 ::;; Q::;; O, 1 cm-1
•
Divergente: 0,1 cm-1 < Q.
O raio efetivo do cabeçote, a1, em centímetros é
obtido pela equação (2), sendo k o número de onda, por
centímetro, cm-1•
(2) .f\ f\"")f\t: 1~ ,(, . .,..,...,, ~-' '""I CO A,,-r,...,,.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
De posse de AsrFo . então ARE é calculada como sendo:
(3)
Onde Fac é um fator de conversão cujo valor depende do produto k a 1 , onde:
F = {l.354; k · a1 > 40 '" 2,58-0,0305k·a1; k·a 1 :'>40
A distribuição do feixe ultra-sônico produzido por um cabeçote aplicador terapêutico é não-uniforme por natureza. Além dessa característica natural, detalhes da construção e operação do cabeçote aplicador podem produzir "pontos quentes", ou regiões de pressão local muito alta. Esses pontos quentes podem resultar em aquecimento excessivo em pequenas regiões do tecido que está sendo tratado, provocando efeitos prejudiciais aos pacientes. O parâmetro RNF permite avaliar se um cabeçote contém ou não pontos quentes [6]. Para efeitos de segurança, a NBR-IEC 1689 recomenda um RNF:::; 8.
Esse parâmetro é definido como a relação entre a intensidade de pico espacial média temporal, lpemr, e a intensidade média espacial média temporal, 1111e111r, num plano perpendicular ao feixe. Seu cálculo se faz através da seguinte expressão:
Onde:
U~, ·ARE
s _L,ui2.t::.s2 i=l
(4)
Usp = valor máximo do sinal de tensão fornecido pelo hidrofone.
O termo no denominador da equação ( 4) representa a potência média irradiada pelo cabeçote. Em princípio, esse valor deveria ser invariante em relação à distância entre o plano de varredura e a face do cabeçote. Aconselha-se portanto utilizar um valor médio calculado para os quatro planos de varredura situados em Z1> Z2. Z3 e Z4.
A intensidade máxima do feixe é determinada pela razão entre o produto da RNF do feixe e a potência medida dividida pela ARE.
A freqüência ultra-sônica de trabalho é medida no osciloscópio sobre o sinal captado pelo hidrofone com o mesmo posicionado em frente ao cabeçote numa distância de 1,0 cm de sua face. Com o aparelho funcionando no modo pulsátil e sobre o sinal ainda captado pelo hidrofone nesta posição são determinados a duração de pulso, o período de repetição do pulso e a tensão máxima no pulso. Com isto pode ser determinado o fator de operação e a tensão RMS. A forma de onda de modulação deve ser registrada para diferentes ajustes de intensidade do equipamento. O quociente da tensão de pico temporal para a tensão eficaz deve ser determinado para cada ajuste de intensidade do equipamento [6]. Seu cálculo equivale em determinar o quociente entre o sinal temporal do sinal elétrico, mostrado no osciloscópio, pelo valor eficaz de todo o sinal elétrico.
A seguir, a potência de saída máxima temporal pode ser detenninada multiplicando-se o quadrado do quociente mencionado acima pela potência média irradiada, P, tal que:
P, .. , =H Jp (5)
Consequentemente, a intensidade máxima temporal é dada pela relação da potência de saída máxima temporal pela ARE·
Para o modo contínuo a intensidade média temporal é dada pela razão entre a potência irradiada e a ARE·
Para a detenninação da relação de não uniformidade do feixe, sob condições normais de ensaio, os métodos de ensaio resultarão em uma incerteza da medição (com o nível de confiança de 95%) de± 15% [6].
Materiais: Foram utilizados os seguintes equipamentos, partes e softwares: • balança de força de radiação calibrada (UPM-DT-1;
Ohmic Instruments, EUA), • osciloscópio digital (TDS 420; Tektronics, EUA), • hidrofone tipo agulha de piezocerâmica com
diâmetro de 0,6nun fabricado pelo Laboratório de Ultra-som, LUS,
• termômetro digital (52K/J; Fluke, EUA), • microcomputador pessoal AT 486, 33 MHz, com
placa de transmissão/recepção de US (TB-1000; Matec, EUA),
• Programa SMAP, para a exibição do feixe mapeando no monitor de vídeo, desenvolvido pelo LUS [10],
• Programa ATUS - Avaliação de Transdutores Ultrasônicos, que implementa o protocolo de cálculo de intensidades e mapeamento do feixe, e visualização da AsrF desenvolvido no LUS [11].
Resultados
Foram analisados 33 equipamentos de fabricação nacional e estrangeira, com tempo de uso variado, de diversas marcas e modelos, utilizados em serviços públicos e privados na cidade do Rio de Janeiro. Todas as medições foram realizadas entre 21 a 25 ºC, atendendo à exigência da nonna.
A comparação da área de radiação efetiva e da área da face do cabeçote está demonstrada na Figura 1, sendo que o eixo X é a área de radiação efetiva em cm 2 e o eixo Y é a área da face em cm2
•
As intensidades no modo contínuo e no modo pulsátil foram comparadas com as intensidades indicadas no painel do equipamento conforme Figuras 2 e 3, respectivamente. Os equipamentos foram ajustados para emitirem intensidades de 0,25 a 3,0 W/cm2
,
representadas no eixo X. O eixo Y representa o número de leituras em cada intensidade distribuídas entre três categorias para o erro entre o valor medido e o valor do
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
painel. As três categorias de erro são: menor que -20%, entre -20% e + 20% e acima de 20%.
Os parâmetros Intensidade máxima, RNF, e tipo de feixe não constam nos manuais dos equipamentos, não podendo ser comparados com os valores encontrados. Os valores medidos estão demonstrados nas Figuras 4, 5 e 6.
A forma retangular deveria ser o tipo de forma de modulação para o modo pulsátil, porém foram encontrados variadas formas, conforme a Figura 7.
O erro percentual entre o valor medido para a freqüência ultra-sônica e o valor indicado no equipamento está apresentado na Figura 8 (para equipamento operando entre 0,88 e 1 MHz) e na Figura 9 (equipamentos operando em 3MHz).
20
18
16
f..r 14
ea 12 da Fa JO
ce( 8
cm 6
4
2
o o 2
Ili
1111111111111 111111
111111 Ili Ili
Ili Ili
3 4 6 7
Área Efetiva ( cnt)
Ili
Ili Ili
9 10
Figura 1 - Área de radiação efetiva versus Área da face
20
"' 15
e ,::: 11
<i) 10 -O
2 " .§ 5 z
o 0.5 1,0 1,5 2,0
11111 Erro <-20%
~ -20% < Erro< 20%
1111 20% < Erro
2,5 3,0
Intensidade (W/em2)
Figura 2 -Intensidade no modo contínuo
"' "
40
35
30
E 2s ·;;:; ~ 20 -O
~ 15
.§ 10 z
Erro <-20%
-20% < En"o < 20%
20~'º <EITO
o+-""""'-""1--o.o 0,5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Intensidade (w/cm2)
Figura 3 - Intensidade no modo pulsátil
329
16
14
~nt 12
ens ida
10
de s (W /e 111 4
2 • • • ••
••• •••• •
• •
• • •
• • • • .. •
04'1111'-"'-------.<111>--.---~-~ o 12 15 18 21 24 27 30 33
Equipamentos
Figura 4 - Intensidade Máxima medida para cada equipamento
6
2
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Pn11ln!-1mPntt\<;:
Figura 5 Relação de não-uniformidade do feixe para cada equipamento
colimado
67%
Í
Figura 6 - Distribuição do tipo de feixe ultra-sônico
76% retangular
Figura 7 Distribuição da forma de onda de modulação para o modo pulsátil
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Figura 8 - Freqüência ultra-sônica para 0,88 e 1 MHz,
fora da norma 75%
Figura 9 - Freqüência ultra-sônica para 3 MHz
Discussão e Conclusões
A ARE encontrada nas medições variaram de 2,57 a 9,65 cm2
, sendo que não houve conelação entre a área da face do cabeçote com a ARE·
Para a intensidade no modo contínuo, de um total de 180 leituras, 18,89% estavam na faixa de tolerância admitida pela norma. E no modo pulsátil de 275 leituras, 17,45% estavam dentro da norma.
Para a Intensidade máxima do feixe, os valores encontrados foram de 0,00 a 15,36 W/cm2
, e estavam de acordo com a norma (abaixo de 24 W/cm2).
Para o parâmetro de RNF todos os equipamentos atenderam a norma, com valores menor ou igual a 8. Porém, esse parâmetro não consta nos manuais dos equipamentos e desta forma não foi possível quantificar o eno.
A distribuição do feixe encontrada foi de 33% divergente e 67% colimado.
As formas de onda de modulação encontradas no modo pulsátil foram de 7% dente de sena, 10% de forma irregular, 76% de forma retangular, 7% de forma contínua. Desse total 24% estava fora do permitido pela norma.
Com relação a freqüência de operação dos equipamentos de 0,88 e 1,00 MHz, 67% estava de acordo com a tolerância de eno de ± 10% entre o valor medido e citado no manual do equipamento. Para a
freqüência em 3,00 MHz 25% estava de acordo com a norma e 75% fora .
De todos os equipamentos analisados, nenhum atendeu completamente a norma NBR IEC 1689.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao Luciano Tahiro Kagami e ao Amauri de Jesus Xavier pelo suporte técnico, aos serviços públicos e privados que disponibilizaram os seus aparelhos de US, e a Fape1j e ao Pronex pelo apoio financeiro.
Referências
[l] T. McDiarmid, and P. N. Burns, "Clinicai Aplications of Therapeutic Ultrasound", Physiotherapy, v.73, n.4, pp. 155-162, 1987.
[2] M. E. Roebroeck, J. Dekker, R. A. B. Oostendorp, "The Use of Therapeutic Ultrasound by Physical Therapists in Dutch Primary Health Care", Physical Therapy, v.78, n.5, pp. 470-478, 1998.
[3] AIUM "Medical Ultrasound Safety", Part One: Bioeffects and Biophysics, American Institute of Ultrasound in Medicine, 1994.
[4] IEC-150, (1963) - Testing and Calibration of Ultrasonic Therapeutic Equipment.
[5] NBR-IEC 601-2-5 (1997) Equipamento Eletromédico - parte: 2 - prescrições patiiculares para Segurança e Equipamentos de Ultra-som para Terapia, ABNT- Associação Brasileira de N on11as Técnicas.
[6] NBR - IEC 1689, ( 1998) Ultra-som - Sistemas de Fisioterapia - Prescrições para desempenho e métodos de medição na faixa de freqüências de 0,5 MHz a 5 MHz, ABNT - Associação Brasileira de Nonnas Técnicas.
[7] R. T. Hekkenberg, "Characterizing ultrasonic physiotherapy systems by perfon11ance and safety now internationally agreed'', Ultrasonics, v.36, pp. 713-720, 1998.
[8] R. Guirro, F. Serrão , D. Elias, A. J. Bucalon , "Calibration of Acoustic Intensity of Therapeutic Ultrasound Equipment in use in the City of Piracicaba'', Revista Brasileira de Fisioterapia, v.2, n.1, pp. 35-37, 1997.
[9] R. T. Hekkenberg, R. Reibold and B. Zeqiri, "Development of standard measurement methods for essential properties of ultrasound therapy equipment", Ultrasound Med. Biai., v.20, n. l, pp. 83-98, 1994.
[10] A. C. L. Dias e M.A. P. Leocádio, "Sistema de mapeamento Computadorizado de Campo Ultrasônico-SMAP", Projeto Final, DEE/UFRJ, 1995.
[11] A. V. Alvarenga, "Implementação de protocolo para obtenção de parâmetros do feixe acústico de transdutores ultra-sônicos biomédicos" Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica/ COPPE/UFRJ, 1999.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação das Resoluções Lateral e Axial e Zona Morta como Parâmetros Indicadores da Qualidade de Imagem de Equipamentos de Ultra-som para
Diagnóstico Clínico
Jairo A. Monteiro Jr1, Carlos R. Strauss Vieira 2 , Wagner Coelho de A. Pereira3
1.2
·3Programa de Engenharia Biomédica - PEB - COPPE/UFRJ
CP 6851 O - CEP 21945-970 - Rio de Janeiro - RJ 1 E-Mail: [email protected]
Resumo - Este trabalho apresenta alguns resultados da avaliação da qualidade da imagem (modo-B) dos equipamentos de ultra-som (US) diagnóstico, atualmente em uso, em clínicas e hospitais da Cidade do Rio de Janeiro. Foi utilizado um phantom tipo multi-purpose para a obtenção e estudo de três parâmetros de avaliação.
Palavras-chave: Ultra-som, Qualidade de Imagem, Parâmetros de Imagem, Engenharia Clínica
Abstract - This work presents some results of the evaluation of image quality of diagnostic ultrasound equipments (Bmode ), in use in clinics and hospitals of Rio de Janeiro city. lt was used a multi-purpose phantom to evaluate three parameters of test.
Key-words: Ultrasound, Image Quality, Image Parameters, Clinicai Engineering.
Introdução
Atualmente a ultra-sonografia é um dos mais populares métodos de diagnóstico clínico por imagem. Compreende a utilização de freqüências na faixa de MHz para pennitir a visualização das estruturas do interior do corpo humano, sem a necessidade de procedimentos invasivos. Os exames de ultra-som são também, mais simples e de custo relativamente mais baixo, quando comparado a outros métodos de diagnóstico clínico por imagens. Assim, a ultrasonografia vem se firmando como método eletivo em diversas áreas da medicina [1], embora ainda não tenham sido identificadas evidências, cientificamente comprováveis, de que o ultra-som possa causar danos ou alterações prejudiciais aos organismos irradiados [2].
O diagnóstico é obtido a partir da combinação entre a habilidade e conhecimento de quem executa o exame com a qualidade da imagem fornecida pelo equipamento utilizado. Pode-se dizer que, o diagnóstico será tão mais seguro quanto melhores forem as condições oferecidas para sua obtenção. No que diz respeito ao equipamento, torna-se necessário desenvolver técnicas que pennitam a padronização da qualidade de suas imagens visando homogenizar a capacidade de discriminação, independente do equipamento onde o(s) exame(s) foi (ram) realizado(s).
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns dos parâmetros mais relevantes para a qualificação de imagens de ultra-som diagnóstico, com auxílio dos conhecimentos e metodologias da área de engenharia clínica.
Conceitos Teóricos
331
Neste estudo foram testados e analisados os parâmetros: resolução lateral, resolução axial e zonamorta. A seleção destes parâmetros, a priori, foi determinada pela pesquisa bibliográfica, principalmente os relatórios técnicos da International Electrotechnical Commission (IEC) [3] e do American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) [4], [5], [6], e, posteriormente pelo artigo de GOODSITT [7].
O AIUM é uma sociedade multidisciplinar, sem fins lucrativos, com mais de 11.000 membros incluindo obstetras, ginecologistas, cardiologistas, neurologistas, cientistas, engenheiros, fabricantes "sonografistas". Um dos seus objetivos é promover uso seguro e eficiente do US diagnóstico. Nos o AIUM monitora a legislação e os regulamentos em tópicos semelhantes aos do Food and Administration (FDA).
As resoluções lateral e axial encontram-se entre os parâmetros que guardam estreita relação com a qualidade da imagem pois pei111item a discriminação dos elementos que irão compor o diagnóstico. Enquanto a zona morta encontra-se entre os que influenciam a área útil da imagem observada, ou seja, necessariamente não impede a realização do diagnóstico mas exige maior habilidade do operador para visualizar as aéreas de interesse [8].
A Resolução Lateral, segundo define o Relatório Técnico IEC-1390/96 [3], é um indicador da capacidade do equipamento em distinguir, e exibir, os sinais de eco provenientes de duas estruturas (ou alvos) adjacentes, minimamente espaçadas, perpendiculares ao eixo do feixe e posicionados em uma profundidade específica.
A resolução lateral, portanto, é função da largura do feixe e varia com a distância (profundidade), uma vez que o equipamento exibe a imagem de uma
í l
J JJ
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
estrutura exatamente com ela é "vista" pelo feixe ultrasônico em sua varredura [9]. A Figura 1 mostra esquematicamente este fenômeno no qual um ponto é exibido como um traço com largura proporcional a largura do feixe de varredura.
Transdutoé
~~ é é Feixe ~vo ---> 1. <- T T - - - -
Imagem
Figura 1 - Formação da imagem para um alvo de pequena dimensão. A seta indica o sentido de varredura. A largura do ponto na tela depende da largura do feixe.
A definição para a resolução axial é semelhante à de resolução lateral, variando apenas na direção avaliada em relação ao feixe ultra-sônico. Neste caso os alvos estão posicionados ao longo de um eixo paralelo ao plano de varredura. A Figura 2 (a) mostra um esquema da imagem do grupo de alvos específicos para a verificação da resolução axial. Em (b) tem-se um exemplo da aparência dessa imagem no caso de um equipamento com resolução axial de 2 mm. Considerase a distância entre dois alvos como correspondente à resolução axial somente se entre eles for possível distinguir claramente uma separação.
(a)
(b)
Figura 2 - Esquema da disposição do grupamento de alvos para a verificação da resolução axial. Em (a) uma resolução de 1 mm. Em (b) para uma resolução de 2 mm. Notar os alvos distanciados de 1 mm já aparecendo conjugados em um único ponto, mais longo que os demais.
O parâmetro zona morta é definido pelo IECl 390/96 [3] como a distância a partir da superfície do phantom até o alvo mais próximo que pode ser claramente distinguido. FISH [9] define a zona morta
332
como a regrao que corresponde aos ecos de reverberação no interior do transdutor e onde não há formação de imagem útil. Como a zona-morta corresponde, no mínimo, à largura do pulso emitido pelo transdutor, estará presente em todas as imagens. Porém, a profundidade dessa região pode ser aumentada por defeitos no acoplamento entre a cerâmica e a face interna do transdutor.
Na figura 3, a zona morta, por exemplo, corresponde a 3 mm, visto que o alvo posicionado a esta profundidade é o primeiro que se pode distinguir claramente na imagem, após as raias de reverberação. A figura mostra também um detalhe do posicionamento do transdutor para a execução deste teste.
Figura 3 - Exemplo de verificação da zona morta. Para o exemplo mostrado, a zona morta é de 3 mm. No destaque, a posição do transdutor em relação ao grupo de alvos do phantom.
Metodologia
Com a finalidade de testar a capacidade discriminatória destes parâmetros, foi desenvolvido um protocolo baseado na utilização de phantoms e em documentos do AIUM. Realizou-se então, um exercício de aplicação prática deste protocolo em equipamentos de ultra-som em uso corrente em clínicas e hospitais da cidade do Rio de Janeiro.
Para melhor entendimento, o ten110 phantom é utilizado para designar corpos de prova, cujas características possibilitam a obtenção e avaliação de parâmetros indicativos da qualidade da imagem gerada por um equipamento. Para aproximar as imagens obtidas com os phantoms das obtidas a paitir de estruturas reais são empregados modelos do tipo mimetizadores de tecido (tissue-mimicking). Nestes as características de velocidade de propagação do som, atenuação e coeficiente de espalhamento são similares às do tecido humano.
O phantom escolhido (Figura 4), é conhecido como Multi-pwpose, e pode ser utilizado para monitorar de forma efetiva e rotineira, certos parâmetros de imagem de um sistema de ultra-som. Possui internamente grupos de alvos constituídos de monofilamentos de nylon precisamente espaçados e imersos em um meio tissue-mimiclâng. Além disso, suas janelas acústicas são recobertas por uma membrana flexível que procura simular a textura da pele [ 1 O].
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
. . o. 4nun
, Q 6mm _l_. Lo-S
IOnun Q T' º· . .
• Hi-S 20mm
8mm M . e 12nun
EÜ MJJnofil l<l---7~5~mm~---"I ·A·····.· 30 mm • • 105 nun
~1~---------i'j~!
HÜ Bouruled
Lo-S
Figura 4 - Distribuição esquemática do interior do Phantom Multi-Pwpose (VICTOREEN, Inc.).
As resoluções, em profundidade ou axial e resolução lateral são obtidas através da comparação da imagem apresentada com o espaçamento real conhecido entre dois alvos nos dois grnpos de resolução, representados pela letra A na figura 5. Observar que os alvos estão a duas profundidades diferentes.
A escolha por este tipo de phantom para a medição da resolução lateral simplificou a obtenção de dados pois a sua aplicação é direta, dispensando as medições com os paquímetros eletrônicos do equipamento. Caso o phantom não possua este recurso será necessário recon-er a medição da largura do ponto em cada profundidade, estimando posterionnente a resolução lateral. A única limitação deste phantonz é que o valor exato da resolução não poder ser conhecida. Por exemplo, uma resolução de 1,5 mm será interpretada como sendo de 2 mm, já que não há an-anjos espaçados de 1,5 mm.
Resolução Axial ~ :··-
_L Rcsoluçúo Lateral
Figura 5 - Posicionamento do transdutor e região do phantom visualizada nas medições de Resolução Lateral e Axial. Ao lado, detalhe explicativo dos grupos de alvos e suas finalidades.
A zona morta é avaliada através da observação do grupamento de alvos dispostos na parte superior do phantom tissue-mimicking, na figura 6 indicados pela
333
letra B. Para permitir a dedução da profundidade, cada alvo apresenta uma profundidade maior em relação a do alvo anterior.
Figura 6 - Verificação da zona morta, posicionamento do transdutor e região de interesse (em destaque).
É importante frisar que os parâmetros estudados são dependentes tanto da combinação transdutor/ equipamento como dos ajustes das funções disponíveis no console (foco, Time Gain Contra! - TGC e Ganho Geral - GG). Nos testes, estes foram sempre ajustados e anotados. Quanto aos controles de brilho e contraste da imagem do monitor foram deixados exatamente na posição ajustada pelos operadores na rotina de exames de pacientes. A adoção deste procedimento foi corroborada pelo artigo de GOODSITT [7].
Resultados
A avaliação dos parâmetros escolhidos foi realizada em clínicas e hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Na maior parte dos casos estes eram de hospitais públicos, justificando que locais, além do uso intensivo dos equipamentos, pode-se também encontrar boa distribuição de critérios como: idade dos equipamentos, variedade de marcas, condições de uso, etc. A figura 7 apresenta uma imagem típica do phantom utilizado, obtida com um dos equipamentos testados.
Os nomes dos fabricantes, bem como os dos hospitais e clínicas serão omitidos. Foi gerada uma codificação (primeira coluna das tabelas 4 e 5) para as configurações compostas pelo conjunto transdutor/ equipamento testado. Esta codificação será utilizada nos resultados e também na discussão destes. Foram ainda utilizadas as seguintes siglas para os tipos de transdutores: L para linear, LC para linear convexo, S para setorial, TV para transvaginal, TR para transretal e TRL para transretal linear [11].
As 27 configurações foram divididas em dois grupos, um composto pelas configurações com transdutores de 3,3 a 3,75 MHz e outro pelos
1 j
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
transdutores de 5,0 a 7,5 MHz. Essa divisão baseou-se nas características de profundidade e focalização próprias de cada freqüência.
Os valores obtidos para cada parâmetro de imagem deste universo de equipamentos foram então comparados com os obtidos na literatura especializada seja a título de regra, seja a título de recomendações.
A análise dos resultados encontrados para a Resolução Lateral, Resolução Axial e Zona Morta teve por base os mesmos critérios utilizados por GOODSITT [78] os quais são propostos pelo National Council on Radiation Protection (NCRP) (Report nº 99, Quality Assurance for Diagnostic Imaging, 1988 e The QA Cookbook, 1994 (tabelas 1, 2 e 3).
Figura 7 - Imagem típica do phantom para o teste de resolução (axial e lateral). Notar as espessuras diferentes dos pontos. Notar também a junção dos pontos do grupo de alvos em "L".
Tabela 1 - Critérios para a Resolução Lateral [7].
Profundidade (cm)
> 10 < 10 < 10
Freqüência do Transdutor (MHz)
< 3,5 3,5::; f< 5,0
;:::.:
Resolução Lateral
::;4 <3
< 1
Tabela 2 - Critérios para a Resolução Axial [7].
Freqüência Central (MHz)
<4 ;?:4
Resolução Axial (mm)
334
Tabela 3 - Critérios para Zona Morta [7].
Freqüência Central do Transdutor (ú (MHz)
Zona Morta (mm)
::;3 3 <f<7
;:::.: 7
<7 <5 <3
A seguir, as tabelas 4 e 5 apresentam os resultados das avaliações destes parâmetros para os equipamentos testados com a designação hipotética A (aprovado) ou R (reprovado) para cada um. O critério utilizado foi a comparação dos dados obtidos nos testes com os valores estabelecidos nas tabelas 1, 2 e 3.
Tabela 4 - Avaliação de cada parâmetro dos equipamentos com transdutores de freqüência entre 3,3
e 5,0 MHz.
Conf. Transdutor Idade Resolu~ão Zona
Tieo Freg. íanos~ Lateral Axial Morta c 03 LC 3,75 >5 A A A c 01 LC 3,50 <5 A A A cio s 3,50 >5 R A R c i2 s 3,50 >5 R A A c 13 L 3,50 >5 A A A c 14 s 3,50 >5 R A R c 15 L 3,50 >5 R A A c 16 s 3,50 >5 R A R c 17 L 3,75 >5 R R A c 18 s 3,50 >5 R A R C20 s 3,3/D2,5 <5 A A A C24 LC 3,3/D2,5 <5 R A A c 25 LC <
Tabela 5 -Avaliação de cada parâmetro dos equipamentos com transdutores de freqüência entre 6,0
e 7,50 MHz.
Conf. Transdutor Idade Resolu~ão Zona
Tieo Freg. (anosl Lateral Axial Morta c 01 L 7,50 >5 R A A c 02 TV 6,00 >5 A A A C04 TRS 7,00 >5 R A A c 05 TRL 7,00 >5 A A A c 06 LC 7,50 >5 R R R c 08 L 7,50 <5 A A A c 09 LC 5,00 <5 A A A c 11 L 5,00 >5 A A A c 19 TV 6,6/D5,0 <5 A A A c 22 TV 6,6/D5,0 <5 A A A C23 L 6,7/D5,0 <5 R R A C26 L 7,50 <5 A A A
27 TR <
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Discussão
Baseando-se nas tabelas 4 e 5, pode-se inferir o compo1tamento global dos 3 parâmetros envolvidos, tendo-se porém a consciência das limitações envolvidas em decorrência do tamanho do universo testado.
No que diz respeito ao parâmetro Resolução Axial (tabela 6), o mesmo apresentou-se pouco sensível a mudanças com respeito a idade da configuração, ao tipo de transdutor e a faixa de freqüência.
Tabela 6 - Quantidade de configurações reprovadas, por categoria, para o parâmetro Resolução Axial.
Totais Categorias A valia das Idade Gruoo Transdutor Tipo
\C> Setorial o N I 1 Linear 1 "' e::
""" >5 Lin. Convexo o "O 2 e:: "' Setorial o .... e:: anos "' "O
"' e:: II 1 Linear o ~ ;;..
"' o Lin. Convexo 1 "' a 'º Setorial o "'" "' o: e::: 5 I o Linear o OJ)
<5 Lin. Convexo o t:: 2 = Setorial J o anos u II 2 Linear 1 Lin. Convexo o
A Zona Moita mostrou-se significativamente sensível a idade, uma vez que os 5 reprovados tem mais de 5 anos. Desses, 4 são setoriais e do grupo 1. O outro é LC do grupo 2, indicando que deve ser incluída em testes rotineiros.. Os transdutores setoriais também apresentaram zonas mortas maiores que os lineares, o que também é compatível com a maior fragilidade do sistema mecânico setorial.
Tabela 7 Quantidade de configurações reprovadas, por categoria, para o parâmetro Zona Mmta.
Totais Categorias A valia das Idade Gruoo Transdutor Tipo
\C> Setorial 4 N I 4 Linear o "' e:: in >5 Lin. Convexo o "O e:: "' 5
Setorial o .... e:: anos "' "O
"' o: II 1 Linear o ~ ;;..
"' o Lin. Convexo J "' a 'º Setorial "'" "' o e:: e::: ;... I o Linear o ::: OJ)
<5 Lin. Convexo o t:: o = Setorial o o anos u II o Linear o Lin. Convexo o
A Resolução Lateral mostrou ser o mais sensível dentre os 3 parâmetros avaliados, especialmente com respeito a idade. 1 O das 12 configurações reprovadas
são de equipamentos antigos. Sendo que 50% ( 6) destes são setoriais. Nada se pode afirmar com respeito as faixas de freqüências.
Tabela 8 - Quantidade de configurações reprovadas, por categoria, para o parâmetro Resolução Lateral.
Totais Categorias A valia das Idade Grupo Transdutor Tipo
\C> Setorial 5 N I 7 Linear 2 "' o: N >5 Lin. Convexo o "O - !O o:
"' Setorial J .... anos "' e:: "' "O II 3 Linear 1 ~ e::
"' ;;..
Lin. Convexo 1 "' o
'º a Setorial "'" o e "' e::: I 1 Linear o ::: OJ)
<5 Lin. Convexo 1 t:: 2 = Setorial o o anos u
II 1 Linear 1 Lin. Convexo o
Conclusões
Dentre os 3 parâmetros testados, 2 figuram entre os indicados na literatura como mais importantes para a caracterização da qualidade de imagens em ultra-som.
Ainda não há normas nacionais ou internacionais para avaliação da qualidade das imagem de aparelhos de diagnóstico por ultra-som. As informações contidas nos manuais dos phantoms [10] ou em outras literaturas [3], [4] e [6] a respeito do modo como os parâmetros podem ser obtidos, não são suficientes para a sua aplicação imediata. Para isso seria necessário um conhecimento teórico prévio mais aprofundado, dificultando a sua aplicação por parte dos profissionais que devem conduzir tais testes de rotina.
Os artigos encontrados, em geral, referem-se aos parâmetros como bem estabelecidos, limitando-se a explicar a forma como devem ser obtidos. Em certos casos apenas analisam um ou outro parâmetro a partir de ensaios realizados em laboratórios, sob condições ideais.
A avaliação dos parâmetros Resolução Lateral, Resolução Axial e Zona Morta apresentou resultados compatíveis com o previsto pela teoria e indica, po1tanto, que são parâmetros consistentes para a avaliação da qualidade de imagens ultra-sonográficas. Além de serem de aplicação viável.
A implementação de ensaios de qualidade de imagem deve ser sistematizada, passo a passo, simplificando a tarefa de quem pretende avaliar rotineiramente a imagem de equipamentos de ultra-som.
Apesar das limitações impostas ao trabalho ora proposto, foi possível demonstrar a viabilidade da utilização destes parâmetros. Uma evidência disso é a sua capacidade de propiciar a análise do desempenho dos aparelhos. O mérito deste trabalho está na aplicação prática de tais parâmetros para esta análise.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Por fim, faz-se necessário observar que os testes de desempenho devem ser realizados periodicamente e que a sua finalidade não é de comparar diretamente equipamentos entre si e sim, penmtir o acompanhamento do desempenho de um dado equipamento ao longo de sua vida útil. Porém, uma eventual comparação entre equipamentos, num dado instante de tempo, pode ser realizada considerando-se que um paciente pode ser examinado mais de uma vez e em aparelhos diferentes, obtendo distintos diagnósticos em função das diferenças entre equipamentos.
Os testes de desempenho permitem: --? Detectar problemas ainda em sua fase inicial. --? Localizar a possível origem .de um determinado
problema suspeitado pelo operador. --? Acompanhar a degradação do aparelho. --? Afirmar se o aparelho está em condições adequadas
de uso. --? Verificar a qualidade dos reparos efetuados.
O presente trabalho busca uma aproximação inicial com o problema, levantando todos os parâmetros citados na literatura, testá-los em equipamentos utilizados na rotina diagnóstica, e por fim, fornecer subsídios para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre cada um deles, ou pelo menos sobre os mais significativos.
Atualmente está em desenvolvimento um protocolo detalhado que permita que estes ensaios tornem-se de rotina e possam ser implementados por pessoal técnico de fonna padronizada.
Agradecimentos
Os autores agradecem a CAPES, ao CNPq, a FINEP, a F APERJ e ao PRONEX pelo suporte parcial a este trabalho.
Referências
[l] NAGAE, M., THODA, E., MIYAKE, F., NAKAJIMA, Y. and ISHIKAWA, T., 1997, "Status of Sonography in Developing Countries'', Ultrasound in Medice and Biology, v.23, supp. 1, pp. S165.
[2] SKUPSKI, D. W., CHERVENAK, F. A. and McCULLOUGH, L. B., 1995, "Routine Obstetric Ultrasound", International Journal of Gynecology & Obstetrics, v. 50, pp.233-242.
[3] IEC - 1390, (1996), Ultrasonics - Real-time pulseecho systems - Test procedures to determine pe1formance specifications, Geneve, International Electrotechnical Commission.
[4] AIUM (1991), Standard Methods for Measuring Performance of Pulse-echo Ultrasound Imaging Equipment. American Institute of Ultrasound in Medicine. Maryland, 53 p.
336
[5] AIUM (1992), Acoustic Output Measurement and Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment. American Institute of Ultrasound in Medicine. Maryland, 122 p.
[6] AIUM (1995), AIUM Quality Assurance Manual for Gray-scale Ultrasound Scanners - Stage 2. American Institute of Ultrasound in Medicine, Maryland, 61 p.
[7] GOODSITT, M. M., CARSON, P. L., WITT, S., HYKES, D. L., KOFLER JR, J. M., 1998, "Realtime B-mode ultrasound quality control test procedures - Report of AAPM Ultrasound Task Group Nº l ", Medical Physics, v. 25, n. 8, pp. 1385-1406.
[8] MONTEIRO Jr, J. A., VIEIRA, C. R. S. & PEREIRA, W. C. A., 1998, "Avaliação da Qualidade do Contraste de Imagens de Equipamentos de Ultra-som para Diagnóstico Médico". ln: IV FCTS - XVI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, pp.151-152, Curitiba, Outubro.
[9] FISH, P., 1990, Physics and instrumentation of diagnostic medical ultrasound, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.
[10] VICTOREEN, Inc., 1993, Multi-purpose Ultrasound Phantom, Instruction Manual ( cod. 84-317).
[11] MONTEIRO Jr, J. A., 1999, Protocolo de Ensaios para Avaliação da Qualidade de Imagem de Equipamentos de Ultra-som Diagnóstico, Tese de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/ UFRJ, Rio de Janeiro, pp. 133.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Avaliação de Ventiladores Pulmonares Através de Parâmetros de Normas
Regiane Ferreira Abreu Silva, Pedro Miguel Gewehr
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)
Av. 7 de Setembro, 3165 - 80.230-901 Curitiba PR Fone (OXX41) 310-4692, Fax (OXX41) 310-4683
[email protected], [email protected]
Resumo - Na prática médica, ventiladores mecânicos são empregados para assistência ventilatória pulmonar, onde aspectos de segurança e confiabilidade são de extrema importância para esses dispositivos de suporte à vida. Neste trabalho efetua-se uma avaliação preliminar de ventiladores pulmonares mecânicos em UTI' s, através de parâmetros de teste, tendo como base a norma brasileira ABNT NBR 13763 e a norma Fl 100 da American Society for Testing and Materiais (ASTM). Foram verificados dez ventiladores pulmonares mecânicos volumétricos pertencentes a duas UTI' s de 2 hospitais da cidade de Curitiba (PR), utilizando-se um Testador de Ventiladores comercial. Os resultados mostraram que 8 dos 1 O ventiladores apresentavam valores inadequados nos parâmetros verificados. Mesmo considerando que os testes não foram desenvolvidos em laboratórios específicos e sem haver a preocupação da certificação, os resultados mostram uma situação de precariedade dos equipamentos.
Palavras-chave: Ventilador Mecânico, Ventilação Pulmonar, Normas, Avaliação
Abstract - Mechanical ventilators are employed for Jung ventilatory support in critical care medicine, where safety and reliability aspects are of extreme importance for these life supporting equipment. This work makes a preliminary assessment of lung ventilators in Intensive Care Units-ICU' s, by means of some testing parameters which are based on a Brazilian standard (NBR 13763) and an ASTM standard (Fl 100). Volumetric mechanical ventilators (10) were verified in 2 ICU' s of2 hospitals in Curitiba City, using a commercial Ventilators Tester. The results have shown that 8 out of the 1 O ventilators presented inadequate values for the verified parameters. Even considering that the tests were not carried out in a specialized laboratory and without having conceming for the certification process, the results show a precarious situation for these equipment.
Key-words: Mechanical Ventilators, Lung Ventilation, Standards, Assessment
Introdução
O auxílio à ventilação pulmonar fisiológica faz parte integrante do suporte à vida e é prática conente em todos os hospitais que prestam assistência a pacientes em estado grave [!]. Via de regra, esse auxílio é prestado por meios mecânicos, ou seja, através de aparelhos denominados ventiladores mecânicos.
A dependência dos pacientes que necessitam de assistência ventilatória torna imprescindível a boa perfonnance dos ventiladores artificiais durante a sua utilização [2]. No entanto, a realidade encontrada nas unidades de saúde, em particular nos locais de tratamento intensivo, apresenta um quadro que se situa geralmente no limiar dos riscos. A ventilação mecânica evoluiu de simples equipamentos ciclados à pressão para sofisticados sistemas controlados por microprocessadores [ 1]. Estudar e compreender os conceitos fundamentais, a variedade de modalidades ventilatórias, a classificação e o funcionamento destes equipamentos são fatores essenciais para a prática do cuidado respiratório.
À medida que os ventiladores tornam-se mais complexos e oferecem mais opções, o número de decisões potencialmente perigosas também aumenta [ 1].
337
Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas respiratórios que atendem pacientes em estado crítico deparam-se freqüentemente com aparelhos caros, complicados e muitas vezes com poucas orientações o seu uso, ou ainda, com ventiladores antigos, os quais possuem poucas opções e modalidades ventilatórias, susceptíveis a iatrogenias em doentes graves [3]. a contínua utilização dos equipamentos, sem a realização de procedimentos preventivos e de rotina, faz com que os mesmos estejam sempre na iminência de intenomper seu funcionamento, ou, em alguns casos tão críticos quanto, fornecendo parâmetros distintos dos programados pelos terapeutas.
Metodologia
Considerando-se os parâmetros e critérios da norma NBR 13763 (Ventiladores Pulmonares para Uso Medicinal) da Associação Brasileira de Nonnas Técnicas (ABNT), a qual deve ser empregada dentro do tenitório nacional e da norma Fl 100 (Standard Specijication for Ventilators Intended for Use in Criticai Care) da American Society for Testing and Materiais (ASTM), a qual estava disponível, foram testados 1 O ventiladores pulmonares mecânicos
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
volumétricos para adultos, pertencentes a UTI' s (Unidades de Terapia Intensiva) de dois hospitais de Curitiba (PR). Dos ventiladores testados, 8 eram do tipo invasivo e 2 do tipo não invasivo.
Para verificação de desempenho dos parâmetros dos ventiladores, utilizou-se um analisador de ventiladores pulmonares para uso adulto e pediátrico, modelo VT-2 da Bio-Tek Instruments (USA), o qual foi utilizado com as condições de calibração originais de fábrica. Todos os testes foram realizados com o aparelho simulando as impedâncias para complacência pulmonar igual a 50 ml/cmH20 e resistência ao fluxo de ar das vias aéreas igual a 20 cmH20, uma vez que estes valores expressam dados de um pulmão normal com vias aéreas normais [4].
Dados de pressão atmosférica, umidade relativa do ar e temperatura foram fornecidos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) apenas como uma referência para os testes, sendo considerados os valores médios de: pressão atmosférica de 685 mmHg, temperatura de 23 ºC e umidade relativa do ar igual a 65,4 %. Os testes foram realizados pelos próprios autores do artigo (os quais possuem experiência na avaliação de dispositivos médicos) e em laboratórios de pesquisa da Instituição (que não são credenciados para certificação).
As unidades de referência selecionadas para fluxo, volume minuto e outros volumes foram: ATPX (Ambient Tenzperature and Pressure, eXisting humidity) [4], e para unidades de pressão: cmH20. Foram escolhidas estas unidades por serem as mesmas utilizadas nos ventiladores testados.
Para os testes, selecionou-se o "Teste Completo" (Full Test) do analisador por ser o mais detalhado do instrumento e o que permitiria avaliar um número maior de variáveis. Nesta situação são obtidos, além de outros, os valores dos seguintes parâmetros ventilatórios, os quais são baseados nas normas ABNT e ASTM [5,6]: Volume Corrente (Vc), Freqüência Respiratória ( f), Fluxo Inspiratório ( ( dV / dt )ctinsp), Tempo Inspiratório (T1), Tempo Expiratório (TE), Relação Inspiração-Expiração (I:E), Volume Minuto (V01),
Pressão Máxima de Trabalho (Pwirníx), Pressão Positiva no Final da Expiração (PEEP), Pressão Média das Vias Aéreas (Paw), Complacência (C) e Resistência (R). Observa-se que a nomenclatura acima é a da norma ABNT assim como as unidades utilizadas nas tabelas (resultados), exceção para PEEP que foi retirada da norma ASTM. Em geral há concordância para os parâmetros das duas normas estudadas, com algumas diferenças nas unidades adotadas.
Todos os ventiladores foram testados na modalidade assistido-controlada (caracterizado como auxiliador-controlador na norma ABNT), que opera na forma de um auxílio ao ciclo respiratório e pode, na ausência de esforço inspiratório do paciente, funcionar automaticamente em ciclos controlados. Esta é uma modalidade bastante utilizada na prática [2].
Resultados
338
Pela norma ABNT, os valores medidos de pressões, fluxos e volumes devem se limitar a uma variação de ± 2,5% do ajustado, permitindo-se uma tolerância de ± 2,5% dependendo da escala utilizada no instrumento. Já para a norma ASTM, em geral são consideradas significativas as variações acima de 10%. Dessa forma, como este trabalho se trata de uma avaliação preliminar sem compromisso de verificação de conformidade, decidiu-se utilizar o critério mais permissivo, i. e., menos restritivo para os equipamentos verificados.
Todos os valores medidos pelo instrumento VT-2 e descritos nas tabelas, representam numericamente 3 valores iguais consecutivos, i. e., admitia-se o valor como o medido pelo instrumento apenas após 3 leituras iguais.
Inicialmente, foram testados três ventiladores mecânicos do tipo invasivo (MI, M2 e M3) da marca A, ciclados à volume (assim como todos os demais testados). Por serem estes ventiladores bastante antigos e não microprocessados, não foi possível a medição de todos os parâmetros. Para esta marca, apenas os seguintes parâmetros foram verificados: Vc, f, (dV/dt)ctinsp' Pwmáx e PEEP. Um resumo dos testes efetuados é mostrado na tabela 1, com os resultados obtidos. Nas tabelas apresentam-se, nas colunas, os valores selecionados nos ventiladores sob teste e os resultados medidos com o testador (VT-2). Os valores em itálico e negrito mostram as discrepâncias acima do especificado pelas normas, conforme critério acima estabelecido.
Um dos parâmetros da tabela 1 com valores fora do permitido é o fluxo inspiratório. O maior fluxo gerado por um ventilador dessa marca foi 43 l/min, quando o fluxo solicitado foi de 60 l/min. Um dos equipamentos sob teste (M2) apresentou também o valor de Pwmáx maior que o de referência no analisador VT-2. Ainda, dois dos três ventiladores (M2, M3) apresentaram irregularidade relacionada ao volume corrente. Os demais parâmetros que foram verificados estavam de acordo com o solicitado, conforme se observa na tabela 1, pois as medidas apresentaram variações inferiores a 1 O %.
Tabela 1 - Testes de ventiladores da marca A
Parâmetro Ml VT-2 M2 VT-2 M3 VT-2 (unidade) f 15 15 15 15 15 15 ( cpmin) Vc 600 598 600 530 600 428 (ml) ( dV /dt)dinsp 60 34 60 43 60 29 (l/min) PEEP 10 9,8 7 7,5 3 2,8 (cmH20)
Pwmáx 31 28,5 41 35,6 15 14,9 (cmH20) cpmm=c1clos por mmuto
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Dois ventiladores microprocessados do tipo invasivo (M4 e M5) da marca B também foram analisados. Os parâmetros verificados nestes equipamentos foram: f, (I:E), Vc , Vm , (dV/dt)dinsp , PEEP, Pwmáx e Paw·
A tabela 2 apresenta os resultados obtidos, onde se verifica que todos os parâmetros destes ventiladores estavam de acordo com os limites aceitáveis das normas, exceto o volume minuto que estava irregular em um dos aparelhos (M5).
Dois ventiladores (M6 e M7) da marca C, que são equipamentos microprocessados do tipo invasivo e mais sofisticados, foram também testados, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 3.
Tabela 2 Testes de ventiladores da marca B
Parâmetro M4 VT-2 M5 VT-2 (unidade) f 15 15 15 15 (cpmin) Vc 600 628 600 642 (ml) (dV/dt) dinsp 27,6 27 28,2 28,2 (l/min) PEEP 8,5 8,8 4,2 3,9 (cmH20)
Pwmáx 23,2 23,1 17,9 18 (cmH20)
Paw 13,4 13,8 13,6 13,8 (cmH20)
Vm 10,20 10,29 7,4 10,59 (1) (I:E) 1:2 1: 1,8 1 :2 1 :1,9
Tabela 3 - Testes de ventiladores da marca C
Parâmetro M6 VT-2 M7 VT-2 (unidade) e 50 50 50 50 (ml/cmH20) f 15 15 15 15 ( CP111in) Vc 600 650 600 655 (ml) (dV/dt)dinsp 60 57 60 57 (1/min) PEEP 6 5,8 10 10 (cmH20)
Pwmáx 33 29,4 39 35,4 (cmH20)
Paw 11,4 10 12 13 (cmH20)
Vm 9,2 10,8 4,9 5,6 (1)
T, 1,2 1,1 1,3 1,2 (s) (I:E) 1 :2 1:2,2 1 :2 1 :2,1
Neste caso, verificou-se que nos ventiladores M6 e M7, os valores de complacência (C) e frequência respiratória (f) estavam rigorosamente corretos, de acordo com as medidas do testador VT-2. Os demais parâmetros medidos apresentaram alguma divergência, porém essas variações não foram muito significativas (mesmo para os valores marcados na tabela), conforme as normas de referência.
Na tabela 4, apresentam-se os resultados para um único ventilador do tipo invasivo (M8) da marca D. Neste caso, todos os parâmetros estavam dentro do especificado para as normas estudadas, menos o PEEP que apresentou+ 14% de variação.
Tabela 4 - Testes de ventilador da marca D
Parâmetro M8 VT-2 (unidade) f 15 15 (cpmin) Vc 500 500 (ml) ( dV /dt)dinsp 50 48 (1/min) PEEP 5 5,7 (cmH20)
Pwmáx 18,5 18,0 (cmH20)
Vm 7,88 (1) (I:E) 1: 1,5 1: 1,5
Finalmente, dois ventiladores do tipo não invasivo também foram testados, um da marca E (M9) e outro da marca F (MIO). Valores inadequados foram encontrados para Vc em um deles (Ml Os resultados são apresentados na tabela 5.
Tabela 5 Testes de ventiladores não-invasivos
Parâmetro M9 VT-2 MIO VT-2 (unidade) f 15 15 15 15 ( cpmin) Vc * * 430 522 ( ml) PEEP 8 7,8 10 9,9 (cmH20)
Pwmáx 20 19,6 20 20,5 (cmH20) * Dados não são fornecidos pelo aparelho da marca E.
Discussão e Conclusões
Várias discrepâncias foram observadas nos parâmetros para os ventiladores testados. As irregularidades mais relevantes e que dificultariam a
1 :
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
ventilação do paciente foram as relacionadas ao fluxo inspiratório e volume corrente.
Nos ventiladores da marca A, verificou-se que a inadequação do fluxo inspiratório estava presente em todos os aparelhos testados, provavelmente por serem equipamentos antigos (fabricados em 1970), onde o compressor (gerador) de fluxo provavelmente não produzia mais o fluxo adequado.
Os aparelhos microprocessados testados (M4, M5, M6, M7, M8, M9, MlO) são equipamentos que sofrem manutenções preventivas periódicas, conforme contratos com fabricantes, não devendo em princípio, apresentar qualquer valor inadequado. As alterações encontradas nestes equipamentos e relacionadas aos volumes (volume minuto nos aparelhos das marcas B e C e, volume corrente expirado no ventilador da marca F), poderiam ser devidas ao volume de ar que permanece retido no circuito externo do ventilador. Estes parâmetros de qualquer forma não devem afetar a ventilação do paciente, uma vez que são dados de monitorização e não fatores ventilatórios controlados. Por sua vez, os valores de pressões que sofreram alterações (marcas C e D), estavam muito próximos do limite não se configurando em variações significativas além de serem também dados de monitorização (para os casos).
Para a amostra de ventiladores testados, verificou-se que é imprescindível uma rotina de avaliação dos parâmetros de desempenho deles, pois isso pode proporcionar garantia para a segurança e ventilação adequada ao paciente. Os testes de rotina podem também contribuir para o bom funcionamento e para a ampliação da vida útil dos equipamentos.
A adoção de um programa de rotina para avaliação de ventiladores que abranja os testes de parâmetros estipulados em normas deve ser estabelecida na prática médica, contribuindo assim para a minimização dos riscos envolvidos na utilização desses dispositivos de suporte à vida. Observa-se também que se os critérios mais rígidos (norma ABNT) de verificação de desempenho fossem adotados, a quantidade de parâmetros fora de especificação dos equipamentos seria ainda maior.
Finalmente, esta avaliação preliminar mostra que a verificação de parâmetros de normas para equipamentos médicos de suporte à vida é importante não apenas como orientação para a necessidade de programas de manutenção preventiva, treinamento de usuários, etc., mas para a verificação simples da função do equipamento para a qual ele foi projetado pois dessa verificação vidas podem ser salvas ou não.
Referências
[l] J. O. C. Auler, et al., Assistência Ventilatória. São Paulo: Ed. Atheneu, 1995.
[2] C. David, Ventilação Mecânica-Da Fisiologia ao Consenso Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Revinter, 1996.
[3] W. B. Carvalho, et al., Atualização em Ventilação Pulmonar Mecânica. São Paulo: Ed. Atheneu, 1997.
[4] BIO-TEK, Ventilator Tester Models VT-IB & VT-2 Operator's Manual. Winooski, 1989.
[5] ABNT, NBR 13763 Ventiladores pulmonares para uso medicinal. Rio de Janeiro: ABNT, 1996.
[6] ASTM, FJJ00-90 Standard Specification for Ventilators Intendedfor Use in Critica! Care. 1998.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Roteiro de Testes para Ensaios de Monitores Cardíacos
Frederico M. D. da Silva, Otília D. Barbosa, Paulo H. Demantova, Percy Nohama
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)
A v. 7 de Setembro, 3165 - 80.230-901 - Curitiba - PR Fone (OXX41) 310-4692, Fax (OXX41) 310-4683
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - Este artigo descreve um roteiro de testes e o desenvolvimento de uma plataforma para geração de sinais destinados à avaliação de equipamentos de monitorização cardíaca. Os parâmetros e quesitos avaliados foram baseados em especificações da norma ANSI/AAMI EC13. Nesta fase inicial foram considerados os requisitos de desempenho e funcionalidade de tais equipamentos.
Palavras-chave: monitores cardíacos, avaliação de desempenho, manutenção preventiva e ensaios.
Abstract - This paper describes a testing routine and the development of an evaluation work bench designed in order to generate specific signals to evaluate the performance of cardiac monitoring equipments. The electrical parameters measured and the technical features checked up are based on ANSl/AAMI EC13 standard. For the first experimental procedures we verified functionality and performance of some hospital equipments.
Key-words: cardiac monitors, performance evaluation, preventive maintenance and equipment testing.
Introdução
A aceitação de novos equipamentos pelo mercado está cada vez mais condicionada à observância de detern1inados padrões que garantam resultados precisos e segurança em sua utilização. Dispositivos de aplicação médica, sejam para uso diagnóstico ou terapêutico, não são exceção.
Os profissionais da área médica e pacientes não devem correr riscos de acidentes devido ao uso inadequado do equipamento ou de sistemas mal projetados. Desta maneira, esforços no sentido de criar normas que especifiquem os requisitos mínimos de desempenho e operacionalidade de equipamentos médico-hospitalares vêm sendo adotados em vários países.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um roteiro de testes para monitores cardíacos e aplicá-lo de forma a validar o procedimento. Nesta fase inicial, enfatizou-se os reqmsitos de desempenho e funcionalidade dos equipamentos, ressaltando-se que não foram avaliados monitores cardíacos de uso neonatal/pediátrico, parâmetros referentes à segurança elétrica e sobrecarga operacional.
Optou-se pela utilização da norma EC13 da ANSI/AAMI (American National Standards Institute/ Association for the Advancement of Medical Instrumentation) que traz as especificações a serem aplicadas em monitores cardíacos, entre outros. A AAMI é reconhecida como uma das principais organizações de padrões voluntárias nos Estados Unidos. É a fonte primária de consenso e informação
341
em instrumentação médica e tecnologia, além de fornecer subsídios à indústria, profissionais e governo para a geração de padrões nacionais e internacionais [ 1].
A norma EC13 estabelece exigências mínimas de segurança e desempenho para monitores cardíacos, medidores de batimentos cardíacos e alarmes que são utilizados para adquirir e/ou exibir sinais de eletrocardiógrafo com o propósito de detecção do ritmo cardíaco. A norma não inclui exigências de desempenho para a fibrilação ventricular (fv) pelo monitor cardíaco. A falta de um banco de dados documentado que contenha formas de onda de fv foi o obstáculo principal para a não inclusão desta exigência norma. O objetivo deste padrão é prover exigências mínimas de nomenclatura, de desempenho e segurança que ajudarão a assegurar um nível razoável de eficácia clínica e segurança do paciente no uso de monitores cardíacos [2].
Devido à dificuldade em se obter um sistema de simulação de sinais de ECG, de acordo com as especificações da norma, projetou-se e implementou-se um sistema mínimo para a geração das formas de onda necessárias.
Primeiramente, efetuou-se a análise da norma EC 13 da ANSI/ AAMI, suas particularidades e abrangência, o que permitiu o estabelecimento de um roteiro de testes visuais e de desempenho. Em seguida, especificou-se e implementou-se uma plataforma de testes e programas aplicativos para a geração dos sinais. Finalmente, foi executado o roteiro de testes com três equipamentos de monitorização cardíaca.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Driver do D/A
Programa Aplicativo
(linguagem C)
!
l
"Terminal Boa:rd"
D/A 2
D/A 1
Circuito de Acoplamento
Monitor Cardíaco
Gerador de Funções Osciloscópio
o o o o o
cabos coaxiais
D o o o o
Figura 1 - Plataforma de testes desenvolvida
342
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Metodologia
Para a inspeção visual e avaliação prática foram utilizados formulários e fichas de inspeção. Na ficha de cadastro dos equipamentos são registradas algumas informações destinadas à identificação do equipamento, tais como fabricante, modelo e número de série.
A ficha de inspeção visual divide-se em três partes: Marcações (labels do equipamento), Manual do Operador e Manual de Serviço. Na primeira parte, são verificadas informações contidas no gabinete do equipamento, como informações sobre o fabricante, número de série, identificação dos eletrodos e advertências sobre riscos potenciais de choques elétricos. No manual do operador, são verificadas as informações referentes a utilização do equipamento, como por exemplo, funcionamento de alanne visual e audível, sugestões de métodos para minimizar problemas com transientes de linha e funções disponíveis. Por fim, no manual de serviço verifica-se a existência de esquemas de circuitos eletrônicos e indicação de pontos de teste.
Encontrou-se dificuldade em se obter um sistema de simulação de sinais de ECG de acordo com o especificado na norma adotada. Dentre os simuladores disponíveis para teste de monitores cardíacos, apenas alguns dos sinais especificados pela ANSI/ AAMI podiam ser gerados. Partiu-se, então, para o projeto e implementação de uma plataforma de testes que permitisse a geração das formas de onda necessárias para a realização dos ensaios. Na figura 1, ilustra-se um esquema da plataforma de testes desenvolvida.
A plataforma é composta por um microcomputador 486DX 66MHz, uma placa de conversão D/A (ICP DAS, modelo A-826PG) com 2 canais independentes, um gerador de funções (Meter International Corporation, modelo FG506) e um osciloscópio digital (TEKTRONIX, TDS 21 O).
Por meio do programa desenvolvido em ambiente DOS utilizando linguagem C+ + e drivers fornecidos pelo fabricante da placa D/ A, foi possível gerar sinais simulando o complexo QRS especificado em norma e ilustrado na figura 2.
Tek l!ll!lll ~l<Sls S Acq• :------··-f-T------J--·i
' ' .. ±" '.
d.---l:.--i . . ~·
-0.4315d
~200mV
Figura 2 Complexo QRS simulado
Os principais parâmetros desse sinal são: duração (d) em milisegundos (ms ), amplitude (a) em milivolts (mV) e freqüência cardíaca (taxa de repetição do sinal
343
acima) em batimentos por minuto (bpm) todos alterados pelo programa desenvolvido.
O sinal gerado é aplicado ao circuito de acoplamento que tem a função de somador e, dependendo do ensaio realizado: aplica-se somente o sinal QRS gerado, somente o sinal interferente/ grampeamento (sinais senoidais e triangulares com freqüência entre 1 e 40Hz e amplitude não superior a 1 V), ou ambos. O circuito de acoplamento divide o sinal de entrada por 1000 para adequar as grandezas do sinal a ser aplicado na entrada do monitor, de acordo com o especificado em norma.
De maneira simplificada, o fluxo de dados da plataforma encontra-se ilustrado na figura 3.
Complexo QRS Sinal Interferente ou de Grampeamento
Circuito de Aconlamento
Monitor Cardíaco
Figura 3 - Fluxo de dados na plataforma
Durante a realização dos ensaios nos monitores cardíacos avaliados, observaram-se condições operacionais especificadas pela norma. Ao todo os testes práticos foram divididos em seis itens: 1) Faixa de amplitude do sinal de QRS: o objetivo deste ensaio foi verificar a resposta do monitor de ECG para níveis variáveis de amplitude, duração e taxa de repetição (em batimentos por minuto, bpm) do sinal QRS aplicado à entrada do monitor. O sinal de QRS gerado pela plataforma desenvolvida e utilizado neste ensaio foi mostrado na figura 2, e possui duração de 1 OOms e amplitude de 1 V (amplitude 1000 vezes maior que a aplicada ao monitor cardíaco por ser amostrado antes do circuito de acoplamento). 2) Tolerância da tensão de 60 Hz: neste ensaio verificou-se qual a amplitude de sinal senoidal interferente de 60 Hz somado ao sinal de QRS provoca a perda da leitura da taxa cardíaca do equipamento em teste. O sinal gerado pela plataforma é mostrado na figura 4.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Tek 1!111'11! soo S/s 5 Acqs
llillllll~ lOOmV
Figura 4 - Complexo QRS somado a sinal senoidal O sinal apresenta uma interferência senoidal de
60Hz somado ao complexo QRS simulado, com duração de 1 OOms, amplitude de 500m V e freqüência de 80bpm. 3) Tolerância de desvio: neste item, foi verificado se o monitor cardíaco efetua leitura de taxa cardíaca dentro dos limites de ±1 O % (ou ±5 bpm, o maior), quando um sinal triangular é sobreposto ao sinal QRS, provocando desvios na amplitude. O sinal injetado no monitor cardíaco sob teste é mostrado na figura 5.
Tek 1!111'11! 20 S/s 1 Acqs f------[---~-:---J---1 .
I J
J.
iH'lill 1 V
Figura 5 - Complexo QRS somado a sinal triangular
Na figura 5, o sinal de QRS é grampeado por um sinal triangular de 4 Vpp e freqüência de 0,1 Hz. 4) Faixa do medidor de taxa cardíaca: verifica-se se a faixa de medição da taxa cardíaca está dentro do limite mínimo (30 a 250 bpm para uso adulto, precisão ±10 % ou ±5 bpm, a que for maior), ou, do especificado em manual (no caso de uma faixa e/ou precisão maiores). Neste item, foi alterada a taxa de geração do complexo QRS (sinal mostrado na figura 2) de forma a se obter diferentes valores de taxa cardíaca, em batimentos por minuto (bpm). 5) Sistema de alarme: o objetivo deste ensaio foi o de verificar o funcionamento do sistema de alarme do monitor cardíaco. Os itens avaliados foram: faixa do limite de alarme, capacidade de resolução, precisão do limite de alarme, tempo para alarmar (em parada cardíaca, braquicardia e taquicardia), silenciamento de alarme e desabilitação do alanne. Para os testes que não necessitam de inspeção visual foi utilizada a mesma
344
montagem do item 1, na qual é variada somente a taxa cardíaca (bpm). 6) Exigências especiais para monitores com capacidade de exibição do sinal de ECG: encontram-se relacionadas as características avaliadas juntamente com os sinais gerados para a realização dos ensaios: precisão, controle e estabilidade do ganho (ensaio realizado aplicando-se o sinal senoidal com lmVpp e freqüência de 8Hz); precisão da base de tempo (aplicado sinal de 2,5Hz e amplitude entre lmVpp e 5mVpp); relação de aspecto do dispositivo de saída; resposta em freqüência; resposta ao impulso (representado na figura 6, cujo ensaio é realizado aplicando-se à entrada do monitor um pulso com 3mV e duração de lOOms).
Tek smml soo S/s 6 Acqs ~·---+·--------+--;
Figura 6 - Sinal utilizado para avaliar a resposta ao impulso
Resultados
Preliminarmente, avaliou-se três equipamentos de monitorização cardíaca (equipamentos A, B e C), com o objetivo de verificar a validade da plataforma desenvolvida. Os resultados foram obtidos por meio de comparação, em termos percentuais, do número de requisitos atendidos em cada item dos ensaios práticos.
Na figura 7, mostra-se, em tennos percentuais, a concordância com a norma dos equipamentos A, B e C avaliados em cada um dos itens práticos (itens 1 a 6 ). A figura 8 relaciona os requisitos não atendidos, de modo geral, em cada um dos itens avaliados. Do número total de requisitos não atendidos durante as avaliações, 48% estão relacionados com o ensaio dos sistemas de alarme - item 5. Finalmente, na figura 9, são apresentados os requisitos atendidos por equipamento avaliado.
A plataforma e o programa desenvolvidos possibilitaram uma avaliação mais completa e mais adequada, dentro das especificações da norma adotada, do que ter-se-ia obtido utilizando-se os equipamentos de teste disponíveis comercialmente.
Os formulários criados para a avaliação prática dos monitores cardíacos possuem uma descrição detalhada para a realização dos procedimentos de teste, permitindo, desta maneira, que técnicos sem um profundo conhecimento da norma possam empregá-los.
ANAIS DO CBEB'2000 Certificação, Controle e Garantia de Qualidade em Equipamentos Médico-Assistenciais
Além disso, os formulários, tanto para a inspeção visual como para a avaliação quantitativa, permitiram um fácil levantamento dos dados apresentados nas figuras 7 a 9.
Discussões e Conclusões
Procurou-se realizar alguns dos testes descritos pela norma ANSI/ AAMI utilizando equipamentos de testes disponíveis comercialmente. Tais equipamentos: ECG Performance Analyzer e TurboTester da Bio-Tek Instruments, Inc. apesar de simularem uma grande variedade de formas onda de ECG, não permitem a geração de sinais exigidos pela norma. Daí, a necessidade de se implementar a plataforma de testes para gerar os sinais considerados mais importantes.
~ " o ,, '5 e: ~ " .9 ·;;; ·:; cr e
100 90
80
70 60
50
40
30
20
10
o item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6
l 11monitor A D monitor B li monitor C 1
Figura 7 - Resultados por item avaliado
lllllitem 1
li item 4
li!litem 2
Ditem 5
Ditem 3
Imitem 6
Figura 8 - Requisitos não atendidos por item.
345
100
~ 90
" 80 o 70 ,, '5 60 e: Ql 50 1õ " 40 2 30 ·;;; ·:; 20 cr 10 e
o A 8 e
equipamentos
Figura 9 - Requisitos atendidos por equipamento.
Embora tenha sido realizado, preliminarmente, ensaios em apenas três equipamentos de monitorização cardíaca, quantidade esta não suficiente para validar o roteiro e a plataforma de testes implementados, acreditase na aplicabilidade prática do trabalho desenvolvido.
Alguns ensaios sobre a plataforma de testes ainda precisam ser efetuados para avaliar com precisão os sinais que estão sendo gerados. Espera-se que este trabalho, após passar por estudos mais aprofundados, possa ser utilizado tanto em ambientes de ensaio quanto certificação de equipamentos eletromédicos.
Agradecimentos
Os autores agradecem à CAPES, pela concessão de bolsas de mestrado.
Bibliografia
[01] AAMI, "AAMI", http://www.aami.org, 01/2000. [02] AAMI, Standards and Recommended Practices,
AAMI, Arlington, USA, 1997. [03] J. G. Webster, Medical Jnstrumentation-Aplication
and Design, Houghton Mifflin, 1998. [04] L. Cromwell, F.J. Weibell, E.A. Pfeiffer,
Biomedical Jnstrumentation and lv!easurements, Prentice Hall, NY, USA, 1980.
[05] T. C. Pilkington, R. Plonsey, Engineering Contributions to Biophysical Eletrocardiography, IEEE Press, USA, 1982.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Interferência Eletromagnética em Equipamentos Eletromédicos Ocasionada por Telefone Celular
Cabral, S.C.B 1, Mühlen, S.S2
,
1,2Centro de Engenharia Biomédica (CEB), Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, 13083-970
Fone (OXX19) 788-7563, Fax (OX19) 289-3346 Suzy@ceb. unicamp. br, smuhlen@ceb. unicamp. br
Resumo O uso de equipamentos para comunicação que utilizam rádio freqüência, como a telefonia celular, tem crescido nos últimos anos colocando em evidência problemas relacionados à Interferência Eletromagnética (EMI) no ambiente hospitalar. A definição de políticas adequadas para garantir a segurança dos pacientes através do bom funcionamento dos equipamentos eletromédicos (em particular os de suporte a vida) é uma tarefa que exige do engenheiro clínico conhecimentos básicos sobre os efeitos da EMI nos equipamentos presentes no ambiente hospitalar. Assim o objetivo desse trabalho é apresentar um estudo experimental das modificações funcionais sofridas por diversos equipamentos eletromédicos quando expostos à ação de campos eletromagnéticos produzidos por telefones celulares. Os ensaios serão realizados seguindo as recomendações da CISPR 16-1 e CISPR 16-2. A imunidade dos equipamentos eletromédicos frente a esses campos será verificada com base na CISPR 16-2, IEC 601-1-2 e ANSI C63.18
Palavras-chave: Interferência Eletromagnética; Equipamento Eletromédico; Telefone Celular
Abstract The increase in the use of wireless conmmnication in and around the hospital has raised concem about the potential for Electromagnetic Interference (EMI) that may adversely affect patient care equipment. ln order to develop and implement policies intended to reduce the likelihood of medical devices incidents, clinica! engineers need basic information on what transmitter / medical device may result in an EMI episode and the conditions under which interference may occur. The objective of that work is present an experimental study of the functional modifications suffered by severa! equipments eletromédicos when exposed to the action of electromagnetic fields produced by cellular phones. The tests will be accomplished following the reconnnendations of CISPR 16-1 and CISPR 16-2. The immunity of the equipments eletromédicos will be verified with base in CISPR 16-2, IEC 601-1-2 and ANSI C63 .18
Key-words: Eletromagnetical Interference, Eletromedical Device, Cellular Telephone
Introdução
O ambiente hospitalar é rico tanto em número quanto em diversidade de equipamentos, sendo assim um ambiente propício ao aparecimento de fenômenos de EMI (Interferência Eletromagnética).
Nos últimos anos este problema tem se agravado, pois além das fontes de EMI comumente encontradas, existem aquelas que podem aparecer esporadicamente e que devido as suas características possuem um potencial elevado em causar EMI, como por exemplo o telefone celular. Muitos equipamentos eletromédicos operam sob baixos níveis de tensão e coo-ente assim as induções eletromagnéticas espúrias são então proporcionalmente mais significativas e lesivas. Equipamentos médicos microprocessados (presentes nos hospitais em número cada vez maior) tendem a ser mais suscetíveis à EMI.
Preocupadas com o impacto social, muitas instituições internacionais como o ECRI 1 entre outras, publicaram nos últimos anos relatórios associando
1 Emergency Care Research Institute
349
incidentes ocorridos em equipamentos eletromédicos com a utilização do celular nas suas proximidades.
Sabe-se que os transmissores de RF (Rádio Freqüência) podem interferir na operação normal de equipamentos eletrônicos, mas os mecanismos exatos da interferência não são bem conhecidos ou documentados. A ausência de evidências reprodutíveis das EMI em equipamentos eletromédicos tem levado algumas instituições a amenizar as restrições ao uso de equipamentos interferentes, exceto talvez em áreas de cuidados intensivos com alta densidade de equipamentos de suporte à vida.
Os equipamentos médicos contém dezenas de componentes eletrônicos que podem funcionar como pequenas antenas para sinais de RF, a conseqüência disso é que ao captar esses sinais pode ocon-er uma degradação no funcionamento do equipamento. Os efeitos da radiação eletromagnética sobre os equipamentos eletromédicos depende principalmente da intensidade do campo elétrico (V/m) que chega ao equipamento, do comprimento de onda deste sinal em relação as dimensões dos componentes e cabos, e do tipo de modulação do sinal [l].
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
De acordo com a norma IEC 601-1-2/93 -Equipamentos Eletromédicos Primeira Parte Prescrições Gerais de Segurança - Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética - Prescrições e Ensaios, os equipamentos eletromédicos devem ser projetados de tal forma que seu desempenho não seja comprometido na presença de campos elétricos com intensidade de até 3V/m em uma faixa de freqüência de 26 a 1000 MHz [2]. Um telefone celular que esteja operando com uma potência de 600mW estará produzindo, a um metro de distância, um campo elétrico de aproximadamente 4,3V/m, como a intensidade do campo elétrico diminui exponencialmente com a distância é possível encontrar níveis de intensidade de campo elétrico da ordem de 30V /m em regiões mais próximas ao equipamento (Figura 1 ).
E 45 " o 40 " :s 35 "' ;;
30 o o. E ~
25
"' " 20 <>
" 15 " " 10 " " ·;;; 5 " " o :E
Intensidade de Campo Elétrico produzido por uma fonte de 600mW
\
\ \ \ \ '\
..........
------Distância do ponto de medida à fonte em metros
Figura 1: Intensidade de campo elétrico produzido por uma fonte de 600m W
Para gerenciar efetivamente esse problema, os hospitais necessitam conhecer os tipos de falhas que podem ocorrer com os equipamentos quando o limite de imunidade é excedido, quais os emissores podem causar interferência e qual a distância entre estes e os equipamentos médicos para qual a interferência é detectável.
Assim o objetivo desse trabalho é estudar os efeitos das radiações eletromagnéticas provenientes de telefonia celular sobre o desempenho de diversos equipamentos eletromédicos normalmente presentes em hospitais.
Metodologia
Este trabalho está sendo desenvolvido em 3 etapas:
etapa I: verificação da distribuição do campo elétrico proveniente do telefone celular estando o mesmo a diversas distâncias da antena.
etapa II: verificação da imunidade dos equipamentos quando os mesmos são expostos a esses campos.
etapa III: análise do problema baseado nos dados obtidos nas etapas I e II.
Dessa forma será possível observar os níveis de intensidade de campo elétrico produzidos pelo telefone celular e a sua relação com a imunidade ou a suscetibilidade dos equipamentos, bem como a relação entre os níveis de intensidade de campo elétrico com o surgimento de interferências.
Etapa I
Materiais:
a) Equipamento de medida: o equipamento utilizado para realização das medidas foi um analisador de espectro com faixa de freqüência de 1 OkHz á l .8GHz, estando o mesmo em conformidade com a CISPR 16-1.
b) Antena: A antena utilizada para realização das medidas foi um dipolo de 1/2À e fator de antena de 27 ,5 dB. O fator de antena deve ser somado a leitura do analisador em dBµV.
c) Fonte de EMI: telefone celular
d) Protocolo de Medida: o protocolo para realização das medidas foi elaborado de forma que sejam especificados informações referentes à:
./ especificação técnica da fonte
./ posicionamento da fonte
./ leituras obtidas
Especificação técnica da fonte: devem ser anotados os dados da fonte que está sendo testada, tais como: ./ fabricante ./ modelo ./ ano de fabricação ./ potência emitida ./ número de série ./ existência de declaração de conformidade com
alguma norma.
Posicionamento da fonte e da antena receptora: devem ser especificados o posicionamento da fonte emissora bem como da antena receptora incluindo a distância da fonte a antena receptora e a altura de ambas em relação ao solo, existência de paredes ou obstáculos próximos das mesmas, etc.
Leituras obtidas: No protocolo existe um campo destinado a anotação das leituras obtidas bem como para observações referentes aos testes para que possam ser analisados posteriormente.
e) Referências Normativas: São utilizadas como referencias normativas:
./ CISPR 16-1/93 Specification for radio disturbance and Immunity measuring apparatus and methods - Part 1 Radio disturbance and Immunity
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
measuring apparatus: ela é designada como norma básica para estudo de rádio distúrbio. Ela especifica as características e o desempenho dos equipamentos utilizados para medida de intensidade de campo elétrico. Esta nonna traz também especificações quanto ao tipo de antena que deve ser utilizado bem como as características do local onde irão ser realizados os testes[3].
,/ CISPR 16-2/96 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity: ela é uma norma complementar a CISPR 16-1[4].
e) Local para realização dos testes: Como mencionado anteriormente o ambiente hospitalar é rico em fontes de EMI, contudo o objetivo do nosso trabalho é verificar qual é a contribuição da intensidade do campo elétrico produzido pelo telefone celular na geração de EMI no ambiente hospitalar. Assim para que as medidas estivessem as mais livres possíveis de interferências externas, e para que os fenômenos de interferência observados possam na medida do possível serem reproduzíveis, este teste seguiu as recomendações da CISPR 16-1 e CISPR 16-2 quanto ao local de ensaio. Dessa forma o local escolhido para realização dos testes foi o Ginásio multidisciplinar da UNICAMP, pois o mesmo oferece as condições de teste necessárias[ 5].
Disposição interna do local de ensaio: Internamente ao local onde serão realizados os testes deve haver uma área livre de obstruções ao redor do EUT2 (no nosso caso o equipamento eletromédico) e da antena de medida.
Essa área deve ser livre de campos magnéticos espalhados significantes e deverá ser grande o bastante para que a radiação espalhada do lado de fora da área tenha pouca influência no campo que está sendo medido dentro dela.
Visto que o campo espalhado por um objeto depende de muitos fatores como: ,/ tamanho do objeto, ,/ distância do mesmo ao EUT, ,/ freqüência, etc, é impraticável especificar uma área livre de obstruções que seja aplicável em todas as situações. Assim é padronizado que a área livre de obstruções é dependente da distância entre a antena e o EUT. A área livre de obstruções recomendada pela CISPR 16-1 é uma elipse onde dentro deve estar contido a antena receptora e o EUT [6].
O eixo maior dessa elipse é igual a 2x a distancia e o eixo menor é igual ao produto da distância por raiz de 3. O EUT e a antena receptora devem estar posicionados nos pontos focais da elipse (Figura 2)
2 Equipamento Sobre Teste. 351
' '
Diümctro maior= 2R
Menor diâmetro ""' R .J3 R
antena
L_ --Figura 2: Área livre de Obstrução
Limite Definido pela elipse
Nos ensaios realizados a maior distância entre a antena e o celular é 2m. Assim o R adotado para delimitação da área livre de obstrução foi 2m.
f) Ruído ambiental: Segundo prescrições da CISPR 16-1/93 e CISPR 16-2/96 o nível do ruído ambiental deve estar pelo menos 6 dB abaixo do nível que será medido.
Por essa razão antes de iniciar os ensaios é verificado e anotado o nível do ruído ambiental.
Etapa II
Materiais:
a) Equipamentos médicos
b) Fontes de EMI: Telefone Celular
c) Protocolo de ensaio: A estrutura do protocolo para a realização dos ensaios com os equipamentos selecionados está dividida em 3 partes:
Parte A: Essa parte do protocolo campos onde são anotados os dados do equipamento que está sendo ensaiado tais como: nome do equipamento, modelo, fabricante, ano de fabricação, declaração de conformidade com alguma norma de compatibilidade eletromagnética, etc.
Parte B: a parte B do protocolo trata do posicionamento do equipamento para realização do ensaio: nessa etapa o protocolo estabelece os diversos posicionamentos do equipamento sob teste e as varias distâncias da fonte emissora, a finalidade dessa parte do protocolo é posicionar o equipamento de maneira que seja verificada as distâncias nas quais ocorrem degradação do desempenho do equipamento, bem como se existem posições nas quais o equipamento está mais suscetível.
Parte C: A parte C do protocolo possuí campos para descrição do comportamento do equipamento frente aos níveis de intensidade de campo elétrico. Esta parte é importante para a análise que será realizada na terceira etapa. d) Local para realização dos testes: como
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
mencionado no item e) da etapa I os ensaios serão realizados no Ginásio da UNICAMP pois o mesmo oferece condições apropriadas.
Disposição Interna do local de ensaio : Nos ensaios com os equipamentos é obedecida a mesma regra da elipse porém no ponto onde estava localizado a antena estará posicionado o equipamento.
e) Referencias Normativas: nesta parte são utilizadas como referência Normativas:
,/ CISPR 16-2/96 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods Part 2: Methods of measurement of disturbances an d imm uni ty
,/ IEC 601-1-2/93 Equipamentos Eletromédicos Primeira Parte:- Prescrições gerais para segurança -Norma Colateral 2: Compatibilidade Eletromagnética
Etapa III
a) Materiais: Protocolo de medida da etapa I, e protocolo de ensaio da etapa II.
b) Referências Normativas:
v' CISPR 16-2/96 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity
v' IEC 601-1-2/93 Equipamentos Eletromédicos Primeira Parte:- Prescrições gerais para segurança -Norma Colateral 2: Compatibilidade Eletromagnética
Esta etapa consistirá na análise dos resultados obtidos nas etapas I e II, de maneira que as interferências ocorridas possam ser classificadas de acordo com o grau de risco que as mesmas apresentem.
Resultados
Etapa I
Até o momento foram realizados testes com 2 fontes de EMI:
../ Telefone Celular Motorola Star Tac v' Telefone Celular Motorola Micro Tac LITE II
Estas fontes foram posicionadas a diversas distâncias da antena de medida para que pudesse ser observado a variação da intensidade do campo elétrico com a distância (Figura 3).
352
Figura 3: Posicionamento da fonte (direita) e da antena( esquerda)
A medida mais proxuna da antena foi feita a 1 Ocm, porém foi tomado o cuidado para que mesmo a fonte estando próximo da antena as medidas estivessem sendo feitas em campo distante ou região de Fraunhofer [7].
Foram obtidas 20 leituras com cada fonte, sendo a distância entre cada ponto de leitura de 1 Ocm.
Através dos resultados dessa primeira etapa foi possível observar alguns dados importantes:
v' A IEC 601-1-2, que é a norma de compatibilidade eletromagnética aplicada a equipamento eletromédico, prescreve que os mesmos devem ser projetados de maneira tal que funcionem sem perturbação das suas funções normais na presença de intensidade de campo elétrico de até 3V/m.
,/ Realizando os ensaios com os celulares, foi observado que em regiões próximas da fonte emissora os níveis de intensidade de campo elétrico chegaram a 38V/m.
A figura 4 nos mostra a curva de intensidade de campo elétrico versus a distância para o telefone celular Motorola Star Tac.
A curva foi levantada com o celular operando em máxima potência.
A curva esperada foi traçada para um celular que estivesse operando com uma potência de 600mW .
Etapa II
Está sendo realizada, com resultados previstos para setembro de 2000.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
o
Curva esperada
• Curva obtida
Etapa III
1,5
Thtânia emm
2 2,5
Está sendo realizada, com resultados previstos para setembro de 2000.
Discussão e Conclusão
Estabelecer programas visando a orientação dos usuários dos telefones celulares sobre o potencial que os mesmos possuem de produzir interferência nos equipamentos eletromédicos no ambiente hospitalar é hoje uma necessidade, fundamentada nas seguintes considerações:
1) O número de telefones celulares vem crescendo no Brasil, em especial nas áreas de maior concentração urbana. Este meio de comunicação está fazendo parte do cotidiano de milhares de pessoas, pela comodidade oferecida e pelos problemas nas comunicações fixas convencionais. Nos hospitais, pacientes, visitantes, empregados e médicos utilizam-no rotineiramente para facilitar tanto as comunicações usuais quanto as de emergência. 2) Muitos equipamentos eletromédicos são portáteis e operam sob baixos níveis de tensões e correntes; as induções eletromagnéticas espunas são então proporcionalmente mais significativas e lesivas.
O mau funcionamento de equipamentos eletromédicos devido à EMI é quase sempre imprevisível, pois existe uma grande dificuldade em se reproduzir fenômenos de EMI pelas seguintes razões: 1) o arranjo e a localização dos cabos externos do equipamento podem ter sido mudados; 2) o paciente pode estar em uma posição diferente; 3) o modo de operação do equipamento pode ser outro.. Por estas razões foi importante na primeira etapa desse trabalho a padronização dos procedimentos tanto de medida quanto de ensaio para que as conclusões possam ser consistentes e, na medida do possível, reprodutíveis, de maneira a minimizar os erros.
Estão sendo realizados os ensaios com os equipamentos médicos, apesar desses resultados ainda não aparecerem neste artigo, não resta dúvida que o limite de intensidade de campo elétrico estabelecido para que os equipamentos eletromédicos funcionem adequadamente está sendo excedido. Analisando os resultados da primeira fase é possível observar que operar celular próximo de equipamentos eletromédicos cria uma condição insegura.
Somado a este fato existe ainda a possibilidade da existência de equipamentos eletromédicos que não foram projetados de acordo com as normas de compatibilidade eletromagnética e que por está razão podem ser mais suscetíveis a EMI.
É importante salientar que mesmo estando dentro dos limites normalizados podem ocorrer interferências, e que a presença do celular em um ambiente não determina o aparecimento de EMI mas aumenta a probabilidade de ocorrência dessas interferências.
Agradecimentos
À CAPES pelo apoio financeiro; Ao Centro de Engenharia Biomédica da UNICAMP pelo apoio no desenvolvimento do trabalho; Ao Prof.Dr. Evandro Conforti - UNICAMP; Ao Eng.Msc.Kleiber Tadeu Solleto IEE/USP; Ao Eng. Victor Vellano Neto, responsável técnico pelo laboratório de compatibilidade eletromagnética da fundação CPqD.
Referências
[l] Kimmel, W.D, Gerke,D.D. Eletromagnetic Compatibility in Medical Equipment, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, INC. New York, 1995.
[2] IEC 601-1-2 - Medical Electrical Equipment; Part J: General Requeriments for Section 2: Collateral Standard: Eletromagnetic Conzpatibility and Test;
[3] INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION "Specijication for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods. Part I: Radio disturbance and immunizv measuring apparatus" - CISPR 16. Geneve, 1993;
[4] INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION "Specijication for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods. Part 2: Methods of measurement of disturbance and immunity" - CISPR 16. Geneve, 1993
[5] ANSI C63.18 - Recommended practice for an onsite ad hoc test method it for estimating radiated eletromagnetic immunity of medical devices to specific I radia te fi'equency transmitters;
[6] Clayton, P.R. Introduction to eletromagnetic compatibility. New York, John Wiley &Sons, Inc,1992;
[7] Kraus, J.D. Antenas Guanabara Dois S.A Rio de Janeiro RJ, 1983.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Efeitos da Radiação de 2,45 GHz em Ratos de Laboratório
Mohit Gheyi 1, Marcelo S. Alencar2, Schubert L. C. Rodrigues3 e Rosalina R. Wanderley4
1.2Laboratório de Comunicações (LABCOM), Depto. de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brasil, 58109-970 Fone (83)310-1410, Fax (83)310-1418 3.4Depto. de Ciências Básicas da Saúde
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brasil, 58109-290 Fone (83)310-1327, Fax (83)310-1397
[email protected], [email protected], [email protected]
Resumo Neste trabalho apresenta-se uma análise preliminar dos efeitos observados em ratos de laboratório da espécie Rattus norvegicus quando submetidos à radiação de microondas na freqüência de 2,45 GHz e uma densidade de potência de 1,6 mW/cm2
, durante 1 hora diariamente. Foram realizadas diversas experiências, dentre elas pode-se citar: monitoração do consumo de água e ração, pesagem das cobaias, observação de alterações hematológicas, anatomopatológicas e no ciclo estral, efeitos comportamentais e efeitos provocados na reprodução das cobaias submetidas à radiação desde o período embrionário.
Palavras-chave: Efeitos Biológicos, Comunicações Móveis, Rattus norvegicus.
Abstract - This paper presents a preliminary analysis of the effects of radiation, in the microwave range, on laboratory rats of the species Rattus norvegicus. The experiments were caITied out in the 2.45 GHz frequency, using a power density of 1.6 mW/cm2
, applied during a daily period of one hour. Among the performed experiments, one can cite: monitoring water and food consumption, weighing of the guinea pigs, hematocrit, anatomo-pathologic exams, observation of alterations on the estral cycle of females, behavioral effects and effects on the number of offspring produced.
Key-words: Biological Effects, Mobile Communications, Rattus norvegicus.
Introdução
Os telefones celulares, como outros aparelhos domésticos que emitem campos eletromagnéticos têmse tornado assunto de um debate duvidoso sobre os efeitos biológicos dessa radiação. Hipóteses científicas, publicadas precipitadamente, tinham no passado se baseado em especulações emocionais e na ansiedade pública. A questão dos telefones celulares causarem ou não efeitos à saúde deve ser tema de um debate baseado em pesquisas científicas.
As primeiras reportagens dos possíveis perigos que os campos eletromagnéticos poderiam causar surgiram no início dos anos 80. Reportagens iniciais focalizaram os campos de baixa freqüência nas casas e nas proximidades de linhas de potência de alta tensão, enquanto estudos epidemiológicos exigiam a observação de coITelações estatísticas.
Tem sido mostrado que os perigos à saúde proveniente dos efeitos térmicos das ondas eletromagnéticas produzidas pelos telefones celulares, ou seja, da transferência de energia para o corpo, podem ser minimizadas caso os limites de exposição estejam sendo obedecidos.
Como não existem dados conclusivos sobre os efeitos que o telefone celular pode causar às pessoas e por questões éticas não é possível realizar experiências dessa natureza em seres humanos [l], [2], [3], [4], [5],
354
[6], [7], [8] e [9] esta pesquisa teve como meta observar e analisar os efeitos ocorridos em um grupo de cobaias da espécie Rattus norvegirns (ratos de laboratório), quando submetidas à radiação, e compará-los com os resultados obtidos em um outro grupo de cobaias que não sofreram qualquer tipo de irradiação (grupo de controle). Neste trabalho serão descritos os experimentos que estão sendo realizados, incluindo resultados parciais no consumo de água e ração, alterações hematológicas, alterações anatomopatológicas, alterações do ciclo estral, efeitos comportamentais e principalmente efeitos provocados na reprodução das cobaias submetidas à radiação de microondas desde o período embrionário. Para a realização desse projeto foi desenvolvido um gerador de microondas, operando na freqüência de 2,45 GHz. O gerador de microondas produz uma densidade de potência de 1,6 mW/cm2
, durante 1 hora, diariamente. No experimento a densidade de potência utilizada é o nível máximo de segurança adotado pelas normas nacionais e internacionais para seres humanos submetidos inconscientemente à radiação de 2,45 GHz [10] e [11].
Metodologia
A seguir serão descritas as experiências que estão sendo realizadas neste projeto.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Consumo de Água, Ração e Pesagem
Ao longo de todo experimento, simultaneamente às demais experiências, foi realizada a monitoração do consumo de água e ração ingeridas pelas cobaias do grupo de controle e do grupo experimental e a avaliação do peso dos dois grupos. Como o número de cobaias variava ao longo do tempo, foi feita uma média do número de cobaias por dia e a partir daí foi feito o cálculo do consumo diário de água e ração por cada cobaia.
Exames Hematológicos
A quantidade de hemácias no sangue é um indicador de grande importância na avaliação clínica dos indivíduos, sendo o hematócrito sua expressão mais simples. O hematócrito representa o percentual ocupado pelas hemácias no sangue.
O volume de hemácias no sangue tem uma relação direta com a quantidade de hemoglobina, ou seja, o hematócrito é um indicador indireto da capacidade do sangue transportar oxigênio aos tecidos.
Quando se coloca uma quantidade de sangue em um tubo de vidro e centrifuga-se o mesmo, por 3 minutos, as células se depositam no tubo de acordo com a sua densidade. As hemácias se depositam no fundo do tubo, em virtude de sua maior densidade. Sobre estas deposita-se uma finíssima camada de glóbulos brancos e plaquetas e, na parte superior do tubo fica o plasma.
No sangue normal a coluna de hemácias ocupa 40 a 42% da altura total. Nas anemias a altura da coluna de hemácias será menor e na policitemia será maior, como pode ser observado na Figura 1.
NORMAL ANEl\IIlA POLICITEl\/IlA
PLASMA
• HEMÁCIAS
Figura 1 - Hematócrito.
Exames Anatomo-patológicos
Para esta experiência as cobaias foram submetidas à inalação do anestésico até o estágio ótimo para o início da cirurgia, e a partir daí foi feita uma incisão na parede abdominal (laparotomia exploradora), no crânio ( craniectomia ), com a conseqüente retirada dos fígados, baços, rins, ovários, cérebros e nos machos foi feita a abertura da bolsa escrotal ( orquiectomia) para retirada dos testículos. Duas das incisões mencionadas anteriormente podem ser observadas nas Figuras 2 e 3.
355
O objetivo principal dessa experiência é observar alterações na forma e no tamanho dos órgãos das cobaias, além de outras características macroscópicas e microscópicas.
'~ ' Figura 2 - Laparotomia exploradora.
Figura 3 - Craniectomia.
Esfregaço Vaginal
Esta experiência foi realizada durante 5 dias consecutivos e foram seguidos procedimentos abaixo: • Utilizou-se uma haste metálica de calibre adequado
que foi lavada 3 a 4 vezes em água destilada; • A cobaia foi segurada segundo padrões de coleta; • Introduziu-se cerca de 0,5 cm da ponta da haste na
vagina da cobaia, colhendo-se assim a secreção vaginal;
• Estendeu-se o material colhido numa lâmina bem limpa, isenta de gordura;
• Fixou-se em álcool 95% num recipiente adequado, em seguida foi feita a coloração Papanicolau;
• Examinou-se ao microscópio com aumento médio; • Identificou-se as fases do ciclo de acordo com os
padrões do ciclo estral.
Efeitos Comportamentais
O objetivo dessa experiência é observar possíveis alterações comp011amentais em cobaias submetidas à radiação de microondas. Para isso foi utilizada uma gaiola experimental, que segue os princípios básicos de
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
um aparelho analógico desenvolvido por Skinner [12], chamada de câmara experimental.
Para essa experiência foram utilizadas 1 O cobaias (5 do grupo experimental e 5 do grupo de controle), do sexo masculino, adultas, ingênuas (não condicionadas), com peso entre 250 e 280 gramas, que tiveram privação de água por um período de 36 horas e em seguida foram submetidas às seguintes etapas: • Nível Operante; • Treino ao bebedouro; • Modelagem; • Saciação; • Intervalo variável; • Discriminação; • Generalização; • Extinção.
Efeitos na Reprodução
Esse experimento teve início com 20 cobaias, sendo 16 fêmeas e 4 machos. Atualmente o número de cobaias é próximo de 200 e o experimento já está na 3ª geração.
Essa experiência teve como objetivo contar o número de filhotes gerados pelas cobaias da 2ª geração, já que esta geração foi submetida à radiação de microondas desde o período embrionário. Na literatura existem dados mostrando uma relação direta entre os níveis de densidade de potência utilizados e a taxa de mortalidade de filhotes no período embrionário [13], [14], [15] e [16].
Resultados
Como já foi mencionado anteriormente, durante todo o experimento foi feita a monitoração do consumo de água e ração ingeridas pelas cobaias e a avaliação do peso dos dois grupos. Na Tabela 1 serão apresentados os resultados obtidos nos primeiros nove meses de experimento.
Tabela 1 - Consumo de ração, água
Controle Exoerimental Média de cobaias 20,25 20,21
Agua (ml) 30,58 32,91 Ração (g) 11,75 11,37
Pelos dados apresentados na Tabela 1, observase um aumento no consumo de água de 7,64% e uma diminuição no consumo de ração de 3,24% por parte do grupo experimental quando comparado ao grupo de controle. Na pesagem das cobaias, não foi observada nenhuma diferença significativa entre os dois grupos.
Nos exames hematológicos não foi observada nenhuma diferença nos valores nominais dos elementos morfológicos do sangue das cobaias dos dois grupos.
A experiência de exames anatomo-patológicos foi parcialmente concluída, já que o laboratório ainda não forneceu o resultado das lâminas de todos órgãos retirados. Com os resultados macroscópicos dos órgãos
examinados, pode-se afirmar que não foi observada qualquer alteração na forma e no tamanho dos ovários e testículos.
Nas observações microscópicas dos ovários foi observada uma diminuição do número de corpos lúteos no grupo experimental, quando comparados ao grupo de controle.
A análise microscópica dos testículos do grupo experimental revelou a presença de túbulos seminíferos exibindo basicamente três tipos de células da linhagem germinativa: espermatogônias, espermatócitos de primeira ordem e espermatócitos de segunda ordem. Já as lâminas do grupo de controle apresentaram aspecto histológico preservado, com espermatogênese e espenniogênese preservadas.
Nas amostras de secreção vaginal colhidas para a experiência de esfregaço vaginal foram encontradas células superficiais, células intermediárias e infiltrado leucocitário, com padrões patognomônicos compatíveis com cada fase do ciclo estral, perfazendo o aspecto hormonal de normalidade, não revelando atipias ou qualquer tipo de diferença entre os dois grupos.
A expenencia de efeitos comportamentais mostrou que a radiação de microondas de certa forma afetou a aprendizagem das cobaias, já que as 5 cobaias do grupo de controle conseguiram realizar todas as etapas da experiência, enquanto que das cobaias do grupo experimental apenas três conseguiram, sendo que uma delas depois de algumas tentativas. As duas cobaias restantes deste grupo não conseguiram passar da terceira etapa, mesmo depois de dez tentativas.
Na Tabela 2 serão apresentados os números de filhotes gerados pelas cobaias da 1 a geração.
Tabela 2 Quantidade de filhotes
Controle Experimental Número de fêmeas 8 8 Número de filhotes 85 89 Média de filhotes 10,62 11,12
Pelos dados apresentados na Tabela 2, observase que a quantidade de filhotes gerados pelo grupo experimental foi cerca de 4,7% maior que a quantidade de filhotes gerados pelo grupo de controle.
Os resultados para a experiência de contagem do número de filhotes gerados pelas cobaias da 2ª geração foram de grande importância, visto que esta geração sofreu os efeitos da radiação de microondas desde o período embrionário. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Quantidade de filhotes
Controle Experimental Número de fêmeas 19 18 Número de filhotes 181 131 Média de filhotes 9,53 7,28
Pela Tabela 3, pode-se observar uma diminuição significativa, de cerca de 23,6%, no número de filhotes
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
gerados pelas cobaias do grupo experimental, quando comparadas ao grupo de controle e uma diminuição de cerca de 34,56% quando comparada com a quantidade de filhotes gerados pela l" geração do grupo experimental.
Discussão e Conclusões
Como o experimento ainda está em andamento, algumas das experiências realizadas só apresentam dados preliminares. Mesmo assim, neste trabalho foram observadas algumas alterações nas cobaias da espécie Rattus norvegicus quando submetidas à radiação de microondas na freqüência de 2,45 GHz e uma densidade de potência de 1,6 mW/cm2
, por um período de 1 hora diariamente. A primeira alteração observada foi um aumento no consumo de água e uma diminuição no consumo de ração por parte do grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. Na pesagem das cobaias dos dois grupos não foi observada diferença significativa.
Para os exames anatomo-patológicos não foi observada qualquer alteração na forma e no tamanho dos órgãos examinados. Já na análise microscópica dos ovários foi observada uma diminuição do número de corpos lúteos no grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle. No caso dos testículos das cobaias do grupo de controle, o aspecto histológico foi preservado, com espermatogênese e espermiogênese preservadas. Já para o grupo experimental, foram observados túbulos seminíferos exibindo basicamente três tipos de linhagem germinativa: espermatogônias, espermatócitos de primeira e segunda ordem. Esse quadro caracteriza uma interrupção na maturação das células germinativas.
O exame de esfregaço vaginal também não apresentou qualquer diferença entre os dois grupos.
Ao final das oito etapas, que duraram aproximadamente dois meses e meio, a experiência de efeitos comportamentais mostrou que de alguma forma a radiação de microondas afetou a aprendizagem das cobaias do grupo experimental.
Para a experiência de contagem do número de filhotes gerados pelas cobaias da 2ª geração (geração submetida à radiação desde o período embrionário) foi observada uma diminuição de cerca 23,6% por parte do grupo experimental, quando comparado ao grupo de controle e uma diferença 34,56% quando comparado com a quantidade de filhotes gerados pela 1 ª geração do grupo experimental.
Agradecimentos
Os autores deste trabalho agradecem o financiamento do CNPq e o apoio do CCT e CCBS da UFPB, do CEFET-PB e da UEPB.
Referências
[l] A. A. Sales, "Efeitos Biológicos dos Telefones Celulares Portáteis", Revista da Sociedade
Brasileira de Telecomunicações, Vol. 11, Dezembro 1996, pp. 71-80.
[2] S. P. A. Bren, "Reviewing the RF Safety Issue in Cellular Phones", IEEE Engineering in Medicine and Biology, May/June 1996, pp. 109-115.
[3] G. Lazzi and M. C. Furse, "Electromagnetic Absorption in Human Head and Neck for Mobile Telephones at 835 and 1900 MHz", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, October 1996, pp. 1884-1897.
[4] A. M. Jensen, "EM Interaction ofHandset Antennas and a Human in Personal Communications", IEEE Proceedings, January 1995, pp. 7-17.
[5] S. Watanabe, M. Taki and T. Nojima, O. Fujiwara, "Characteristics of the SAR Distributions in Head Exposed to Electromagnetics Fields Radiated by Hand-Held Portable Radio", IEEE Transactio11s 011 Microwave The01y and Techniques, October 1996, pp. 1874-1883.
[6] S. P. A. Bren, "Historical Introduction to EMF Health Effects", IEEE Engineering in Medicine a11d Biology, July/ August 1996, pp. 24-30.
[7] O. P. Gandhi. "State of Knowledge for Electromagnetics Absorbed Dose 111 Man and Animals". IEEE Proceedings, Vol. 68, pp. 24-32, 1980.
[8] C. H. Dumey. "Electromagnetic Dosimetry for Models of Humans and Animais: A Review of Theoretical and Numerical Techniques". IEEE Proceedings, Vol. 68, pp. 33-40, 1980.
[9] M. Gheyi, M. S. Alencar, R. A. Alves, S. L. C. Rodrigues e R. R. Wanderley. "Efeitos Biológicos da Radiação de Microondas em Rattus norvegicus". Aceito para publicação 110 anais do IX Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica, 2000.
[10] ANSI/IEEE C95.l "IEEE Standard for Safety Leveis with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz", 111stit11te of Electrical and Electronic Engi11eers, NewYork 1992.
[11] ANATEL. "Diretrizes Para Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Variáveis no Tempo (até 300 GHz)". Parecer Técnico, Agência Nacional de Telecomunicações, 1999.
[12] M. A. A. Guidi. "Exercícios de Laboratório em Psicologia". Martins Fontes, 1979.
[13] C. Polk and B. Postow, "Handbook of Biological Effects of Electromagnetics Fields", CRC Press, 1996.
[14] S. P. Nawrot, D. l. McRee and J. M. Galvin, "Teratogenic, Biochemical, and Histological Studies with Mice Prenatally Exposed to 2.45-GHz Microwave Radiation", Radiation Research, Vol. 102, 1985, pp. 35-45.
[15] N. Kuster, Q. Balzano and J. C. Lin, "Mobile Commu11ications Safety", Chapman & Hall, 1997.
[16] R. M. Lebovitz and L. Johnson, "Testicular Function of Rats Following Exposure to Microwave Radiation", Bioelectromag11etics, Vol. 4, 1983, pp. 107-114.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Estimulador Magnético Local NaK para el tratamiento de la Psoriasis Vulgar.
Maritza Batista Romagosa1 , Ariel González Suárez 2, Miriam Marafíón Cardonne3
, Luís Brito Delgado 4, Mónica Mulet Hing5,Gerardo de la Cruz Licea6
1 Hospital Clínico Quirúrgico Docente "Joaquín Castillo Duany" Phone (53)(226)2 6417
23A
5 Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA).División de Bioingeniería y Equipos Universidad de Oriente, Sede "Julio A. Mella" (UO),
Gaveta Postal 4078.CP 90400. Santiago de Cuba Cuba. Phone (53)(226)4 3721 Fax (53)(226)4 3721
rniriam@cnea. uo. edu. cu, bri to@cnea. uo. ed u. cu, mulet@fi e. uo. edu. cu
Resumen - Es una preocupación de la comunidad científica internacional determinar si la aplicación de los Campos Magnéticos de baja frecuencia induce efectos perjudiciales o beneficiosos sobre el organismo humano, generando una controversia que se origina en e! hecho de que aún no se conocen sus mecanismos de acción. No obstante muchos autores los utilizan como métodos alternativos para e! tratamiento de diversas enfermedades tales como las neoplasias malignas, cardiovasculares, de la piei y óseas, entre otras. Se disefió y construyó un dispositivo generador de campo magnético de frecuencia baja para e! tratamiento de la Psoriasis Vulgar (Estimulador Magnético Local NaK). Se llevó a cabo un estudio clínico comparativo durante un período de seis semanas, para e! que se tomó un grupo control ai que se !e aplicó el tratamiento convencional con pomada cádica ai 20% y un grupo que ]]amaremos de estudio ai que se !e realizó la terapia con Campo Magnético (CM). En ambos grupos se tomó una muestra de 8 pacientes respectivamente. AI grupo de estudio se le aplicó mediante el inductor un CM sinusoidal de 30Hz y 100 Gauss en dosis diarias de 30 minutos de exposición. Se observó en los pacientes tratados con CM un 75 % de cura y en ningún caso se obtuvo reacción adversa, sin embargo, en el grupo control sólo se curaron el 50% de los casos y un paciente sufrió reacciones adversas empeorando su estado. Los resultados obtenidos indican que e! CM de frecuencia baja es efectivo como método alternativo para el tratamiento de la Psoriasis Vulgar.
Palabras-c!ave: Estimulador Magnético Local, Psoriasis
Abstract - It is a concern of the international scientific community to determine if the application of the Magnetic Fields of low frequency produce hannful or beneficial effects on the human organism, causing a controversy originates in the fact that their action mechanisms are not still known. Nevertheless many authors use them as alternative method to the treatment ofNeoplasm, Cardiovascular diseases, skin diseases, bones diseases, among others. Based on this last a generating device of magnetic field of low frequency for the treatment of the Vulgar Psoriasis was designed and built (the Local Magnetic Stimulator NaK). A comparative clinicai study was carried out during a period of six weeks for which took a control group to which was applied the conventional treatment with Cades ointment at 20% and a group that we will call from study to which was carried out the therapy with Magnetic Field (CM). In both groups there were 8 patients. We apply to study group, a CM sinusoidal 30Hz and 100 Gauss during 30 minutes dayly, by means of the inductor of the NaK. It was observed that for treated patients with CM 75% of cured took place and there no was any case with adverse reactions, not being this way in the group control where they were only treated 50% ofthe cases anda patient suffered reactions adverses worsening his state. The obtained results indicate that the CM of low frequency is effective as alternative method for the treatment ofthe Vulgar Psoriasis.
Key-words: Local Magnetic Stimulator, Psoriasis
358
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Introducción
La esfera de uso de la magnetoterapia es muy amplia, de ese modo el CM se ha utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades tales como neoplasias malignas, cardiovasculares, dermatológicas y óseas. Según las características de la enfennedad y la extensión dei área afectada los estimuladores magnéticos pueden ser locales o regionales.
Ha sido demostrado que e! CM posee un efecto analgésico y antinflamatorio [ 4] así como es un estimulador y estabilizador de los procesos reparadores de tejidos lesionados y dei equilíbrio dei organismo respectivamente.
Una enfermedad inflamatoria común de la piei es la Psoriasis, enfermedad crónica caracterizada por placas eritematosas secas de variados tamaiios, cubiertas por escamas abundantes e imbricadas, de color grisáceo o blanco nacarado. [5]
La Patogénesis de la enfermedad sigue siendo desconocida pero varias características la seiialan como un proceso mediado inmunológicamente [6] y la definen como una enfermedad autoinmune producto de la proliferación anormal de los queratinocitos inducida por la célula T, que refleja una infiltración de células inflamatorias y un incremento de la producción y recambio de queratinocitos. Las lesiones a nível de la piei además de este elemento presentan infiltración de linfocitos T y granulocitos, por lo tanto el proceso puede estar mediado por las linfoquinas de los linfocitos T.[7,8]
Hasta el momento no existe un método completamente eficaz para la curación definitiva de la Psoriasis, aplicándose diferentes fórmulas para curar al paciente en los períodos de crisis de la enfennedad. Una de ellas es la utilización de la Pomada Cádica ai 20% con lo cual se logra una evolución satisfactoria en sólo una paite de los casos y que puede producir efectos adversos empeorando e! estado dei paciente.
Existen evidencias de que los agentes psoriáticos efectivos suprimen la acción de las células T y de las células reguladoras de antígenos.
E! objetivo de este trabajo es proponer un método alternativo eficaz de tratamiento de la Psoriasis Vulgar utilizando CM de baja frecuencia.
Metodologia
En e! Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado se diseiió y construyó e! Estimulador Magnético Local NaK para ello se utilizó la técnica de los microprocesadores con el objetivo de ganar en precisión, confiabilidad y calidad, lográndose un diseiio compacto, acorde a los requerimientos que impone la realización de este tipo de equipos. El mismo genera en una bobina (que llamaremos inductor) un campo magnético de determinada intensidad, la forma de variación de ese
359
campo depende de las características de la seiial generada internamente, dicho campo se aplica sobre la zona a tratar.
NaK, fue diseiiado de forma tal que permite ai médico interactuar con el equipo de manera sencilla, mostrando en su panei frontal todos los elementos que es necesario programar para el trabajo con el mismo. Brinda la posibilidad de variar las características de la sena! generada así como lose parámetros inherentes a la terapia como tal: posibilidad de generar tres tipos de formas de onda: sinusoidal, rectificada a media onda y cuadrada, así como la variación de la frecuencia de la seiial entre 5 y 95 Hz con intervalos de 5 Hz). El rango de variación de la inducción magnética es entre 2 y 118 Gauss, el cual fue medido por el método de la fem inducida en una bobina exploradora:
B=<I> 104 s
en la que:
[Gauss]
<l> - Flujo inducido en la bobina exploradora.[Wb] s - Area de la bobina exploradora. [m2
]
Donde:
& <l>=----
4 k f N
Siendo: s- f.e.m. inducidaa [V]
(1)
(2)
k- factor de forma de la onda: 1.11 para la sinusoidal; 2.22 para la rectificada a media onda y 1 para la cuadrada.
f - frecuencia de la seiial N Número de vueltas de la bobina exploradora.
En las ecuaciones representadas se aprecia claramente la relación ya planteada de la inducción magnética (B) vs. frecuencia y forma de onda.
En cuanto a la variación de parámetros dei tratamiento NaK permite programar el tiempo de tratamiento (de 1 a 60 minutos) interrumpiéndolo automáticamente una vez concluido el que fue establecido. AI ocurrir esto se da una alarma sonora que debe ser reseteada manualmente por el técnico o e! médico de asistencia. Pennite también establecer el régimen de trabajo ya sea continuo o discontinuo ( en el primero la seiial siempre está presente en los aplicadores, en el segundo existen intervalos de reposo entre los períodos activos de la misma). Un elemento importante dei equipo es la posibilidad que brinda de conocer de forma cualitativa el campo presente en los inductores.
El Estudio Clínico se realizó con los pacientes que acudieron a la consulta de Dermatología dei Hospital Clínico Quirúrgico Docente "Joaquín Castillo Duany"de la ciudad de Santiago de Cuba y que tuvieron el
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
diagnóstico clínico e histológico de Psoriasis Vulgar; se incluyeron todos aquellos con edades entre 15 y 75 afios sin distinción de sexo o raza que pudieran ingresar durante el tiempo de duración del estudio y que manifestaron por escrito su conformidad de participar en el mismo.
Se excluyeron aquellos pacientes que no curnplían algún criterio de inclusión o aquellos que hubieran tenido tratarniento esteroideo, citostático, tópico o sistémico, durante las cuatro semanas previas a la entrada en el estudio, tarnbién los que estuvieran utilizando otro medicamento que pudiera afectar el curso de la enfermedad, o que tuvieran una enfermedad crónica asociada, descompensada así corno aquellos que padecieran enferrnedades infecciosas agudas, graves o en convalecencia; estados alérgicos agudos o de gravedad y/o antecedentes de alergia a algunos de los componentes de la pomada cádica, se excluyeron tarnbién los que presentaron infección sobreafiadida de las lesiones psoriáticas, forma atenuada o estadío regresivo de la enferrnedad, Psoriasis vulgar artropática, Psoriasis dei cuero cabelludo; embarazo y lactancia.
Los pacientes psoriáticos fueron distribuídos de forma no aleatorizada en dos grupos de 8 pacientes cada uno: el primero con tratarniento convencional con Pomada Cádica ai 20%, que constituyó el grupo control y ai que se le aplicó la pomada en dos dosis diarias sobre las lesiones y el segundo tratado con campo magnético sinusoidal con una frecuencia de 30Hz y una intensidad de campo de 100 Gauss, a este grupo se le aplicó el tratamiento, mediante el inductor dei equipo Nak, previa aplicación de crema de lanolina una vez ai día, sobre las placas psoriáticas. Para ambos casos el tratamiento se llevó a cabo en un período de 6 semanas.
La Psoriasis, corno se ha visto anteriormente, es un proceso inflarnatorio. Hemos encontrado experimentalmente que los procesos inflarnatorios responden adecuadamente a la utilizada y existen algunos reportes que confirman nuestros resultados experimentales. Estas razones llevaron a que nuestras investigaciones cornenzaran a partir de estos valores. Este experimento se extenderá en un estudio próximo a cornenzar a otros valores de frecuencia y de inducción magnética con el objetivo de encontrar dosis aún más efectivas para e! tratamiento de esta enfermedad.
Para evaluar la eficacia dei tratamiento se tornaron en cuenta varias variables, Ia principal fue la aparición de la respuesta (blanquearniento ), medida en semanas, junto con ella se evaluó el índice de Severidad y área psoriática (P ASI), la respuesta al tratamiento en cuatro niveles: curado (más dei 90% de mejoría del PASI); mejorado (al menos el 50% de mejoría de dicho índice); igual (menos dei 50%) y empeorado (rnayor dei 50%de aumento dei PASI inicial), por último se tuvo en cuenta la desaparición o disrninución de síntomas y signos: prurito, infiltración y escarnas.
AI concluir el período ftjado para el tratamiento se procedió ai análisis de los resultados obtenidos.
Resultados
En el caso de los pacientes tratados con Pomada Cádica ai final dei tratarniento se obtuvo un 50% de curados, 37.5% de pacientes rnejorados y un caso (12.5%) en el que empeoraron las condiciones por una reacción adversa ai medicamento.
El grupo de estudio al que se le aplicó el CM sobre las lesiones reaccionó con un 75% de pacientes curados y el resto (25%) mejoró con la terapia, no observándose ningún caso que no reaccionara ai tratamiento o que ernpeorara su estado.
En la gráfica de la figura 1 se rnuestran los valores promedio obtenidos durante ambos tratamientos donde se puede apreciar que el mayor efecto fue el ejercido por el campo magnético de frecuencia baja, sobre todo durante las dos prirneras semanas de tratamiento, pues durante las dos últimas se equilibraron ambos efectos.
semana 6
Figura 1 - Valores medios sernanales resultados del PASI.
Para evaluar la respuesta ai tratamiento se utilizó una escala de 1 a 4 significando Curado ( 1 ), Mejorado (2), Igual (3) y Ernpeorado (4). La Tabla 1 representa los resultados obtenidos con ambas terapias, es posible apreciar cómo el 75 % de los pacientes tratados con campo magnético curaron respecto a sólo un 50 % de los tratados con pomada cádica. Un paciente empeoró con esta última no siendo así con ninguno de los tratados con el estimulador magnético.
En cuanto ai prurito con ambos tratamientos se observó una tendencia a la reducción y desaparición dei síntoma.
ANAIS DO CBEB'2000 Compatibilidade Eletromagnética e Aplicações de Eletromagnetismo
Tabla 1 Respuesta al tratamiento. Pomada Cádica
Grado de Semanas respuesta 2 4 6 Evaluación
final 1 1(12.5%) 1(12.5%) 3(42.9%) 4(50%) 2 3(37.5%) 6(75%) 3(42.9%) 3(37.5%) 3 4 (50%) 0(0%) 0(0%0 0(0%) 4 0(0%) 1(12.5%) 1(14.2%) 1(12.5%)
Terapia Ma2nética Grado de Semanas respuesta 2 4 6 Evaluación
final 1 0(0%) 2(25%) 5(71.4%) 6(75%) 2 5(62.5%) 6(75%) 2(28.6%) 2(25%) 3 3(37.5%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 4 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
Discusión y Conclusiones.
Al concluir el tratamiento con campo magnético se observá el blanqueamiento de las lesiones, ello se debe en primera instancia ai hecho de la eliminación por la acción dei campo dei proceso inflamatorio presente, además, se produce la activación de los mecanismos fisiológicos de la regulación inmunológica. De igual modo e! CM ejerce su acción como activador de los canales dei calcio, lo que detiene la proliferación de células T para evitar el desencadenamiento de la proliferación de queratinocitos epidérmicos como agentes etiológicos de la Psoriasis. [ 9,10,11]
Como resultado de la investigación se demostró que con respecto al tratamiento con Pomada Cádica la aplicación dei campo magnético de frecuencia baja produce mejores resultados ya que se puede obtener un mayor porciento de pacientes curados y además no se producen reacciones adversas. Esto indica que el CM es un método alternativo efectivo en e! tratamiento de La Psoriasis Vulgar.
Agradecimentos
Agradecemos la colaboración brindada para la realización de este trabajo ai Dr. Andrés Chang Fong, al Lic. Luis Bergues Cabrales y ai Lic. Fidel Guillart.
Referencias
[l] V.L.Kovalchuk et ai, Extremely low frecuency (ELF) small amplitude magnetic fields in clinicai practice
[2] D. Sodi Paliares "Lo que he descubierto en el tejido canceroso", Mexico 1998
361
[3] M. Batista, M. Hing, "Estudio Clínico con campo magnético sobre la Psoriasis Vulgar". Ed Oriente 1997. Universidad de Oriente.
[4] Dr. Jesúslbafiez "Bases Biológicas de los efectos de los campos magnéticos''. Tribuna Médica (Hospitales Montoya) Afio III No. 40. Enero 1989. Madrid p 34-36.
[5] Dr. Guillermo Fernández Hernández-Baquero et. AI. . "Dermatología". Editorial Pueblo y Educación. 1990.
[6] Schalaak J. K., Buslan M., Jochum W., Hermann E., Sirru M. "Ferst Department of Medicine, University of Mainz Germany. J. lnvest. Dermatol. 102 (2) 143-9, 1994 Feb.
[7] Valdimanson Helge Barbara, S. Barey. Ingleif Joridotte. Am Pawle, Lewonel Frg." Psoriasis a tell Michated Autoinmune disease endecad by treptococcal superantigens?"
[8] Moroum C.R. and Michael J. "Distinct roles for CD4 and CD8 as Co-receptors in T- ceie receptor signalling. Eur. J. lnmunal. 1994; 24:959-966.
[9] Conlton. "Magnetic fields and intercelular calcion effects on lymphocites exposed to conditions for "cydotron resunance". 1993
[10] Fedorchuk- AG. "The effect of electromagnetic radiation with extremely low frequency and low intensity on cytotoxic of human natural killer cells. Biofizika. 1992 Sept-Oct. 37(5); 957-62
[ 11] W allezek, J. "Pulsed magnetic fiel d effects on calcium signaling in lymphocytes, dependence on cell status and field intensity. lmaging Lawrence Berquely Laboratory. University of California. Berqueley. 94720.
[12] Polk, Ch CRC, "Handbook of biologycal effects of electromagnetic fields. Fourth printing. Library of Congress Card. United States. II.
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
STAFF - Ambiente Hipermídia para Formação de Recursos Humanos em Atenção Farmacêutica
Selma Rodrigues de Castilho 1 e Antonio Fernando Catelli Infantosi2.
1 MAF - Faculdade de Fa1111ácia/UFF - Rua Mário Vianna, 523 Santa Rosa, Niterói RJ, CEP 24241-000, Tel.: (OXX21) 711 1012
2Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ Cx. Postal 6851 O - Rio de Janeiro, RJ - CEP 21945 970 mafselma@vm. uff br , afci@peb. ufrj. br
Resumo - A Atenção Farmacêutica corresponde a um conceito de prática profissional em que o paciente é o
principal beneficiário das ações empreendidas, sendo um dos pré-requisitos para que se alcance o uso racional de medicamentos no Brasil. Assim foi desenvolvido um Ambiente Hipennídia para formação de Recursos Humanos em Atenção Farmacêutica STAFF, que visa minimizar os problemas causados pelo distanciamento entre o ensino farmacêutico e a prática profissional no Brasil. O STAFF é composto pelos sistemas Hera, Zeus e Minerva, modelados pelo método HiperAutor e implementados a partir da ferramenta de autoria Toolbook IV da Asymetrix, segundo ciclo de vida de prototipagem evolutiva. A validação do protótipo permitiu verificar sua adequação aos requisitos especificados, principalmente no que concerne ao planejamento educacional e à resistência do sistema a falhas. Entre os resultados obtidos destacam-se a facilidade de uso do STAFF, a clareza dos comandos e dos objetivos dos sistemas, a adequada orientação do usuário durante a interação com o ambiente, a consistência do conteúdo e a interface amigável do STAFF. O ambiente foi ainda considerado ferramenta com potencial de aplicação tanto na educação permanente quanto na fonnação de profissionais da área de fannácia, no que se refere ao exercício da atenção fannacêutica.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica, Hipermídia, Educação
Abstract -Phannaceutical care is the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve patients quality of life, and is a pre-requisite for rational use of drugs in Brazil. With this in mind a Software Envirorunent Setting for Supporting Human Resource Development in Phannaceutical Care:
STAFF, was developed aiming to minimise the problems caused by the distance between pharmaceutical education and practice in Brazil. STAFF consists of three systems, the information base (Hera), the clinica! cases system (Zeus) and the knowledge testing system (Minerva). Those systems modelled by the HiperAutor method were implemented using Toolbook IV ® from Asymetrix, in an evolutive prototyping life cycle. Prototype validation demonstrated a user-friendly interface. The validation also indicated ease utilisation, clear objectives and c01mnands, allowing that users could manage to locate and orient themselves during their interaction with the environment language and images. The results suggest the great potential of STAFF as an educational too! for both undergraduate and continuing education ofphannacists dealing with pharmaceutical care.
Key-words: Pharmaceutical care, Hipennydia and Education
Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) [l] descreve a atenção farmacêutica como um conceito de prática profissional em que o paciente é o principal beneficiário das ações empreendidas. Tal conceito compreende as atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e destrezas do farmacêutico na prestação da fannacoterapia, com o objetivo de lograr resultados terapêuticos que contribuam para a melhoria da saúde e da qualidade de vida do paciente [2].
O desenvolvimento de métodos de ensino adequados, a integração educacional na formação de
365
estudantes de medicina e fannácia e o desenvolvimento de programas de educação continuada que visem preparar os profissionais de farmácia para atividades práticas e de pesquisa são, segundo a OMS [1], ações primordiais para a consecução de uma atenção farmacêutica de qualidade. Considerando-se que a opção pela atenção farn1acêutica significa uma grande alteração no atual paradigma da profissão, constituindose num desafio mesmo para aqueles que possuem acesso rotineiro a pacientes e sólida base de conhecimento fannacológico [2], foi desenvolvido um Ambiente para Treinamento de Recursos Humanos em Atenção Fannacêutica STAFF [3] , baseado em hipennídia. Este ambiente é ferramenta auxiliar para a preparação de profissionais de saúde capazes de contribuir com a
ANAIS DO CBEB'2000
sociedade de fonna significativa no que tange à utilização coneta e segura de medicamentos. Neste sentido, busca minimizar os problemas causados pelo distanciamento entre o ensino farmacêutico e a prática profissional no Brasil.
Modelagem e Concepção
Os sistemas hipermídia, modelados a partir do método HiperAutor, foram implementados através do software de autoria Too!Book IV® da Asymetrix segundo ciclo de vida de prototipagem evolutiva. O STAFF foi implementado visando atender a uma plataforma mínima compatível com o maior número de possível de unidades de ensino farmacêutico: computador 486 DX, 16 Mbytes de memória e ldt multimídia de 4 velocidades. As telas foram padronizadas em 800 x 600 pixeis e as imagens coloridas tiveram seu número de cores padronizado em 64 cores (16 Bits).
Visando tornar a interação com o usuário amigável, procurou-se, durante o desenvolvimento da interface do ambiente hipennídia, oferecer ferramentas para a navegação, reduzir a sobrecarga cognitiva e facilitar o uso do software. Para tal, foram incorporados ao STAFF mapas de orientação do usuário (Figura 1 ), instruções na tela, ajuda (Figura 2), marcas em páginas visitadas, cores diferenciadas e numeração de página por módulo, menu e mudanças no aspecto do cursor. A fim de minimizar o esforço cognitivo, os botões de navegação são apresentados ao usuário sempre na mesma área, tendo-se ainda mantido a uniformidade dos botões ao longo de todo o ambiente.
Segundo Borges [4], a validação de um hipermídia educacional concentra atividades de uso do protótipo e análise de documentos de projeto, visando julgar o quanto atende aos requisitos especificados nas etapas de planejamento e projeto instrucional. Na validação do STAFF não foram considerados os aspectos relativos à perspectiva dos efeitos do sistema em seus usuários, tendo o processo se concentrado nas seguintes dimensões: (i) Ausência de erros de instalação/execução e atendimento a requisitos mínimos de desempenho -avaliada pela equipe de desenvolvimento e voluntários; (ii) Dimensão pedagógica: qualidade dos objetivos, do conteúdo e das estratégias de ensino - avaliada por especialistas e instrutores afins ao conteúdo e (iii) Qualidade da interface - avaliada por analistas de sistemas e designers externos.
O Protótipo
O STAFF é constituído por três sistemas hipennídia: Hera, Zeus e Minerva. O primeiro permite ao usuário ter acesso aos conceitos e definições, bem como a exemplos ilustrativos destes e à descrição de procedimentos técnicos. O sistema Zeus é formado por 30 casos clínicos, coletados a partir da rotina de unidades de saúde e da literatura (como exemplificado
366
Recursos Humanos
na Figura 3), divididos em 5 níveis de dificuldade, e fornece ao usuário do STAFF a visão prática dos conceitos abordados pelo Hera além de buscar ressaltar aspectos como o impacto negativo da ausência do profissional farmacêutico para a saúde pública e a interação deste com os demais profissionais de saúde. O terceiro, Minerva, é um sistema de perguntas e respostas que permite tanto o reforço quanto a avaliação do aprendizado do usuano. Neste são empregadas perguntas diretas envolvendo tanto aspectos teóricos, quanto posicionamentos profissionais frente a um paciente ou profissional de saúde (Figura 4).
Recursos de áudio foram empregados na formulação das perguntas diretas, comentários acerca da resposta do usuário e na apresentação da resposta do sistema. Entretanto, a fim de possibilitar a utilização do STAFF em plataformas em que este recurso não esteja disponível, a informação fornecida pelo áudio pode também ser obtida pelo usuário de forma resumida através do vídeo (botão de navegação Análise).
Validação
A validação do protótipo permitiu verificar sua adequação aos requisitos inicialmente especificados, principalmente no que concerne ao planejamento educacional e à resistência do sistema a falhas. Deste processo part1c1param docentes, profissionais fannacêuticos e de outras áreas de saúde e voluntários (com ou sem experiência em informática). Entre os resultados obtidos destacam-se a facilidade de uso do STAFF, a clareza dos comandos e dos objetivos dos sistemas, a adequada orientação do usuário durante a interação com o ambiente, a consistência do conteúdo e a interface amigável do STAFF.
A potencialidade de aplicação do ambiente na educação formal e permanente de profissionais farmacêuticos foi apontada pela totalidade dos participantes da validação. Além disto, os docentes que participaram do processo de validação consideram satisfeitos os objetivos educacionais e adequadas as estratégias adotadas.
As principais sugestões formuladas pelos usuários que participaram do processo de validação do primeiro protótipo envolvem a utilização de vídeos para exemplificação de procedimentos e apresentação dos casos clínicos, por exemplo, e a possibilidade de inclusão, pelo usuário, de novas situações, de acordo com a realidade de sua região/unidade.
Discussão e Conclusão
O STAFF é um ambiente de formação que propicia a exploração de situações reais de utilização de medicamentos, tendo grande potencial na aproximação entre ensino teórico e prática profissional. A utilização de ferramentas hipermídia, além de possibilitar a criação de um ambiente aberto à exploração de várias formas de representação e de organização da informação, propiciou que situações reais fossem representadas,
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
testadas, avaliadas e experimentadas de fonna virtual, sem as implicações que a realidade impõe. O STAFF oferece ainda autonomia para que os usuários construam o conhecimento de acordo com seus estilos, ritmos e preferências de aprendizagem. Os resultados da
validação do ambiente permitem considerar o STAFF uma ferramenta com potencial de aplicação tanto na educação permanente quanto na fonnação de profissionais da área de farmácia, no que se refere ao exercício da atenção farmacêutica.
de
W Introdução
R' Assistência Fa:nuacêutica
!i;7 Atenção Fanuacêutica
r Histórico
r Profissão Farmacêutica r !Jo>'P•><H•'in da Sociedade Brnsileira
r Missão Profissional
r Uso Con·eto de :Th,1edicamentos
r Objetivos r Uso Seguro de 1\'Iedica:mentos
r Adesão a Tratamento
r Direitos do Paciente
Figura 1: Exemplo de mapa de orientação do usuário. As caixas marcadas representam contextos em que o usuário já navegou.
TELA DE A.JUDA Botões (fe
'···"''""''""<•' se!Ínga v0ltada para a direita - conduzirá voct à próxima do móduk, em que se encontra.
voltada para a esquerda - C'(•n<luz!Ià á pàgma a."lten<:·r àquela ern que você se encontra.
acionará a ajuda dv sistema.
penmtirá ao usuán.:· 11l1Clar a execução de um dip sonoro
perm1tírá inic1ar ou interromper a execução de um c!ip sonoro.
permitirá ao usuário verificar r;nde se.; encontra ou mudar de contezto, po1s o levará diretamente ao organog,rnma do módul0 correspondente
encerrará a e::ecução d(• ST.A.FF, levzm.d·; o usuàno de volta ao ambiente 'Nmdows.
pernute ao usuán<> v1s1Jaiizar oo ob_Jehvos de cada módulo.
Figura 2: Exemplo de tela de Ajuda do STAFF com a função dos botões de navegação.
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Paciente ambulatorial chega
prescrição ao lado. O motivo da prescrição um
corte rrn mão, que resul!ou em 3 pontos. ser
indagado sobre a forma como se cortou, o paciente
informa ter cortado a mão com uma faca de cozinha,
lendo recebido atendimento em 3 horas. ferimen-
to nlio apresenta sinais de infecção.
Figura 3: Exemplo de Caso Clínico do sistema Zeus.
r Você vende as gotas otológicas
~ Indica analgésico e procurar médico
Figura 4: Exemplo de Pergunta do Sistema Minerva
Agradecimentos
Os autores agradecem à CAPES pelo Auxílio Financeiro
del Fannaceutico en el Sistema de Atencion de Salud", Íl?forme de la reunión de la OMS, Tokio, Japão, 1993. [2] Cipolle, R.J.; Strand, L.M. e Morley, P.C., Pharmaceutical Care Practice, New York: The MacGraw-Hill Companies Health Professions Division, 1998. Referências Bibliográficas
[l] OMS - Organização Mundial da Saúde, "El Papel [3] Castilho, S.R., Ambiente para Formação de Recursos Humanos em Atenção Farmacêutica -
ANAIS DO CBEB'2000
STAFF, Dissertação de doutorado apresentada ao Programa de Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1999. [4] Castilho, S.R. e lnfantosi, A.F.C., "Modelo de um Ambiente para Formação de Recursos Humanos em Assistência Farmacêutica - STAFF" Revista Brasileira de Farmácia, vol. 79, pp. 104-107, 1998. [5] Borges, P.R.T, "Qualidade de Software Educacional: Critérios para Validação de Treinamentos Multimídia Utilizados em Educação à Distância", Tecnologia Educacional, vol. 26, pp. 11-17.
de Recursos Humanos
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Education in Medical Engineering in Romania
Prof.dr.eng. Daniel Bunea, Prof.dr.eng. Petru Moldovan, Student Antoniac Vasile, Eng. Zoe Bunea
University Politelmica ofBucharest, Romania Address: Splaiul Independentei 313, sector 6, code 77206, Bucharest, Romania,
Abstract - The paper deals with an interdisciplinary approach in a development process of Medical Engineering study at University POLITEHNICA of Bucharest. A specialised curriculum medical engineering has been developed at Materiais Science and Engineering Faculty from University POLITEHNICA of Bucharest, as a consequence of the increasing interest in this area. The National Council of the Accreditation and Academic Evaluation (CNEAA) autorished it.
The interdisciplinary approach is based on a cooperation with Electrical Engineering Faculty of the sarne university and Medicine Faculty from Medicine and Pharmacy University "CAROL DA VILA" ofBucharest.
The inclusion of medical subject gives the students basic knowledge of the issues to be considered at the interface between engineering and medicine and an introduction to communicate with a discipline outside traditional engineering. The involvement of practising, professional biomedical engineers in the delivery of this innovative engineering degree is emphasised so that continuity is developed between the existing professionals and the students who will be the first generation of medical engineers in Romania.
Key-words: education, medical engineering, curriculum
Introduction
ln the past, Romanian education m medical engineering has been considerate a postgraduate venture. Traditional belief has been that a basic education in engineering fundamentais is required followed by postgraduate studies in the application of these fundamentais to health care issues. The expansion of interest in medical engineering (ME) in the last few years, especially in the field of medical engineering (ME) had led to the development of ME studies at Materiais Science and Engineering Faculty from University POLITEHNICA ofBucharest. University POLITEHNICA of Bucharest is the most important technical university in Romania. With more than 175 years of existence, the university represents one of the fundamental and prestigious institutions of Romanian higher education, being the main source for the technical intellectuality of Romania.
ME study at Materiais Science and Engineering Faculty
The ME study offered by Materiais Science and Engineering Faculty provides a basic foundation in the materiais science engineering and develops in the students the ability to solve problems by applying engineering methods and technology to medicine and health care industry.
370
Theoretical fundaments are common for ali students at Materiais Science and Engineering Faculty. It takes the first two years of study, who is the first cycle. But, especially for ME students, is an optional course for every year from the first cycle: "Introduction to Biomedical Engineering" in the first year and "Introduction to Biomaterials" in the second year. In the next three years, who is the second cycle, students can choose their specialisation - in our case ME. ln the frame of ME, there are lectures read by medical doctors and courses taught by electrical engineers and materiais science engineers at University POLITEHNICA ofBucharest. Medical doctors provide students with on introduction to fundamentais of anatomy, physiology, histology, diagnostic and therapeutic methods in medicine. These courses gives students another perspective not normally associated with engineering and the vocabulary to communicate with doctors and health care workers. The advanced subjects in the study develop an understanding of the application of the basic engineering fundamentais to medicine and health care industry.
The cmTent courses structure for BME consist of following subjects:
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
a) Obligatory
Year3 First Semester: Second Semester: Phases and Structural Polymeric Biomaterials Jmagistic of Biomaterials Biocompatibility Biomechanics Metallic Biomaterials Ceramic and Composite
Biomaterials Energy Conversion Practice
Year4 First Semester: Second Semester: Tissue Engineering Biosensors and
Instrumentation Biomaterials Design Optoelectron ics Biomaterials Heat Swjàce Engineering Processing Biomaterials Degradation Medical b~formatics and Protection
Year 5 First Semester: Biomaterials Testing Jmplants Projectation Clinicai Engineering Orthopaedics Protetics and Jmplantology
b) Elective Year 3 First Semester: Second Semester: Synthesis Methods of Medical Jmagistic Biomaterials Plastic Deformation of Advanced Biomaterials Biomaterials Biomaterials Casting Bioelectric Phenomena BiochemistJy Equipmentfor
Biomaterials Processing Electronic Comvonents Lasers in Bioengineering
Year4 First Semester: Second Semester: Scientific Research Medical Devices Statistics Aplicated in Computer Simulation in Bioengineering Bioengineering Tissular Functional Biotransport Phenomenon Models Creativity and Jnventics Biosir;nals Processing Electrical Equipment in Biotechnologies Medicine
Year 5 First Semester: Dental Implantoloçzy and Protetics Mathematical Modelling Aplicated in Bioengineering Jmplantolof!l1 in O.R.L. Ensuring Jmplants Oualitv Marketing ofManagement
e) Choice
Year3 First Semester: Second Semester: Pedaooav Farei n Lan uage
Year4 First Semester: Second Sernester: Methods Practice Pedagogv
Practice Pedagogy Practice
Year 5 First Semester: Protetics and Jmplants /Or Human Soft Tíssues Informational Telmologies
ME curriculum has a flexible character, because is a more elective discipline. It is necessary for the students to elect 3 from 5 elective discipline I semester. This way, the students chooses your road to this interdisciplinary fields (medical engineering): - From biomaterials and medical devices processing perspective, gives by the first module presented in table 1 - From electrical equipment and devices perspective gives by the second module presented in table 1
Table 1 Directions in medical engineering curriculum
Biomaterials and Medical Electrical Equipment and Devices Processing Devices
Synthesis Methods of Conversion of Energy Biomaterials Plastic Dejormation of Electronic Components Biomaterials Biomaterials Casting Biosensors and
Instrumentation Heat Processing of Electrical Equipment in Biomaterials Medicine Surfàce Engineering Biosir;nal Processing Jmplants Projectation Data Acquisition and
Monitoring Svstems
The students are also required to undertake industrial experience (gives by 90 hours / year of study). Half of this must be within a biomedical department; the other half can be taken in an engineering company. The students are encouraged to spend this half of their industrial experience in a more traditional engineering company to obtain experience of the structure and activities of other professional engineers. The courses of the final year intend to provi de students with knowledge in the different fields of medicine ( orthopaedic, dental), not only by theoretical background but mainly by obtaining the practical skill in medical instruments and <levices in hospitais, with the help of doctors and health care workers.
ANAIS DO CBEB'2000
Conclusion
This article summarises the state of ME study at Materials Science and Engineering Faculty from University POLITEHNICA ofBucharest. The interdisciplinary approach is the most important rule for the organisation of ME study, with close relations to the Electrical Engineering Faculty from the same university and the Medicine Faculty from Medicine and Pharmacy University "CAROL DA VILA" ofBucharest. The purpose of ME study is to promote its profile within the community. The assimilation of student with degrees in ME in the work force should hasten the development and assist in the recognition of ME as a distinct engineering profession.
References
[ 1] Guide for Students, Materiais Science and Engineering Faculty, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania. [2] Handbook in Bioengineering, D.Bronzino, CRC Press.
de Recursos Humanos
ANAIS DO CBEB'2000 de Recursos Humanos
Combinação de Estratégias Pedagógicas e Técnicas Multimídia o desenvolvimento de um Sistema Tutor
Curilem GMJ 1•2
, Brasil LM 1, Sandoval RCB3
, Coral MHC3, Benedet G.V4
., de Azevedo FM1, Marques JLB 1
1Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica (GPEB), Depto. de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 88040-900
Fone (55 - 48) 331-9594, Fax (55 - 48) 331-9770 2Depto. de Engenharia Elétrica,
Universidad de La Frontera, Casilla 54-D. Temuco, Chile Fone (56 45) 325520, Fax (56 - 45) 325550
3Unidade de Diabetes e Endocrinologia, Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 88040-970
Fone (55 - 48) 331-9149, Fax (55 - 48) 331-9744 4Depto. de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 88040-970 [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Resumo - Este artigo apresenta um estudo sobre o uso de diferentes estratégias pedagógicas para implementar ambientes eficientes de transferência de conhecimentos, dentro de um software pedagógico. Este estudo representa uma etapa da pesquisa sobre metodologias de projeto de Sistemas Tutores Inteligentes (STI) realizada no Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica da UFSC. Um estudo de caso está sendo desenvolvido em conjunto com o Grupo Multiprofissional de Atendimento ao Diabético (GRUMAD) do Hospital Universitário da UFSC. Seu objetivo é implementar um protótipo de STI para auxiliar o jovem com Diabetes Mellitus 1 (DM 1) a conhecer as características do distúrbio, seu tratamento e como conseguir levar uma vida saudável. Tenta-se apresentar, no estudo específico que está sendo realizado, a combinação das estratégias pedagógicas e como isto pode aumentar a efetividade com que o sistema lidará com um grande número de usuários, com características e estilos de aprendizado diferentes.
Palavras-chave: Sistemas Tutores Inteligentes, Estratégias Pedagógicas, Diabetes Mellitus.
Abstract - This paper presents a study on the use of different pedagogical strategies to implement efficient environments of knowledge transfer, in pedagogical software. This study represents one research on design methodologies of Intelligent Tutoring Systems (ITS) that is being developed by the Biomedical Engineering Research Group of the UFSC. A case study is being done, in collaboration with the Diabetic Patients Interdisciplinary Support Group ofthe UFSC University Hospital. It aims to implement an ITS prototype to support young Type l patients with Diabetes Mellitus (DM) in their learning process of the DM characteristics, the treatment and how to organize themselves to have a healthy life. This article emphasizes the combination of pedagogical strategies inside of the specific case study, and how this could increase the efficiency of the system, when interacting with a number of users, with different characteristics and learning styles.
Key-words: Intelligent Tutoring Systems, Pedagogical Strategies, Diabetes Mellitus.
Introdução
A educação se encontra hoje frente ao desafio de ser mais eficiente para dar resposta aos requerimentos cada vez mais variados da sociedade. Para responder a este desafio, a educação conta com duas fenamentas de apoio: a tecnologia e os diferentes paradigmas pedagógicos. A primeira inclui qualquer recurso computacional utilizado para fins pedagógicos. A segunda determina como esses recursos podem ser utilizados para construir ambientes eficientes de transferencia de conhecimento.
A Instrução Inteligente Assistida por Computador (IIAC) é uma área de estudo da
373
Inteligência Artificial (IA) que tenta desenvolver "software" pedagógicos com capacidade de adaptação ao aluno [ 1]. Dentro da grande variedade de sistemas IIAC, os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) têm exigido um grande esforço de pesquisa. A estrutura destes sistemas lhes permite incluir um grande número de estratégias pedagógicas e de recursos computacionais.
Para tentar extrair metodologias de projeto de STI um estudo de caso está sendo realizado em conjunto com profissionais do Hospital Universitário da UFSC, para a construção de um protótipo de STI para auxiliar jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1. A
ANAIS DO CBEB'2000
heterogeneidade do grupo analisado realça a importância do estudo das estratégias pedagógicas.
O objetivo do presente artigo é apresentar uma proposta de como podem ser combinadas algumas estratégias pedagógicas para entregar aos alunos mais oportunidades de aprendizado. Utilizando as orientações entregues pelas diferentes estratégias e os recursos multimídia, tenta-se oferecer ambientes afins com a maior quantidade de estilos de aprendizados possíveis.
Sistemas Tutores Inteligentes
Os sistemas Tutores Inteligentes são "software" pedagógicos que tentam guiar um aluno no seu processo de aprendizado. O termo inteligente refere-se a sua capacidade de adaptar a apresentação do conteúdo a certas características do aluno. Em particular, o STJ deve considerar: o conhecimento prévio de um aluno, seus estilos de aprendizado e seu entendimento sobre os tópicos que o sistema lhe apresenta.
Os STI possuem quatro componentes básicas que são apresentados na Figura 1 [2].
CONTEÚDO
MODELO DO ALUNO
Figura 1: Componentes de um STI.
O Conteúdo inclui toda a informação e conhecimento sobre a matéria que será ensinada e está geralmente implementado como um Sistema Especialista (SE) do domínio. O Modelo do Aluno inclui todas as características consideradas relevantes para detenninar o estado do aluno dentro do seu processo de aprendizado. A Interface propicia a interação entre o aluno e o sistema O Tutor é quem controla todos os módulos do sistema e representa o centro de nosso estudo por gerir as estratégias pedagógicas. Ele determina que atividade vai ser apresentada e o meio utilizado para sua apresentação [ 1].
Estratégias Pedagógicas
Hoje, os computadores não são mais questionados como ferramentas de apoio à instrução. No entanto, o conteúdo pedagógico dos "software" para ensino é uma problemática que está sendo grandemente pesquisada [3]. O objetivo do enfoque pedagógico é aumentar a eficiência da transferência tanto dos conhecimentos como das habilidades ou atitudes que se desejam ensinar [4]. Para isto as ciências cognitivas fornecem diversos paradigmas. Em particular, o
374
Recursos Humanos
comportarnentalismo e o construt1v1smo têm influenciado grandemente o projeto destes sistemas. Outros estudos, como a Teoria das Inteligências Multiplas [5] e os Estilos de Aprendizado [6), também fornecem ferramentas pedagógicas.
Os paradigmas pedagógicos tentam estabelecer as condições e as etapas que constituem qualquer processo de aprendizado. O compmiamentalismo, como seu nome indica, focaliza seu estudo no comportamento do aluno. Este comportamento pode ser modificado mediante condicionamento operante [7]. Ele define o aprendizado como a associação de estímulos e respostas e propõe etapas muito bem definidas para o ensino de qualquer matéria para qualquer aluno [8]. Por outro lado, o construtivismo estabelece que o aprendizado é um processo subjetivo, onde o aluno constrói estruturas mentais na sua interação com os conteúdos [9]. O aprendizado é, então, um processo ativo, onde as ações do aluno sobre a matéria são determinantes. Outra visão importante nesta linha é a interação social a qual enfatiza, além das interações com a matéria, a importância das interações entre indivíduos e suas culturas para se alcançar sucesso no aprendizado [10].
A teoria das Inteligências Múltiplas considera que a inteligência é um conjunto de habilidades que pennitem a resolução de problemas e define oito tipos de inteligências [5]. Cada indivíduo possui uma ou várias inteligências mais desenvolvidas que as outras. Um processo de ensino mais personalizado deveria tomar em consideração as inteligências de um aluno, para adequar melhor as apresentações à ditas inteligências. A organização da informação, sobretudo o conteúdo das atividades interativas, pode ser sintonizada com o tipo de inteligência.
Os Estilos de aprendizado, por sua parte, podem ser definidos como um conjunto de características pessoais, que fazem com que o mesmo método de ensino seja efetivo para um grupo de estudantes e inefectivo para outro grupo [6]. Estes estilos podem ser considerados pelos "software" pedagógicos. Um tópico pode ser apresentado de diversas formas, buscando atingir a maior quantidade de estilos de aprendizados diferentes. As técnicas de Multi e Hipennídia podem apoiar grandemente esta busca.
A combinação destes elementos pode fornecer mais eficiência ao STI. No entanto, a combinação de estratégias, as vezes antagônicas, deve ser cuidadosa para tentar extrair o que cada paradigma pode aportar de melhor a esta problemática. Isto é analisado no estudo de caso que se descreve a seguir.
STI para Diabetes Mellitus Tipo 1
Este sistema está projetado em três etapas [11]: • A primeira, considera o projeto de um Sistema
Tutor Tradicional (STT), sem características de adaptabilidade, contendo toda a informação que se deseja transferir e as estratégias pedagógicas consideradas.
• A segunda consiste em fazer testes com este Tutor Tradicional, colocando-o em contato com os usuários. Esta etapa tem por objetivo a aquisição
ANAIS DO CBEB'2000
de conhecimento sobre como determinadas interações com o "software" podem estabelecer critérios de seleção das melhores estratégias para um aluno.
• A terceira e última etapa, consiste em implementar dois sistemas especialistas, um com o conteúdo a ser apresentado e um segundo com as estratégias pedagógicas. A aquisição de conhecimento da etapa anterior permite implementar as máquinas de inferência destes dois sistemas. Desta forma é obtido um Protótipo de STI para apoiar o paciente com Diabetes Mellitus Tipo 1 e às pessoas que convivem com ele, a conhecer, em forma altamente personalizada e mediante atividades significativas, as características da deficiência e seu tratamento.
Combinação de Estratégias e Técnicas Multimídia
A analise a seguir forma parte da primeira etapa do projeto. Neste caso, o módulo principal do STT é o conteúdo a ser apresentado para o aluno, devido a que ele não tem características de adaptabilidade (não é inteligente). Por esta razão, tanto as estratégias pedagógicas como as técnicas multimídia, são utilizadas
de Recursos Humanos
encorajamento e reconhecimento nos acertos, ou orientações em caso de erros ou dificuldades. Apesar desta estruturação dos tópicos, cada um deles está implementado de forma que ele constitua uma unidade independente, permitindo então que o aluno possa passar por cima da estrutura inicialmente proposta e selecione os tópicos segundo interesses próprios. Esta forma de organizar os tópicos, pode ser aproveitada para responder aos estilos de aprendizado seqüenciais e globais [6].
A teoria construtivista é considerada em primeiro lugar permitindo ao aluno escolher os tópicos que mais lhe interessam. Esta flexibilidade faz com que o aluno possa ter mais controle sobre o conteúdo do seu aprendizado, incorporando a ele seus interesses pessoais. Em segundo lugar, a implementação das atividades propostas permite ao aluno interagir com os objetos ou situações que se deseja que ele conheça, o que favorece a construção de conhecimento pela própria experimentação. Em terceiro lugar, tanto nos tópicos como nas atividades propostas, propicia-se o questionamento sobre o aprendido, tentando provocar desequilíbrios seja para incentivar a participação nas atividades propostas, seja para a procura de mais informação nos tópicos correspondentes. Esta
»r------------------,------~·
ª// lt_~::~~~=~::~---1 i O diabetes ainda não pode ser curado, r ...... r porém pode ser controlado com
j 1 i resultados tão bons quanto a própria . -- cura. ! l l O diabético pode ser um bom
.''
/ 111 .. ;·'.,i d:~~~:~a~~ f::í~~t:J:~fi::~:1' . cidadão tão feliz quanto uma pessoa não
b /i il 1.. Basta para ~:::ecer o que i o Diaõetes .M.é11itl1.S.
j\ . ·~· :- -- --, ................ l l Audfo t\t!1 ., . Stop • 1:
c · l , ........................................................................................................... .
d
Atividades ......... g
...... . ........................................................ .,
h Figura 2. Estrutura dos tópicos
--- 'i:::!:~cc::: =~ na implementação computacional do Conteúdo.
A seqüência dos tópicos do sistema foi projetada segundo o paradigma comportamentalismo que propõe uma seqüência pré-organizada e altamente estruturada dos tópicos, tentando fazer com que o aluno caminhe dos tópicos mais básicos aos mais avançados, dando pequenos saltos cognitivos. Isto permite que o aluno possa estar ciente do seu desenvolvimento e de seu aprendizado. A estrutura interna de cada tópico foi projetada para seguir as etapas sugeridas por Gagné [8]. As etapas de motivação, apreensão, retenção, rememoração e desempenho foram em particular consideradas em cada tópico. O estímulo positivo é implementado em forma multimídia, com técnicas de
375
organização que utiliza tanto a apresentação formal dos conteúdos como a participação em atividades interativas pode apoiar os estilos de aprendizado de aprendizes ativos e reflexivos.
Todas as telas de cada tópico possuem os mesmos componentes. Uma tela típica é apresentada na Figura 2. Segue uma breve descrição de cada seção.
a) Seção de Identificação: apresenta a unidade e o tópico atual. Seu objetivo é que o aluno tenha sempre pleno conhecimento de onde ele se encontra dentro do sistema e que ele tenha fácil acesso a toda a estrutura dos tópicos para entender ou influir sobre a seqüência proposta.
ANAIS DO CBEB'2000
b) Seção de Texto: contém a versão escrita do conteúdo do tópico. Aqui é entregue a informação do tópico, salientando com cores e outros efeitos, as informações essenciais para propiciar apreensão e retenção.
c) Seção de Áudio: o aluno tem a possibilidade de ouvir o texto escrito. Em geral para crianças ou para o estilo de aprendizado auditivo, esta possibilidade permite incrementar o impacto do texto, além de acrescentar outras informações às informações oferecidas por ele.
d) Seção Animações: esta seção oferece informação gráfica sobre o tópico, para apoiar as explicações do texto ou do áudio e fomentar a rememoração das informações mais importantes. Ela facilita a explicação dos tópicos mais difíceis e oferece momentos de distração para o aluno. Nesta seção encontramse os personagens animados que interagem com o aluno para provocar desequilíbrios e tentar estabelecer uma ligação emocional entre ele e o sistema. Tanto esta seção quanto a seção Texto permitem atingir alunos com estilo de aprendizado visual.
e) Seção Música: o aluno pode ligar ou desligar música de fundo. Esta seção não tem sido muito estudada ainda, no entanto, pensa-se que possa ter alguma influência na motivação do aluno no uso do sistema.
f) Seção Atividades: este botão oferece uma ligação para as atividades de aprendizado relacionadas com o tópico. Esta seção assim com a seção Teste são apresentadas detalhadamente mais adiante no artigo.
g) Seção Teste: esta seção permite testar o conhecimento do aluno, propondo para ele atividades complementares no caso de dificuldades ou estimulando seus acertos (retroalimentação positiva).
h) Seção Navegação: permite o deslocamento entre as telas de um tópico ou retorno ao conteúdo. Permite também ao aluno ter uma visão geral da estrutura dos tópicos e assim se deslocar com facilidade através deles.
Nesta etapa inicial, a configuração das telas tenta facilitar tanto a utilização do sistema como a orientação do aluno frente às diversas atividades de aprendizado propostas. Sua implementação utilizando técnicas multimídia pretende atingir alunos com facilidades tanto visuais como auditivas. Portanto, um ambiente abe1io, multimídia e multi atividade é oferecido aos alunos para que eles possam escolher facilmente os meios que mais se adeqüem a seu aprendizado.
Atividades propostas
Cada tópico possui uma ligação para atividades interativas, ligadas ao tema específico do mesmo. Estas atividades devem ser projetadas para responder a todas as abordagens consideradas no projeto. Em particular, devem oferecer ambientes que propiciem o correto
de Recursos Humanos
376
desenvolvimento das etapas de generalização e desempenho que foram propostas pelo paradigma comportamentalista, assim como devem fornecer uma retroalimentação adequada ao aluno, seguindo este paradigma. As atividades devem também propiciar a construção de conhecimento, oferecendo ambientes realísticos de resolução de problemas, projetados utilizando a abordagem construtivista. Estas atividades devem ser contextualizadas, incorporando aqui algumas características sócio - culturais que possam ter relação com o tópico correspondente.
Desta forma, dependendo do tópico, diferentes tipos de ambientes são propostos ao aluno. Existem atividades de perguntas e respostas sobre o conteúdo do tópico, animações, jogos, simuladores e ambientes de resolução de problemas. As atividades interativas incentivam o aluno a aprofundar o conhecimento adquirido durante seu estudo do tópico. O sistema incentiva continuamente o aluno a entrar nestas atividades para manipular ou praticar ditos conhecimentos [12]. Por outra parte, o sistema também orienta o aluno a buscar a informação que ele precisa dentro dos tópicos con-espondentes. Os estilos de aprendizado são também considerados pelas atividades, em particular os estilos de alunos ativos ou reflexivos assim como intuitivos ou sensoriais [6]. A teoria das Inteligências Múltiplas, definida por Gardner [5], pode também orientar a implementação das atividades interativas. Esta teoria pode oferecer elementos que pennitam selecionar o conteúdo das atividades. Os ambientes e as interações propiciadas nestas atividades devem tentar se adaptar às diferentes inteligências dos alunos.
Atividades adicionais que ampliam o tópico estudado são também propostas pelos tópicos. Nestas atividades contextua-se historicamente os temas abordados, assim como entrega-se narrações e fatos relacionados ao tópico, sempre que este o permita. Pelas características do problema escolhido, um ponto de vista social e humano é sempre ressaltado nos tópicos, já que a aceitação do Diabetes tanto pelo paciente como pelo seu grupo familiar é uma tarefa complexa e representa um grande desafio para as pessoas envolvidas [13]. Cada etapa focaliza a importância do contato permanente que deve existir entre os portadores e suas famílias e profissionais da saúde que podem orientá-los em problemas mais específicos. O contato com outros pacientes é também estimulado. Tudo isto pennite atingir alunos com estilos de aprendizado sensoriais e intuitivos, assim como incentiva o contato com outras pessoas, profissionais ou pacientes, para alcançar uma melhor compreensão e visão do tema, o que é encorajado pela teoria interacionista [l O].
Cada tópico possui um teste final dos conhecimentos adquiridos nele. Seja com a apresentação comportamentalista, seja com as atividades, existem certos conhecimentos ou habilidades que o aluno deve ter adquirido. A forma de implementar estes testes está ainda em estudo. O objetivo do teste, nesta primeira etapa, é determinar o andamento do
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
aluno e fornecer o estímulo positivo em caso de que ele apresente as características desejadas.
Discussão e Conclusões
O projeto se encontra na etapa de implementação do STT. Como foi apresentado, este Tutor "não inteligente" tem por objetivo oferecer ao aluno toda a informação considerada relevante para o tema, apresentada em ambientes multimídia e "multiatividades". As diferentes estratégias, estilos e inteligências contemplados pelo sistema estão disponíveis em praticamente todos os tópicos. Eles devem estar orientados a diferentes tipos de aluno, e estão associados a diferentes tipos de atividades que determinam formas diferentes de interação.
O STT pode ser considerado como um sistema aberto contendo uma grande quantidade de informação referente ao Diabetes Mellitus Tipo 1 e fornecendo vários meios para que um aluno possa acessar os conteúdos. A combinação das estratégias aparece como um requisito necessário para poder atingir um maior número de alunos, fazendo com que seu processo de aprendizado seja mais efetivo e motivador. Esta etapa tenta portanto determinar se este tipo de ambientes efetivamente permite a transferência de conhecimentos a um maior numero de alunos que um ensino tradicional.
O STT, apesar de não ser inteligente, pode permitir a personalização do ensino, oferecendo a combinação de estratégias, estilos e inteligências descrita anteriormente. O aluno terá maior liberdade para decidir tanto a forma como o conteúdo que ele deseja conhecer. Isto permite manter sua atenção além de penmtir um processo de aprendizado mais significativo e compatível com seus interesses.
No entanto, não é eficiente colocar todas as estratégias e meios de apresentação a disposição de todos os alunos. Deve-se tentar aumentar a eficiência do sistema, ou seja tentar orientar o aluno nas atividades mais afins com suas características de aprendizado. O sistema deveria selecionar as estratégias adequadas a cada aluno, utilizando critérios obtidos durante as interações iniciais com ele.
Para isto, a segunda etapa do projeto tem dois objetivos: em primeiro lugar deve-se analisar a efetividade do STT; em segundo lugar deve-se tentar extrair informação que permita detectar as preferências dos alunos no sentido de estabelecer critérios para selecionar as atividades mais afins com seus estilos.
As escolhas do aluno, supõe-se, estarão baseadas no seus estilos de aprendizado, portanto deverão fornecer alguma informação que permita individualizálo. Tenta-se, portanto, deduzir a relação entre as interações do aluno com o sistema, seus estilos de aprendizado e as estratégias que lhe permitem adquirir com maior facilidade a informação desejada. Desta forma, a segunda etapa do projeto deveria permitir extrair conhecimentos que permitam formular critérios para decidir que estratégia utilizar para cada aluno. A partir desta escolha, o restante dos tópicos poderão ser apresentados baseados nestas estratégias.
A terceira etapa tem por objetivo articular as diversas informações obtidas na segunda etapa, para poder projetar os módulos Aluno e Tutor, de um STI. Desta forma será obtido um protótipo de sistema tutor inteligente para apoiar os pacientes portadores de DM 1.
O projeto permite testar alguns elementos que estão sendo pesquisados para a elaboração de metodologias de projeto de STI, em particular, no que se refere à implementação do módulo Tutor que é o centro desta pesquisa.
Agradecimentos
Agradecemos a valiosa ajuda de especialistas do GRUMAD na aquisição, seleção e organização da informação sobre o Diabetes Mellitus assim como sua cooperação, junto com jovens pacientes, no desenho e estrutura da interface do STT.
Agradecemos também a CAPES e a FUNPESQUISA pelo apoio financeiro sem o qual o desenvolvimento deste projeto não seria possível.
Referências
[l] J .M Charlot. "Formalisation et comparaison cognitives de modeles mentaux de novices et d'experts en situation de résolution de problémes". Tese de Doutorado. Université Paris XI Orsay. 1998. http ://vulcain. gme. usherb. ca/ ~charlot/These/
[2] R. Nezami. "General Analysis and Design of the Intelligent Tutoring Systems". 1997. http://www.cs.unb.ca/grads/a9sj/ ITS.html
[3] P. Lévy; "As tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática"~ Ed. 1993.
[4] P. Dillenbourg "Material do curso semi presencial: Technologies et formation" Universidade de Genebra. 24-28 de agosto de 1998. http ://tecfa. unige. ch/tecfa/teaching/ cefa/ cefaoverview .html
[5] H. Gardner. "Estrutura da mente - das inteligências múltiplas." Porto Médicas, 1995.
[6] R.M. Felder, B.A. Soloman "Leaming styles and strategies" 1997.
[7] B.F. Skinner. "The technology of Teaching." New York: Appleton-Century-Crofts. 1968.
[8] R.M. Gagne, L.J. Briggs,W.W. Wagner. "Principles of instructional design". Third edition. New York: Holt Rinehart and Winston. 1988
[9] J. Piaget. "A psicologia da Inteligência". Editora Fundo de Cultura S.A Lisboa. 1967.
[ 1 O] L.S Vygotsky. "Mind in Society". Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978.
[11] GMJ Curilem, LM Brasil, RCB Sandoval, MHC Coral, FM de Azevedo, JLB Marques. "Sistema Tutor Inteligente para Auxiliar a Diabéticos a Convivir con este Disturbio Metabólico". Anais do XIII Congreso Chileno de Engenharia Elétrica. Santiago. Chile, Nov de 1999.
[12] W. Winn. "Constructivism in practice : The case for Meaning-Making in the Virtual World". Human Interface. Technology Laboratory. Washington
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Technology Center. University of Washington, 1997. http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-4 7 /three.html
[13] L. Zagury. "Diabetes sem medo". Ed. Rocca Ltda.
378
ANAIS DO CBEB'2000 de Recursos Humanos
MONITOR: um Programa para Treinamento de Técnicos de Equipamentos Biomédicos sobre Monitores Cardíacos
Wood, Guilherme A. 1'2
; Hermini, Alexandre H. 1'3
; Calil, Saide J.2
1 Colégio Técnico de Campinas (COTUCA) - UNICAMP R. Culto à Ciência, 177 - Botafogo - CEP 13020-080 - Campinas - SP
2 Centro de Eng. Biomédica (CEB) & Depto. Eng. Biomédica (DEB-FEEC) - UNICAMP 3 Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher (CAISM) - UNICAMP
[email protected], [email protected], [email protected]
Resumo: Desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional de Auxílio ao Treinamento de Técnicos de Manutenção de Equipamentos Biomédicos, sobre Monitor Cardíaco. O programa desenvolvido para este aparelho dispõe de simulação de operação, funcionamento dos principais blocos e de 13 tipos de defeitos. Os equipamentos de teste também são simulados. O Arquivo de Ajuda com mais de 180 páginas, contém informações sobre princípio de funcionamento, finalidade, segurança, interferências e compatibilidade com outros equipamentos. Um relatório do treinamento é gerado automaticamente. Testes foram realizados com alunos de cursos técnicos.
Palavras-chave: Engenharia Clínica, Treinamento Auxiliado por Computador; Monitor Cardíaco, Manutenção
Abstract: Development of a Computer-Aided Instruction Too! for Biomedical Equipment Technicians, using Graphics and Hypennedia, about ECG Monitor. The developed program is able to simulate ECG Monitor operation, functioning and 13 kinds of failures. Test equipment are also simulated. Help File with more than 180 pages explains equipment principie, application, safety, interferences and compatibility. A treining report is created automatically. Students from technical courses have accomplished the program assessment.
Key-words: Clinica! Engineering, Computer-Aided Instruction, ECG Monitor, Maintenance
Introdução
A maioria dos técnicos que atuam na área da saúde não tiveram contato com os equipamentos médico-hospitalares em sua fonnação escolar, aprendendo os conceitos médicos e tecnológicos através da experiência, treinamentos, leitura de manuais de operação e serviço, e contato com colegas mais experientes. Em uma tentativa de minimizar este problema, cursos para Técnicos de Manutenção de Equipamentos Biomédicos foram criados no ano de 1993 com apoio do Ministério da Saúde em algumas escolas no Brasil.
O problema enfrentado por estes cursos, por um outro lado, é a obtenção de equipamentos médicos que possam ser desmontados e posterionnente montados para o treinamento dos alunos em sua manutenção.
A infonnática permite que o treinamento de profissionais seja auxiliado por computador, com as seguintes vantagens: interatividade, realimentação, individualidade e avaliação objetiva.
Pipitone [l] e Richardson [2] desenvolveram programas utilizando Inteligência Artificial para o Treinamento Auxiliado por Computador (T AC) sobre a manutenção de equipamentos eletrônicos em geral. Hooper [3] e Moniz [ 4] criaram aplicativos para T AC de profissionais de saúde sobre a operação de
379
equipamentos biomédicos. Moreira [5] desenvolveu o SIMVEP - Simulador da Ventilação Pulmonar, um aplicativo para platafonna MS-Windows para o treinamento de profissionais de saúde sobre terapia ventilatória, incluindo os controles modos de ventilação dos modernos ventiladores eletrônicos.
Mataban [6] desenvolveu um programa para T AC sobre manutenção de bombas de infusão.
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para desenvolvimento de T AC sobre a manutenção de equipamentos biomédicos, utilizando interface gráfica e hipennídia.
Metodologia
Para o desenvolvimento de um programa de Treinamento Auxiliado por Computador, a seguinte infra estrutura de "software" e "hardware" pode ser utilizada: a) Computador compatível com PC 486; b) Sistema operacional MS-Windows versão 3.1; c) Linguagem de programação Visual BASIC 3.0; d) Gerenciador de bases de dados relacionais Access; e) Editor de textos MS-W ord; f) Editor de figuras PaintBrush; g) Compilador de arquivos de ajuda Help Compiler
(disponível na Internet).
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Os itens a e b acima, e alguns arquivos DLL e VBX são suficientes para a execução do programa.
O processo de aprendizagem proposto segue os passos abaixo: 1) finalidade clínica; 2) princípio de funcionamento; 3) operação; 4) funcionamento, detalhado em diagramas de blocos e circuitos; 5) segurança e compatibilidade; 6) simulação de defeitos; 7) rotinas de manutenção.
Textos e figuras podem ser compostos como um Manual de Operação e Manutenção virtual, em um arquivo de hipermídia, como os Arquivos de Ajuda do MS-Windows. A finalidade clínica do equipamento pode ser apresentada como uma Introdução deste Manual, com explicações simples a respeito das aplicações do equipamento, e detalhes de anatomia, fisiologia e patologia referentes a estas aplicações.
Da mesma fonna, uma síntese sobre o princípio de funcionamento pode ser parte desta Introdução, apresentando as tecnologias utilizadas no aparelho.
Para a operação, o Painel de Controle (Figura A) de um equipamento pode ser simulado com objetos como Botões e Caixas de Figura, representando os comandos e mostradores de um equipamento real.
Figura A - Painel de Controle
Para simular o Funcionamento, um aparelho pode ser representado como um grande sistema, com diversas entradas e saídas. Entretanto, um modelamento global pode ser inviável, tendo em vista a complexidade de uma função de transferência para todo o aparelho. Então, o equipamento deve ser desmembrado em diversos blocos, com funções específicas, como Fonte de Alimentação, Vídeo e Entrada de Sinal. Um bloco pode ser desmembrado em circuitos. Define-se então a função de transferência destes circuitos, a qual determina o valor da saída do circuito em função de suas entradas. Como a saída de um determinado circuito é entrada para outros (eis o conceito de conectividade [ 1, 2]), a simulação deve
380
estar baseada em como ocorre a variação do sinal destas saídas em função do tempo. Todos os nós entre componentes dos circuitos eletrônicos, incluindo as entradas e saídas dos blocos podem ser representados por um conjunto (ou vetor) de variáveis reais, representando a tensão nestes pontos, em um determinado instante.
Como o computador é um dispositivo digital, o processamento dos parâmetros (tensão dos nós, resistência dos componentes, funções de transferência, etc.) em cada nó, componente ou circuito do equipamento deve ser simulado através dos preceitos do Processamento Digital de Sinais, e o modelamento deve ser realizado através de Sistemas de Variáveis Discretas.
Assim, se a freqüência de corte de um filtro passa-baixas for menor que o dobro da freqüência de amostragem (freqüência de Nyquist), faz-se necessário realizar os seguintes cálculos: a) obter a Função de Transferência no domínio Z
correspondente à Função de Transferência do circuito no domínio analógico (Laplace),
b) realizar a anti-transformada Z para obter uma equação a diferenças que represente o funcionamento do circuito.
Quando a freqüência de corte de um circuito é muito maior que a freqüência de Nyquist, pode-se trabalhar apenas com seu Ganho, obtendo-se o valor de saída ao multiplicar o valor da entrada por uma constante.
Problemas relativos a Interferências, Segurança e Compatibilidade com outros equipamentos podem ser discutidos no Arquivo de Ajuda, com exemplos de simulações que podem ser realizadas através do programa. Referências a Nonnas Técnicas são imp011antes neste Capítulo [7].
A simulação de defeitos é realizada através da alteração do valor de um determinado componente. A Tabela A apresenta as principais falhas de componentes eletrônicos.
Os valores de resistência para curto-circuito e circuito aberto não podem ser idealizados para zero e infinito ( oo ), respectivamente. O computador não pode dividir por zero, nem trabalhar com um número infinito. Além disso, a resistência de um cabo ou de uma trilha do circuito impresso não é nula. Da mesma fonna, a isolação entre trilhas (circuito aberto), não é infinita. Escolhemos arbitrariamente o valor de 1 mQ (um miliohm) para curto-circuito e 1 GQ (um gigaohm) para circuito abe110.
ANAIS DO CBEB'2000
Tabela A - Falhas de componentes eletrônicos [7]
Componente Falhas Típicas Resistor Valor acima da tolerância, circuito
aberto. Resistor Contato intennitente, circuito aberto. Variável Caoacitor Curto-circuito, circuito aberto. Indutor Curto-circuito entre espiras, ou entre
bobina e massa, circuito aberto. Semi- Circuito aberto ou curto-circuito em condutores qualquer das junções P-N.
Para proceder com as rotinas de manutenção o técnico deve utilizar algumas ferramentas: Manual de Instruções, Ordem de Serviço e Equipamentos de Teste, como Multímetro, Simulador, Gerador de Sinais e Osciloscópio (Figura B). Estas ferramentas estão disponíveis na simulação.
Figura B - Equipamento de Teste
Rotinas de inspeção, calibração, manutenção preventiva e corretiva podem ser incluídas no Manual, para estabelecer procedimentos a serem adotados pelo técnico em sua bancada. O diagnóstico do defeito, conhecido pelo termo inglês troubleshooting, pode ser apresentado como uma série de ações a serem realizadas pelo técnico, de acordo com o defeito simulado.
Para fins de avaliação do desempenho do aluno, o programa grava cada ação realizada durante o treinamento em um arquivo de texto, constituindo um Relatório de Treinamento (Tabela B), que permite ao instrutor verificar se o técnico tem a metodologia adequada para a realização dos reparos.
de Recursos Humanos
381
Tabela B - Relatório de Treinamento
Relatório de Treinamento Tecnico: F. Abertura: 9112/1998 21: 19:05 Descrição do Defeito: Sem Sinal nas Derivações V, com Mensagem "Eletrodo Solto". Componente Defeituoso: ContatoVn; Falha: Aberto Inicializando: Osciloscópio: Escala de Tensão= 100 Osciloscópio: Escala de Tempo=, 1 Derivação= II Consulta Ordem de Serviço Ações Efetuadas: Verificando Resistor: RO 1 Multímetro: Vcc = ,000 Verificando CI: CAnalog03A Verificando Conector: ContatoRA Verificando Conector: Contato Vn Multímetro: kOhm = +EEE Substituição Correta: Conector: Contato Vn Encerramento: 9112/1998 21:30:29 Consulta Ordem de Serviço Conecta Cabo de Paciente Conecta Cabo de Alimentação Simulador: Pulso = 60 Liga Chave Derivação = II Derivação = V
Aplicação da Metodologia
Escolhemos o Monitor Cardíaco para aplicar a Metodologia, por ser um equipamento de média complexidade e amplo uso em qualquer hospital.
Uma base de dados contém os dados necessanos para a simulação de operação, funcionamento e manutenção do Monitor Cardíaco. Em uma de suas tabelas estão armazenadas 240 amostras de um sinal eletrocardiográfico, em derivação II, correspondendo a um segundo. Os sinais das demais derivações são obtidos através de uma resistiva, conforme o trabalho de Lucena [9].
Os circuitos dos seguintes Blocos Funcionais foram implementados: Fonte de Alimentação, Entrada Isolada, Acoplamento e Processamento Analógico. Os módulos de processamento digital e de vídeo serão implementados em um trabalho futuro.
A Detecção de QRS, importante função do Monitor Cardíaco, para a medição da freqüência cardíaca e para o sincronismo em cardioversão, foi implementada a partir do trabalho de Abrantes e Nadai [ 1 O].
Foram verificados os efeitos de 69 falhas, resultando em 13 defeitos que podem ser simulados (tabela e). Explicações para o Troubleshooting destes defeitos estão disponíveis no Arquivo de Ajuda.
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Tabela C - Defeitos simulados no programa
Códie;o Descrição do Defeito CalTrv Sinal de Calibração em todas as Posições do
Seletor de Derivações. DetTrv Sem Sinal, com Mensagem "Eletrodo Solto". LAsolt Sem Sinal, com Mensagem "Eletrodo Solto",
exceto Derivação II. LLsolt Sem Sinal, com Mensagem "Eletrodo Solto",
exceto Derivação I. No Liga Não Liga. normal Funcionamento Normal. RAsolt Sem Sinal, com Mensagem "Eletrodo Solto",
exceto Derivação III. SGDiag Ganho Abaixo do Normal, inclusive
Calibração. SSCali Sem Sinal de Calibração SSDiag Sem Sinal, inclusive Calibração SSFilt Sem Sinal, somente no Modo Filtro. SSinal Sem Sinal, em todas as Derivações, exceto
Calibração Vsolt Sem Sinal nas Derivações V, com
Mensagem "Eletrodo Solto".
O Arquivo de Ajuda "Manual do Monitor Cardíaco" é constituído de mais de 180 páginas, contendo as seguintes informações: - Como Usar o Programa;
Introdução, com princ1p10 de funcionamento, anatomia e fisiologia do coração, atividade elétrica das células cardíacas, eletrodos, derivações, sinal eletrocardiográfico nonnal e exemplos de arritmias; - Operação, com a descrição de cada comando e mostrador dos Painéis do Monitor; - Funcionamento, com a descrição de cada bloco e circuito simulado; - Interferências, da Rede Elétrica, Eletrodo Solto, Artefato Respiratório, Sinal Eletromiográfico (EMG), Descarga de Desfibrilador e Acionamento de Equipamento Eletrocirúrgico (Bisturi Elétrico); - Manutenção, com rotinas de inspeção e calibração, cuidados e troubleshooting; - Glossário.
Quatro aplicativos de animação foram criados para ilustrar o Manual. A figura c apresenta dois destes aplicativos.
382
Potencial de Repouso
,_7\_ Membrana +++++++++- ___ +++++
---------++++-----
Figura C - Animações como Ilustração do Manual
Resultados
Onze alunos de um curso de Técnico de Equipamentos Médico-Hospitalares foram submetidos ao treinamento, respondendo ao mesmo teste antes e depois de utilizar o software. Estes testes de assimilação demonstraram um aprimoramento no desempenho de todos os alunos após o treinamento, aumentando a média da tun11a de 50,0 para 78,8. O teste deve ser repetido para um maior número de alunos, utilizando o Aplicativo por mais tempo, para uma melhor avaliação.
Os testes de simulação mostraram que o Aplicativo reproduz as situações reais com boa fidelidade. A aceitação do programa por parte de técnicos mais experientes foi grande, mostrando sua viabilidade.
Discussão
O programa desenvolvido serve apenas para o treinamento sobre Monitores Cardíacos. Utilizando-se a mesma metodologia, é possível criar aplicativos a respeito de outros equipamentos biomédicos. Entretanto, seria mais interessante tornar o programa genérico, transferindo os dados específicos de um deten11inado equipamento para Bases de Dados. Assim, para simular outros equipamentos bastaria desenvolver as Bases de Dados, com estruturas semelhantes, o que simplificaria o trabalho do Programador.
Eventualmente, a falha de um determinado Componente pode produzir uma sobretensão, ou
ANAIS DO CBEB'2000 e~.-~.,~.,~ de Recursos Humanos
sobrecorrente, em outro Componente, levando-o também a uma falha. O Aplicativo desenvolvido não permite a simulação de falhas múltiplas, isto é, de vários Componentes simultaneamente. Para fazê-lo, seriam necessárias algumas modificações nas tabelas da Base de Dados MONITOR.MDB e no programa.
Referências Bibliográficas
[1] PIPITONE, F. An Expe11 System for Electronics Troubleshooting Based on Qualitative Causal Reasoning. J. Comp.-Based Instrue., v. 13, p. 39-42, 1986. [2] RICHARDSON, J.J. & JACKSON, T.E., "Developing the Technology for Intelligent Maintenance Advisors", J. Comp.-Based Instrue., v. 13, p. 47-51, 1986. [3] HOOPER, J.A. & Cols., "EquipTeach: A Computer-Aided Instmction To Teach Users How To Operate Specific Medical Equipment", Biomed. Instr.& Teehn., v. 27, p. 394-399, 1993. [4] MONIZ, M.J., CALVIN, J. & STANKIEWICZ, H., "Innovative Comrnunication in a Biomedical Engineering Department", J. Clin. Eng., v. 20, p. 212-217, 1995. [5] MOREIRA, C.M.M. SIMVEP - Simulador da Ventilação Pulmonar. Dissei1ação de Mestrado, DEBFEE-UNICAMP, 1996. [6] MATABAN, B.A.M., "Prototype Expert System for Infusion Pump Maintenance", Biom. Instr. & Teehn., v. 28, p. 19-29, 1994. [7] ABNT, Nonna Técnica NBR IEC 60601-1, Prescrições Gerais para a Segurança de Equipamentos Eletromédicos, 1994. [8] LOVEDA Y, G. C., Electronic Fault Diagnosis. Pitman Publ. Ltd., 1982. [9] LUCENA, S. E., Um Simulador de ECG/ Arritmia Cardíaca. Dissei1ação de Mestrado, DEB-FEEUNICAMP, 1989. [10] ABRANTES, A.C.S. & NADAL, J. Algoritmo para Detecção de Complexos QRS em Microcomputadores PC-AT. ln: FÓRUM NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE, 1., 1992, Caxambu - MG. Anais 668 p. p. 228-230.
383
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Sistema Computacional Didático de Auxílio à Área de Processamento Digital de Sinais
Igor Alexandre de Lima 1, Álvaro Luiz Stelle2
1.2Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), Brasil, 80230-901
Fone (OXX41)310-4680, (OXX41)310-4697 [email protected], [email protected]
Resumo - Este artigo apresenta o projeto e a implementação de um sistema computacional didático de baixo custo que permite dar demonstrações interativas relacionadas à teoria básica de Processamento Digital de Sinais tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. O software permite que o estudante aperfeiçoe seus conhecimentos matemáticos para poder analisar sistemas mais complicados relacionados com o mundo físico.
Palavras-chave: Processamento de Sinais, Sistema Computacional.
Abstract - This paper shows the design and implementation of a low-cost software specially developed for teaching purpose, which helps to give interactive demonstrations in the area of Digital Signal Processing, interconnecting undergraduate and graduate courses. This way, the student master the mathemathical skills necessary to analyze complicated systems related to the physical world.
Key-words: Signal Processing, Software.
Introdução
Uma das críticas à escola se refere às práticas pedagógicas antigas, centradas em aulas expositivas e conteúdos cmTiculares desvinculados da realidade [l].
Repensar a prática pedagógica é um desafio, porém menor que o de sugerir e implantar alternativas mais eficientes e imediatas. Acredita-se ainda que a inserção do computador como fe1nmenta cognitiva pode ser parte da solução para tal. Tais ferramentas cognitivas são produtos de software que usam a potencialidade do computador com a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem [2]. É importante lembrar que muitas instituições de ensino encontram dificuldades em adaptar-se às novas práticas pedagógicas, principalmente pela falta de recursos ou pela falta de interesse [3], [4].
No caso de um curso de Engenharia, disciplinas relacionadas com a análise de sinais e sistemas são muitas vezes de difícil assimilação devido ao sólido conteúdo matemático envolvido [5]. Uma alternativa para tal é a utilização de uma ferramenta onde o usuário possa reforçar seus conhecimentos de forma interativa [6].
Sendo assim, este trabalho surgiu da necessidade de auxílio à prática na área de Processamento Digital de Sinais, visando principalmente permitir que o aluno possa dispor de um software simples e de baixo custo. São seus objetivos: 1) implementar uma interface de fácil utilização; 2) calcular filtros digitais e apresentar a resposta em freqüência (ganho e fase) dos mesmos; 3) permitir a simulação de um filtro digital através da análise de sua resposta no tempo para sinais de entrada
específicos; 4) permitir a realização gráfica e numérica da operação de convolução e 5) proceder a leitura de um sinal amostrado de qualquer natureza, apresentando sua forma de onda e seu respectivo espectro.
O sistema foi totalmente desenvolvido em Delphi, versão 3.0, fazendo-se uso do Object Pascal.
Metodologia
Pode-se representar basicamente o sistema através do diagrama da figura 1.
A«iulvoemOls;co
Figura 1 - Representação básica do sistema
Nesta representação, as técnicas de processamento de sinais a serem empregadas estão associadas às funções matemáticas e alguns algoritmos específicos.
Ao ser iniciado, o sistema permanece em uma janela principal até o instante em que o usuário demande alguma ação por parte do mesmo. As ações desenvolvidas, tidas como potencialidades são:
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
e Projeto e geração de filtros digitais através da inserção, remoção ou movimentação de pólos e zeros no plano "z'', através da interação do usuário como mesmo;
e Apresentação de listas contendo informações básicas sobre o filtro gerado, como é o caso dos pólos e zeros e da função de transferência através de seus coeficientes;
e Ensaio do filtro digital gerado, submetendo-o a sinais previamente escolhidos (impulso e degrau unitário, entre outros), obtendo os resultados numérico e gráfico nos domínios do tempo e da freqüência;
e Leitura de um arquivo contendo um sinal (biomédico ou não) amostrado, possibilitando a visualização gráfica do mesmo, bem como o módulo de sua Transformada Rápida de Fourier (FFT), uma vez que a fase é geralmente muito complexa, não trazendo grande contribuição;
e Realização da operação de convolução entre dois sinais quaisquer, apresentando-se os resultados numérico e gráfico.
Resultados
Utilizaram-se diversas combinações de valores na fase de validação e testes do sistema, porém somente algumas delas são aqui citadas. Inicialmente apresentase um exemplo completo de utilização do sistema no projeto e geração de um filtro digital, bem como o seu ensaio através da aplicação de um sinal de entrada.
A localização dos pólos e zeros (arbitrariamente escolhidos) foi a seguinte:
e Zeros: e Pólos:
Z1 = O + j ; Z2 = O - j P1 =O+ j0.5 ; P2 =O - j0.5
Após a inserção via mouse ( há também a possibilidade de entrada via teclado) de tais componentes, são geradas e apresentadas as curvas de resposta em freqüência do filtro. A figura 2 mostra a janela principal, que contém o plano "z", onde estão dispostos os pólos e zeros, e as curvas de ganho e fase do filtro em questão.
Figura 2 - Janela principal, mostrando o plano "z" e as curvas do filtro projetado.
385
Através da figura 2, pode-se notar que se trata de um filtro de resposta infinita ao impulso (IIR) do tipo corta-faixa, com ganho nulo em.f= fs/4 (8= n/2). Podese observar que na parte superior central desta janela (figura 2) estão dispostos os valores do ganho (1.6) e da fase (O) para f = O ( 8 = O). A figura 3 é o resultado da solicitação (via botão ou via menu) de visualização das listas contendo informações sobre o filtro (pólos, zeros, H(z) e equação do sinal de saída).
Pó!o5 e Zeros
ZCHOS 0+11 u-11
-i:--"6Loso..-o.s1 U-ÜSJ
Funçbo da trMslerêncm em z
--NUlv1E;R.ADOH -1 "'r-2 o·r-1 1 "'Z"'...(l
-oErWMINADoR-0.2S"Z~-2 o·z--1 1 ·z·-0
Figura 3 - Caixa de diálogo das listas contendo as informações sobre o filtro manipulado.
No ensaio do filtro, utilizou-se como sinal de entrada um trecho de um eletroencefalograma (EEG). Através da figura 4 é possível observar as primeiras 300 amostras dos sinais de entrada e de saída do filtro em questão, bem como seus espectros em amplitude.
Figura 4 - Caixa de diálogo contendo sinais de entrada e de saída do filtro, bem como espectros.
Para os casos em que se deseja somente observar o aspecto de um sinal amostrado e o seu espectro básico, o usuário pode rapidamente acessar outra janela. Um exemplo de utilização da mesma é mostrado na figura 5, onde são apresentadas as primeiras 400 amostras de um sinal eletrocardiográfico (ECG), com o seu referido espectro.
Figura 5 - Caixa de diálogo onde são apresentados sinais amostrados lidos de arquivos, juntamente com o
espectro em amplitude.
ANAIS DO CBEB'2000 Educação e Formação de Recursos Humanos
Foi utilizado como um dos sinais, na operação de convolução, a resposta ao impulso de um filtro prómediador contendo 5 amostras, o qual é pré-definido. O outro sinal escolhido foi o mesmo sinal de EEG descrito anteriormente, porém somente as 128 primeiras amostras foram utilizadas. Os resultados desta operação estão apresentados na figura 6.
Figura 6 - Resultados e operação de convolução.
Discussão e Conclusões
No projeto e desenvolvimento de um sistema computacional na área de Processamento Digital de Sinais, uma das maiores dificuldades é a escolha das rotinas e funcionalidades mais relevantes. Para tirar esta dúvida, o sistema desenvolvido foi testado por alunos de diversos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia (Elétrica, Eletrônica e de Computação) do CEFET-PR e da PUC-PR, que cursavam disciplinas como Sinais e Sistemas e Processamento Digital de Sinais. Como resultado, verificou-se a facilidade que estes tiveram para domínio do software e, de uma forma mais ampla, foi possível constatar um rendimento maior por parte destes alunos, que puderam instalar facilmente o mesmo em seus computadores pessoais e resolver, com maior rapidez e grau de compreensão, um número bem mais amplo de exercícios sugeridos. Alunos de turmas anteriores, por sua vez, só faziam uso de calculadoras (nem sempre programáveis), software não dedicado ou software dedicado de elevado custo, por demais sofisticado para ser absorvido em um curto de espaço de tempo e disponível tão somente na universidade, ao qual raramente os alunos tinham acesso. Era comum, no caso do CEFET-PR, os alunos serem levados a um laboratório onde apenas viam algumas demonstrações dadas pelo professor através do uso do software dedicado.
Com base na incorporação de rotinas diversificadas, tais como a análise e geração de filtros digitais, convolução, manipulação e visualização de sinais amostrados, entre outros, o sistema descrito pode ser considerado versátil. Este software, que se caracteriza principalmente pelo seu baixo custo e simplicidade, deverá ainda ser aprimorado, de modo a
386
permitir outras formas mais sofisticadas de projeto e ensaio de filtros digitais, mas sem perder tais características.
Agradecimentos
Os autores agradecem a colaboração do Engenheiro Charles Roberto Stempniak pelo auxílio na elaboração dos algoritmos.
Referências
[l] Gadotti, Moacir, "História das Idéias Pedagógicas", Ed. Ática, São Paulo, 1993.
[2] Kozma, R., "The Implications of Cognitive Psychology for Computer-Based-Learnig Tools ", Educational Technology, 27, vol. 11, pp. 20-25, 1987.
[3] Lima, Igor A., "Um Sistema Didático de Auxílio á Aprendizagem na Área de Processamento Digital de Sinais", Dissertação de Mestrado - CEFET-PR, Curitiba, 2000.
[4] Stelle, Álvaro L.. "Gerador de Varredura para.fins didáticos". Dissertação de Mestrado UNICAMP, Campinas, 1984.
[5] Stelle, A. L.; "The Importance Of Showing Transfer Functions ln Three Dimensions ". International Congress on Engineering Education ICEE98, n. 324, Section 21, publicado em CD-ROM, Rio de Janeiro (RJ), 1998.
[6] Easton Jr., Roger L., "Signals: Interactive Software for One-Dimensional Signal Processing, Computer applications in Engineering Education ", vol. 1(6), pp. 489-501, 1983.
















































































































































































































































































































































































































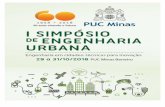






![[Anais do 14º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente] Modelo ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ec12e5c567f54b404333f/anais-do-14o-simposio-brasileiro-de-automacao-inteligente-modelo-.jpg)

![Anais urbba[20] - WordPress.com](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339f59bed771360fc0caf7c/anais-urbba20-wordpresscom.jpg)