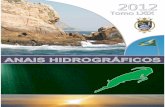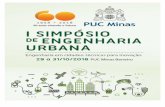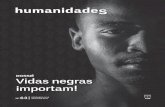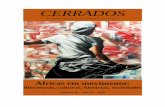ANAIS ELETRÔNICOS - GECAL-UnB
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of ANAIS ELETRÔNICOS - GECAL-UnB
ANAIS ELETRÔNICOS
2017
De 16 a 20 de outubro de 2017FINATEC/UnB - Brasília - DF
Realização Apoio
UnB
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE LETRAS
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, PORTUGUÊS E LÍNGUAS CLÁSSICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA
GRUPO DE ESTUDOS CRÍTICOS E AVANÇADOS EM LINGUAGEM
Anais da I Conferência Internacional
de Estudos da Linguagem
Número 1, 2019, v. único.
Juscelino Francisco do Nascimento
Kleber Aparecido da Silva
Organizadores
Brasília
2019
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Karolina de Azevêdo Gomes
Edinei Carvalho dos Santos
Eduardo Dias da Silva
Elda Alves Oliveira Ivo
Elkerlane Martins de Araújo Moraes
Joseane Severo dos Santos
Juscelino Francisco do Nascimento
Kleber Aparecido da Silva
Lanisson Araújo Gonçalves
Rodriana Dias Coelho Costa
Sônia Margarida Ribeiro Guedes
COMISSÃO CIENTÍFICA
Ana Paula Martinez Duboc (USP)
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)
Carine Schenekenberg Guedes (IFB)
Catia Regina Braga Martins (UnB)
Christine Siqueira Nicolaides (UFRJ)
Darcilia Marindir Pinto Simoes (UERJ)
Ester Maria de Figueiredo Souza (UESB)
Jose Luiz Vila Real Goncalves (UFOP)
Leandra Ines Seganfredo Santos (UNEMAT)
Monica Maria Guimaraes Savedra (UFF)
Orlando Vian Junior (UNIFESP)
Pedro Henrique Lima Praxedes (UECE)
Rodrigo Camargo Aragao (UESC)
Rosane Rocha Pessoa (UFG)
Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva (UFMG)
Veruska Ribeiro Machado (IFB)
Viviane De Melo Resende (UnB)
Copyright 2019 © Juscelino Francisco do Nascimento e Kleber Aparecido da Silva (Orgs.). É
proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa dos autores e
organizadores.
Todos os textos são de inteira responsabilidade dos respectivos autores
Capa
Gabriel Estrela da Silva
FICHA CATALOGRÁFICA
Serviço de Processamento Técnico da Universidade Federal do Piauí
Biblioteca José Albano de Macêdo
Maria José Rodrigues de Castro CRB -3 CE-001510/O
C748a [CIELIN Conferência Internacional de Estudos de Linguagem] ( 2017
: Brasília, DF)
Anais da Conferência Internacional de Estudos de Linguagem
[Recurso Eletrônico] / Conferência Internacional de Estudos da
Linguagem, 16 a 20 de outubro de 2017, Brasília, DF ; Organizado por
Juscelino Francisco do Nascimento, Kleber Aparecido da Silva –
Brasília: FINATEC, UnB, 2017.
Disponível em: https://gecal-unb.com.br
ISSN : 2604-5836
1. Linguagem-Estudos. 2. Plurilinguismo. 3. Pesquisa e Ensino. I.
Silva, Kleber Aparecido da, org. II. Nascimento, Juscelino Francisco
do, org. III. Título.
CDD 419
APRESENTAÇÃO
Os eventos científicos são lugares privilegiados para divulgar e conhecer as últimas
pesquisas desenvolvidas e as pesquisas em desenvolvimento. A I Conferência Internacional
de Estudos da Linguagem (CIELIN) foi proposta e organizada pelo Grupo de Estudos Críticos
e Avançados em Linguagens (GECAL), liderado pelo Prof. Dr. Kleber Aparecido da Silva, da
Universidade de Brasília (UnB), e contou com a participação de centenas de pesquisadores de
todo o país e de outros países. Atualmente, o evento faz parte do calendário bienal de grandes
eventos das áreas de Letras e Linguística e alcança reconhecimento nacional e internacional.
A I CIELIN buscou atrelar o conhecimento científico às questões da vida e da
sociedade e teve como maior objetivo reunir reflexões de estudiosos e pesquisadores
conscientes de suas posições como agentes da convergência entre a experiência e o pensar, a
teoria e a prática, o conhecimento científico e as relações sociais.
Dessa forma, nessa edição, realizada em 2017, a CIELIN apresentou e discutiu
criticamente questões relacionadas às Ciências da Linguagem em tempos de crise.
Proporcionou debates, discussões e trocas epistemológicas entre graduandos, pós-graduandos,
professores de educação básica, além de pesquisadores nacionais e internacionais. Todos estes
tiveram a oportunidade de aderir suas reflexões a uma, ou mais, das seguintes temáticas:
(Multi)Letramentos; Tecnologia e Linguagem; Educação (Inter)cultural; Plurilinguismo;
Ensino-Aprendizagem de Língua(s); Educação Docente; Linguagem, Discurso e Sociedade;
Identidade(s) e Subjetividades; Ética; Estudos dos Gêneros; Tradução; Materiais Didáticos;
Multimodalidade; Sociolinguística e Políticas Linguísticas.
O resultado das atividades realizadas no evento, e os trabalhos (com)partilhados, estão
sendo divulgados nestes Anais, visando ao benefício de toda a comunidade acadêmica.
Profa. Dra. Paula Cobucci
Faculdade de Educação
Universidade de Brasília
SUMÁRIO
AS “ASNEIRICES” DE EMÍLIA: O SUJEITO DISCURSIVO NO GÊNERO
LITERÁRIO..................................................................................................................06 Ana Luisa Macedo Raimundo e Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
MORAL DA HISTÓRIA: EM FÁBULAS RECONTADAS, A LINGUAGEM É
REINVENTADA...........................................................................................................17 Janielly dos Anjos Oliveira Dornelas e Antônio Carlos Gomes e Letícia Queiroz de Carvalho
A QUESTÃO DA SUBJETIVIDADE E A COMUNICAÇÃO: UMA REFLEXÃO
A PARTIR DA ANÁLISE DA OBRA LITERÁRIA INFANTIL “QUEM SOLTOU
O PUM?”........................................................................................................................32 Viviane de Moura Fonseca
LITERATURA EM RÁDIO: A VEZ E A VOZ DOS ADOLESCENTES..............45 Thayna Carpes
A CRÔNICA NA SALA DE AULA: UM ESTUDO SOBRE OS GÊNEROS DO
DISCURSO.....................................................................................................................60 Alcione Aparecida de Azevedo
PRESENÇA DA CRÔNICA NA SALA DEE AULA: FRUIÇÃO, LEITURA
ESCRITA.......................................................................................................................83 Cristiane Corrêa e Andreia Penha Delmaschio
A LEITURA COMO ESPAÇO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA: HÁ UM OUTRO CAMINHO?.........................................100 Heliud Luis Maia Moura
APRENDER E ENSINAR EM TODO LUGAR: OS ESPAÇOS PARA A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO.................................................................115 Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar
AS MÍDIAS WHATSAPP E FACEBOOK NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL....................................................127 Norma Malaquias dos Santos Bayer
OS PERCURSOS DA ATIVIDADE ORGANIZADORA DE ENSINO:
DESCREVER E ANALISAR.....................................................................................142
Marion Rodrigues Dariz e Fabiane Villela Marroni
OS MULTILETRAMENTOS E O LETRAMENTO CRÍTICO NA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS.........................................................................................160
Patricia da Silva Oliveira e Helenice Joviano Roque-Faria
EDUCAÇÃO: DESAFIOS E LIMITAÇOES DE IMIGRANTES E REFUGIADOS
NO ESPAÇO LOCAL.................................................................................................178 Vinícius Alves da Silva
FORMAR PARA TRANSFORMAR: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA E O PAPEL DA FORMAÇÃO CONTÍNUA NO CONTEXTO DE
CENTROS DE LÍNGUAS..........................................................................................193
Camila Mara Andrade Silva
INTERFERÊNCIA DA LÍNGUA MATERNA NO APRENDIZADO DA LÍNGUA
INGLESA: O USO DE SUBSTANTIVOS E DETERMINANTES POR ALUNOS
DE UMA ESCOLA DE IDIOMAS DO DISTRITO FEDERAL............................206
Raissa Barboza Ferreira
CRIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE
NACIONAL DE ASSUNÇÃO – PARAGUAI..........................................................223 Luís Eduardo Wexell Machado e Riciele Reis de Urbieta
REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES E ATORES SOCIAIS: OPORTUNIDADES
SOCIOEDUCACIONAIS NA SEÇÃO DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA DE
UM LIVRO DIDÁTICO.............................................................................................137 Maria Beatriz de Azevedo Ramos e Maria Eugenia Batista
ENSINO, CULTURA E VARIANTES DA LÍNGUA ESPANHOLA:UMA
ANÁLISE DE PORTAIS EDUCACIONAIS............................................................248 Célia Cristina Gautier Maria Xavier e Fabiane Villela Marroni
CONTRIBUIÇÕES DAS PERSPECTIVAS SOCIOLINGUÍSTICA E
SOCIOCOGNITIVISTA PARA O MULTILETRAMENTO.................................263 Cláudia Fernandes Benevenute
LETRAMENTOS E ETNOGRAFIA: A SITUAÇÃO ESCOLAR EM UMA
COMUNIDADE QUILOMBOLA EM PARACATU-MG......................................276
Luiz Henrique Gomes Silva
DO BANDEIRANTISMO AO ABANDONO URBANO: Paisagens Linguísticas
(De)Coloniais De Goiânia............................................................................................286
Karla Alves de Araújo França Castanheira
ANÁLISE DA METODOLOGIA DE ESTUDOS GEOLINGUÍSTICOS DA
REGIÃO NORTE DO BRASIL.................................................................................303
Bryana Connie Linda Lopes Batista
LÍNGUAS EM CONTATO: A INFLUÊNCIA DA LÍNGUA ESPANHOLA NA
FORMAÇÃO DO LÉXICO DO PORTUGUÊS FALADO EM TABATINGA-
AM.................................................................................................................................311
Dayane Lima Viana e Herbert Luiz Braga Ferreira
DEFICIENTE AUDITIVO OU SURDO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES........326 Sílvia Cleide Piquiá dos Santos e Ilza Galvão Cutrim
UMA PETIÇÃO SURDA PELO RECONHECIMENTO DA LÍNGUA DE SINAIS
NOS ESTADOS UNIDOS....... ...................................................................................338 Alexandre Guedes Pereira Xavier
CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES NA MACRO E
MICROESTRUTURA DE DICIONÁRIOS DE LIBRAS.......................................355 Érika Lourrane Leôncio Lima
LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: A CONSTRUÇÃO DE UM
SIMULACRO..............................................................................................................367
Luciano Taveira de Azevedo
EPILINGUISMO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA
PARA REFLEXÃO.....................................................................................................381
Regina Célia Peccini Fonseca Silva e Etelvo Ramos Filho
ATIVIDADE EPILINGUÍSTICA NA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA A
PARTIR DA LINGUAGEM SINCRÉTICA............................................................391
Ana Paula Cardoso dos Santos Tavares e Sandra Mara Mendes da Silva Bassani
A HISTÓRIA DO CÉSIO: ANÁLISE DE GRAFITE E SUAS RELAÇÕES
DIALÓGICAS.............................................................................................................406
Célia Helena VASCONCELOS
LER OU NÃO LER, EIS AA QUESTÃO: UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES
DE LEITURA EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGRESA....................421 Claudiane Felix de Moura
REFLEXÕES SOBRE A ABORDAGEM DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO
LIVRO DIDÁTICO E NA PRÁTICA DOCENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA:
POLÍTICAS E IDEOLOGIA.....................................................................................437 Alexandra Nunes Santana
O PODER DA PALAVRA EM HAROUN E O MAR DE HISTÓRIAS..................452 Silas Rodrigues Machado
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A NECESSIDADE DE DISCUTIRMOS
O QUE SEJA E COMO ENSINAR GRAMÁTICA.................................................465 Hermes Talles dos Santos
TEORIA DA RELEVÂNCIA: A RELAÇÃO ENTRE COGNIÇÃO E
INTERPRETAÇÃO ...................................................................................................479 Ericiane Marilisa de Ramos
O SUJEITO APRENDIZ E O ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA
DE PROPAGANDAS OFICIAIS...............................................................................490
Janaina de Jesus Santos
UM OLHAR SOBRE O ETHOS DISCURSIVO DE ARNALDO JABOR
A MENÇÃO IRÔNICA NA CRÔNICA POLÍTICA...............................................503
Jefferson Freitas dos Santos e Patrícia Ferreira Neves Ribeiro
ANÁLISES DIACRÔNICAS DE DOIS FENÔMENOS ORAIS PARA O ESTUDO
DO RITMO DO FRANCÊS FALADO NUM GRUPO RITMICO
PORTUGUÊS..............................................................................................................518
Rudy Kohwer
DESAFIOS PARA UMA PRESENÇA EMPÁTICA NA COMUNICAÇÃO COM
USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS......................................................533 Ernani Coimbra de Oliveira e José Carlos Gonçalves e Isabel Cristina Adão Schiavon e Stela Cabral de
Andrade
TRADUTOR OU MUSICISTA? DIFERENTES SOLUÇÕES TRADUTÓRIAS
PARA UM TRATADO ITALIANO DE MÚSICA DO SÉCULO XVII................547
Tatiane Marques Calloni
A ELABORAÇÃO DE DICIONÁRIO POR MEIO DO USO DE FERRAMENTAS
DA LINGUÍSTICA DE CORPUS..............................................................................557
Michelle Machado de Oliveira Vilarinho
ESTUDOS ESTILÍSTICOS DE GLADSTONE CHAVES DE MELO: UM
PERCURSO HISTORIOGRÁFICO-LINGUÍSTICO.............................................568
Vanessa Ghilardi-Fossã
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA
LINGUÍSTICA: UMA INVESTIGAÇÃO DO BANCO DE TESES DA
CAPES..........................................................................................................................579
Stela Cabral de Andrade e Telma Cristina de Almeida Silva Pereira e Ernani Coimbra de Oliveira
IMPLICAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS DOS DIAGNÓSTICOS: DE RETARDO
MENTAL À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL........................................................592 Sabrina Lourenço Teles
O ESPERANTO COMO PROJETO DE EXTENSÃO EM ENGENHARIA.......608 Luiz Claudio Oliveira
6
AS “ASNEIRICES” DE EMÍLIA: O SUJEITO DISCURSIVO NO GÊNERO
LITERÁRIO
Ana Luisa Macedo Raimundo (UFG)
Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (UFG)
Resumo: Este estudo procura analisar, segundo as concepções da Análise do Discurso de Linha
Francesa e os conceitos teóricos acerca da linguagem do Círculo de Bakhtin, os enunciados da
boneca Emília, da obra Sítio do Picapau Amarelo de Monteiro Lobato. Buscamos entender seus
efeitos de sentido e como se dá a formação deste sujeito discursivo adjetivado como torneirinha
de asneiras, a partir da perspectiva de seus interlocutores na obra (outros personagens) e fora da
obra (seus leitores). Para a análise foram selecionados enunciados da boneca em situações de
diálogo com outras personagens do Sítio em diversas obras da saga Sítio do Picapau Amarelo,
nos quais os ditos da personagem são caracterizados como asneiras. Para esse estudo, partimos
dos conceitos de ideologia e sujeito propostos por Bakhtin/Volochínov. Nosso objetivo é
demonstrar como Emília, personagem do início do século XX, é, ainda hoje, inovadora e
transgressora, capaz de encantar crianças, jovens e adultos por sua autonomia e poder de
questionar padrões e normas sociais, explicando, assim, a razão dessa adjetivação de seus
enunciados e como seus efeitos de sentido revelam mais do que asneiras e/ou fuga da lógica ou
razão, mas uma voz de resistência às condições dadas à criança através da voz do adulto.
Palavras-chave: Emília. Monteiro Lobato. Bakhtin.
Abstract: This study tries to analyze, according to the conceptions of the Analysis of the
French Line Discourse and the theoretical concepts about the language of the Bakhtin Circle,
the statements of the Emília doll, from the Sítio do Picapau Amarelo of Monteiro Lobato. We
seek to understand its effects of meaning and how the formation of this discursive subject is
perceived as a turning point of blunders, from the perspective of its interlocutors in the work
(other characters) and outside the work (its readers). For the analysis were selected statements
of the doll in situations of dialogue with other characters of the Site in several works of the Saga
of the Yellow Picapau saga, in which the sayings of the character are characterized as blunders.
For this study, we start from the concepts of ideology and subject proposed by Bakhtin /
Volochínov. Our goal is to demonstrate how Emília, a character from the beginning of the 20th
century, is still innovative and transgressive, capable of enchanting children, youth and adults
for their autonomy and power to question social norms and standards, thus explaining the reason
for this adjectivation of their statements and how their effects of meaning reveal more than
nonsense and / or flight of logic or reason, but a voice of resistance to the conditions given to
the child through the voice of the adult.
Keywords: Emília. Monteiro Lobato. Bakhtin.
7
1 INTRODUÇÃO
Em sua primeira obra infantil, Monteiro Lobato nos presenteia com uma das
personagens mais populares de nossa literatura: Emília. De personagem secundária, a
boneca assume papel literário como protagonista de diversas histórias da saga. Lobato
publicou dos anos 1920 até o final dos anos 1940 as aventuras da turma do Sítio, em um
total de 23 livros, sendo três títulos com o nome da boneca: Emília no País da
Gramática (1934), Aritmética da Emília (1935) e Memórias da Emília (1936). Outra
personagem que também aparece nos títulos das obras é Dona Benta, mas em número
menor: Geografia da Dona Benta (1935) e Serões de Dona Benta (1937). Os outros
personagens centrais da história: Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia e o Visconde dão
nomes a um livro cada um.
A popularidade da boneca, que atravessa o século XX e entra pelo século XXI
ainda promovendo prazerosos momentos de leitura e reflexão, pode ser predicada às
suas ideias inovadoras que propõem uma ruptura com o padrão. Uma amostra disto são
as palavras de Narizinho, a princípio dona da boneca e depois amiga e companheira de
aventuras e descobertas, apresentadas nesta epígrafe: “As ideias de Emília hão de ser
sempre novidades”. (MONTEIRO LOBATO; 2005, p. 20). Parece que a menina já nos
antecipa a grande marca característica de Emília: a novidade, a reavaliação do que está
posto e as propostas inovadoras. Porém, essas particularidades da boneca só são
possíveis de se constatar a partir de um episódio singular: o momento em que a boneca
adquiriu a capacidade de enunciar.
No livro Reinações de Narizinho, publicado a primeira vez em 1931, a menina,
durante uma viagem ao Reino das Águas Claras, solicita ao doutor Caramujo uma
solução para a mudez da boneca. Então ele dá à Emília uma pílula falante que promove
a grande reviravolta da personagem que,
atinge um outro patamar, transformando-se de reles boneca de trapo e
macela- igual a tantos outros comuns brinquedos do cotidiano lúdico
infantil - na irresistível, cintilante, inusitada e espevitada criatura a
encantar e desconcertar a todos nós, leitores das suas estripulias geniais.
(QUINTAES, 2005, p. 2).
Segundo Bakhtin/Volochínov a dialética que envolve o interior psíquico e o
exterior social se dá por meio do ato de fala, da enunciação (2014, p. 67). É o fato de
enunciar, sua capacidade de interagir por meio da linguagem, que dá à Emília novo
papel social na atmosfera da narrativa, pois a insere na cadeia de interações sociais.
8
Nessa nova perspectiva, a boneca, por meio de seus enunciados, apresenta seu
posicionamento ideológico discursivo, pois “a palavra é o fenômeno ideológico por
excelência. ” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 36).
Porém, nas situações de interação entre Emília e alguns personagens do Sítio,
seus enunciados são adjetivados como asneiras e a própria boneca como uma
torneirinha de asneiras
A boneca não sabia, mas não se atrapalhava na resposta, Emília nunca se
atrapalhou nas suas respostas. Dizia as maiores asneiras do mundo, mas
respondia.” (...); “Dona Benta voltou-se para tia Nastácia. – Esta Emília
diz tanta asneira que é quase impossível conversar com ela. Chega a
atrapalhar a gente. (MONTEIRO LOBATO, Reinações de Narizinho,
2005, p. 21)
- E onde fica esse país? – perguntou ela.
- Isso é lá com o rinoceronte – respondeu o menino. Pelo que diz a
Emília, esse paquiderme é um grandessíssimo gramático.
- Com aquele cascão todo?
- É exatamente o cascão gramatical – asneirou Emília, que vinha entrando
com o Visconde. (MONTEIRO LOBATO, Emília no País da Gramática,
2009, p. 15)
- Por que os rinocerontes têm chifres no nariz e as bonecas nem nariz têm.
- Diga logo que são seres de espécies diferentes, porque a única diferença
que há entre uma boneca e um rinoceronte não é apenas essa de chifre no
nariz. É também que um diz asneirinhas e o outro não... (MONTEIRO
LOBATO, Aritmética da Emília, 2009, p. 16)
Segundo o dicionário Soares Amora da Língua Portuguesa, asneira significa
grande tolice, burrice. (2009, p. 61). Ao analisarmos os enunciados da boneca
percebemos que eles não apresentam falta de inteligência, mas, muitas vezes,
contrariam normas e padrões ou propõem uma nova perspectiva sobre as coisas.
Assim, nesse artigo propomos analisar os enunciados de Emília, a fim de
entendermos a definição dada por seus interlocutores de asneirices ao que a boneca
enuncia. Também pretendemos verificar, por meio dos mesmos, as rupturas de padrão
propostos pela voz da personagem naquele contexto de produção e circulação do início
do século XX e como, ainda hoje, ela consegue ser tão inovadora. Para este estudo,
partimos dos fundamentos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa com base
nos conceitos propostos por Bakhtin/Volochínov, em especial as noções de enunciação
e sujeito.
2 Fundamentação Teórica
9
Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), Bakhtin/Volochínov
propõem uma reflexão sobre a real natureza dos fenômenos linguísticos como material
da criação ideológica, a partir de uma perspectiva dialética da realidade. Faraco aponta
que os autores pretendiam “contribuir criticamente para a construção de uma teoria de
base marxista da criação ideológica” (2009, p. 45). Pois concluíram que as orientações
do subjetivismo individualista e do objetivismo abstrato, correntes de pensamento mais
relevantes nos estudos linguísticos da época, desconsideravam a natureza
socioideológica da linguagem.
Bakhtin/Volochínov partem do signo como objeto de
representação/materialização da ideologia
Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social)
como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo;
mas, ao contrário destes,ele também reflete e refrata uma outra realidade,
que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete
a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que é
ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. (2014, p. 31)
Segundo Miotello, a ideologia para Bakhtin/Volochínov é entendida “como a
expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais do homem”
(2012, p. 171) sendo o signo o meio de intermediação dessas relações. Dessa forma, os
autores criticam a filosofia idealista e a visão psicologista que apresentavam a ideologia,
respectivamente, como algo já dado/prévio ou como produto subjetivo, situado na
consciência. Para eles “a própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade
mediante a encarnação material em signos” (2014, p. 34).
Assim, segundo essas noções, Emília apresenta posicionamentos ideológicos, a
partir do surgimento de sua consciência, que se dá na interação verbal por meio da troca
de signos em um exercício de compreensão e resposta perante seus interlocutores
através da linguagem, da enunciação.
Para Bakhtin/Volochínov a enunciação é o ato de fala em um contexto
imediato permeado pelas mudanças sociais. É na enunciação que podermos acessar os
conteúdos e os tipos de discursos sobre as ideologias e suas transformações (2014, p.
42). Assim, ao tomar a enunciação/enunciados como ponto de análise devemos levar em
conta outros conceitos que dialogam, segundo a própria perspectiva bakhtiniana, como
o seu contexto imediato de caráter único e irrepetível, os discursos que a partir deles se
materializam e se propagam e os interlocutores da enunciação/enunciado.
Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta
a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo na cadeia
10
dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava
uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da compreensão,
antecipa-as. Cada inscrição constitui uma parte inalienável da ciência ou
da literatura ou da vida política. Uma inscrição como toda enunciação
monológica, é produzida para ser compreendida, é orientada para uma
leitura no contexto da vida científica ou da realidade literária do
momento, isto é, no contexto do processo ideológico do qual ela é parte
integrante. (2014, p. 101)
Ao tomarmos a enunciação/enunciados de Emília na saga O Sítio do Picapau
Amarelo (1920), devemos levar em consideração toda a particularidade do texto, como
enunciação literária na forma imobilizada, mas que faz parte de um processo social e
que, por isso, produz sentidos que são renovados a cada época.
Um dos elos da circularidade que forma o enunciado é o sujeito discursivo
entendido não como indivíduo pleno em sua consciência, mas como ser que se constitui
na interação social por meio da linguagem. Um sujeito que se revela e se constitui com
o auxílio do outro numa situação dialógica ininterrupta. Ele enuncia e de sua fala
enunciam outras vozes advindas do processo de interação social (FERNANDES 2011,
p. 242). Dessa forma, ao tomarmos os enunciados da personagem lobatiana, devemos
considerá-la como sujeito discursivo em constante constituição a partir do espaço
socioideológico em que se inscreve e dos enunciados com os quais dialoga. É nessa
interação por meio de enunciados formados pela palavra que o sujeito, em um processo
de compreensão, forma uma réplica, uma contrapalavra (PIRES; TAMANINI-
ADAMES, 2010, p. 67) em direção ao seu interlocutor. Assim, dentro do mesmo
contexto interacional nos deparamos com os conflitos ideológicos.
É a partir de todas essas relações dialógicas que engendram a cadeia
enunciativa, que conseguimos acessar os discursos e perceber os efeitos de sentidos
gerados pela interação entre os sujeitos e seus enunciados. Portanto, partimos desses
pressupostos e conceitos para a análise dos enunciados da boneca Emília e o valor de
asneirices dados a esses, por seus interlocutores.
3 ANÁLISE DE DADOS
Monteiro Lobato (1882-1948) foi um grande escritor brasileiro. As histórias
infantis produzidas pelo autor começaram a ser publicadas no país no ano de 1920. Seu
11
primeiro título foi A Menina do Narizinho Arrebitado (1920), no qual ele nos apresenta
a Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Emília, Visconde de Sabugosa e todo
um leque de personagens que circulam em uma realidade ligada à vida no campo.
Um traço marcante na obra lobatiana e que, possivelmente, justifica seu
sucesso de público desde suas publicações até hoje é a linguagem. Segundo Silva “o
registro de linguagem é o primeiro diferencial da obra infantil lobatiana, e o
coloquialismo apresenta-se como marca formal dominante em seu discurso” (SILVA,
2007, p. 183) Essa forma de narrar utilizando a linguagem mais próxima da fala, nos
textos voltados para as crianças, é um exemplo de dialogismo que Lobato promove
entre sua obra e seus leitores: o reconhecimento linguístico, ou seja, as vozes que
enunciam na obra literária se apresentam próximas a linguagem utilizada pelas crianças
em suas interações. Por meio da linguagem o autor inova, pois dá espaço discursivo
para as crianças questionarem e dizerem o que pensam. Ele propõe que, “todo mundo
podia sair ganhando com o diálogo” (CAMARGOS; SACHETTA, 2009, p. 7)
Dessa forma, consideramos, para este estudo, os enunciados da boneca Emília,
pois é por meio desses que ela passa a agir sobre sua própria história e sobre as histórias
que se passam no Sítio. Através de seus enunciados temos a contestação de normas,
padrões e de tentativas reducionistas de explicações, o que demonstra o aspecto
dialógico que a obra propõe entre o espaço discursivo adulto e infantil.
Os enunciados dessa personagem explicitam o caráter dialógico na obra e a sua
revolução na literatura infantil brasileira, pois até surgirem os livros de Lobato, segundo
Silva, as obras infantis eram destinadas à prática escolar a fim de promover a educação
moral das crianças e jovens (SILVA, 2007, p. 177). Em seus enunciados Emília, além
de questionar os padrões da época, propunha novas formas de se pensar sobre os
homens e suas relações. Assim, suas ideias vão ganhando um espaço cada vez maior nas
narrativas. Para Bakhtin/Volochínov é o contexto sócio histórico e suas ideologias
presentes que justificam o aparecimento de determinados obras e personagens no
conjunto social da vida, numa relação dialógica entre o homem, suas produções e a
sociedade (2014, p. 41).
Em todas as obras da saga Emília ocupa um lugar central nas narrativas, seja
propondo aventuras, resolvendo problemas e até gerando-os, como é o caso da obra A
Chave do Tamanho (1942), na qual Emília, depois de ver o sofrimento de Dona Benta
diante do contexto da II Guerra Mundial (1939-1945) que assolava, principalmente a
Europa, decide desligar a chave da guerra com a ajuda do pó de pirlimpimpim, mas
12
acaba desligando a chave que regula o tamanho das pessoas. Mesmo essa obra não
levando seu nome, Emília é o elemento central de toda narrativa.
Esse fato justifica-se, pois para Emília, a lógica do mundo e das coisas segue
um padrão todo seu, a boneca apresenta para seus interlocutores (personagens e
leitores), por meio de seus enunciados, novidades e rupturas de pensamento que os
deixa sem palavras. Porém, o que provoca em seus leitores reflexões, para os
personagens, que com ela convivem geram o sentido de asneira, tolice, burrice. Aliás,
essa é a grande referência que Emília tem para todos os personagens com quem ela
convive, dessa forma cabe, enquanto leitores nos perguntarmos: as asneirices de Emília
são realmente ideias desconsideráveis ou sem lógica?
Levando-se em consideração que Emília não interagiu verbalmente com seus
interlocutores, desde o princípio, pois é só depois de ingerir uma pílula falante, a pedido
de Narizinho, em uma viagem ao Reino das Águas Claras (LOBATO 2005, p. 19),
pode-se atribuir a esse fato um descompasso de sua fala e também de seu pensamento
(VELOSO 2013, p. 122).
Dessa forma, é possível compreender por que quando Emília começa a falar,
depois de ingerir a pílula falante do dr. Caramujo, ela conversa durante três horas
seguidas, mas nada do que ela diz é abordado na narrativa, pois há ali apenas o ato
fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido de sentido (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2014, p. 36).
. Quando ela passa a interagir, se relacionar socialmente por meio dos signos,
seu pensamento adquire uma organização lógica pautado na relação com o outro, daí
começamos, enquanto leitores, ter acesso aos dizeres da boneca.
A lógica, agora presente na organização de seus enunciados, parece não atingir
o conteúdo dos mesmos. Para Bakhtin/Volochínov os conteúdos são atualizados
entre indivíduos, no meio social, é portanto indispensável que o objeto
adquira uma significação interindividual; somente então é que ele poderá
ocasionar a formação de um signo. Em outras palavras, não pode entrar
no domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que
adquiriu um valor social. É por isso que todos os índices de valor com
características ideológicas, ainda que realizados pela voz dos indivíduos
(por exemplo, na palavra) ou, de modo mais geral, por um organismo
individual, constituem índices sociais de valor, com pretensões ao
consenso social, e apenas em nome deste consenso é que eles se
exteriorizam no material ideológico. (2014, p. 46)
É, então, a partir da lógica dos conteúdos de seus enunciados, que seus
interlocutores atribuem os índices de valor de asneirenta para a boneca. Esse fato,
13
Emília ser uma boneca, pode vir a ser um dos fatores que expliquem a lógica de sentido
de seus enunciados, afinal sua convivência se dá, primeiramente, apenas com crianças e
seu mundo de fantasia. Mesmo ela apresentando características humanas, como fala,
pensamento e atitudes, ela é uma boneca. Nos livros da saga, esse fato é sempre
explicitado marcando alguma característica que diferencia Emília dos meninos, como
não chorar, não morrer e não aparentar sentimentos. O que justificaria, assim, um
discurso dissonante no contexto social dos outros personagens humanos, por isso uma
valorização pejorativa em relação ao seu material ideológico.
Para Sandroni, Emília é vista “por muitos como alter ego de Lobato, através de
quem ele emite os seus pontos de vista, denuncia os absurdos do mundo civilizado, ri da
empáfia dos sábios e poderosos. Sendo uma boneca, ela está livre das obrigações sociais
impostas pela educação à criança. Ela pode dizer o que pensa sem nenhum tipo de
coerção. ” (1987). Pela atitude constante de questionar padrões e imposições sociais,
vemos em Emília uma forma de resistência e, assim, seu lugar discursivo é marcado de
torneirinha de asneiras. É a sua atitude de enfrentamento que a tira do eixo da lógica, do
racional para seus interlocutores.
Vejamos, como exemplo, a narrativa Emília no País da Gramática (1934), nela
Pedrinho é convidado por dona Benta para algumas lições de Gramática. Mesmo com
uma resistência inicial, o menino resolve assistir às aulas da avó e passa a ser
acompanhado de Emília, que logo tem uma grande ideia: “por que, em vez de ficarmos
aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no País da Gramática? ”
(2009, p. 14). A boneca, nesta fala, caracteriza o conceito bakhtiniano de polifonia, ou
seja, um entrecruzamento de diferentes vozes e sujeitos ideologicamente distintos
(PIRES; TAMANINI-ADAMES, 2010, p. 66), como por exemplo, o do aluno que, na
escola, enxerga no professor e suas lições o tédio, desse mesmo aluno que vê, muitos de
seus conhecimentos e atribuições na escola, de forma abstrata, longe da vida real e
praticável. Assim os personagens do Sítio partem para uma aventura que propõe
conhecimento associado à criatividade. Em um enunciado da boneca no livro, ela
levanta a questão linguística da relação entre o significado e o significante.
_ Mas que relação há entre o nome Quindim, tão mimoso, e um
paquiderme cascudo destes? – perguntou o menino, ainda surpreso.
_ A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra Pedro – isto
é, nenhuma. Nome é nome; não precisa ter relação com o “nomado”. Eu
sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Hilda ou Cunegundes.
Quindim!... Como sempre fui a botadeira de nomes lá do sítio, resolvi
batizar o rinoceronte assim – e pronto! Vamos, Quindim, explique-nos
que cidades são aquelas. (2009, p. 18)
14
Neste enunciado a boneca apresenta um discurso acerca do funcionamento da
língua que, para seus leitores contemporâneos, parece ser muito próxima à forma de dar
sentido à língua hoje, mas para seus interlocutores, como mencionado no trecho acima,
não passam de asneiras, pois contrariam o que está posto como ideologia.
Bakhtin/Volochínov propõem que o sujeito reflete e refrata o signo, ou seja, em sua
palavra. O que determina para eles a refração do ser no signo, logo na ideologia, é o
confronto de interesses sociais (2014, p. 47). Dessa forma, a categorização de Emília,
através de seus ditos, em asneirenta demarca um jogo de luta entre classes, no caso da
narrativa se atribuiria ao fato de ela ser uma boneca e não uma criança.
No mesmo livro, Emília levanta uma reflexão sobre o trabalho e sua
remuneração:
E os Nomes Abstratos sãos os que marcam coisas que a gente quer que
existam, ou imagina que existem, como BONDADE, LEALDADE,
JUSTIÇA, AMOR.
_ E também DINHEIRO – sugeriu Emília.
_ DINHEIRO é Concreto, porque dinheiro existe – contestou Quindim.
_ Para mim e para Tia Nastácia é abstratíssimo. Ouço falar em dinheiro,
como ouço falar em JUSTIÇA, LEALDADE, AMOR; mas ver, pegar,
cheirar e botar no bolso dinheiro, isso nunca.
_ E aquele tostão novo que dei a você no dia do circo? – lembrou o
menino.
_ Tostão não é dinheiro, é cuspo de dinheiro – retorquiu Emília.
Depois daquela asneirinha, o rinoceronte continuou.” (MONTEIRO
LOBATO, 2009, p. 32).
Segundo Romeu, Emília “surge como a voz transgressora (...) que sempre
subverte a ordem do mundo adulto no Sítio do Picapau Amarelo(...) Faz o jogo verbal
do escritor, preocupado em levar ao público infantil um texto carregado de oralidade,
crítica e ironia. ” (2011)
Porém, essa voz que diz diferente do mundo da razão, de modo politicamente
inesperado, não surge ao acaso, mas é um reflexo do contexto sócio histórico de sua
criação e publicação. No início do século XX, o Brasil se encontrava no governo
Getúlio Vargas e o fascismo e nazismo ascendiam pela Europa. Assim, seu
aparecimento como voz transgressora e de resistência são marcados pelo contexto
socioideológico silenciador da época.
Em seus enunciados temos um sujeito entrecruzado por diferentes vozes e
discursos em oposição, que rompem com a tradição e colocam em xeque a ideologia
15
dominante. E, para seus interlocutores, o que resta é colocá-la no patamar de asneirice,
tentando manter a ordem das coisas como estão dadas.
Mas, para que seja ouvida, Emília usa, com certa frequência, vozes, explícitas
em seus enunciados, de outros sujeitos em uma tentativa de legitimar seu pensamento.
A boneca cita filósofos, escritores, dona Benta e, principalmente, o Visconde de
Sabugosa, intelectual que mora no Sítio. Em um enunciado da boneca na narrativa A
Chave do Tamanho (1942), durante um diálogo com dona Benta, ela traz um intertexto
de poetas para justificar seu ponto de vista sobre as mentiras que os adultos dizem:
“Estou vendo que tudo que gente grande diz são modos de dizer – continuou a pestinha.
- Isto é, são pequenas mentiras, e depois vivem dizendo às crianças que não mintam!
Ah! Ah! Ah! ... Os tais poetas, por exemplo. Que é que fazem senão mentir?”
(MONTEIRO LOBATO, 2008, p. 14)
A essa presença de diferentes vozes em um mesmo discurso,
Bakhtin/Volochínov (1929) denomina polifonia. Essa noção não consiste em apenas
uma referência a outros sujeitos e suas vozes de forma marcada no enunciado, mas se
refere à constituição de todo e qualquer enunciado, pois nele admitimos as vozes e
discursos do outro em um constante diálogo, seja negando-o, concordando, refutando,
reelaborando, reafirmando e etc.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, encontramos em Emília não uma voz asneirenta com enunciados
que fogem à lógica do mundo adulto ou do politicamente esperado, mas uma voz de
resistência em meio as condições dadas à criança pela voz do adulto. Seus enunciados
partem de um sujeito que, por seu papel no mundo de boneca, não se limitam aos
mesmos posicionamentos sócio discursivos das crianças e adultos. Emília enuncia para
uma mudança, para um horizonte em transformação que é o próprio lugar da
criança/jovem no mundo, fazendo suas reflexões e tirando conclusões a partir de suas
experiências.
Através de seus enunciados e todo o conjunto polifônico que os constituem,
apresenta-se a ideologia do novo, do inaugural, que enxerga nos homens e na sociedade
em que se encontra as verdadeiras asneiras e falta de lógica. Por isso contesta, questiona
e resiste. Para Bakhtin/Volochínov
16
A língua não se transmite, ela dura e perdura sob a forma de um processo
evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser
usada, eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor,
somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta
e começa a operar. (BAKHTIN;VOLOCHÍNOV, 2014, p. 111)
Entendendo a língua como um reflexo da própria sociedade e seu
funcionamento dinâmico, Emília, a partir do momento em que produz enunciados
também ganha acesso à sociedade, fazendo-se agora parte integrante desta. E como todo
sujeito, ela também vai se constituir na relação de troca com esse meio e seus
participantes, não de forma passiva, mas agindo sobre a mesma, interrogando-a,
propondo novos olhares, cruzando discursos e construindo novas sentidos. Assim nos
enunciados da boneca não encontramos asneiras ou tolices, mas uma forma de resistir às
asneiras e tolices do mundo adulto.
5 Referências
AMORA, A. S. Minidicionário Amora Soares da língua portuguesa. São Paulo:
Saraiva. 2009.
BAKHTIN/VOLOCHÍNOV. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel
Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec. 2014.
FARIA E SILVA, Bakhtin. In: OLIVEIRA, L. A. (org.) Estudos do discurso:
perspectivas teóricas. São Paulo: Parábola 2013.
FERNANDES, E. M. F. Pichações: discursos de resistência conforme
Foucault. Acta Scientiarum. Language and Culture, Paraná, 2011. Disponível em:
<http://periodicos.uem.br>. Acesso em: 12 set. 2016.
LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 2005.
_____. Emília no País da Gramática. São Paulo. Editora Globo. 2009.
_____. Memórias de Emília. São Paulo. Editora Globo. 2009.
PIRES, V. L. e TAMANINI-ADAMES, F. A. Desenvolvimento do conceito
bakhtiniano de polifonia. Estudos Semióticos. São Paulo, 2010. Disponível em:
<http://fflch.usp.br/dl/semiotica/es>. Acesso em: 25 jan. 2017.
QUINTAES, M. Emília: a ousadia de uma boneca sem papas na língua.
Revista Ártemis, Rio de Janeiro, v. 3, 2005. Disponível em: <http://periodico.ufpb.br>.
Acesso em: 02 set. 2016.
17
ROMEU, G. Independência ou morte em Emília: a voz transgressora de
Lobato. Revista Emília, 2011. Disponível em: <http://revistaemilia.com.br>. Acesso
em: 02 set. 2016.
SANDRONI, Laura. De Lobato a Bojunga: as reinações renovadas. Rio de
Janeiro: Agir, 1987.
SILVA, O legado de Lobato. In: SILVA, V. M. T. (org.) Nem ponto nem
vírgula: Estudos sobre Monteiro Lobato. Goiânia: Cânone Editorial, 2007.
VELOSO, A. N. S. Perfis femininos em livros infantis de Monteiro Lobato
(1920-1940). 2013. Dissertação (Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2013.
MORAL DA HISTÓRIA: EM FÁBULAS RECONTADAS, A LINGUAGEM É
REINVENTADA
Janielly dos Anjos Oliveira Dornelas (IFES)
Antônio Carlos Gomes (IFES)
Letícia Queiroz de Carvalho (IFES)
Resumo: Este estudo apresenta a fábula como um importante gênero literário para o leitor
iniciante, por meio dela a criança é capaz de tratar de temas oriundos da natureza humana –
sabedoria, humildade, bondade, mansidão, esperteza, inveja, ganância etc. – de forma
fantasiosa. Também, por intermédio de uma boa mediação do professor, ela poderá questionar e
até reinventar as lições de moral contidas nesse gênero. Dessa forma, o objetivo que impulsiona
este trabalho é o de analisar como os recursos linguísticos contidos nas fábulas podem
contribuir para a formação crítica do jovem leitor. Assim, à luz da teoria bakhtiniana, é
conduzida uma análise sobre a estilística e a polifonia presentes no texto fabuloso, e sua
importância para a formação crítica da criança como agente transformador da sociedade em que
se insere. Além disso, é promovido um diálogo com alguns estudiosos da área para elencar a
18
literariedade presente no gênero e sua relevância para a literatura infanto-juvenil. Também são
objetos de análises as operações de linguagem – paráfrase e paródia – presentes nas reescritas da
fábula “A cigarra e a formiga”, para se entender como esses elementos contribuem para que o
processo de reescrita possua menor ou maior grau de alteração de significado, empregando nos
textos pequenos desvios de estilização ou sua apropriação máxima. Assim, observa-se, ao final
das análises, que a fábula é compreendida como um gênero que está muito além do trato com
temáticas de tons moralizantes, mas que também pode inserir a criança em discursos específicos
de várias épocas, permitindo que ela se identifique como agente de construção no processo
histórico da sociedade ao ser capaz de aceitar ou refutar determinada lição de moral e, até
mesmo, reinventar um final condizente com sua realidade social.
Palavras-chave: Fábula. Paráfrase. Paródia.
Abstract: This study presents the fable as an important literary genre for the beginner reader,
through which the child is able to deal with themes stemming from human nature - wisdom,
humility, kindness, meekness, cleverness, envy, greed, etc. - fantastically. Also, through good
teacher mediation, she may question and even reinvent the moral lessons contained in this
genre. In this way, the objective that drives this work is to analyze how the linguistic resources
contained in the fables can contribute to the critical formation of the young reader. Thus, in the
light of the Bakhtinian theory, an analysis is conducted on the stylistics and polyphony present
in the fabulous text, and its importance for the critical formation of the child as a transforming
agent of the society in which it is inserted. In addition, a dialogue is promoted with some
scholars in the area to highlight the literary present in the genre and its relevance to the literature
for children and youth. Paraphrases and parody are also objects of analysis in the rewrites of the
fable "The cicada and the ant", to understand how these elements contribute to the rewriting
process have a smaller or greater degree of alteration of meaning, using in the texts small
deviations of stylization or its maximum appropriation. Thus, it can be observed at the end of
the analyzes that the fable is understood as a genre that is far beyond the treatment of moralizing
tones, but that it can also insert the child into specific discourses of different ages, allowing it to
identify itself as a building agent in the historical process of society by being able to accept or
refute a certain moral lesson and even reinvent an end consistent with its social reality.
Keywords: Fable. Paraphrase. Parody.
INTRODUÇÃO
Há muitos séculos, o universo fabuloso vem permeando o imaginário infantil. O
simbolismo presente na fábula, seus temas universais e atemporais, e sua linguagem
popular são elementos que contribuem para que o gênero tenha caído no gosto infantil.
Por intermédio das estórias contidas nas fábulas, as crianças são capazes de questionar o
comportamento humano, retratado de forma fantasiosa por animais que possuem
qualidades e defeitos característicos dos homens. Daí a necessidade de se compreender
a fábula, como uma importante fonte literária para os leitores iniciantes, é capaz de fazê-
los perceber os desafios que a humanidade tem perante seus próprios vícios e
compreender que a moral de uma estória não se deve pautar em apenas um lado. Por
isso, a mediação do professor nesse processo se faz relevante para elencar críticas a
respeito da lição de moral contida no final das fábulas.
19
Assim, autores consagrados na literatura brasileira sentiram a necessidade de
recontar e recriar, a seu tempo, as fábulas de Esopo. Com menor ou maior grau de
apropriação, todos imprimiram em suas versões estilos próprios e condizentes com a
realidade sociocultural em que estão inseridos. Como bem coloca Bakhtin (1997) não
existe gênero neutro, por isso é possível dizer que nas versões recontadas o diálogo
pode ser compatível com o texto original, de modo complementar ou até contestador.
Dessa forma, pode-se considerar o gênero fábula um aliado para desenvolver em sala de
aula uma análise do discurso em que não só os temas serão palco de discussão, mas
também os recursos linguísticos, as operações de linguagem, a estilística e a apropriação
do próprio gênero.
Logo, com o objetivo de analisar como os recursos linguísticos contidos nas
fábulas podem contribuir para a formação crítica do jovem leitor, este estudo
apresentará um breve histórico sobre o surgimento da fábula para o público infantil,
bem como um diálogo com vários estudiosos da área para elencar a literariedade
presente no gênero e sua relevância para a literatura infanto-juvenil. Após, à luz da
teoria bakhtiniana, será realizada uma sondagem sobre a estilística e a polifonia
presentes nas versões recontadas, e sua importância para a formação crítica da criança
como agente transformador da sociedade em que se insere. Por fim, serão examinadas
as operações de linguagem – paráfrase e paródia – presentes em algumas reescritas da
fábula “A cigarra e a formiga”.
1 AS FÁBULAS NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL
A fábula pertence ao gênero narrativo. Provavelmente criada há 2.800 anos a.C.
como forma de aconselhar, distrair, alertar, transmitir ensinamentos ou fazer críticas e
ironias para o público adulto. A palavra fábula é derivada do verbo “fabulare”,
“conversar, narrar”, o que comprova sua transmissão por meio da oralidade durante
muitos séculos. Seus temas retratavam atitudes humanas, luta do bem contra o mal,
fortes versus fracos e verdades eternas como sabedoria, humildade, bondade, mansidão
e esperteza. Além disso, suas estórias sempre se encerram com uma lição de moral e são
transmitidas por animais que possuem comportamento antropomórfico (semelhante ao
20
homem) ou criaturas imaginárias (criaturas fabulosas) que representam os defeitos,
vícios e qualidades dos seres humanos. Machado (1994, p. 57) realça que “é este tipo de
narrativa curta, geralmente um diálogo de bichos encerrada por uma linha moral que
aparece destacada no final do texto, que caracteriza a fábula enquanto gênero literário
específico”.
A fábula foi especialmente desenvolvida pelo escravo Esopo, que viveu no
século VII e VI antes de Cristo, na Grécia, mas que não deixou nenhuma fábula escrita.
Seus registros surgiram mais tarde por outros autores, como o romano Fedro (15 a.C. –
50 d.C.), o mais importante deles; e pelo francês Jean de La Fontaine (1621-1695), o
mais importante fabulista da era moderna, que “criava suas histórias com um único
objetivo: tornar os animais o principal agente da educação dos homens”
(MACHADO, 1994, p. 57). No Brasil, Monteiro Lobato (1882-1948), em seu livro
“Fábulas”, reconta em prosa brasileira moderna algumas das fábulas antigas de Esopo,
Fedro e La Fontaine, além de apresentar algumas de sua própria autoria. Bagno (2006)
considera que
[...] esse é, sem dúvida, um dos melhores livros que existe no Brasil
para a abordagem do gênero fábula em sala de aula. Além do texto da
fábula propriamente dita, Monteiro Lobato insere, depois de cada uma
das narrativas, as animadas discussões que a fábula provoca no círculo
de personagens que povoam o Sítio do Pica-pau Amarelo. Dona
Benta, que narra as fábulas, representa a voz da tradição. A opinião
ponderada e refletida das pessoas já vividas. Tia Nastácia,
representante da sabedoria popular, também se mostra bastante
inclinada a aceitar a moral das fábulas. Pedrinho e Narizinho fazem
comentários de acordo com seu espírito irrequieto de crianças curiosas
e dispostas a aprender, enquanto a irreverente Emília tenta, a cada
momento, contestar a lição de moral que a fábula encerra (BAGNO,
2006, p. 51).
O autor sugere que o professor utilize as fábulas para suscitar boas discussões
em torno dos temas propostos, além de analisar juntamente com os alunos em que
medida a lição de moral contida em determinada fábula se aplica ao modo de vida da
sociedade contemporânea. Por abordarem temas que perpassam a natureza humana de
forma leve e lúdica, acabam por inserir a criança em assuntos do universo adulto,
fazendo-as refletir sobre a existência de verdades universais e levando-as a formular
opiniões a respeito. “São temas que não supõem “uma” verdade, mas, sim, a pluralidade
da verdade pois, diante deles, opiniões opostas e excludentes podem ser igualmente
válidas” (AZEVEDO, 2005, p. 32). Logo, não se deve utilizar a fábula como arcabouço
21
didático-pedagógico com tom moralizante, pois conforme Carneiro (2005, p. 70) “ler e
escrever são atos que só funcionam se desvinculados de qualquer busca de uma verdade
única”.
Por isso, é importante uma mediação imparcial e não moralizante, que seja capaz
de levar os jovens leitores a questionar e até reinventar a lição de moral contida no final
da estória. Afinal, como afirma Queirós (2005, p. 171) “não há que se perguntar qual a
mensagem do livro, mas o que o sujeito pensa sobre o que foi lido por ele”. Além disso,
Zanchetta (2004, p. 93) destaca que “a leitura literária é uma atividade individual, não
passível de “engessamento””, ou seja, o professor deve dar liberdade para que a fruição
aconteça, não delimitando a interação leitor/livro, mas auxiliando o aluno a expandir sua
compreensão sobre o que foi lido. Azevedo (2005) considera que utilizar textos
literários com fins meramente utilitários acaba por descaracterizar a literatura, fazendo
com que perca sua essência e deixe de fazer sentido.
Concluindo a primeira etapa, vejo uma importância relevante na
chamada Literatura Infantil e Juvenil: com ela, o jovem leitor e
cidadão, dentro ou fora da escola, pode ser introduzido, através da
ficção e do discurso poético, à abordagem dos temas humanos da vida
concreta não idealizada, portanto necessariamente relacional,
diversificada e complexa. Isso não é pouco (AZEVEDO, 2005, p. 34).
Assim, o universo fabuloso pode não só contribuir para a imersão da criança por
meio da ficção em temas humanos e concretos, como também levá-la a questionar
paradigmas sociais e verdades absolutas. No entanto, não se deve reduzir a fábula
apenas a função de ensinar valores da sociedade, é preciso também analisá-la por seu
elemento constitutivo que é a linguagem. Como gênero oriundo da cultura popular, as
fábulas possuem linguagem facilmente compreendida por crianças e adultos, pobres e
ricos, cultos e analfabetos. De acordo com Taets (1997, p. 94) “um bom texto para
crianças seria claro e conciso o suficiente ao ponto de estabelecer com elas um diálogo
enriquecedor”. Além disso, Azevedo (2005) destaca que “linguagem infantil” é algo que
não existe em livros para crianças, para o autor a utilização de uma linguagem pública e
acessível possibilita a leitura e a identificação da grande maioria das pessoas,
independente de faixa etária.
Existem outros recursos linguísticos que também proporcionam literariedade às
fabulas, por exemplo: a construção simbólica do enredo, pois os animais agem, sentem
e pensam; a proposta de diálogo com a realidade, porque nelas os animais representam
situações derivadas de experiências do cotidiano humano; as figuras de linguagem,
22
como a alegoria que é uma representação ambígua, possui um significado real e um
figurado. Logo, para Taets (1997), a literatura concentra sua principal característica no
trabalho que se realiza com a palavra, podendo ter valor educativo como consequência
de um bom trabalho com a linguagem. Dessa forma, torna-se fácil compreender os
motivos que levaram esse gênero, inicialmente destinado ao público adulto, a cair no
gosto do leitor infantil, sendo o principal deles, conceber a criança como um ser capaz
de pensar e refletir sobre questões sociais.
Como exposto, a fábula é um gênero textual muito antigo, transmitido
primeiramente pela tradição oral, desenvolvida pelo escravo Esopo, e traduzida para a
escrita muito mais tarde por autores como Fedro e La Fontaine. No Brasil, várias
fábulas já foram recontadas por autores famosos como Monteiro Lobato, Ruth Rocha,
Jô Soares e Millôr Fernandes. E, em algumas versões recontadas imprimiram-se novos
estilos e novas concepções a respeito dos temas tratados. No capítulo seguinte, essa
reinvenção da linguagem será observada sob a abordagem bakhtiniana dos gêneros do
discurso.
2 EM CADA VERSÃO RECONTADA, A LINGUAGEM É REINVENTADA
Originada da cultura popular, as fábulas foram transmitidas por várias gerações
por meio da oralidade, com o passar dos séculos e a evolução da escrita, esse gênero
passou a ser veiculado em livros. Com isso, as fábulas fizeram parte do universo
literário de muitas gerações, passando, consequentemente, por algumas transformações
linguísticas e estruturais decorrentes de mudanças sociais. Mesmo mantendo sua
tradição temática, temas universais e atemporais, as fábulas foram recontadas por vários
escritores, e a cada versão recriada, a linguagem foi sendo aos poucos reinventada. Para
Bakhtin (1997) um enunciado absolutamente neutro é impossível, pois é através dele
que o produtor expressará seus juízos de valores e suas impressões acerca de outros
enunciados. O autor diz que
[...] nossa fala, isto é, nossos enunciados (que incluem as
obras literárias), estão repletos de palavras dos outros, caracterizadas,
em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação,
características, também em graus variáveis, por emprego consciente e
decalcado. As palavras dos outros introduzem sua própria
expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos,
modificamos (BAKHTIN, 1997, p. 315).
23
É nesse diálogo com outros textos que nossos alunos são capazes de valorar o
discurso alheio, ora assimilando o que lhes é apropriado, ora descartando informações
e/ou reestruturando-as para atenderem às suas necessidades. Dessa forma, não se pode
falar em discurso neutro ou puro, todo enunciado parte da presença de outras vozes, o
que Bakhtin denomina polifonia. O importante aqui é oportunizar ao aluno a leitura de
discursos que lhe acrescentem informações pertinentes, deixando-o discernir sobre as
vozes das quais deseja apropriar-se para elaboração de seu próprio discurso.
Nessa concepção dialógica cabe ao locutor também o papel de receptor ativo do
discurso produzido por outro. Pois, de acordo com Bakhtin
[...] o ouvinte que recebe e compreende a significação
(linguística) de um discurso adota simultaneamente, para com este
discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total
ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e
esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o
processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às
vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão
de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de
uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja
muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma
forma ou de outra, forçosamente a produz; o ouvinte torna-se o locutor
(BAKHTIN, 1997, p. 290).
A linguagem passa a ter mais sentido quando cumpre sua função social, quando
o aluno é capaz de compreender os diversos textos existentes, dialogar com eles e
tornar-se autor de seu próprio discurso. Logo, a leitura literária faz emergir no
estudante seu papel social, de cidadão que compreende os contextos que o cercam,
torna-se agente participativo e transformador dessa interação. De acordo com Freire
(2005) “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de gerá-
lo”, e o gênero fábula pode ser um importante aliado nesse processo de construção do
pensamento crítico. Os alunos podem ser incitados a questionar e a reformular o final da
estória de acordo com suas vivências sociais, atribuindo a cada lição de moral um outro
olhar, uma reinvenção assim como fizeram vários autores.
Além de a linguagem contida nesse gênero ter sido reinventada com o passar do
tempo, outros gêneros surgiram inspirados nas formas simbólicas das fábulas, um
exemplo contemporâneo é o “Rap da cigarra e da formiga” criado pelo humorista e
escritor Jô Soares. Existem também algumas formas narrativas que se relacionam com
as fábulas são “o apólogo, a parábola e a alegoria. Todas essas formas mantêm em
comum a representação simbólica de um ensinamento através de um arranjo verbal
sugestivo” (MACHADO, 1994, p. 65).
24
De acordo com Bakhtin (1997), o estilo está indissoluvelmente ligado ao
enunciado e aos gêneros textuais, e somente os gêneros literários são capazes de refletir
a individualidade da língua. Por isso, ao imprimir estilos de épocas diversas às fábulas,
ocorre sua maior ou menor reestruturação e renovação. Logo, “quando há estilo, há
gênero. Quando passamos o estilo de um gênero para outro, não nos limitamos a
modificar a ressonância deste estilo graças à sua inserção num gênero que não lhe é
próprio, destruímos e renovamos o próprio gênero” (BAKHTIN, 1997, p. 286).
Portanto, ao analisar o discurso presente no gênero fábula, pode-se entender sua
contribuição para uma formação leitora crítica, capaz de incitar o jovem leitor a
questionar paradigmas sociais de várias gerações. Além disso, também se faz necessário
entender a construção desse discurso, como é possível imprimir estilo próprio com
maior ou menor apropriação em cada reescrita. Por considerar o trabalho com as
operações da linguagem importante para se compreender as manifestações artísticas da
língua, no tópico que segue, serão apresentadas algumas versões da fábula “A cigarra e
a formiga” como proposta para se desenvolver uma análise sobre os processos de
reescrita e de retextualização, bem como para entender as operações de linguagem
paráfrase e paródia nesses processos.
3 OPERAÇÕES DE LINGUAGEM PRESENTES NO PROCESSO DE
REESCRITA DA FÁBULA “A CIGARRA E A FORMIGA”
A fábula “A cigarra e a formiga” já foi recontada por vários autores brasileiros
como Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Jô Soares e Millôr Fernandes. Em cada versão,
uma (re)-interpretação é feita a respeito dessa estória, que para Bagno
[...] pode ser entendida como um elogio da acumulação de
bens, do aumento do patrimônio, como um louvor da sociedade
capitalista, como uma crítica à vida despreocupada e ociosa dos
artistas, ou então, precisamente ao contrário, como uma crítica à frieza
do capitalista, que só se preocupa em aumentar sua fortuna, sem gozar
dos prazeres da vida e sem se importar com os necessitados (BAGNO,
2006, p. 52).
Ou seja, cada autor imprime sua interpretação ao refazer o texto. É importante
distinguir que a refacção da fábula pode ocorrer sobre o mesmo texto, com mudanças
em seu interior (reescrita); ou de uma tradução que ocorre de uma modalidade para
outra, porém permanecendo na mesma língua (retextualização). Marcuschi (2001)
entende que as “modalidades” podem ser compreendidas com a oralidade e a escrita.
25
D‟Andrea e Ribeiro (2010) expõem que a retextualização é uma modificação mais
ampla do texto, alterando-se, inclusive, o meio em que ele é veiculado – entrevista oral
para notícia escrita, por exemplo; enquanto a reescrita só poderia acontecer do escrito
para o escrito. “Dessa distinção, pode-se propor que toda retextualização é reescrita,
mas nem toda reescrita gera uma retextualização” (D‟ANDREA, RIBEIRO, 2010, p.
66).
Assim, ao analisar a fábula como um gênero que passou da oralidade popular
para a escrita, pode-se inferir que as primeiras versões escritas são retextualizações das
versões contadas por Esopo por meio da oralidade. Mas, por se tratarem de textos
produzidos há muitos séculos por vários escritores, não se pode precisar qual foi a
primeira versão produzida na escrita, por isso pode-se considerar que todas as versões
utilizadas neste artigo são reescritas de um texto original. Cabe agora observar se
durante o processo de intertextualidade, a temática e as operações de linguagem foram
alteradas de uma reescrita para outra. Lembrando que, a intertextualidade – o diálogo
existente entre os textos – “é fator importante para o estabelecimento dos tipos e
gêneros de texto na medida em que os relaciona e os distingue” (MARCUSCHI, 2008,
p. 130).
A paráfrase e a paródia são operações de linguagem presentes no processo de
intertextualidade, pois permitem ao falante reconstruir e ressignificar atividades
discursivas utilizando sua bagagem sociocultural. Para Santos (2011), ambas são
operações da referenciação e possuem nuances diferentes na reconstrução dos objetos
discursivos. Para a autora, “a paráfrase trabalha um mesmo sentido, reelabora a
informação, de acordo com o ponto de vista e experiências culturais do sujeito
discursivo, sem, contudo, deformar o sentido original do texto anterior” (SANTOS,
2011, p. 86). É o que se pode observar nas versões dos quadros 1, 2 e 3 em que os textos
têm sentido inalterado.
Quadro 1 – A cigarra e a formiga, versão de Esopo
Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma
cigarra faminta lhes pediu o que comer. Mas as formigas lhe disseram:
– Por que tu também não armazenaste tua provisão durante o verão?
– Não tive tempo – respondeu a cigarra –, no verão eu cantava.
As formigas completaram:
– Então agora dance.
E caíram na risada. Fonte: Esopo.Trad. Antônio Carlos Vianna. Fábulas de Esopo. Porto Alegre: L&PM, 2001.
26
Quadro 2 – A cigarra e a formiga, versão de Jean de La Fontaine
A cigarra, sem pensar
em guardar,
a cantar passou o verão.
Eis que chega o inverno, e então,
sem provisão na despensa,
como saída, ela pensa
em recorrer a uma amiga:
sua vizinha, a formiga,
pedindo a ela, emprestado,
algum grão, qualquer bocado,
até o bom tempo voltar.
"Antes de agosto chegar,
pode estar certa a senhora:
pago com juros, sem mora."
Obsequiosa, certamente,
a formiga não seria.
"Que fizeste até outro dia?"
perguntou à imprevidente.
"Eu cantava, sim, Senhora,
noite e dia, sem tristeza."
"Tu cantavas? Que beleza!
Muito bem: pois dança agora..." Fonte: LA FONTAINE, Jean de. Trad. Milton Amado e Eugênio Amado. Fábulas de La Fontaine.
Quadro 3 – A cigarra e a formiga, versão de Ruth Rocha
A cigarra passou todo o verão cantando, juntando seus grãos. Quando chegou o inverno,
a cigarra veio à casa da formiga pedir que lhe desse o que comer. A formiga então
perguntou a ela:
– E o que é que você fez durante todo o verão?
– Durante o verão eu cantei – disse a cigarra.
E a formiga respondeu:
– Muito bem, pois agora dance! Fonte: ROCHA, Ruth. Fábulas de esopo. São Paulo: FTD, 1993. p.23.
Observa-se que nas versões de Esopo (quadro 1), de La Fontaine (quadro 2) e de
Ruth Rocha (quadro 3) nem a ideia principal nem o final foram alterados, ou seja, a
temática permanece a mesma em ambos os textos. No entanto, houve variação na
estrutura da versão de La Fontaine, pois foi escrita em versos. Há também diferença na
linguagem empregada na versão de Ruth Rocha, que com o objetivo de traduzir o texto
para o público infantil, acabou por utilizar uma linguagem mais simples e mais próxima
da oralidade de grande maioria das regiões brasileiras. Com isso, pouco fez evoluir a
27
linguagem e manteve o discurso em repouso, ou seja, as versões mantiveram-se na
intertextualidade da semelhança, permeando assim o eixo parafrástico da linguagem.
Por outro lado, Santos (2011) expõe que a paródia trabalha com a alteração do
sentido base, “reconstrói-se apoiada na ruptura, com objetivo sarcástico, crítico, irônico
ou humorístico; nela o sujeito também utilizará as experiências e conhecimento cultural
em sua (re)construção, mas o fará com o intuito de transgredir o texto matriz”
(SANTOS, 2011, p. 86). São exemplos as versões dos quadros 4, 5 e 6, em que a
linguagem e o final da estória são alterados.
Quadro 4 – A formiga boa, versão de Monteiro Lobato
Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum formigueiro. Só
parava quando cansadinha; e seu divertimento então era observar as formigas na eterna
faina de abastecer as tulhas.
Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados,
passavam o dia cochilando nas tocas.
A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes apuros,
deliberou socorrer-se de alguém.
Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu – tique,
tique, tique...
Aparece uma formiga, friorenta, embrulhada num xalinho de paina.
–Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir.
– Venho em busca de um agasalho. O mau tempo não cessa e eu...
A formiga olhou-a de alto a baixo.
– E o que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa?
A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse:
– Eu cantava, bem sabe...
– Ah! ... – exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava nessa
árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas?
– Isso mesmo, era eu...
– Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos
proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que
felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa
durante todo o mau tempo.
A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol.
Moral: Os artistas - poetas, pintores, músicos, escritores - são as cigarras da
humanidade. Fonte: LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Brasiliense, 1982.
Quadro 5 – O “rap” da cigarra e da formiga, versão de Jô Soares
Saca essa fábula, bicho,
que vai te deixar cabreiro.
Num depósito de lixo
tinha um bruta formigueiro.
O formigueiro falado,
28
na verdade não era mixo.
Foi para ficar rimado
que eu falei que era no lixo.
As formigas, ligadonas,
trabalhavam noite e dia.
Ficavam muito doidonas
plugadas nessa mania.
podes crer, não é mentira.
Um dia uma punk louca
que se chamava cigarra
e achava que era uma touca
trabalhar tanto, na marra,
se meteu com a formigada
e falou, pontificando:
__ Trabalhar é uma jogada
devagar quase parando.
Coisa careta, uma fria,
bobeira que eu não assumo
e avisou que não curtia
formigueiro de consumo.
As formigas, sem ligar,
responderam na maior:
__ Se você não trabalhar,
vai acabar na pior.
A cigarra se mandou
dizendo que era besteira.
Das formigas se afastou
cantando um roque pauleira.
Só voltou quando era inverno.
As formigas, pra esnobar, em vez de
um papo fraterno, foram se bacanear.
Disseram logo as formigas:
__ Olha, se quiser guarida
vai pedir pras tuas amigas.
Nós não damos boa vida.
E a cigarra: __ Eu tô na minha...
Não vim aqui pedir nada.
Só vim dizer que eu, sozinha,
fiz a Sena acumulada.
Moral: Para alguém ganhar sozinho na Sena acumulada, tem que ser leão. Ou então
cigarra, bicho. Enfim, bicho, bicho. Fonte: Jô Soares, In: Revista VEJA, 31.10.1990, p. 17.
Quadro 6 – A cigarra e a formiga, versão de Millôr Fernandes
Cantava a Cigarra
Em dós sustenidos
Quando ouviu os gemidos
Da Formiga,
Que, bufando e suando,
29
Ali, num atalho,
Com gestos precisos
Empurrava o trabalho:
Folhas mortas, insetos vivos.
Ao ver a Cigarra
Assim, festiva,
A Formiga perdeu a esportiva:
“Canta, canta, salafrária,
E não cuida da espiral inflacionária!
No inverno,
Quando aumentar a recessão maldita,
Você, faminta e aflita,
Cansada, suja, humilde, morta,
Virá pechinchar à minha porta.
E, na hora em que subirem
As tarifas energéticas,
Verá que minhas palavras eram proféticas.
Aí, acabado o verão,
Lá em cima o preço do feijão,
Você apelará pra formiguinha.
Mas eu estarei na minha
E não te darei sequer
Uma tragada de fumaça!”
Ouvindo a ameaça,
A Cigarra riu, superior,
E disse com seu ar provocador:
“Você está por fora,
Ultrapassada sofredora.
Hoje eu sou em videocassete
Uma reprodutora!
Chegado o inverno,
Continuarei cantando
– sem ir lá –
No Rio,
São Paulo
Ou Ceará.
Rica!
E você continuará aqui
Comendo bolo de titica.
O que você ganha num ano
Eu ganho num instante
Cantando a Coca,
O sabãozão gigante,
O edifício novo
E o desodorante.
E posso viver com calma
Pois canto só pra multinacionalma”. Fonte: FERNANDES, Millôr. Veja.com 2009 - ed.2120.
30
Observa-se que na versão de Lobato (quadro 4) houve uma ruptura no final da
estória, pois a formiga que sempre ignorava a cigarra, aceita ajudá-la e até reconhece o
seu valor artístico. Dessa forma Lobato inova ao se permitir contestar o final e a moral
da fábula. Assim também, fazem Jô Soares (quadro 5) e Millôr Fernandes (quadro 6) ao
reinventarem um final em que a cigarra enriquece e ainda zomba do trabalho da
formiga. Além disso, esses autores libertam seus textos dos paradigmas e estabelecem
novos padrões, fazendo com que os discursos progridam semanticamente, ou seja,
trabalham com a intertextualidade das diferenças. Dessa forma permeiam o eixo
parodístico da linguagem.
Portanto, pode-se inferir que nas versões em que ocorreu a paráfrase houve
pouca alteração no texto e tolerável desvio de estilização, pois a ideia principal e o final
da estória permaneceram inalterados, refletindo poucas alterações de sentido e de
estrutura textual. Na paródia, houve inversão do significado e até mudança de gênero
como no “Rap” da cigarra e da formiga de Jô Soares, a apropriação do texto foi tão
ampla que ocorreu mudança na ideia principal, no desfecho, na linguagem utilizada e na
estrutura textual.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possibilitou reconhecer a fábula como um gênero literário capaz de
imergir o público infantil em temas do universo adulto de forma leve e fantasiosa. Com
ele entendemos que o professor precisa ser o mediador que incentivará o aluno a
questionar paradigmas sociais e verdades absolutas. Por ser um gênero oriundo da
oralidade, a sua linguagem popular permite que todos os públicos, independente de
faixa de idade, sejam capazes de se apropriar das estórias. Assim também, a simbologia
do enredo, a proposta de diálogo com a realidade e os recursos de linguagem são
características de literariedade que contribuem para que tal gênero permeie o universo
infantil.
Observou-se também que a toda vez que uma fábula é recontada, sua linguagem
é reinventada, pois as reescritas permitiram que vários discursos fossem inseridos nesse
gênero narrativo, fazendo com que se reconheçam na intertextualidade várias vozes que
dialogam, cada uma em seu tempo, em seu estilo. Além disso, a fábula pode ser suporte
para o surgimento de outros gêneros textuais como o “rap” da cigarra e da formiga,
criado pelo humorista e escritor Jô Soares. Dessa forma, os eixos parafrástico e
31
parodístico contribuem para que as reescritas possuam menor ou maior grau de
alteração de significado, empregando nos textos pequenos desvios de estilização ou sua
apropriação máxima.
Logo, o processo de reescrita das fábulas proporciona não só a transmissão desse
gênero literário às futuras gerações, como também permite que cada autor, a seu tempo,
possa imprimir seu próprio estilo oriundo de suas vivências sociais. Assim, as fábulas,
mais do que trabalhar com temáticas de tons moralizantes, também inserem a criança
em discursos específicos de várias épocas, permitindo a ela se identificar como agente
de construção no processo histórico da sociedade ao ser capaz de aceitar ou refutar
determinada lição de moral e, até mesmo, reinventar um final condizente com sua
realidade social.
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Ricardo. Aspectos instigantes da literatura infantil e juvenil. In:
OLIVEIRA, Ieda de (org.). O que é qualidade em literatura infantil e juvenil? Com a
palavra, o escritor /. – 1 ed. São Paulo: DCL, 2005.
BAGNO, Marcos. Fábulas fabulosas. In: CARVALHO, Maria Angélica Freire de;
MENDONÇA, Rosa Helena (orgs.). Práticas de leitura e escrita. Brasília: Ministério
da Educação, 2006.
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal.
São Paulo: Martins Fontes, 1997.
CARNEIRO, Flávio. A ficção falsa. In: OLIVEIRA, Ieda de (org.). O que é qualidade
em literatura infantil e juvenil? Com a palavra, o escritor /. – 1 ed. São Paulo: DCL,
2005.
D'ANDREA, Carlos F.; RIBEIRO, Ana E. Retextualizar e reescrever, editar e revisar:
reflexões sobre a produção de textos e as redes de produção editorial. Veredas, v. 1, p.
64-74, 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
MACHADO, Irene A. Literatura e redação: conteúdo e metodologia da Língua
Portuguesa. São Paulo: Scipione, 1994.
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita - atividades de retextualização. São Paulo:
Cortez, 2001.
______. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola,
2008.
32
QUEIRÓS, Bartolomeu C. Leitura, um diálogo subjetivo. In: OLIVEIRA, Ieda de
(org.). O que é qualidade em literatura infantil e juvenil? Com a palavra, o escritor /.
– 1 ed. São Paulo: DCL, 2005.
SANTOS, Márcia L. P. A paráfrase e a paródia como (re)construção do real: o dizer
de jabor e o dizer de Millôr. 2011. 183 f. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa) –
Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2011.
ZANCHETTA, Juvenal. Leitura de narrativas juvenis na escola. In: SOUZA, Renata
Junqueira de (org.). – Caminhos para a formação do leitor. 1 ed. São Paulo: DCL,
2004.
TAETS, Silvana Pinheiro. Literatura infanto-juvenil: caminhos e conceituações. In:
RIBEIRO, Francisco Aurelio (org.). Leitura e literatura infanto-juvenil. 1 ed. Vitória:
UFES, Centro de Estudos Gerais, Departamento de Línguas e Letras, Mestrado em
Letras, 1997.
A QUESTÃO DA SUBJETIVIDADE E A COMUNICAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR
DA ANÁLISE DA OBRA LITERÁRIA INFANTIL “QUEM SOLTOU O PUM?”
Viviane de Moura Fonseca – UEPG
Resumo: A subjetividade na comunicação é um dos grandes problemas da relação professor-
aluno. Este artigo objetiva provocar uma reflexão sobre a relevância da subjetividade no
enunciado demonstrando toda a cadeia da comunicação discursiva em sua relação com os elos
precedentes e o caráter da responsividade diante da alteridade que é incumbido pela
dialogicidade, como tentativa de auxiliar o trabalho pedagógico do professor. O trabalho foi
organizado em dois momentos, sendo que no primeiro, conceitos bakhtinianos são retomados
mapeando de modo introdutório a estrutura ideológica e a complexidade presentes num
discurso, evidenciando a subjetividade do enunciado. Ainda resgata rapidamente conceitos e
características da literatura infantil, além da marca enriquecedora do texto não verbal. Em
seguida, uma breve analise da obra literária infantil “Quem soltou o Pum?”, de autoria de
Blandina Franco e ilustração de José Carlos Lollo, e as marcas de subjetividade em seu
discurso, pensando em possíveis atitudes responsivas. O artigo procura evidenciar a importância
e a necessidade de atentar para a subjetividade na cadeia enunciativa, principalmente na relação
professor- aluno, uma vez que é onde ocorrem respostas inadequadas e incompreensão
dossignificados.
Palavras-chave: subjetividade, comunicação, relação professor-aluno.
Abstract: The subjectivity in communication is one of the biggest problems in the teacher-
student relationship. The goal of this article is to invoke a reflection about the relevance of
subjectivity on the statement, demonstrating the entire discursive communication chain as it
relates to the preceding links and the character of responsiveness before the alterity which is
commissioned by dialogicity, as an attempt to assist the pedagogic work of the teacher. This
work is organized in two sections. In the first one, bakhtinian concepts are used to map in an
introductory way the ideological structure and the complexity present in a discourse,
highlighting the subjectivity of the statement. It also touches on concepts and characteristics of
33
children's literature, in addition to the enriching mark of nonverbal text. In the second section, a
brief analysis of the children literary work "Quemsoltou o Pum?" - "Who cut the cheese?" in a
brief contextual translation, authored by Blandina Franco and illustrated by Jose Carlos Lollo,
and the points of subjectivity in its discourse with regards to possible responses to them. The
article seeks to highlight the importance and the need to stay aware of the subjectivity in the
expository, especially in the teacher-student relationship, which is where inadequate responses
and incomprehension of meaning cannot be afforded.
Keywords: subjectivity, communication, teacher-student relationship.
1 INTRODUÇÃO
A comunicação é a base para a convivência humana e daí advém a importância
do bom entendimento entre os comunicantes, porém é sabido o quanto de falhas
ocorrem nesse processo fundamental das sociedades. Ao focar essa situação para a sala
de aula, mais precisamente na relação professor-aluno, é possível perceber que um dos
resultados dessas falhas é a falta de aprendizagem significativa. Se o aluno não
compreender a fala/proposta do professor ou ainda, compreender de forma superficial
ou fora do foco proposto, a atitude responsiva esperada não acontecerá, bem como o
mesmo pode acontecer com o professor se o mesmo não compreender seu aluno.
Compreender o funcionamento dos diversos discursos é uma forma de melhorar
a comunicação, e talvez encurtar o caminho para a aprendizagem profunda. Nesse
aspecto, um fator de extrema importância no funcionamento dos discursos é a
subjetividade, que de maneira bastante simples pode ser entendida de acordo com o
ponto de vista de cada sujeito que interpreta um determinado tema, objeto, palavra.
Entender seu aluno e fazer- se entender nem sempre é tarefa fácil para um professor,
mas é essencial ao seu trabalho.
O presente artigo busca analisar a subjetividade do enunciado presente no livro
infantil “Quem soltou o Pum?” de autoria de Blandina Franco e ilustração de José
Carlos Lollo, sob a luz da teoria bakhtiniana. Procura demonstrar toda a cadeia da
comunicação discursiva em sua relação com os elos precedentes e o caráter da
responsividade diante da alteridade que é responsável pela dialogicidade. “A expressão
do enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, exprime a relação do falante
com os enunciados do outro, e não só a relação com os objetos do seu enunciado”.
(BAKHTIN, 2010, p.298)
Esta analise tem por objetivo provocar umareflexão sobre relevância da
subjetividade no enunciado, numa tentativa de auxiliar o professor em sua tarefa
pedagógica. Este trabalho está dividido em dois momentos, sendo o primeiro uma
34
retomada de conceitos baktinianos, mapeando de modo introdutório a estrutura
ideológica e a complexidade presentes num discurso evidenciando a subjetividade do
enunciado. O momento que segue, é dedicado à analise da obra e as marcas de
subjetividade em seu discurso, pensando em possíveis atitudes responsivas para melhor
compreender o que acontece em uma sala de aula, onde a multiplicidade de diferenças
entre seus atores dificulta o atingimento pleno dos objetivoseducacionais.
2 REVISÃO DALITERATURA
Bakhtin e o Círculo procurando apresentar contribuições para uma filosofia da
linguagem traz à tona diversos conceitos essenciais à materialização do discurso. As
palavras usadas num processo de comunicação estão carregadas de vários significados,
só terão o sentido proposto dentro de determinado contexto. A comunicação semiótica
em suas formas básicas e ideológicas é revelada na palavra. A palavra é interindividual
e de acordo com Bakhtin/Volochinov em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem,
“a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (p. 36). Ela tem uma função de
signo através da qual sua realidade é absorvida. A palavra é neutra e pode ser
preenchida por qualquer espécie de função ideológica tornando-se um signo. Todo signo
é constituído a partir do consenso exteriorizado no material ideológico e possui valor
semiótico. Bakhtin/Volochinov ao explicar os signos como objetos naturaisdiz:
[...] um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele
também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa
realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista
específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de um avaliação
ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom,
etc.) (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 32)
Cada sujeito faz uso do signo conforme seu conhecimento e entendimento de
mundo, sua concepção ideológica. Um signo pode apresentar significados diversos
conforme a esfera em que ele está contextualizado, sendo que o sentido precisa ser
negociado no contexto específico. Os signos comportam em si tons valorativos que
espelham e constituem os sujeitos que os utilizam e a realidade social por onde
circulam. Esses tons valorativos operam tal qual arenas de lutas, em que diferentes
ideologias dispõem entre si relações dialógicas e disputas pelos sentidos.
35
A comunicação só se completa quando os sujeitos discursivos participam da
mesma organização social e apresentam as mesmas condições em que a interação
acontece. Para isso, os sujeitos usam a palavra para a conexão de um para com o outro.
As palavras, conforme já visto, carregadas de funções ideológicas, podem ser
interpretadas de acordo com o tom valorativo que recebem no discursoresponsivo.
Bakhtin/Volochinov diz que o sistema linguístico não tem o intuito contíguo da
comunicação. O locutor utiliza a língua apenas para cumprir sua enunciação concreta,
aforma linguística só passa a ter importância enquanto signo – variável e flexível. Para
entender uma enunciação o processo de descodificação não leva em consideração a
forma utilizada “mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender sua
significação numa enunciação particular.” (p. 97). Em outras palavras, o falante não
toma a língua enquanto sistema, mas negocia seu sentido no contexto. Um signo recebe
tantas significações quantas forem as situações reais em que venha a ser usado por
atores sociais e historicamente localizados. Não há maneira de separar o conteúdo
ideológico da língua viva.
3 BREVE CONCEPÇÃO DEENUNCIADO
O discurso, seja ele qual for, só pode existir em função do outro. Supõe
necessariamente o diálogo em dois momentos, anterior a si e posterior a si. Ao elaborar seu
discurso, o falante está respondendo enunciados anteriores – seus e alheios – pois “o falante
não é um Adão Bíblico” (BAKHTIN, 2010, p. 300), ele se apoia ou se debate neles, até mesmo
pressupõe o conhecimento do ouvinte sobre eles. Da mesma forma, se houve uma
compreensão haverá necessariamente uma resposta. O falante, ao realizar seu enunciado
pressupõe e aguarda uma resposta ativa, a qual é sabido pode ser controversa ou de efeito
retardado. Em outras palavras, a resposta recebida pode divergir da resposta esperada,
podendo ser oposta ao enunciado ou até silenciosamente no comportamento do ouvinte. O
fato é que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados”. (p.272)
O discurso pode ser um único enunciado ou um complexo/conjunto de
enunciados. Afirma Bakhtin em Estética da Criação Verbal: “o discurso só pode existir
de fato na forma de enunciações concretas” (p. 274). O enunciado é a real unidade da
comunicação discursiva e tem seu limite definido pela alternância dos sujeitos do
36
discurso. Pressupõe um acabamento específico determinado pelo querer-dizer, pelo
tema e pelo gênero que possibilitam a atitude responsiva do “outro” e também uma
expressividade, um estilo, uma posição valorativa em relação à realidade. Ao enunciar,
o locutor pressupõe o outro e também sua atitude responsiva. Para elaborar seu
enunciado, o locutor escolhe suas palavras de acordo com a sua especificação do gênero
que é uma situação típica da
comunicaçãodiscursiva.Éapartirdainteraçãoconstanteecontínuacomosenunciadosindivid
uais dos outros que a experiência discursiva individual se forma e se desenvolve.
Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras
criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de
alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem
consigo a expressão, o seu tom valorativo que assimilamos,
reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2010, p.295)
Cada enunciado é um acontecimento e por isto é único e irrepetível. Um
enunciado acontece em um determinado local e tempo, é produzido por um sujeito
histórico e recebido por outro, ao ser pronunciado em situações sociais diferentes, ainda
que pelo mesmo enunciador, não constitui no mesmo enunciado e não pode constituir, o
contexto e o tempo serão outros. É de acordo com o que disse o antigo filósofo grego,
Heráclito de Éfeso: “um homem não pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois ao
entrar, nem o homem será o mesmo, nem as águasserão”.
4 SOBRE A LITERATURA INFANTIL
O universo infantil é um campo vasto a ser explorado. O mundo para os
pequenos é repleto de novidades, recheado de curiosidades e cheio de diversão. A
imaginação pode correr solta enquanto o mundo é explorado, muitas descobertas podem
ser feitas nesse período da vida. Essas descobertas e novidades marcam os pequenos
desbravadores para o resto de suas vidas, moldando e modelando o futuro sujeito adulto.
37
Esse processo de socialização, apesar de ser formalizado culturalmente, é bastante
natural nas sociedades atuais. A criança vai interiorizando regras e valores sociais de
acordo com as experiências que vai vivenciando. A cada momento vivido uma nova
aprendizagem acontece. Nesse sentido, além da convivência direta com os outros
(família, igreja, escola) e das brincadeiras, os livros também podem ser grandes aliados
nasocialização.
De acordo com Lajolo,
É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os
diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e
discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias.
(LAJOLO, 2008, p.106)
Este é um dos motivos que fazem com que os autores de obras infantis sejam
criativos e tratem de assuntos importantes e corriqueirosde maneira bastante lúdica
epedagógica ao mesmo tempo. A literatura pode abrir portas e janelas para um universo
fascinante de conhecimentos, para modos diversos de ver o mundo, e do mesmo modo
auxiliar no processo de internalização, de objetivação social.
Essas obras precisam possuir um texto encantador para estimular o imaginário
infantil. Segundo Bettelheim (1996),
[...] para que uma estória realmente prenda a atenção da criança,
deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua
vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu
intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com
suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas
dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas
que a perturbam [...] (p.13).
Ao serem apresentadas para o público alvo precisam fisga-los, saciando seus
interesses e expectativas a fim de concretizar os objetivos propostos pelo autor adulto,
que possui a intenção de transmitir ensinamentos julgados importantes para acriança:
De modo que, em suma o “o livro infantil”, se bem que dirigido à
criança, é de invenção e intenção do adulto. Transmite os pontos de
vista que este considera mais úteis à formação de seus leitores. E
transmite-os na linguagem e no estilo que adulto igualmente crê
38
adequados à compreensão e ao gosto do seu público. (MEIRELES,
1984, p.29)
De fato a obra literária é um importante auxiliar do processo de socialização. O
contato com obras literárias acontece desde muito cedo na vida da criança
proporcionando uma compreensão maior de si e dos outros. Para Aguiar & Bordini
(1993),
[...] a obra literária pode ser entendida como uma tomada de
consciência do mundo concreto que se caracteriza pelo sentido
humano dado a esse mundo pelo autor. Assim, não é um mero
reflexo na mente, que se traduz em palavras, mas o resultado de uma
interação ao mesmo tempo receptiva e criadora. Essa interação se
processa através da mediação da linguagem verbal, escrita ou falada
[...] (p.14).
Nesse mesmo sentido Cademartori (1994), afirma que:
[...] a literatura infantil se configura não só como instrumento de
formação conceitual, mas também de emancipação da manipulação
da sociedade. Se a dependência infantil e a ausência de um padrão
inato de comportamento são questões que se interpenetram,
configurandoaposiçãodacriançanarelaçãocomoadulto,aliteraturasurg
ecomoummeio de superação da dependência e da carência por
possibilitar a reformulação de conceitos e a autonomia do
pensamento. (p.23)
As possibilidades de aprendizagem existentes em uma história são muitas. A
partir dos valores apontados no texto, é possível estabelecer relações entre o
comportamento da própria criança e o comportamento dos personagens, dando
significação para suas atitudes cotidianas esperadas socialmente. O entendimento de
mundo em que vivem é facilitado de forma lúdica etranquila.
Uma característica marcante e facilitadora do entendimento da obra infantil é a
linguagem não verbal. Conforme Filho (2009) “nem só de palavras se constrói um livro
para crianças, a ilustração é uma das linguagens não verbais mais recorrentes na
literatura infantil” (p.53). A visualidade da obra pode ser o ponto de partida da leitura,
pois a concretude presente nas imagens pode fazer transbordar de significados
enriquecendo substancialmente a leitura realizada. O texto não verbal influencia o texto
39
verbal ao complementá-lo ou fazer referência a ele. As imagens são elementos fortes na
atração e apreensão do leitor.
5 QUEM SOLTOU OPUM?
Seja por ser uma atitude proibida que acaba envergonhando os presentes, seja
pelo barulho alarmante, o pum é um assunto que atrai a criança e causa muita risada em
seu entorno. Blandina Franco, ao abordar esta questão em sua obra infantil, trata de
forma leve e descontraída uma regra social considerada bastante importante para a boa
conduta. Fazendo trocadilhos, a autora leva seu público a imaginar situações
constrangedoras que todos passam. Porém ao perceber que o protagonista da história é
na verdade um cachorro, a obra toma um novo significado.
Neste sentido, o signo “pum” toma dois significados. Mesma esfera, a infantil,
mas em contextos diferentes, o pum é entendido inicialmente como uma questão
fisiológica e depois como o nome do animal de estimação do locutor do texto. A
confusão no entendimento é evidenciada quando a autora do texto utiliza características
comuns aos dois significados do signo adotado (o pum incomoda, fica fedido, pode
sujar, faz barulho, constrange, envergonha). As tonalidades dialógicas manifestadas
verbo-oralmente induzem o leitor/ouvinte a entender o signo “pum” como gases
intestinais, sendo que aresponsividade apresentada neste momento é de se colocar no
lugar do garoto dono do „pum‟ ou lembrar de situações vivenciadas por si mesmo que
são semelhantes aos do locutor da história.
Quando o leitor/ouvinte tem o contato verbo-visual com a obra percebe alguns
elementos na escrita, como o uso de artigo definido “o” antes do signo “Pum” que vem
grafado com a primeira letra em maiúsculo, que demonstram de imediato que não está
sendo falado de flatos (“um pum” ou simplesmente “pum”), e descobre que se trata de
um cachorro, as tonalidades dialógicas não são alteradas, mas a história acaba
adquirindo um sentido totalmente distinto doanterior.
É evidente que a autora tinha a intenção de trazer pelo menos as duas respostas
que aqui estão abordadas, mas a partir daí é possível observar a subjetividade existente
40
na comunicação. Se ambos, locutor e ouvinte, não estiverem compartilhando o mesmo
contexto histórico-temporal, a responsividade recebida pode ficar bastante distante da
esperada.
Ao analisar trechos da obra, supondo apenas a linguagem verbo-oral, e
consequentemente visando apenas o entendimento para o signo pum em seu contexto
mais comum (flatos), a provável responsividade será em relação a boas maneiras.
Meu melhor amigo é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o
Pum. Mas às vezes as pessoas olham feio pra mim porque o Pum faz
barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso
acontece porque tem hora certa pra soltar o Pum. Quando eu solto
na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um
monte de bronca à toa. (FRANCO, 2010, p. 4, 6 e9)
Boas maneiras é a essência da boa educação e a boa educação começa a partir do
respeito, que muitas vezes significa contenção. Conter ações espontâneas e
principalmente as físicas, as retenções mais essenciais perante a sociedade, está
relacionado ao toque físico e às funções fisiológicas. Soltar pum em público é
considerado falta de respeito, e este é um ensinamento transmitido de geração em
geração.
Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o Pum no jardim do
prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. –
Quantas vezes eu vou ter que repetir que não quero o Pum aqui? Vou
falar com a sua mãe. E ela falou e minha mãe ficou brava de verdade.
(FRANCO, 2010, p. 10 e 11)
A questão aí envolve a falta de cuidado da mãe que supostamente não está
educando seu filho, já que este está soltando pum em um lugar público. A cobrança da
sociedade em relação ao ensinamento de boas maneiras é bastante presente no dia a dia.
A criança vai aprendendo que soltar pum no lugar certo, ou ainda, estar sozinho para
soltar pum é uma atitude aceitasocialmente.
Ainda bem que depois a gente se mudou pra uma casa grande, com
jardim florido maior ainda. Aí era uma festa... Eu soltava o Pum no
quintal e ele não incomodava ninguém. Mas às vezes o Pum fazia
muito barulho, e um dia um vizinho acabou reclamando com meu
41
pai. Por que será que as pessoas ficam bravas quando eu solto o Pum
e ele faz barulho? Por causa desse vizinho eu tive que começar a
prender o Pum toda noite. (FRANCO, 2010, p. 12 e 14)
Apesar de ser um processo biológico normal, os gases intestinais, além de causar
grande desconforto devido umadistensão abdominal que provocam, podem, em
determinadas circunstâncias, trazer constrangimento social.
Cientificamente a produção de gás no trato intestinal é chamada de flatulência
ou flato, palavra de origem do latim flatus, que significa sopro. Popularmente o flato
recebe diversos nomes, entre os quais “pum”. Os puns se originam nos gases que são
ingeridos juntamente com a comida e em grande parte são produzidos no intestino por
carboidratos que não são quebrados na passagem pelo estômago. Como o intestino não
produz as enzimas necessárias para digeri-los, eles são fermentados por bactérias que
normalmente ali residem. O ar engolido ou os gases formados no aparelho digestivo são
expelidos por via oral (arroto) ou via anal (gases intestinais ou flatos).
Conforme Marcelo da Silva Pedro, médico-cirurgião do aparelho digestivo e 2º
secretário do departamento de gastroenterologia da Associação Paulista de Medicina o
pum é formado basicamente por gases sem cheiro como nitrogênio, oxigênio,
hidrogênio, metano e gás carbônico. O cheiro vem da substância que representa 1% da
composição do gás, também formada na metabolização dos alimentos, o enxofre e pode
ser acentuado conforme os alimentos que são ingeridos. "O ser humano elimina até 1,5
litros de gases pelo ânus por dia. Dá uma média de 10 a 20 flatos" diz Silva Pedro. Boa
parte dos gases é eliminada despercebidamente, principalmente durante a evacuação e
também durante o sono.
No começo eu fiquei triste... Até que eu tive uma ideia genial! Era de
noite e eu estava deitado na minha cama. Então soltei o Pum debaixo
do meu lençol. Isso minha mãe nunca descobriu. (FRANCO, 2010, p.
16)
E todo mundo sabe também que não dá pra gente prender o Pum o
tempo todo, porque ele não gosta de ficar preso e acaba escapando,
a gente querendo ou não. (FRANCO, 2010, p. 28)
Também é interessante que os puns mais barulhentos contêm mais metano, que é
um gás inodoro. Já os silenciosos têm uma maior concentração de enxofre, por isso o
mau cheiro. Os sons são produzidos pela vibração da abertura anal, depende muito da
42
velocidade em que o gás sai e o quanto relaxados ou contraídos estejam os músculos do
esfíncter anal. Quanto mais relaxados estiverem, menos barulhento será opum.
Em dia de festa meu pai sempre pede pra gente prender o Pum. Ele
diz que soltar o Pum em festa é falta de educação e incomoda os
convidados. No Natal do ano passado o Pum escapou e emporcalhou
a calça da tia Clotilde. Aí meu pai veio e foi logo perguntando na
frente de todo mundo: - Quem foi que soltou o Pum? (...) Ele sabe
muito bem que a primeira coisa que a tia Clotilde faz quando vem
aqui em casa é soltar o Pum. Aí ele fica em volta dela fazendo o maior
barulho, e ela fica com cara de santa, dizendo que não foi ela.
(FRANCO, 2010, p. 23, 24, 26 e27)
Parte das funções digestivas de qualquer ser vivo, o pum pode trazer
desconfortos e dores abdominais. Mas é o desconforto e o incomodo para lidar com o
pum que gera grande constrangimento e risos sociais. A reportagem publicada no site da
UOL em 12/01/2016 por Fernando Cymbaluk diz que:
A rejeição a esse muitas vezes barulhento e maucheiroso impulso
orgânico não é tão velha assim. A "repulsa ao pum" surge com outros
hábitos de higiene adotados com o crescimento das cidades no
século 19. Como mostra o historiador Alain Corbin na obra "História
da Vida Privada - volume 4" (Cia das Letras), em uma época anterior,
em que predominavam as comunidades rurais, o pum era sinal de
"bom desempenho das funções naturais". A higiene íntima, fruto do
"processo civilizatório", é que acentua "o desejo de manter à
distância o dejeto orgânico, que lembra a animalidade, o pecado e a
morte", como diz oautor.
Resulta-se disso que o pum, mesmo sendo função fisiológica associada a sujeira,
é culturalmente repugnado creditando o título de mal educado àquele que o eliminar
empúblico.
Eu acho todas essas broncas por causa do Pum uma grande injustiça!
Tá certo que algumas vezes o Pum faz muito barulho e em outras ele
fica fedido. Mas não é culpa minha. Não é de propósito. Eu só não
consigo segurar ele! (FRANCO, 2010, p.30)
Também é possível analisar a obra apenas pelo seu visual. As ilustrações
43
presentes em toda a obra evidenciam o cachorro, única figura colorida em todo o livro.
A percepção mais simples que se pode ter em função das imagens é a história de um
cachorro que faz muita bagunça e as broncas que o seu dono, um menino, leva por não
conseguir cuidar direito de seu animal de estimação o que acaba incomodando muita
gente.
Figura 1 – ilustrações do livro “Quem soltou o Pum?”
Fonte: FRANCO, 2010, p. 7, 3, 23 e 17.
Para um leitor não alfabetizado, trata-se apenas de um cachorro de nome
qualquer. Contudo um leitor alfabetizado poderá verificar em algumas imagens o nome
do animal grafado em seu prato e casinha.
Por fim, é fácil perceber que as possibilidades imaginéticas que o jogo das
imagens e das palavras fazem são diversas, podem variar de acordo com as vivências do
leitor, de sua história de vida ou até mesmo da influência do contexto social em que
atua.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No livro infantil “Quem soltou o Pum?” imagens e texto se complementam
44
trazendo à tona a divertida história de um menino que passa apuro com as travessuras de
seu cachorro de nome “Pum”. Não obstante, baseado nesta breve análise da obra, fica
clara a importância e necessidade de atentar para a subjetividade no enunciado.
Do mesmo modo em que uma visão parcial da obra causa, intencionalmente ou
não, responsividades diversificadas como as aqui apresentadas, similarmente esta
situação pode acontecer e acontece na relação professor-aluno. É preciso estar atento
para o todo da cadeia comunicativa para que se possa chegar o mais próximo da
responsividade esperada, pois como afirma Bakhtin/Volochinov “os contextos possíveis
de uma única e mesma palavra são frequentemente opostos”. (p.110)
Ao professor cabe observar sua clientela e buscar os meios necessários à uma
comunicação clara e direta, para obter respostas adequadas ao que se espera numa
aprendizagem sólida e duradoura, é sabido que a compreensão dos significados são
garantia do sucesso escolar.
REFERÊNCIAS
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. 5.ed. São Paulo :
Scipione, 1995.
AGUIAR, Vera Teixeira & BORDINI, Maria da Glória. Literatura: a formação do leitor:
alternativas metodológicas. 2.ed. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1993.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 5ª ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes,2010.
. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método
sociológico da linguagem. 16ª ed. São Paulo: Hucitec,2014.
. Teoria do romance I: A estilística. 1ª ed. São Paulo: Editora 34, 2015.
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 11.ed.Rio de Janeiro : Paz e
Terra,1996.
CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil? 6.ed. São Paulo : Brasiliense, 1994.
CYMBALUK, Fernando. Vergonha? Pum era normal na antiguidade, mas dá para
diminuir o mau cheiro. UOL Notícias –Ciência eSaúde. Disponível em:
<http://noticias.uol.com.br/saude/listas/gases-causam-constrangimento-saiba-como-enfrentar-o-
incomodo.htm>.Acessoem:13ago.2016.
FILHO, José Nicolau Gregorin. Literatura infantil: múltiplas linguagens na
formação de leitores. 1ª ed. São Paulo: Melhoramentos,2009.
45
FRANCO, Blandina. Quem soltou o Pum? São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6ª ed. 13ª impressão.
São Paulo: Editora Ática, 2008.
MEIRELES, Cecília. Problemas da literatura infantil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984.
LITERATURA EM RÁDIO: A VEZ E A VOZ DOS ADOLESCENTES
Thayana Carpes (IFES)
Resumo: Partindo da necessidade de refletir acerca de determinados conhecimentos e
proporcionar um ambiente atraente de aprendizagem aos alunos do Ensino Fundamental, surge
o desafio de trabalhar a literatura através de uma rádio simulada. Esta configura-se como um
veículo capaz de estabelecer mecanismos para o ensino dos aspectos da linguagem, relacionados
à leitura e à compreensão textual. O objetivo deste artigo é, pois, analisar a utilização desse
meio de informação como facilitador e estimulador do processo de leitura dos textos literários
infantis e juvenis, com potencial para oportunizar aos alunos um acesso ao lazer e um olhar
humanizador. A atividade promoverá a reflexão e a interação entre os alunos, com ênfase na
expressão das emoções e na leitura de mundo, a partir do texto "O direito à literatura" (2011), de
Antônio Candido, que nos propõe uma leitura do texto literário como um exercício de reflexão,
penetrando nos problemas da vida, organizando o caos interior e promovendo a humanização.
Apoia-se também nos estudos de Leonardo Arroyo e Paulo Freire, a partir do incentivo à leitura
crítica, à criatividade, à curiosidade e à ação.
Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Leitura. Rádio Simulada.
Abstract: Based on the need to reflect on certain knowledge and provide an attractive learning
environment for elementary school students, the challenge of working literature through a
simulated radio arises. This is configured as a vehicle capable of establishing mechanisms for
teaching aspects of language related to reading and textual comprehension. The purpose of this
article is to analyze the use of this information medium as a facilitator and stimulator of the
process of reading children‟s and youth's literary texts, with the potential to give students access
to leisure and a humanizing look. The activity will promote reflection and interaction among
students, with an emphasis on the expression of emotions and world reading, from the text "The
right to literature" (2011), by Antônio Candido, who proposes a reading of the literary text as an
exercise in reflection, penetrating the problems of life, organizing inner chaos and promoting
humanization. This article is also supported by the studies of Leonardo Arroyo and Paulo Freire,
from the incentive to critical reading, creativity, curiosity and action.
Keywords: Children and Youth Literature. Reading. Simulated Radio.
INTRODUÇÃO
46
Situada no campo da leitura e da produção textual – considerando a diversidade
social e a necessidade de promover práticas pedagógicas que aproximem o aluno do
estudo da Língua Portuguesa, da literatura e da sociedade –, esta proposta visa a
proporcionar aos alunos um ambiente atraente para facilitar o processo de leitura e
interpretação de textos, utilizando uma rádio simulada na sala de aula, segundo uma
perspectiva criativa, interativa e prática, por compreender que a iniciativa “é um
processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo
mais e mais criador” (FREIRE, 2011, p. 24).
O foco da investigação surgiu a partir da realidade de uma escola da rede pública
municipal de Vila Velha, Umef Professor Rubens José Vervloet Gomes, decorrente do
difícil acesso à literatura infantil e juvenil e das práticas de compreensão textual
desenvolvidas nas turmas do nono ano, do Ensino Fundamental, pela professora de
Língua Portuguesa, insatisfeita com o desempenho dos alunos nas respostas discursivas,
leitura e debates. Esses mesmos problemas foram apontados como falas recorrentes dos
discentes, porém justificados como reflexo do desinteresse pelas disciplinas escolares,
dissociadas da realidade em que estão inseridos e extremamente previsíveis no que se
refere à avaliação. Todas essas considerações vão além das falhas pontuais para propor
um contado direto com a literatura, utilizando como estratégia o rádio, a partir de uma
abordagem que envolva a tecnologia e o trabalho em grupo.
A prática requer o conhecimento da realidade social, econômica e cultural do
público, com intuito de identificar a influência desse meio de comunicação. Ademais,
há a necessidade de se pensar em como recriar esse veículo, por intermédio de
pesquisas, aperfeiçoamento das habilidades individuais, fundamentação no domínio da
gramática, leitura, interpretação e produção de texto, sem deixar de lado a formação do
caráter para a constituição do aluno como cidadão apto à participação social, pelo
domínio criativo e consciente da linguagem.
Essa postura será explicada e fundamentada nos estudos de Paulo Freire, que
defende a importância do ato de ler como atividade natural e primeira, quando se pensa
na decodificação de palavras e se tem a percepção da interação social, do homem com o
meio. Assim, incentiva
a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas
que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do
mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
47
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre
o texto e o contexto. (FREIRE, 1986, p. 11).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - documentos constituídos de
normas legais e considerados referência para a construção dos planos de ensino do
ensino fundamental - serão consultados para amparo e direcionamento da abordagem
adotada, justificando a necessidade de um trabalho pontual para a discussão de temas
transversais, porém com critérios bem estabelecidos para otimização do tempo e
envolvimento do grupo, gerando resultados que aprimorem a oratória, a formação do
caráter e a aproximação de realidades, considerando o estímulo à manifestação da
subjetividade e o trabalho simultâneo com a literatura.
É importante ressaltar que para muitas pessoas o contato com a leitura se
restringe ao espaço escolar e deve ocorrer na aula de literatura ou na biblioteca,
subordinada à inspeção de coordenadores, bibliotecários e professores. Algumas vezes,
a leitura está enquadrada dentro das propostas de punição ao aluno indisciplinado ou
uma forma de disfarçar aulas vagas. Pensando nisso, Ricardo Azevedo descreve bem a
responsabilidade da escola quando afirma:
Não por acaso, ainda é baixo o número de leitores regulares, pessoas
que sabem utilizar livros em benefício próprio e que, portanto,
poderiam constituir algo como uma “cultura de leitura”. Neste
contexto adverso, a escola tem sido, indiscutivelmente, o grande e
mais importante espaço mediador da leitura e da formação de leitores.
Nela, grande parte das pessoas tem sua primeira chance de estabelecer
contato com textos de ficção e poesia (AZEVEDO, 2005, p. 1).
Analisando a questão e considerando que o produto final é a construção de uma
programação diária que simule o diálogo da comunidade escolar com a sociedade,
preenchendo os espaços de silêncio onde ecoa a ignorância e a preguiça, sustenta-se a
possibilidade de exposição criativa da pesquisa dialógica entre passado, presente e
futuro da figura do rádio, visando ao desenvolvimento da leitura do texto literário e do
relacionamento interpessoal, capaz de sanar a carência de informação, oportunizar o
lazer, gerar prazer, despertar a curiosidade e incentivar a imaginação, objetivos
pontuados como requisitos do bom texto de literatura infantil e juvenil, segundo
Leonardo Arroyo em Literatura infantil brasileira (2011).
A ideia é mostrar os conceitos na aplicação prática, pois acredita-se que o aluno
gosta de interagir com as propostas de atividades à medida em que enxerga a viabilidade
48
do que está sendo estudado, ou que percebe que haverá um resultado final, e que a
aprendizagem está diretamente ligada à própria realidade e ao domínio do conhecimento
adquirido. Em virtude disso, o estudo seguirá a linha de raciocínio de O direito à
literatura (2011), de Antônio Candido, que nos propõe uma leitura do texto literário
como um exercício de reflexão, penetrando nos problemas da vida, organizando o caos
interior e promovendo a humanização.
Vale ressaltar que por humanização entende-se
[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor
(CANDIDO, 1995, p. 180).
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este estudo está pautado em conceitos de autonomia, criatividade, textualidade e
humanização, por isso traz a perspectiva de Paulo Freire, Antônio Cândido, Leonardo
Arroyo e muitos outros estudiosos que partiram desses termos para analisar a prática
diária de sala de aula, os desafios da proposta de ensino da Língua Portuguesa, a
dificuldade dos alunos na hora da leitura, o distanciamento entre o aluno e a literatura
infantil e juvenil, as carências da escola contemporânea, a relação da educação com as
mídias e o alcance do rádio entre os adolescentes.
Porém, não se pretende fazer apenas uma análise das propostas, a intenção é
conhecer para aplicar, com intuito de dar voz e vez a teóricos, pesquisadores,
professores e aos alunos, como forma de garantir a autonomia e propor uma
transformação da rotina escolar, pela ação conjunta e estruturada no contexto cultural.
Sendo assim, o importante é viabilizar atividades simples, práticas e que
contemplem a parceria enriquecedora do professor com o aluno, mas sem esquecer o
valor dos textos literários, que podem ser a base para aulas completas, interativas e
inspiradoras; que falem de vida, de morte, de pertencer, de valores, de tudo e de nada;
que promovam a reflexão ou apenas representem uma carícia na alma; entretanto, sem a
preocupação do ter que ser. Que sejam descobertos, desvendados e devorados por olhos
carentes de atenção e de direcionamento. Sem entrar no mérito da discussão de que o
texto tem que ser moralizante, pedagógico.
49
Pode-se perceber que os textos destinados ao público juvenil no Brasil
partem de uma configuração monológica, uma vez que falam de
lugares que nada mais são do que aparelhos ideológicos do Estado,
para uma proposta de dialogismo e polifonia, em razão de fazerem
emergir a voz questionadora do próprio jovem, voz essa que tende a
questionar toda espécie de autoritarismo e de instituições
(GREGORIN FILHO, 2011, p. 11).
Também não se deve perder tempo tentando identificar que literatura é
infantojuvenil quando há necessidade de fuga da realidade, de resgate da esperança;
quando a própria vivência já forçou o amadurecimento, quando os ouvidos já se
acostumaram ao barulho dos tiros, quando os olhos não se arregalam por um corpo
caído, quando o coração não dispara com medo da perda, quando o pânico pertence à
rotina e sonhos são para os desocupados. Esses alunos são as histórias que ainda não
foram para o papel, e o estranho é que eles não sabem o potencial da dor que carregam,
porque ainda não foram valorizados e instigados a exteriorizar a própria voz.
Essa sensibilidade é muito bem captada por Bartolomeu Campos de Queirós ao
definir a função da escrita literária no texto Leitura, um diálogo subjetivo. A análise
parece resumir a proposta deste estudo ao sugerir a construção de uma rádio simulada
como facilitadora e estimuladora do processo de leitura dos textos literários infantis e
juvenis, com potencial para oportunizar aos alunos o acesso ao lazer, um resgate da
esperança e um olhar humanizador.
(...) se a escrita não permite voos aos leitores ela não é literária.
Suponho que a literatura abre porta, mas a paisagem está aninhada no
coração do leitor. A imaginação é privilégio de todos os indivíduos.
Insisto em construir um texto capaz de possibilitar aos jovens a
conquista de maiores alturas. Quero um texto que tenha ressonância,
capaz de provocar ecos, ir além da linha do horizonte. Persigo um
texto capaz de ativar a capacidade criativa que existe em todo
indivíduo. Meu convite é de que o leitor reflita comigo sobre minhas
dúvidas e meu pouco saber, e me responda com a sua liberdade. Quero
um texto que tanto permita a entrada da criança, como também acorde
a infância que mora em todo adulto (QUEIRÓS, 2012, p. 170).
2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTO PARA A PESQUISA
O presente estudo terá por base a Pesquisa Qualitativa, com procedimento do
tipo Observação Participante e algumas práticas da Pesquisa Bibliográfica, em virtude
da complexidade da atividade proposta e da necessidade de conhecimento do grupo em
análise, da reflexão sobre as variáveis envolvidas nos problemas expostos, da
compreensão das particularidades e intervenção. Assim, o trabalho será dividido em 4
50
(quatro) etapas: busca de bibliografia, para atualização dos conhecimentos produzidos a
respeito do assunto; estudo preliminar da região e da população envolvida (aplicação de
questionário e interpretação qualitativa); análise crítica dos problemas do grupo em
relação à leitura e acesso à literatura infantil e juvenil, por intermédio de método
observacional; e elaboração de um plano de ação.
A proposta de simular uma rádio, por si só, já possibilita o afloramento da
subjetividade, a exteriorização das preferências e uma liberdade na fala, explorando a
oralidade nas diferentes dinâmicas e atividades, sendo que o orientador/pesquisador dá
voz ao grupo e estimula a participação, como preveem os Planos Curriculares
Nacionais.
O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento
linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das
práticas sociais mediadas pela linguagem. Organizar situações de
aprendizado, nessa perspectiva, supõe: planejar situações de interação
nas quais esses conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados;
organizar atividades que procurem recriar na sala de aula situações
enunciativas de outros espaços que não o escolar, considerando-se sua
especificidade e a inevitável transposição didática que o conteúdo
sofrerá; saber que a escola é um espaço de interação social onde
práticas sociais de linguagem acontecem e se circunstanciam,
assumindo características bastante específicas em função de sua
finalidade: o ensino (PCN, 1998, p. 22).
O aluno será aproximado do texto literário por meio da leitura, e convidado
constantemente a dialogar com a sociedade em que está inserido. A perspectiva é de
ensejar aulas de Língua Portuguesa mais envolventes e participativas, com uma
aplicabilidade imediata, além de uma identificação das aptidões e união da turma, já que
todos os alunos serão responsáveis por uma tarefa e dependerão do desempenho dos
demais componentes para estruturação do trabalho integral. Resumindo, o trabalho
seguirá o pensamento de autonomia proposto por Freire (2011), por entender que
“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção
ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 12).
3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
O estudo observou o comportamento de um grupo de 33 alunos do nono ano da
Unidade Municipal de Ensino Fundamental Professor Rubens José Vervloet Gomes,
mais conhecida como Vila Olímpica, localizada no bairro Soteco, na cidade de Vila
Velha, Espírito Santo.
51
A escola funciona em dois horários: matutino e vespertino; atende, atualmente, a
687 alunos do Ensino Fundamental II; é ampla, com um pavilhão de dois andares de
salas; dispõe de um laboratório de informática com profissional de apoio e 27
computadores, quadra de esportes, campo de futebol, pista de atletismo, um pequeno
pátio descoberto, piscina, auditório que comporta 120 alunos, sala específica para
experiências científicas, refeitório e uma biblioteca com acervo bastante reduzido.
Oferece o projeto Mais Educação, que proporciona aos alunos desenvolverem
atividades artísticas e esportivas, estendendo a carga horária.
O grupo selecionado é composto por 33 alunos, entretanto, em virtude de faltas,
os dados coletados refletem a opinião de 28 entrevistados, com idades que variam dos
13 aos 17 anos, comprovando a diversidade e a defasagem idade/série que compõem o
Ensino Fundamental.
O questionário indicou uma grande aceitação do rádio como veículo de
comunicação entre os adolescentes entrevistados, já que 90% acompanham a alguma
programação radiofônica por pelo menos 30 minutos diariamente, e que desses, 68%
ainda têm o hábito de escutar rádio pela internet e 96% pelo celular, enquanto
desenvolvem outras atividades, como estudar, atualizar as redes sociais e brincar.
Apenas 32% se concentram na programação e, em geral, estão interessados em ouvir
músicas, opção que recebeu 86% dos votos. As notícias (7%), as entrevistas com
personalidades (4%) e o horóscopo (3%) também foram citados, ainda que com pouca
representatividade. Chamou a atenção o fato de nenhum aluno ter marcado que se
interessa pela interação, ou seja, poder participar como ouvinte e ganhar prêmios.
A afinidade com o rádio, apontada como fator de proximidade, influencia
positivamente o gosto de 54% dos entrevistados. Esse dado merece destaque, por
confirmar a ideia de um recurso contemporâneo, apesar de seu quase centenário de
existência no Brasil, coexistindo ao lado de grandes aparelhos eletrônicos e
tecnológicos, como a televisão e o computador, que também exploram a sonoridade,
porém fazendo uso de imagens.
É interessante ressaltar que um número significativo de entrevistados (57%)
afirmou ser proibido ouvir rádio na escola, o que foi analisado como uma associação ao
uso de fones de ouvido e celular em sala de aula. 39% afirmaram ser raro, e apenas 4%
identificaram oportunidades em que isso acontece. Essa questão suscita a reflexão para
uma utilização ainda baixa de recursos simples, porém diferenciados dos conhecidos:
quadro, pincel, livro didático, lápis e borracha. A última pergunta do questionário
52
reforça essa ideia quando evidencia que 79% dos alunos gostam de aulas em que o
professor utiliza recursos tecnológicos.
O questionário mostrou a incredulidade de alguns alunos (14%) para a
construção de uma rádio escolar e o sonho de quase todos os outros (79%) de um
recurso que possa unir educação e diversão. Assim, 82% dos entrevistados afirmaram
que o funcionamento dessa rádio deveria ocorrer em todos os turnos, nos horários de
entrada, saída e recreio.
Contudo, apesar do desejo de mudança, de modernização e de distanciamento da
rotina, há uma compreensão bastante rasa, por parte do aluno, do termo educação,
comprovada pelo estreito reconhecimento do potencial do rádio para trabalhar as
diversas áreas do saber e a construção da identidade do aluno, tanto que 54%
registraram que a rádio escolar pode ajudar na formação do aluno promovendo um
ambiente de interação e lazer. Aqui, é possível ressaltar que a ampliação do repertório
cultural e do conhecimento de mundo ficou em segundo plano.
Os alunos demonstraram insatisfação com o acervo da biblioteca, caracterizado
como insuficiente e desatualizado, o que serviu como justificativa para o baixo número
de procura por empréstimos. Também reclamaram do horário de funcionamento, que
não contempla o recreio e o intervalo entre os dois turnos, considerado pausa para o
almoço. Sugestões de livros para uma futura compra também foram registradas e só
foram citados autores da contemporaneidade, evidenciados pela mídia por terem virado
filme, representarem alguma série televisiva ou trazerem personagens dos quadrinhos.
Isso gera a dúvida de a dificuldade ser de reconhecer clássicos da literatura infantil e
juvenil ou se não há interesse em conhecer outras obras que não sejam as
mercadológicas.
Por fim, o questionário conseguiu fortalecer o ideal de criação da rádio na escola
como um incentivo à leitura, já que a maioria (54% dos entrevistados) partilha da
mesma opinião, sendo que 7% não responderam e 32% não conseguem se decidir a
respeito do assunto. Apenas outros 7% não acreditam na proposta.
4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
A relação professor-aluno geralmente se baseia na confiança, na admiração e na
existência do diálogo para influência da aprendizagem e interiorização dos instrumentos
sociais. Há uma busca pela construção da própria identidade, por parte do discente,
mediada pelo trabalho do docente com os conteúdos estudados, ação que
53
significativamente está interligada à necessidade de realização profissional e troca de
afetividade. A respeito dessa troca, Paulo Freire afirma que só se realiza quando ocorre
a comunicação, possibilitada pelo diálogo baseado em laços de afetividade.
Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança.
Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se
ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem
críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia
entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 1967, p. 107).
Essa comunicação, em alguns casos, fica sobrecarregada e prejudicada pelas
deficiências da educação recebida no ambiente familiar, uma vez que o aluno, muitas
vezes, busca na escola a área de lazer que não encontra no bairro onde mora, assim
como a família delega para os profissionais da educação a responsabilidade pela
formação do caráter e construção dos valores dos filhos, atribuindo ao professor atitudes
que não competem à sua função. Dessa forma, o estudante tenta exigir do professor a
afetividade e exemplos de postura que deveria encontrar em seus tutores.
Também há, por parte do aluno e da própria família, uma expectativa de ter
aulas animadas, criativas, dinâmicas, seguras e ao mesmo tempo repletas de conteúdos,
confirmando o desejo de unir a obrigação do Governo de garantir o acesso a toda
criança à educação de qualidade com o lazer, possibilitando ao estudante passar mais
tempo na instituição educacional, dispondo de acompanhamento profissional e
atividades lúdicas, esportivas e artísticas. Entretanto, há uma distância significativa
entre o que o aluno considera agradável e a necessidade do educador de trabalhar
determinados assuntos e aplicar algumas didáticas.
As famílias estão confundindo escolarização com educação. É preciso
lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação. Educar é
tarefa da família. Muitas vezes, o casal não consegue, com o tempo
que dispõe, formar seus filhos e passa a tarefa ao professor,
responsável por 35, 40 alunos (CORTELLA, 2014, p. 67).
É muito comum a criança e o adolescente querer recriar na escola o ambiente de
familiaridade que encontra em casa, tanto ao que se refere à intimidade com as pessoas
quanto ao grau de liberdade para as ações, tornando a tarefa do professor, inicialmente,
desafiadora e com uma primeira imagem negativa, pela imposição de limites,
delimitação do tempo e organização das atividades, uma vez que há uma
intencionalidade em cada dinâmica. O estudante quer se sentir seguro, então valoriza e
enaltece a realidade em que está inserido, os recursos que domina, criticando aquilo que
54
difere da cultura internalizada, como a norma culta padrão. O resultado desse conflito
de interesses é a dificuldade de se trabalhar conteúdos programáticos, de forma lúdica,
em exercícios que explorem a leitura e desenvolvam a escrita crítica, sem menosprezar a
estrutura familiar, os valores e o conhecimento de mundo de cada educando. A esse
respeito, Werneck (1996) elucida que:
Educar é difícil, trabalhoso, exige dedicação, sobretudo aos que mais
necessitam. Transferir problemas é fugir da verdadeira educação [...].
Educar é proporcionar ao aluno conhecer a si próprio, levá-lo à
consciência de poder ser mais, reconhecendo que é chamado a
encontrar-se no mundo com o outro e não mais solitário em seu
“mundo” [...]. A sala de aula é um espaço de “luta” extremamente
importante, desde que se compreenda e acolha o educando,
independente do quão diferente ele seja. A educação situa-se como
possibilidade de ser um instrumento de mudança social e de
transformação da realidade (WERNECK, 1996, p. 61).
Analisando com mais detalhes a perspectiva do docente de Língua Portuguesa,
há o desafio de administrar o tempo de planejamento, contemplando a Literatura,
Linguística e Redação em atividades que consigam ultrapassar o tradicionalismo
didático das divisões por aulas específicas e entender os recursos possíveis na escola,
atraentes ao público-alvo e que se aproximam do cotidiano desse grupo. Um exemplo
desse impasse é fazer com que os alunos apreciem o ato de ler e adquiram o hábito da
leitura como uma oportunidade de interação com o mundo, além de conhecimento da
própria individualidade, possibilitando a interpretação dos fatos, a fruição pela
descoberta do prazer, o desenvolvimento do senso crítico e o posicionamento em face
da escrita social, ou seja, preocupada com a informatividade, com a confrontação com o
real e com o dialogismo.
A ausência de determinados recursos didáticos para exploração dos conteúdos
no desenvolvimento da aula, de forma a envolver todo o grupo, acaba desmotivando e
dificultando o desempenho individual do aprendiz. Assim, a ideia de construir uma
rádio em sala de aula surge do contexto apresentado como uma possibilidade de facilitar
o trabalho do docente de Língua Portuguesa e atrair a atenção dos alunos para a
literatura, pelo interesse em adquirir voz e destaque no ambiente escolar.
É importante ressaltar que o rádio é uma mídia de massa que continua popular,
resistindo à concorrência das novas tecnologias, de amplo alcance nas camadas sociais,
baixo custo operacional, pela simplicidade de recursos técnicos e agilidade na
transmissão comunicativa. Além disso, favorece o processo imaginativo, valoriza
55
características particulares da oralidade em meio a uma comunicação coletiva, acessível
e dinâmica, em que formas de expressões artísticas consagradas ganham novos
formatos, caso da radionovela.
5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
O rádio consolidou-se como um meio de comunicação popular, dinâmico e
atrativo, por conseguir associar o entretenimento à informação, em programações
diversificadas e acessíveis a todas as classes sociais, satisfazendo uma necessidade
antiga de levar o conhecimento ao elevado número de analfabetos existentes no país, na
década de 40. Unindo esporte, música e notícias, logo recebeu propostas para divulgar
eventos e produtos, gerando receitas para investir em tecnologia e arte; o resultado foi a
criação de programas carismáticos, que cativaram pela certeza de distração e espaço
para a exposição da cultura, promovendo a profissionalização da música, a
comercialização de imagens, a geração de empregos e a mudança de hábitos.
É dessa história de sucesso que se visualiza um recurso de intervenção
pedagógica no processo de aprendizagem, com vistas a expandir o senso crítico e o
repertório cultural, assim como aprimorar a capacidade de leitura e compreensão de
textos literários dos alunos do Ensino Fundamental II.
Além do caráter educativo, é possível perceber a importância desse
trabalho como um espaço aberto às reflexões cotidianas, apontando
para a renovação da transmissão e recepção de mensagens e
aprofundamento nos processos de produção e de conteúdo
(CAMPELO, 2010, p. 98).
O objetivo é aproximar os alunos do texto literário, da comunidade, da
linguagem escolar e da realidade social, pela leitura, utilizando o rádio como suporte de
comunicação e meio de enriquecer a aula de Língua Portuguesa, possibilitando o
desenvolvimento prático de diferentes gêneros.
Assim, o primeiro passo é entender que o direito à literatura é uma necessidade
humana, assim como o direito à liberdade individual, ao lazer e à opinião, já que “o
homem recorre à criação imaginativa por um compromisso, ou esforço de substituir
uma realidade que também pode ser enganosa, por uma agradável ficção” (ARROYO,
2011, p. 40). Ora, se a literatura se configura como bem incompressível, capaz de gerar
prazer e reflexão, “ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o
56
homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e
no inconsciente” (CÂNDIDO, 2011, p. 177).
Entretanto, pensando nos livros para crianças e adolescentes, essa prática
educativa não pode ser confundida com o caráter moralizante intrínseco a algumas
obras. A literatura infantil e juvenil deve trazer como pré-requisito a comunicabilidade,
a riqueza de significações, o estímulo à leitura, a provocação à personalidade, o caráter
humanista e o prazer, sem o didatismo excessivo. E quando se fala em ser humanista,
entende-se que deve apresentar o homem com todas as suas genialidades e fraquezas,
desvios de conduta e capacidade de se superar, ou seja, em uma exposição realista da
humanidade, pois a literatura é o choque, a experiência, o estranhamento e a
transformação.
Há de se considerar, então, que a literatura infanto-juvenil é antes de
tudo literatura e pode ter um valor educativo, como consequência de
um bom trabalho com a linguagem realizado pelo autor, mas o seu
valor educativo não se constitui como fim primeiro de sua produção.
Sendo assim, tem, como ponto de partida de sua análise, o estudo da
literariedade e do valor estético de seus textos, o que equivale a dizer
que concentra a sua principal característica no trabalho que se realiza
com a palavra, com a linguagem (TAET, 1997, p. 93-94).
A literatura deve proporcionar um olhar sensível e um diálogo amplo, refletindo
em uma internalização inconsciente do novo e do outro, ao romper o silêncio interior do
leitor e promover a transcendência do lugar comum para um encontro íntimo consigo
mesmo e com o mundo que o rodeia, simplesmente, confirmando a própria
subjetividade, por meio de um convite à reflexão, a uma viagem íntima de surpresas e
desapontamentos, como um incentivo à integração com o texto, com a vida, com o
mundo.
Considerando todo o poder da literatura, a proposta é desenvolver oficinas que
proporcionem o conhecimento dos gêneros que compõem uma rádio para,
posteriormente, dividir o grupo de alunos por identificação ou aptidão, tendo o
compromisso de desenvolver um dos quadros da rádio simulada, para a culminância, ou
construção do produto final, que poderá ser apenas uma dinâmica, com um único
programa de rádio, ou um trabalho contínuo, de transmissão diária para toda a escola.
Para embasar o trabalho, há sugestões de oficinas.
5.1. PROPAGANDA: APROVEITANDO O ESPAÇO E AGREGANDO VALOR
57
O texto publicitário apresenta-se como a personificação da própria sedução,
materializada na imagem de um novo produto, evento ou conduta, que tem por objetivo
aproximar uma determinada marca do consumidor. Sua estrutura, normalmente, explora
o universo lúdico, com ênfase na função apelativa e foco no interlocutor que, caso se
deixe influenciar, torna-se alvo de tudo quanto é supérfluo e absorve necessidades
passíveis de satisfazerem à ideia de pertencimento que emana do mundo capitalista.
É aqui que se faz imprescindível a figura do professor como mediador dessa
linguagem carregada de segundas intenções e o aluno adolescente, tentando desenvolver
mecanismos de interpretação de textos que desmistifiquem a venda de identidade,
felicidade, saciedade, perfeição e inserção social. Uma sugestão é trabalhar com
anúncios poéticos, vendendo, alugando, trocando ou emprestando autoestima, sonhos,
sedução, criatividade e sensibilidade.
5.2. MÚSICA: EMBALANDO HISTÓRIAS
A música foi um dos maiores responsáveis pela rápida aceitação do rádio como
veículo de comunicação de massa e opção de entretenimento que desencadeou um
processo de divulgação cultural. Como gênero textual, pode ser explorado o formato
híbrido da canção, considerando a relação entre texto e melodia, marcada pela
exposição da sentimentalidade, pela subjetividade e por traços poéticos, pensando na
sonoridade e no uso de figuras de linguagem.
Trabalhar com a música em sala de aula não é novidade quando se fala em
explorar recursos que tenham potencial educativo e de grande aceitabilidade entre o
público adolescente e jovem. Uma opção é propor a construção de paródias como
estratégia para desenvolver a percepção auditiva, aprimorar a sensibilidade, expandir o
vocabulário e promover a interface interdisciplinar, no sentido em que requer um estudo
histórico de resgate dos grandes compositores e dos maiores movimentos artísticos, para
a contextualização das letras às discussões sociais contemporâneas.
5.3. NOTÍCIA: IMORTALIZANDO A HISTÓRIA
Explorar o gênero notícia a fim de construir um canal de comunicação entre a
escola e o aluno permite uma abordagem de conteúdos gramaticais que aprimorarão a
capacidade interpretativa e ainda proporcionarão o desenvolvimento de atividades
dinâmicas de produção textual, superando a previsibilidade de aulas expositivas de
58
pronomes interrogativos, conjunções, operadores argumentativos e coesivos, denotação,
regência verbal e nominal. O professor poderá levar para a sala de aula jornais e agendar
momentos na sala de vídeo e informática, desenvolvendo análises de programas
jornalísticos televisivos e radiofônicos para caracterizar o texto notícia, dando sequência
a um trabalho interdisciplinar e rico em recursos.
Para diferenciar a linguagem desse gênero da escrita literária, há uma proposta
de partir da interpretação dos poemas Morte do leiteiro, de Carlos Drummond de
Andrade, e Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira, e das músicas
Rap do Silva, do MC Bob Rum, e Construção, de Chico Buarque. Com essas análises é
possível explorar ainda alguns eixos temáticos, como Violência e Desigualdade Social,
retomar a estrutura do poema e avançar para o aprendizado de entrevistas.
5.4. ENTREVISTA DE RÁDIO: DESPERTANDO A CURIOSIDADE
Marcada pela realização de um diálogo sedutor, a entrevista de rádio é o tipo de
gênero oral que explora a objetividade em uma linguagem persuasiva, tendo por base a
falsa intimidade desenvolvida entre os participantes, por meio de uma seleção lexical
bastante envolvente e agradável ao convite de revelar aquilo que desperta o interesse do
ouvinte.
Essa relação, em sala de aula, configura uma estratégia para organizar
entrevistas ficcionais com as personagens dos textos narrativos, como forma de explorar
a criatividade dos alunos e instigá-los à leitura de novos textos. A ideia é polemizar
atitudes expostas nas histórias e dialogar com a literatura, às vezes até criando novos
finais; também é uma oportunidade para trabalhar a formação dos valores do aluno.
5.5. RADIONOVELA: A FICÇÃO EM CAPÍTULOS
A radionovela conseguiu popularizar clássicos da literatura, e hoje pode ser
resgatada com a mesma finalidade, conduzindo a uma proposta pedagógica de leitura,
reescrita (para uma abordagem contemporânea) e apresentação oral, na divulgação de
textos famosos de Clarice Lispector, Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães
Rosa, Reinaldo Santos Neves, Adilson Vilaça e de outros grandes escritores brasileiros.
A ideia é bastante viável ao desenvolvimento da criatividade e da capacidade
comunicativa, primeiramente por exigir o trabalho em grupo, depois por permitir uma
liberdade na criação de vozes e construção das cenas no imaginário do ouvinte, por
59
intermédio dos sons que são transmitidos, não havendo necessidade de grandes
investimentos financeiros em sonoplastia, mas sim exploração das habilidades de
produzir sons com objetos do cotidiano ou mesmo manusear recursos de mídia.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante abrir espaço para as discussões a respeito do que é determinado
como prioridade no ensino, possibilitando a mudança naquilo que constitui o currículo
base da educação nacional e nas práticas pedagógicas, promovendo um estreitamento
entre o que determinam os planos curriculares e o conhecimento fomentado na
instituição escolar. Assim, termos e nomenclaturas seriam deixados para os estudiosos
da língua e a aplicação prática desses conceitos seria abordada com os alunos, para que
fossem capazes de fazer inferências e reconhecer situações que já vivenciam; é o que se
sugere com o estudo da literatura em uma abordagem prática de criação de uma rádio
simulada, que
[...] propicia ao aluno um olhar amplo sobre os meios de comunicação
social e de sua função na sociedade globalizada, a defesa e
cumprimento dos seus direitos e deveres. (..) o aluno pesquisa e lê
mais, ampliando sua visão de mundo, além de aprender a debater,
questionar, discutir, configurando assim, o desenvolvimento do senso
crítico e o exercício de desenvolvimento da cidadania
(ASSUMPÇÃO, 2008, p. 15).
Para tanto, é preciso ter em mente que o rádio, como todo suporte, não é neutro e
influencia na organização social, trazendo uma carga de valores e intenções que
privilegiam a constituição de alguns gêneros. Pensando na questão da linguagem,
explora a oralidade em um discurso amplo de recepção, porém com base na escrita
organizada de um roteiro, base do trabalho auditivo criativo. Não há dicotomia entre
fala e escrita, o que ocorre, em linhas gerais, é um processo de concepção e integração
entre os gêneros que compõem a programação, com a liberdade de uma repercussão oral
balizada por estratégias que possibilitem a compreensão do interlocutor, segundo uma
proposta bastante tendenciosa, em que pode haver gravação das falas com edição para
uma apresentação ou uma simples dinâmica de disposição das cadeiras em círculo, com
os ouvintes sentados ao centro, e os alunos que vão apresentar trabalho virados de
costas, lendo seus roteiros como se estivessem sozinhos em um estúdio.
REFERÊNCIAS
60
AZEVEDO, Ricardo. Aspectos instigantes da literatura infantil e juvenil. In: OLIVEIRA, Ieda
de (org.). O que é qualidade em literatura infantil e juvenil - Com a palavra o escritor. São
Paulo, DCL, 2005.
ARROYO, Leonardo. Literatura infantil brasileira. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. (3º e 4º ciclos do ensino fundamental). Brasília:
MEC, 1998.
CAMPELO, Wanir. História de uma cidade: belo cenário para um novo Horizonte radiofônico.
In: PRATA, Nair (org.). O rádio entre as montanhas: histórias, teorias e afetos da
radiofonia mineira. Ed. Fundac, 2010, p. 219-234.
CÂNDIDO, Antônio. O direito à Literatura. In: Vários escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro
sobre Azul, 2011.
CORTELLA, Mario Sergio. Educação, Escola e Docência - Novos Tempos, Novas Atitudes.
São Paulo: Cortez, 2014.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 12 ed. São Paulo: Cortez, 1986, p. 11-3.
______. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 2011.
______. Educação como prática da liberdade. 31. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
GREGORIN FILHO, José Nicolau. Literatura infantil: um percurso em busca da expressão
artística. IN: GREGORIN FILHO, José Nicolau; PINA, Patrícia Kátia da Costa, MICHELLI,
Regina Silva (Orgs.). A Literatura infantil e juvenil hoje: múltiplos olhares, diversas leituras.
Rio de Janeiro: Dialogarts, 2011.
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Leitura, um diálogo subjetivo in OLIVEIRA, Ieda (org.). O
que é
qualidade em literatura infantil e juvenil? Com a palavra o escritor. São Paulo: DCL, 2005.
TAETS, Silvana Pinheiro. Literatura Infanto-juvenil: caminhos e conceituações. In: RIBEIRO,
Francisco Aurélio (org.). Literatura e literatura infanto-juvenil: ensaios. Vitória: Ufes, 1997.
WERNECK, Hamilton. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. 16. ed. Petrópolis:
Vozes, 1996.
A CRÔNICA NA SALA DE AULA: UM ESTUDO SOBRE OS GÊNEROS DO
DISCURSO
Alcione Aparecida de Azevedo (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO)
Resumo: Este trabalho busca analisar as contribuições do gênero crônica para a formação do
leitor crítico no contexto do ensino fundamental, nas séries finais de escolarização, a partir da
teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos em sua visão mais ampla no contexto educacional,
para além das banalizações e apropriações equivocadas ainda presentes no discurso pedagógico.
61
Pretende-se situar o gênero em questão nas atividades escolares cujo foco seja o trabalho com a
linguagem, seja nas práticas de escrita, seja nas práticas de leitura, espaços interlocutórios ainda
pouco explorados no chão da sala de aula sob a ótica discursiva da linguagem, na qual autor,
texto e leitor interagem nos processos de interpretação e de atribuição aos sentidos do texto.
Metodologicamente, a análise proposta será realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica, na
qual serão trazidos à baila alguns dos autores representativos do campo da linguagem e do
ensino da Língua Portuguesa. Espera-se, por meio do diálogo entre o referencial teórico
proposto, o conhecimento do gênero “crônica” em sua abrangência, para além dos seus aspectos
estruturais, as questões práticas sobre a leitura na sala de aula e os seus desdobramentos na
formação do aluno-leitor, apontar caminhos alternativos para o ensino da linguagem e da leitura
na escola, apoiados em uma concepção de linguagem social e historicamente situada, em que os
gêneros literários possam ser um referencial importante também nas atividades de linguagem
que destaquem uma gama de assuntos e construções linguísticas ricas e variados suportes que
poderão contribuir para a difusão e a aceitação da crônica em diferentes níveis de leitura,
verificando-se um desafio para a formação do leitor.
Palavras-chave: Crônica. Leitura. Gêneros discursivos.
Abstract:This work seeks to analyze the contributions of the chronic genre to the formation of
the critical reader in the context of elementary education, in the final series of schooling, from
the Bakhtinian theory of discursive genres in its broader view in the educational context, in
addition to the banalizations and appropriations mistakes still present in the pedagogical
discourse. It is intended to situate the genre in question in school activities whose focus is the
work with the language, be it in writing practices or in reading practices, interlocutory spaces
still little explored on the floor of the classroom under the discursive view of language, in which
author, text and reader interact in the processes of interpretation and attribution to the senses of
the text. Methodologically, the proposed analysis will be carried out based on a bibliographical
research, in which some of the authors representing the field of language and teaching of the
Portuguese Language will be brought to the dance. It is hoped, through the dialogue between the
proposed theoretical framework, the knowledge of the "chronic" genre in its scope, beyond its
structural aspects, the practical questions about the reading in the classroom and its unfolding in
the student's formation alternative ways of teaching language and reading in school, supported
by a conception of social and historically situated language, in which literary genres can be an
important reference also in language activities that highlight a range of subjects and language
constructions rich and varied media that can contribute to the diffusion and acceptance of the
chronicle in different levels of reading, being a challenge for the formation of the reader.ve. As
mesmas regras acima.
Keywords: Chronic. Reading. Discursive genres.
INTRODUÇÃO
Antes de a palavra escrita existir, o homem utilizava a imagem para se
comunicar. As ilustrações deixadas na parede colaboravam com o desenvolvimento da
leitura, sinalizando na História a necessidade de comunicação, antes ainda da formação
das letras do alfabeto. As imagens nas paredes registravam informações, acontecimentos
e para sua interpretação era preciso que alguém o fizesse − o leitor. Dessa maneira,
surge a figura do leitor e, consequentemente, a leitura.
62
A pictografia abre espaço para a escrita que se estabelece no processo de
comunicação oral. E assim o surgimento da escrita foi paralelo ao leitor. A linguagem,
segundo Chartier (2001), era a mediação entre quem informa e quem interpreta.
A leitura, no ocidente, por muito tempo prevalecia oral. Entre os séculos IX e
XI, era feita em voz alta, em público, para um grupo de pessoas, e esse exercício era
suficiente para considerar uma pessoa um bom leitor, mesmo que não houvesse
interpretação nenhuma do que era lido. Não havia necessidade da compreensão, apenas
exposição oral clara.
A interpretação foi prestigiada no século XIII, com a difusão da leitura
silenciosa nas práticas escolares (conhecida como a primeira revolução da leitura), que
aproximou texto e leitor em uma leitura longa e pausada, proporcionando-lhe reflexão e
a repetição sempre que necessário. Chartier (2001, p. 78) afirma que a leitura silenciosa
garante "[...] um estatuto de uma prática criadora, inventiva, produtora, o texto lido
sofre resistência, desvio." O Clero incentivava a prática de leitura nesse século, a Igreja
ensinava os fiéis a ler e a memorizar os textos religiosos.
Segundo Nolasco (2006), a leitura até meados do século XIX, era um meio de
propagar a religião, e a Bíblia era o principal livro a ser estudado, somente pelas classes
de poder aquisitivo elevado. As leituras não podiam ser contestadas, apenas
memorizadas e reproduzidas.
Já Horikawa (2006) destaca que a Igreja, em seu domínio, controlava as
publicações de livros e considerava maus leitores aqueles que se aproximavam de livros
contrários ao dogma cristão, a leitura deveria ser uma prática apenas de cunho religioso.
No início do período republicano europeu, deu-se a segunda revolução da
leitura com o aumento da produção de livros impressos. A igreja, ameaçada pelas
leituras que não conseguia controlar, promoveu uma queima de livros considerados
profanos.
Chartier (2001) registra a difusão da imprensa no século XVI com grande
volume de livros produzidos e o surgimento das bibliotecas públicas e assim a
propagação da leitura. Ler, desse modo, deixou de ser uma das formas de doutrinação
da sociedade e passou a ser um meio de interação do texto com o indivíduo. O leitor
passou a se apropriar da leitura e atribuiu-lhe novos significados.
Zilberman (2007) aproxima um pouco mais a história da leitura com a
literatura e a escola, o que nos ajuda a perceber, porque, até a atualidade, leitura e escola
precisam caminhar juntas, mas deixa claro que "[...] a história da leitura ultrapassa a
história da literatura" (p.1), porque, segundo a autora, extrapola o texto e lida com três
aspectos importantes: uma instituição, uma técnica e uma tecnologia.
A instituição é a escola, onde indivíduos com habilidades pedagógicas exercem
funções remuneradas. A técnica é a escrita e a tecnologia é a maneira de se fixar a
escrita que sofreu grandes transformações ao longo do tempo, desde as suas origens no
barro até evoluir um pouco para os papiros, papel de baixo custo, enfim, os suportes de
leitura foram se modernizando até aos que conhecemos hoje, de acordo com a demanda
63
de leitores e leitura. Zilberman (2007) resume a história da escrita à "história das
possibilidades de ler".
A leitura está arraigada ao ingresso do indivíduo na sociedade, como um bem,
até hoje, por exemplo, o que atesta a propriedade de um imóvel é um documento escrito,
e a leitura por muito tempo foi privilégio de homens e de pessoas ricas. De acordo com
Zilberman (2007), a partir da escola, a leitura consolidou-se, por isso houve o incentivo
a políticas não só da venda e consumo de livros, mas como ascensão social do
indivíduo.
Enveredando a história da leitura para o Brasil, percebe-se sua intensa ligação
com a literatura, considerando a distinção entre textos impressos em geral e as Belas
Artes, noção recente, do século XVII na França, como descreve Zilberman (2007),
momento em que o Cardeal Richelieu fundou a Academia Francesa e concedeu "status
ao poeta e escritor". A autora acrescenta que a burguesia sustentou essa separação, o
que valorizou o intelectual e o afastou da vida prática, tornando-o indispensável. Porém,
suas produções não eram consideradas trabalho e não geravam remuneração.
A literatura no Brasil institucionaliza-se exatamente nesse momento e busca
uma identidade. No período colonial, alguns poetas se intitularam portugueses e mesmo
no século XIX, quando os românticos tentaram buscar uma história da literatura
brasileira, obtiveram apenas crítica literária.
A ruptura provocada pelo Modernismo demonstrou ainda mais a necessidade
de uma identidade na Literatura, e a Semana de 22 foi uma propulsora do espírito
brasileiro às manifestações artísticas em geral. Apesar de agressivas, e ainda voltadas
para a burguesia, sinalizava o desgaste aos moldes conservadores.
Oswald de Andrade buscou uma identidade literária no Brasil com a Poesia
Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico, mas obteve pouco reconhecimento tanto no
país quanto fora dele e essa aspiração se manifesta de várias maneiras, como descreve
Zilberman (2007, p. 41):
[...]- quando o escritor procura traduzir temas de interesse local, como foram a
seu tempo, no século XIX, o Indianismo e o Regionalismo, desde os anos 30 a
expressão das mazelas sociais e políticas do país, hoje a ênfase no encantamento
esotérico e a busca de auto-ajuda por via das ciências e das Belas Letras;
- quando o escritor luta pela constituição de seu público, formando seu gosto,
educando-o para o consumo de livros, preparando-o para absorver técnicas literárias
mais refinadas;
- quando a categoria de escritores reivindica seus direitos, exigindo
remuneração adequada que confira respeitabilidade ao trabalho intelectual;
- quando escolhe o caminho da profissionalização por vias paralelas, como a
imprensa, alternativa discutida desde a época de Raul Pompéia, Lima Barreto, Coelho
Neto e Olavo Bilac, ou a política, que conferem personalidade pública ao artista; ou
quando prefere uma institucionalização não de sua arte, mas de sua pessoa, promessa
contida nos regimentos de todas as Academias, as brasileiras e nacionais, bem como as
estaduais e municipais.
64
Observando esses aspectos, constata-se que no Brasil, a leitura caminha ao
passo da história da Literatura e evidencia, muitas vezes, fragilidades e instabilidades
comuns a uma nação que, até então, construía sua identidade tanto literária quanto
leitora. Porém, fica claro que a leitura cumpre seu papel de trabalhar em favor da
cultura, como defende Zilberman (2007, p.42):
Ao examinar a história da literatura nessas diferentes perspectivas, a história da
leitura cumpre seu papel, materializando o funcionamento do aparelho cultural e dando
visibilidade às suas entranhas, nem sempre eticamente recomendáveis, se nos
restringimos ao estrito código da criação literária, o da Estética, porta-voz da beleza e da
universalidade da arte.
Vemos, assim, que os propósitos do leitor também mudaram. Desde a leitura
voltada para o ponto de vista econômico no século VII a.C. explorada por Zilberman
(2007), até a leitura para fins religiosos defendida por Chartier (2001), demonstram que
ler sempre esteve a serviço do bem comum ao homem. Mas hoje, dentre os fins a que se
podem associar à leitura, acreditamos que um dos mais importantes é a necessidade de
ler de forma mais responsiva1 e crítica. Ler por prazer, para informação, como vemos
em muitos escritos,são necessidades comuns à sociedade e acreditamos que essa leitura
necessária só se dá com posicionamento crítico e quando o foco são os alunos, essa
formação do leitor crítico precisa de um suporte atrativo, aproximando-o do texto e da
leitura.
Nesse ponto não podemos deixar de aludir a Freire (1989) o qual, ao
transcorrer sobre a importância do ato de ler, destaca que esse ato ultrapassa a
decodificação da palavra ou da linguagem e se estende à percepção do mundo, em que a
leitura de mundo e da palavra se atrelam dinamicamente, e ainda ressalta o alcance da
leitura crítica que acarreta consciência da relação entre texto e contexto.
No próximo tópico abordaremos a leitura crítica e a formação do leitor e como
a escola possui papel fundamental para a promoção e desenvolvimento dessa proposta
de leitura que ainda é, como descreveu Freire (1989), muitas vezes, um ensino ditado
pela elite que induz o professor a perpetuar o domínio dessa e deixando de ser um ato
revolucionário de autolibertação.
2 LEITURA CRÍTICA: ALGUNS APONTAMENTOS
A história da leitura nos aponta a sua importância como forma de libertação e
desenvolvimento do indivíduo. Silva (1995) já se diz plenamente convencido de que
"[...] a leitura é um importante instrumento para a libertação do povo brasileiro e para o
processo de reconstrução de nossa sociedade" (p.19). Apesar de destacar os profundos
impasses para o que Silva (2011) chama de "uma nova ordem social" que
resumidamente aborda a injustiça social, o autor ainda defende que:
65
O ato de ler é, fundamentalmente, um ato de conhecimento. E conhecer significa
perceber mais contundentemente as forças e as relações existentes no mundo da
natureza e no mundo dos homens, explicando-as. Aos dominadores, exploradores ou
opressores, interessa que as classes subalternas não percebam e nem expliquem as
estruturas sociais vigentes e o regime de privilégios.
O autor ainda reitera que o ato de ler dentro dos moldes críticos é um ato
perigoso, visto que a escrita tem sido utilizada como forma de domínio de uma classe
sobre as outras e aquele que possui conhecimento é capaz de reagir sobre o que lhe é
posto, de maneira questionadora e crítica, respondendo a esse domínio.
Aprofundando-nos mais sobre o aspecto crítico de ler, Silva (2011) destaca a
fragmentação da leitura e a passividade do leitor que não duvida da palavra escrita e a
toma como verdade absoluta, sem considerar, por exemplo, o contexto em que foi
escrito. Koch (2011, p. 27-28) completa esse raciocínio ao defender que "[...] o texto,
pela forma como é produzido pode exigir mais ou menos conhecimento prévio de seus
leitores [...]".
No contexto escolar, o processo de interpretação de texto se dá dentro de um
molde pré-estabelecido em que ocorre, segundo Silva (2011) "[...] uma homogeneização
e enquadramento de consciências". Não precisamos ir muito longe para perceber o
momento da leitura nas escolas. Silva (2011, p.50) aponta que:
Na ausência de informações que orientem uma prática mais eficiente, o ensino
da leitura parece ser realizado ao acaso, fazendo com que os professores ajam através do
ensaio-e-erro quando da abordagem de materiais escritos junto a seus alunos.
Orlandi (2012) também demonstrou preocupação com a maneira como a leitura
é trabalhada nas escolas, quando afirma que "[...] não é o acesso ao instrumento em si
que muda as relações sociais, mas o modo de sua apropriação, no qual estão atestadas as
marcas de quem se apropria dele" (p. 47).
Segundo a autora, em uma sociedade capitalista, o ensino é de classe e há um
reducionismo à classe média, em que o conhecimento é dividido em dois extremos, de
66
um lado o conhecimento dominante, de outro o conhecimento abstrato até mesmo
superficial, nivelado por baixo, sem levar em conta a história de leitura do aluno, além
de sujeitar a leitura ao "pedagogismo", que busca estratégias imediatistas, visando à
urgência de resultados escolares.
A leitura, de acordo com Orlandi (2012) é o momento crítico da constituição do
texto, o momento privilegiado do processo de significação. Porém, é preciso que o leitor
posicione-se ao que lhe é posto, como defende (Silva, 201, p. 44): "Não basta
decodificar as representações indiciadas por sinais ou signos; o leitor (que assume o
modo de compreensão) porta-se diante do texto, transformando-o e transformando-se”.
Marcuschi (2008) também percebeu a trajetória de mudança do ato de ler ao
defender que "[...] a leitura vem sendo tratada em um novo contexto teórico que
considera práticas sob um aspecto crítico e voltado para atividades, sobretudo
sociointerativas." (p. 232).
Com essa percepção da importância da leitura crítica e sinalizando a fragilidade
da escola com os estímulos à leitura, precisamos repensar o papel dessa prática e,
consequentemente, da literatura na escola. É notório que a escola pode ser a maior
incentivadora de leitura, no passado, era a família, porém, com a nova formatação
social, de muito trabalho e pouco tempo de interação familiar, a escola se viu sozinha,
em um cenário de pais com jornada de trabalho longa, o professor se tornou, na maioria
das vezes, o único responsável pela leitura dos alunos.
Esse processo pouco orientado tornou-se difícil e frustrante tanto para o
professor como para o aluno. O professor reproduz, muitas vezes, as aulas de sua
graduação para os alunos e, consequentemente, eles tomam aversão à leitura oferecida
pela escola, visto que é importante lembrar que o incentivo à leitura ainda é tímido e
algumas vezes esse trabalho na escola não atrai o aluno, em razão de algumas propostas
ainda dissociadas do universo social dos estudantes e até mesmo pela pouca afinidade
da comunidade escolar com a cultura das práticas leitoras.
Zilberman (2009, p.17-18), explicou de maneira clara o contexto em que a
literatura e, consequentemente, a leitura se encontram atualmente:
67
As discriminações, que se encontravam no seio da sociedade, migram para o
miolo das teorias da leitura que circulam através da educação do leitor. Até um certo
período da história do Ocidente, ele era formado para a literatura; hoje, é alfabetizado e
preparado para entender textos, ainda orais ou já na forma escrita, como querem os
PCNs, em que se educa para ler, não para a literatura. Assim, dificilmente a literatura se
apresenta no horizonte do estudante, porque, de um lado, continua ainda sacralizada
pelas instituições que a difundem; de outro, dilui-se no difuso conceito de texto ou
discurso.
Pensando na leitura na sala de aula e ciente da necessidade de se buscar
caminhos que contribuam para a leitura crítica e formação do leitor, percebemos que a
crônica pode ser um caminho sólido para essa aproximação, porque é um texto hibrido
que se funde entre escrita e oralidade, como bem definiu Sá (1987, p.11, grifo nosso)
quando afirma que: "[...] a sintaxe (desse gênero) lembra alguma coisa desestruturada,
solta, mais próxima da conversa entre dois amigos do que propriamente do texto
escrito". Tal caracterização evidencia que a crônica, por desnudar verdades, satirizar
realidades, apresenta condições para desenvolver a leitura crítica, já que através de um
simples recorte da realidade consegue recriá-la. Assim Sá (1985, p.11) defende que:
Com seu toque de lirismo reflexivo, o cronista capta esse instante
brevíssimo que também faz parte da condição humana e lhe confere (ou lhe
devolve) a dignidade de um núcleo estruturante de outros núcleos,
transformando a simples situação no diálogo sobre a complexidade das nossas
dores e alegrias. Somente nesse sentido crítico é que nos interessa o lado
circunstancial da vida. E da literatura também.
Além disso, a crônica é capaz de fazer o leitor refletir sobre sua condição
humana, sobre problemas que cercam a sociedade e, consequentemente, se posicionar
em relação a eles, desde que o ato de ler consiga como considera Silva (203, p. 45):
[...] a leitura, dentro do enfoque multicultural crítico, pode pela
consciência que desperta, levar uma hibridização ou miscigenação
sadias para o homem, independentemente da sociedade onde ele tenha
nascido e esteja situado em termos de trajetória existencial.
Diante dessas mudanças sociais de novos suportes, é necessário compreender o
percurso do gênero do discurso e sua relação com gênero textual e usaremos com base
Bakhtin (1997, 2003) e Marcuschi (2010).Na próxima seção, elucidaremos a teoria dos
68
autores para associá-las ao gênero crônica e à formação do leitor crítico dialogando com
Bakhtin (1997, 2003).
3 A CRÔNICA: TRAÇOS ESTILÍSTICOS
O gênero crônica é hibrido desde sua composição até mesmo em seus suportes
de difusão e, por isso, definir e caracterizá-lo é uma tarefa delicada.
A crônica ganhou novos espaços, como os livros e a Internet;desse modo, novas
características foram incorporadas ao gênero, assim como alguns aspectos do folhetim
ainda foram mantidos. Por isso, é necessário entender que a crônica agrega traços
jornalísticos e literários, os quais variam de texto para texto. Mesmo assim, tentaremos
caracterizar esse gênero na esfera jornalística e na literária.
Devido à sua origem no folhetim, há autores que acreditam ser esse gênero
jornalístico “[...] a palavra foi ganhando roupagem semântica diferente. 'Crônica' e
'cronista' passaram a ser usados com o sentido atualmente generalizado na literatura: é
um gênero específico, estritamente ligado ao jornalismo” (COUTINHO, 1987, p. 120-
121). Por outro lado, Melo (1994, p.155) defende que "[...] a crônica moderna
configura-se como gênero eminentemente jornalístico", sendo essencial ao gênero:
1) Fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e analítica que
mantém em relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; pela captação
dos estados emergentes da psicologia coletiva 2) Crítica social, que
corresponde a “entrar fundo no significado dos atos e sentimentos do
homem”.
Crítica essa que aparece de diversas formas, seja de maneira mais irônica, seja
mais lírica, o fato é que a crônica não fica indiferente aos acontecimentos que
circundam a sociedade, sejam eles bons ou ruins. Pequenos momentos são captados e
repassados ao leitor para fazê-lo refletir.
No contexto jornalístico, a crônica aproxima-se da narração e pode ser dividida
em vários tipos: policial, política, esportiva, etc. As classificações aproximam-se dos
temas abordados como "[...] outras formas de expressão noticiosas mais próximas da
reportagem" (MELO, 1994, p.146). Os autores desse tipo de crônica, em geral, são
69
formados em outras áreas como as da comunicação, do jornalismo e da história,
detentores de conhecimentos específicos da área para qual escrevem (D' ONOFRIO,
1995).
Para Beltrão (1980 apud MELO 1994, p.156) a crônica classifica-se pelo tema e
pela abordagem do cronista. Quanto à classificação, o autor apresenta três espécies:
Crônica geral− ocupa local fixo no jornal e trata de assuntos variados; Crônica local−
também conhecida como crônica urbana ou da cidade, aborda assuntos do cotidiano e
opinião dos moradores onde circulam os jornais; Crônica especializada − relacionada a
áreas específicas da atividade humana.
Quanto ao tema, o autor estabelece três modalidades: Crônica analítica − fatos
breves; Crônica sentimental − mais lírica, com objetivo de sensibilizar o leitor; Crônica
satírico-humorística − objetivando ridicularizar ou ironizar personagens e situações.
Melo (1994, p.159) defende a crônica como um gênero jornalístico quando diz que o
gênero é "[...] produto do jornal, porque dele depende para a sua expressão pública,
vinculada à atualidade, porque se nutre do cotidiano".
Mas esse aspecto é facilmente refutado se levarmos em consideração o suporte
Internet, por exemplo, um blog ou um site, supre hoje a necessidade de difusão das
crônicas e está diretamente linkada às notícias e mesmo com a ideia exposta pelo autor
de atualidade, oportunidade e difusão coletiva, são também questionáveis se levarmos
em consideração a efemeridade do jornal, como já foi mencionado nesse estudo: "Ela
não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se
compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o
chão da cozinha" (CANDIDO, 1992, p14 -15). Isso porque a Internet pode ter poder de
difusão superior ao do jornal e um texto pode ser reproduzido, copiado e mantido nos
arquivos e blogs, sites de jornal etc. tornando o efêmero questionável, assim como o
fato de muitas crônicas que, originalmente, foram divulgadas em jornais serem
publicadas em livros posteriormente.
Sá (2005) também defendeu que a crônica nasce, envelhece e morre a cada 24
horas. Da mesma forma Moisés (1997) afirmou ser a crônica destinada ao consumo
diário, mas é necessário lembrar que esses conceitos não podem ser aplicados a todas as
70
crônicas e, por isso, avançaremos em nosso estudo para perceber que, como afirmou
Andrade (1979), nem só de notícia se faz a crônica, as não notícias também podem
motivar o cronista.
Essas motivações para a escrita podem ter desenvolvido nos cronistas
características comuns à literatura como defendeu Coutinho (1987) ao afirmar que esse
gênero é mais literário e baseia-se em fatos do cotidiano utilizando a "finura e a
argúcia" para transcorrer sobre esses fatos definidos como "divagações borboleantes e
intemporais" ou "crítica buliçosa das pessoas", importando mais a forma de abordar o
assunto pelo autor. "Menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as qualidades
de estilo" (COUTINHO, 1987, p.791).
Moisés (1997, p. 247) afirma que "[...] a crônica move-se entre ser no jornal e
para o jornal, uma vez que se destina, inicial e precipuamente, a ser lida na folha diária
ou na revista". Embora não seja objetivo da crônica informar sobre os fatos, visto que as
notícias desempenham esse papel, o gênero baseia-se, muitas vezes, em fatos reais e
acontecimentos, mas como descreve Moisés (1997, p. 247) o objetivo da crônica "[...]
reside em transcender o dia-a-dia pela universalização de suas virtualidades latentes".
Coutinho (1987) posicionou-se sobre a inclinação literária da crônica,
defendendo que o gênero apenas usa os fatos cotidianos como justificativa para escrever
"[...] como meio ou pretexto, de que o artista retira o máximo partido, com virtuosidades
de seu estilo, de seu espírito, de sua graça, de suas faculdades inventivas" (COUTINHO,
1987, p.793). Por isso, o autor ressalta a subjetividade capaz de transformar a realidade,
dando-lhe formas variadas de maneira sensível e única e, dessa forma, é capaz de tocar
o leitor, promovendo um diálogo entre esse e o autor. Coutinho (1987, p. 136)
completa:
A crônica é na essência uma forma de arte imaginativa, arte da palavra,
a que se liga forte dose de lirismo. É um gênero altamente pessoal, uma
reação individual, íntima, ante o espetáculo da vida, coisas, seres. O
cronista é um solitário com ânsia de comunicar-se. Para isso, utiliza-se
literariamente desse meio vivo, insinuante, ágil que é a crônica.
A subjetividade também foi destacada por Moisés (1997, p.255), juntamente
com o diálogo com o leitor, numa visão pessoal do cronista:
71
A impessoalidade é não só desconhecida como rejeitada pelos cronistas: é a sua
visão das coisas que lhes importa e ao leitor; a veracidade positiva dos acontecimentos
cede lugar à veracidade emotiva com que os cronistas divisam o mundo. Não estranha,
por isso, que a poesia seja uma de suas fronteiras, limite do espaço em que se
movimenta livremente; e o conto, a fronteira de um território que não lhe pertence.
Concernente à linguagem, a crônica literária também é hibrida por mesclar o
coloquialismo e o poético, isso porque apresenta um estilo espontâneo e direto, porém
marcado com metáforas, típicas de obras literárias (MOISÉS 1997).
Coutinho (1987, p. 793-794) classificou a crônica no âmbito literário conforme a
natureza do assunto ou movimento interno:
Assim temos, a) a crônica narrativa, cujo eixo é uma história, o
que a aproxima do conto, como no exemplo de Fernando Sabino; b) a
crônica metafísica, constituída de reflexões mais ou menos filosóficas
sobre os acontecimentos ou os homens, como é o caso de Machado de
Assis ou Carlos Drummond de Andrade, que encontram sempre ocasião
e pretexto nos fatos para dissertar ou discretear filosoficamente; c) a
crônica-poema em prosa, de conteúdo lírico, mero extravasamento da
alma do artista ante o espetáculo da vida, das paisagens ou episódios
para ele significativos, como é o caso de Álvaro Moreyra, Rubem
Braga, Manuel Bandeira, Ledo Ivo; d) a crônica-comentário dos
acontecimentos, que tem, no dizer de Eugênio Gomes, „o aspecto de um
bazar asiático‟, acumulando muita coisa diferente ou díspar, como são
muitas de José de Alencar, Machado e outros. É evidente que essa
classificação não implica o reconhecimento de uma separação estanque
entre os vários tipos, os quais na realidade se encontram fundindo traços
de uns e outros.
Por outro lado, Moisés (1997) admite apenas dois tipos fundamentais de crônica:
a crônica-poema, com caráter mais contemplativo e a crônica-conto, mais acentuada na
narrativa, desprezando a crônica-ensaística defendida por alguns autores como Coutinho
(1987) e Montenegro (1966), por exemplo, porque segundo o autor "[...]prevalece
nesses textos o caráter obsessivamente doutrinário do ensaio" (MOISÉS, 1997, p. 250).
Candido (1992, p.11) despretensiosamente, em ocasião de comentar uma
coletânea Para Gostar de Ler (volume 5), esboça uma classificação usando como
referência as crônicas do livro em questão: crônica-diálogo − na qual autor e leitor
72
revezam-se em perspectivas diversas; crônica-narrativa − com estrutura semelhante
ficcional, assemelha-se ao conto; crônica exposição poética− digressões sobre uma
personagem ou fato e a crônica bibliográfica-lírica − em uma perspectiva poética,
narra-se a vida das personagens.
Assim, percebe-se que o gênero crônica, por vezes, apresenta ligação forte com a
notícia e outras com o conto em razão de seu aspecto ficcional, outras vezes demonstra
mais emoção, o que valida sua descrição como, já mencionado de gênero híbrido ou,
por que não, ambíguo, o que o torna rico e plural, acrescentando ainda mais o interesse
por estudá-lo e difundi-lo, sem a limitação de encaixe num grupo de características
fechadas. E para encerrar essa seção usaremos a afirmação de Moisés (1997, p.248):
Em toda crônica, por conseguinte, os indícios de reportagem se situam
na vizinhança, quando não mescladamente, com os literários; e é a
predominância de uns e de outros que fará tombar o texto para o
extremo do jornalismo ou da Literatura.
Percebemos até aqui, algumas características comuns às crônicas e algumas
divergências em um gênero tão ambíguo como já mencionado, é interessante agora
conhecer a crônica e sua relação com a literatura, para compreender sua condição de
atemporalidade e resistência. Na próxima seção, abordaremos um mito acerca da
crônica, o que concede a ela mais charme e um tom de mistério em torno do gênero.
4 FOMENTO PARA OS ENCONTROS
A partir de inquietações na experiência docente percebe-se algumas lacunas no
trabalho com leitura, pois os alunos mostram-se, muitas vezes, desinteressados. No
entanto, leem a seção de esportes dos jornais, revistas sobre carros, moda, notícias
sensacionalistas, ou seja, são capazes de entender os textos e discuti-los, evidenciando
que as dificuldades são pontuais e o maior obstáculo pode ser a falta de incentivo a
leituras diversificadas, voltadas para o contexto escolar, objetivando a formação do
leitor crítico.
73
Com a vivência em sala de aula percebe-se que os alunos, quando chegam ao 6º
ano, estão com uma bagagem de leitura rasa e nivelada apenas em narrativas e contos, e
com o desdobramento de variadas disciplinas com professores diferentes, essas práticas
de leitura, mesmo que escassas, se perdem, por isso, é necessário analise de onde se
rompeu essa prática e por que não se estende a outros gêneros literários, inclusive na
leitura de crônicas.
E para ampliar esse caminho para a compreensão, é sugerido aqui o trabalho
com crônica que por si só é um atrativo à leitura, por apresentar linguagem que mescla
os níveis coloquial e formal. O trabalho foi fazer o caminho inverso, chegar ao aluno
para assim perceber possíveis lacunas que o processo de leitura tem deixado, partindo
da necessidade de que a escola carece de meios para preparar esses estudantes para a
leitura crítica, um grande desafio, já que uma das maiores queixas dos professores,
confirmadas nas avaliações externas, é que os alunos apresentam dificuldades em ler.
Partindo de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, é necessário conhecer o
perfil leitor dos mesmo e para tanto é preciso que relatem sobre suas experiências com
leitura e compreensão textual – as principais dificuldades encontradas por eles, os textos
que mais os atraem e os que menos os atraem etc. Esse relatos podem ser feitos até de
relatos de experiência, entrevista oral ou escrita, com o objetivo de traçar um perfil da
turma a ser analisada.
Para a concretização do trabalho, todas as atividades devem ser aplicadas em
uma mesma turma, sugere-se aqui, alunos de 8º ano por conta de seu currículo, para
observar suas reações e resultados, dentro de uma perspectiva mais crítica, baseada em
bibliografia previamente selecionada. O intuito é apresentar atividades com grau de
dificuldades crescentes para observar o caminho feito pelo aluno para a produção de
respostas e, principalmente, se os textos conseguem de alguma maneira cativá-lo e de
igual forma motivá-lo a ler outros textos do mesmo gênero.
A observação constante do processo de leitura e da realização das atividades
conduz o desfecho do trabalho, já que os resultados dependerão das inúmeras reações
dos alunos mediante as possíveis dificuldades apresentadas por eles e suas respostas
mediante essas dificuldades.
74
Para cada encontro, distribui-se os textos e atividades em folhas xerografadas,
todas as folhas devem ser recolhidas ao final de cada encontro.
ENCONTROS COM OS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Sugere-se um total de cinco oficinas com os eixos temáticos: racismo e
preconceito; consumismo; família e igualdade de gênero.
A primeira oficina, intitulada Sensibilização, apresenta o eixo temático racismo
e preconceito. Na primeira etapa é distribuído um questionário (Apêndice A) para
conhecer um pouco sobre a história de leitura da classe e produzir dados a serem
analisados posteriormente. Na sequência, a leitura da crônica “A última crônica” de
Fernando Sabino para o desenvolvimento de questões relacionadas. Na etapa II,
apresentamos uma notícia, cujo tema é racismo, para relacionar com a crônica da etapa I
para a percepção de aproximações e distanciamentos entre crônica e notícia.
Ao final dessa oficina, os alunos assistem ao vídeo "A última Crônica", um filme
de Jorge Monclair, com participação de André Gonçalves, Roberta Rodrigues, André
Ramiro, Marcello Gonçalves. Realização: AIC - Academia Internacional de Cinema e
TV e Luz da Arte Produções, para que percebam as aproximações e distanciamentos
entre o vídeo e a crônica que abriu a oficina. Os alunos podem produzir um quadro
explicativo sobre as características percebidas na crônica em comparação à notícia de
jornal, para uma discussão sobre os traços estilísticos da crônica, seu surgimento e sua
relação com o jornal.
A segunda oficina, cujo título é A crônica e a notícia - aproximações e
distanciamentos, apresenta eixo temático consumismo. Por meio de crônicas que falem
sobre o Natal, busca-se tratar um pouco mais da estrutura de gênero, as variadas formas
com as quais se pode abordar um mesmo assunto.
Nessa oficina, os alunos podem ler crônicas de Andrade (1993), Prata (2013) e
Veríssimo (2008) que abordam o comportamento da sociedade em meio a uma data
comemorativa que envolve comemorações religiosa e consumo e contar com o apoio de
75
professores de Ciências e Arte para o desenvolvimento das atividades, já que, pelo teor
das crônicas é possível abordar assuntos como aquecimento global além de propostas
como campanhas de Natal ao contrário, que priorizassem mais as pessoas e menos os
bens materiais. Nessa oficina trabalhamos alguns traços estruturais da crônica e também
da notícia.
Na oficina três, intitulada Crônica e imagem: a captura de um momento,
atividades relacionadas à exposição à Internet são desenvolvidas, com crônicas
contemporâneas e canônicas retiradas de livros e blogs, para que os alunos percebam a
atemporalidade do gênero e seus diferentes suportes de difusão. As aulas podem contar
com o apoio de professores de Arte, Geografia e Ensino Religioso, para a promoção de
debates sobre o assunto e, ao fim, os alunos, separados por grupos, podem desenvolver
vídeos, teatros, slides, paródias e até mesmo poesia sobre o tema.
Na quarta oficina, A crônica, a família e os valores sociais, busca-se tratar de
assuntos que geralmente são tabus nas famílias, como a diferença de tratamento que se
dá quando a filha e o filho estão namorando, a cobrança de comportamento padrão da
mulher e novas configurações familiares. Nessa oficina, também é viável trabalhar o
conto, para desenvolver atividades que abordem algumas distinções entre esse e a
crônica.
A última oficina, Com a palavra: as mulheres-crônicas produzidas por
mulheres, cujo eixo temático foi a igualdade de gênero, contrapõe uma crônica escrita
por Cecília Meireles (1982), “A Crônica Sonhada”, cujo eixo temático é a igualdade de
gênero com uma canção de Chico Buarque (1976) “Mulheres de Atenas” e campanhas
publicitárias desenvolvendo temas relacionados à mulher e à sociedade.
76
REFERÊNCIAS
ALONSO, Cláudia Maria Rodrigues.Biblioteca escolar: um espaço necessário para a
leitura na escola. 2007. Dissertação (Mestrado)Faculdade de Educação á universidade
de São Paulo, 2007.
ALENCAR, J. de.Melhores crônicas. Direção de Edla van Steen; seleção de João
Roberto Faria. São Paulo: Global, 2003.
ANDRADE, Carlos Drummond de. De notícias e não-notícias faz-se a crônica. 6. ed,
Rio de Janeiro: Record, 1993
_______“Uma prosa (inédita) com Carlos Drumnd de Andrade”.Caros Amigos. São
Paulo. n. 29, p. 12-15, ago. 1999.
ARRIGUCCI JÚNIOR, David. Enigma e comentário. Ensaios sobre literatura e
experiência. São Paulo: Companhia das letras, 1987.
ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro. Ed. Nova Aguilar. Vol. III. 1986.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Introdução e tradução do russo Paulo
Bezerra; prefácio à edição francesa Tzvetan Todorov. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
_______ Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2004.
77
_______Forms of time and of the chronotope in the novel. In: BAKHTIN, M. The
dialogic imagination: four essays. Trad.Caryl Emerson, Michael Holquist. Austin:
University of Texas Press, [1975] 1988, p. 84 a 258.
BENDER, F. C.; LAURITO, I. B. Crônica – história, teoria e prática. São Paulo:
Scipione,1993.
BOGDAN, Roberto C. e SariKnoppBiklen. Investigação qualitativa em educação.
Porto Editora. Portugal: 1994.
BRAGA, Rubem, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes
Campos e. "Padeiro".Para gostar de ler: Crônicas. 12ª Edição. Ática. São Paulo,1989.
v. 1
_______200 Crônicas escolhidas. 18. Ed. São Paulo:Record, 2011.
BRAIT, Beth. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. In: Brait,
B. (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. 2 ed. revista. Campinas:
Editora UNICAMP, 2006, p. 87- 98.
BRONISLAW. Baczko. Lesimaginairessociaux. Mémoireetespoirscollectifs. Paris:
Payot, 1984, p. 54.
CANDIDO, A. et al. A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil.
Campinas, SP: Ed. da Unicamp; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1993.
______O direito à literatura. Vários escritos. 3. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
______Para gostar de ler. São Paulo: Ática 1982. Prefácio, p. 6.
CASTRO, S. O descobrimento do Brasil. Porto Alegre: L&PM, 2007.
CHARTIER, Roger. A aventura do livro. Do leitor ao navegador. Conversações com
Jean Lebrun. Tradução Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo/Editora UNESP, 2001.
78
CORDEIRO, Isabel Cristina. Argumentação de leitura: uma relação de
complementaridade. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem)−Universidade
Estadual de Londrina. Londrina, 2007.
CORREIRA, Roseli Luz. Crônicas na sala de aula: práticas de leitura e
(re)conhecimento de mundo. 2015. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015.
COSTA, Cristiane. Pena de aluguel: escritores jornalistas no Brasil – 1904-2004. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005.
COUTINHO, A. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: São José, 1964.v.3.
______Notas de teoria literária. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987a.
______Introdução à Literatura no Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1978b. (Coleção Vera Cruz: Vol. 218).
______A literatura no Brasil: relações e perspectivas. Codireção Eduardo de Faria
Coutinho. 6. ed. São Paulo: Global, 2003.v. 6, Parte III
FACCIOLI, Valentim. "A Crônica de Machado de Assis”In: BOSI, Alfredo [et al].
Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo aurélio dicionário da
LínguaPortuguesa Século XXI. 3ª ed.São Paulo: Nova Fronteira, 1999.
FERREIRA,Eliane Aparecida Galvão Ribeiro. Construindo histórias de leitura: a
leitura dialógica enquantoelemento de articulação no interior de uma “biblioteca
vivida”. 2009. Tese (Doutorado emLiteratura e Vida Social)Faculdade de Ciências e
Letrasde Assis – UNESP – Universidade Estadual Paulista, 2009.
79
FERREIRA, Simone Cristina Salviano. A crônica: problemáticas em torno de um
gênero. Dissertação (Mestrado em Línguística)− Instituto de Letras e Línguística da
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG, 2005.
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006.
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 8ed. Trad. Leandro Konder. Rio de Janeiro:
Zahar, 1981.
FISCHER, L. A. Literatura brasileira – modos de usar. Porto Alegre: L&PM, 2007.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: três artigos que se completam.São
Paulo: Cortez, 1989.
FREITAS, Paulo Eduardo. A crônica: sua trajetória; suas marcas. In: CONGRESSO
DE LETRAS: DISCURSOS E IDENTIDADE CULTURAL, 5., 2005. Disponível em: .
Acesso em: 20 jan. 2016.
GRILLO, S. V. de C. “Esfera e campo”. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: outros
conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. p. 133-160.
LE GOFF, J. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão. 5. ed. Campinas (SP):
Ed. da Unicamp, 2003.
HORIKAWA, A. Y. Modos de ler do professor em contexto de uma prática de
leitura de formação continuada:uma análise enunciativa. Dissertação de Mestrado.
São Paulo:PUC-SP.
INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da Leitura no Brasil.4ª ed. São Paulo, 2015.
KOCH,Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria.Ler e compreender os sentidos do
texto.São Paulo: Contexto, 2011.
LESNHAK, Simine.“A constituição de identidade profissional e o conceito de
interação: concepções bakhtinianas e vigotskianas a favor da aprendizagem e
desenvolvimento”.Revista (Con) texto Linguísticos, Vitória, v. 10, n. 17, UFES,
Espírito Santo, (2016).
80
LISPECTOR, Clarice. Clarice Lispector entrevistas. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
MACHADO, I. “Gêneros discursivos”.In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtinconceitos-
chave.São Paulo: Editora Contexto, 2005. p. 151-166.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais
de ensino de língua? Brasília: Em Aberto, 1996.
_______Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo, Parábola
Editorial, 2008.
_______Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela P.;
MACHADO, Anna R.; BEZERRA, Maria A. (Org.) Gêneros textuais e ensino. 2ª ed.
Rio de Janeiro:Lucerna, 2003.
MACHADO, Anna R.; BEZERRA, M.ª Auxiliadora (Org.). Gênerostextuais &
ensino. Ed. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.
MACHADO,Elisabeth Márcia Ribeiro. Lendo e compreendendo: uma experiência
com a 5ª série. 2002. Dissertação(Mestrado em LingüísticaAplicada na área de Ensino-
Aprendizagemde Língua Materna). Departamentode Lingüística Aplicada do Instituto
deEstudos da Linguagem da Universidade de Campinas (Unicamp), Campinas/SP,
2002.
MEDEIROS, V. G. de. Discurso cronístico: uma “falha no ritual” jornalístico.
Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 5, n. 1, p. 93-118, jul./dez. 2004.
MEIRELES, C. Crônica Sonhada. Ilusões do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1982, p.34-36.
MELO, J. M. de. “A crônica”. In: CASTRO, G. de; GALENO, A. (Org.). Jornalismo e
literatura: a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras, 2002.
81
MEYER, M. “Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se fez a chronica”. In:
CANDIDO, A. et al. A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil.
Campinas (SP): Ed. da Unicamp; Rio de Janeiro: Ed. Fundação Casa de Rui Barbosa,
1992. p.93-134.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários - São Paulo, Cultrix, 1974.
_______A criação literária. Prosa. São Paulo. Cultrix, 2004.
MORAES, SandrinaWandel Rei de. Leitura nos anos finais do ensino fundamental:
um diálogo com os professores e as atividades de leitura registradas em cadernos
escolares. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação e Linguagens)- Programa de Pós-
Graduação em Educação do Centro de Educação, da Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), Vitória/ES, 2016.
MORAES, V. de. “O exercício da crônica”. In: Para viver um grande amor. 14. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio. 1951.
ORLANDI, Eni. Discurso e leitura. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PÊCHEUX, M. Análise Automática do Discurso (AAD-69). In: GADET, F.; HAK, T.
(Orgs.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel
Pechêux. Tradução de Bethania S. Mariani [et al.]. 3. ed. Campinas (SP): Ed. da
Unicamp, 1997.
PEREIRA, Marlei Cleis.A leitura no contexto de privação de liberdade: análise da
abordagem de leitura no livro didático.Dissertação(Mestrado Profissional em Letras)
Universidade Estadual de Maringá. 2015.
PRADO, Guilherme do Val Toledo, Linana Arrais Serodio, Heloísa Helena Dias
Martins Proença, Nara Caetano Rodrigues[organizadores]. Metodologia narrativas de
uma pesquisa em educação:uma pesquisa bakhtiniana. São Carlos- SP:Pedro e João
editores, 2015.
PORTELA, Eduardo. “Machado de Assis: Cronista do Rio de Janeiro”. In: Secchin,
Antonio Carlos; Almeida, José Maurício Gomes de; Souza, Rolandes de Melo e
(Orgs.).Machado de Assis: uma revisão. Rio de Janeiro: In-Fólio, 1998.
82
SÁ, J. de. A crônica. São Paulo: Ática, 1997.
SABINO, Fernando Sabino. “A última crônica”. In: A companheira de viagem. Rio de
janeiro: Editora Record, 1965.
SANTOS, J. F. dos. (Org. e Intr.). As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2005.
SANTOS, José Milton dos. O gênero crônica na sala de aula do ensino médio. 2008.
Dissertação (Mestrado em Linguística aplicada) - Programa de Pó-graduação em
Estudos da Linguagem do Centro de Ciências Humanas, letras e Artes, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2008
SIEBERT, Silvânia. A crônica brasileira tecida pela história, pelo jornalismo e pela
literatura. Linguagem em (Dis)curso – LemD, Tubarão, SC, v. 14, n. 3, p. 675-685,
set./dez. 2014.
SILVA, Ezequiel Theodoro da.O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova
pedagogia da leitura. 11 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011.
______Conferências sobre leitura − trilogia pedagógica. São Paulo. Autores
associados, 2003.
______A produção de leitura na escola: pesquisas e propostas. São Paulo: Ática,
1995.
______Leitura na escola e na biblioteca. Campinas: SP: Papirus, 2005.
______Magistério e mediocridade. 2° Ed – São Paulo: Cortez Ano: 1993
SODRÉ, N. W. História da literatura brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1964.
83
SOLÉ, I. (2003). “Ler, leitura, compreensão: "sempre falamos da mesma coisa?". In:
Teberosky, A. [et al.]. Compreensão de leitura: a língua como procedimento; trad.
Fátima Murad. - Porto Alegre: Artmed.
TÁVOLA, A. Literatura de jornal (o que é a crônica). Jornal O Dia, Rio de Janeiro,
27 jul. 2001.
TÉRCIO, Jason. Diário Selvagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005.
TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Rio de Janeiro: Difel, 2009.
TODOROV, Tzvetan. Leitura e leitores. São Paulo: Folha de São Paulo, 18 fev. 2007.
Entrevista concedida a Jorge Coli.
VERISSIMO, L. F. Entrevista na revista Caros Amigos, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 93-
118, jan. 2008.
ZILBERMAN, Regina.Que literatura para a escola? Que escola para a
literatura?.Desenredo Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade de Passo Fundo, v. 5 - n. 1 - 9-20 - jan./jun. 2009.
PRESENÇA DA CRÔNICA NA SALA DE AULA:
FRUIÇÃO, LEITURA E ESCRITA
Cristiane Corrêa (IFES)
Andreia Penha Delmaschio (IFES)
Resumo: O presente trabalho de pesquisa apresentado no curso de Mestrado
Profissional em Letras – PROFLETRAS, do Instituto Federal do Espírito Santo, visa
promover o interesse e a prática da leitura e da escrita por meio de oficinas com o gênero
textual crônica, incentivando os alunos a expressarem-se, por meio da escrita, sobre o que
veem e vivenciam em seu cotidiano. As atividades propostas estão sendo aplicadas em uma
turma do 9º ano do Ensino Fundamental da escola UMEF TI Sen. João de Medeiros Calmon
(Vila Velha – Espírito Santo), por meio de oficinas temáticas que se organizam em etapas que
partem da leitura de crônicas específicas, passam pela discussão dos assuntos lidos, pela
produção textual – relatos ou criações de experiências como as abordadas pelas crônicas -,
pela revisão, e culminam com a publicação dos textos produzidos em um blog da própria
84
instituição. Essas atividades, aplicadas por meio da abordagem qualitativa de natureza
aplicada, cujo objetivo é descritivo, desenvolve os procedimentos da pesquisa-ação, e visam
contribuir na formação de leitores e produtores de textos, aproximar as produções escolares
das práticas sociais da linguagem, e dinamizar o processo motivacional da escrita por meio da
criação de uma mídia interativa, na qual os alunos têm seus textos apreciados e comentados.
Nosso trabalho é fundamentado em obras de Antônio Cândido (1988), Alfredo Bosi (2006),
Ingedore Koch (2015), Delia Lerner (2002), Luiz Antônio Marcuschi (2008), Marisa Lajolo
(1993), dentre outros estudiosos cujas pesquisas dialogam com nossa proposta. Pretendemos,
portanto, propiciar situações em que o aluno perceba as diferentes funções e manifestações da
escrita, a importância de reconhecê-las e compreendê-las, refletir sobre o sistema de escrita e
a dimensão social da língua, e descobrir o prazer de atuar como escritor, registrando também
sua própria história e suas criações de forma que sua autoestima seja reconhecida e
valorizada.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Crônica.
Abstract: The present research work presented in the Mestrado Profissional em Letras
– PROFLETRAS, from Instituto Federal do Espírito Santo (UFES), aims to promote the
interest and practice of reading and writing through workshops with the textual genre
chronic, encouraging students to express themselves through writing about what they
see and experience in their daily lives, inside and outside school. The proposed
activities were developed in a ninth grade class of UMEF TI Senator João de Medeiros
Calmon (Vila Velha, Espírito Santo) and will have as educational product the creation
of a literary blog and a collection of texts produced at the mentioned school, where
students' textual creations will be registered and shared. Thematic workshops, organized
through the qualitative approach of applied nature, with descriptive objectives and
following the procedures of an action research, will be organized from chronicles of
national authors, which will be read, discussed and used as examples for the production
of texts through which students can manifest themselves, awakening the desire to be
present through reading and writing. For the theoretical basis, we sought the works of
Antônio Cândido (1988), Alfredo Bosi (2006), Ingedore Koch (2015), Delia Lerner
(2002), Luiz Antônio Marcuschi (2008), Marisa Lajolo (1993), among other scholars on
teaching and learning reading and writing. We intend to collaborate so that the student
perceives the different functions of writing, the importance of recognizing and
understanding them, and the pleasure of acting as a writer, also recording their own
history and their creations so that their self-esteem is recognized and valued within and
outside the school environment.
Keywords: Reading. Writing. Chronic.
INTRODUÇÃO
Doze anos em sala de aula, aprendendo a ler e a escrever, dentre outras competências
básicas, pelo menos nas primeiras séries, como aluno. Nesse ambiente, a criança tem contato
com uma diversidade de textos, cujo grau de complexidade tende a aumentar a cada avanço
nos anos. Assim, o estudante que percorre com eficiência esse caminho – da Educação
85
Infantil ao Ensino Médio -, a princípio, deveria terminar o último ano sem dificuldades para
ler, interpretar e produzir textos, mas esse resultado ainda é uma exceção nas escolas
municipais e públicas de todo o Brasil.
Essas dificuldades para desenvolver as habilidades de leitura e de escrita são diversas
e comuns, uma vez que as propostas desenvolvidas pelos professores, especificamente de
Língua Portuguesa, distanciam-se das práticas sociais da linguagem, incentivam uma
produção “mecânica” de textos, e têm seu processo de criação finalizado numa nota e numa
reescritura sem sentido real para o aluno, que depois de escrever para o professor ler e avaliar,
guarda sua produção, já que não vê mais função para ela. Assim, esse trabalho de pesquisa
pretende “criar situações interlocutivas propícias para que o estudante aprenda a escrever
melhor seus textos” (PASSARELI, 2012, p. 46), compreender textos diversos e, dessa forma,
manifestar suas posições em situações reais de comunicação. Pretendemos, ainda, fazer com
que o aluno reflita sobre o sistema da escrita e sobre a dimensão social dessas várias
manifestações da língua na comunidade escolar e em outros ambientes, além dos muros da
escola. Essa ampliação de leituras e o exercício da escrita dar-se-á por meio da crônica,
gênero que, por sua temática e linguagem peculiares, é muito lido e bem recebido pelos
alunos.
A seleção desse gênero textual deu-se em razão de ele partir dos aspectos da vida
cotidiana e social para criações textuais imaginárias, sendo considerado, portanto, propício
para uma participação mais efetiva dos estudantes, aos quais foram oportunizados, por meio
dessas produções, momentos para compartilharem suas histórias, reais ou ficcionais. Como
resume Cândido (1988, p. 13), “por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta,
do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, a crônica se ajusta à sensibilidade de
todo o dia”. Portanto, a aproximação de algumas das temáticas selecionadas e da linguagem
desse gênero com a realidade do aluno contribuiu para que ele registrasse suas experiências,
expressando e ampliando suas possibilidades de comunicação e socialização na leitura e na
escrita com as várias formas de linguagem e suas práticas sociais. E todo o processo de
trabalho com as crônicas selecionadas – as leituras comentadas, as discussões relacionando as
experiências “ficcionais” às próprias situações vivenciadas, e o registro dessas histórias
partilhadas em sala de aula numa produção textual - culminou com a publicação dessas
produções em um blog literário criado na própria escola e na organização de uma coletânea de
textos, material disponibilizado na biblioteca e na história da instituição educacional
selecionada para o desenvolvimento desse projeto.
86
Finalmente, almejamos, por meio desse trabalho de reflexão sobre a leitura e a
produção textual, que o aluno compreenda a importância das experiências de uso da
linguagem oral, da leitura e da escrita, exercitando sua competência linguística e
comunicativa, e vivenciando sua autonomia como escritor consciente dos processos
envolvidos na produção de um texto.
1 A LEITURA E A ESCRITA NA SALA DE AULA
Ler e escrever, segundo Koch e Elias (2015, p. 9), “são atividades regidas pelo
princípio da interação e, como tal, requerem a mobilização de conhecimentos referentes à
língua, a textos, a coisas do mundo e a situações de comunicação”. Logo, essas práticas
precisam fazer parte do cotidiano escolar, para que os alunos leiam e escrevam com o intuito
de garantir o desenvolvimento dessas habilidades por meio de estratégias cada vez mais
motivadoras, aproximando o universo da sala de aula à realidade exterior. Com esse intuito, as
atividades textuais propostas nas oficinas relacionam diretamente a leitura de textos
“modelos” e a produção a partir dessas leituras, uma vez que
Se, segundo Paulino (2001, p. 22), “ao ler, o indivíduo ativa seu lugar social, suas
vivências, sua biblioteca interna, suas relações com o outro, os valores de sua comunidade”, é
importante que o professor aplique estratégias que valorizem essas referências, que deem voz
e vez às manifestações diversas dos alunos, preocupando-se, posteriormente, em adequar
essas produções aos objetivos propostos. Essas experiências é que estarão refletidas nos textos
que o aluno/escritor criará por intermédio do professor que sabe fazer da prática da língua o
meio mais eficiente para o aluno dela apropriar-se, oportunizando, assim, que suas produções
sejam o resultado natural de leitura e de debates na sala de aula.
Quanto à prática da leitura, em nossa vida cotidiana, lemos para buscar respostas
para nossas perguntas e para alcançarmos objetivos que dependem de cada situação de leitura.
Esses objetivos também se modificam à medida que lemos o texto, e é esse, na fala de Rangel
e Rojo (2010), um dos grandes desafios das aulas de leitura: levar o aluno a formular e
reformular seus próprios objetivos. Logo, a instituição escolar deve propiciar recursos e
A descoberta do continente a leitura é uma conquista que só pode ocorrer com a
prática, a formação, a educação, ou o exemplo de adultos totalmente engajados
nesse processo (RIBEIRO, 2000, p. 45).
a leitura é um elemento constitutivo do processo de produção da escrita por
fornecer matéria-prima para essa produção: ter sobre o que escrever. A leitura
também contribui para a constituição dos modelos: ter como escrever (NETO,
1993, p. 55)
87
estratégias de ensino que façam dos alunos bons leitores, que sintam prazer e gosto pela
leitura e, se possível, que se apaixonem por ela, desfrutando das atividades que envolvam essa
prática, independente da disciplina escolar (SOLÉ, 1998, p. 18).
Em nossas oficinas, os alunos fizeram leituras de crônicas de Domingos Pellegrini,
Luis Fernando Veríssimo, Moacyr Scliar, Ignácio de Loyola Brandão, Martha Medeiros,
Andréia Delmaschio, dentre outros autores, para conhecerem, além da estrutura do gênero
textual, outras possibilidades de temas e organizações textuais, com o intuito de exercitar uma
leitura interativa - na qual o leitor se situa perante o texto, utilizando seu conhecimento de
mundo e de texto para construir uma interpretação sobre aquele (SOLÉ, 1998, p. 24). Dessa
forma, ao registrarem suas experiências pessoais e criarem histórias, especialmente as que
narram situações que tenham como ambiente a escola, os alunos terão disponíveis modelos
distintos para auxiliar na escrita, fazendo do texto um fomentador de possíveis leituras,
referencial e estímulo para a produção textual. Essa proposta de interação entre leitor, autor e
texto, concebida por Bakthin (2007, apud NASCIMENTO, 2011, p. 3) e relacionada à leitura,
realça que a cooperação entre esses três elementos colabora para que o leitor se torne
protagonista no processo de compreensão, consciente da colaboração dos outros numa leitura
verdadeiramente interativa.
Sobre a escrita, muitas vezes o aluno acredita que escrever é um dom, algo destinado
a pessoas especiais, capazes de desenvolvê-la como num passe de mágica. Mas cabe ao
professor mostrar que
Essa visão justifica nossa preocupação em trazer para a leitura e a produção textual
temas que façam parte da realidade dos alunos, que também foram (ou podem ser)
vivenciados por eles, como situações dentro de um ônibus, na rua, no comércio, no cinema, na
família, na própria escola, enfim, cenas do cotidiano que podem acontecer com qualquer
pessoa, inclusive com eles. Lopes (2001, apud NASCIMENTO, 2011, p. 1-2) reforça que a
leitura em uma perspectiva interacionista realiza-se num fluxo de informação, pois o ato de ler
abrange tanto a informação impressa contida na página quanto a informação que o leitor traz
para o texto, afirmando que o processo de significação de um texto passa pela interação, um
intercâmbio mútuo dos conhecimentos do leitor, do autor e do texto. Assim, nas discussões a
[...] a escrita é um processo e, como tal, para escrever, as pessoas precisam se dar
conta de que somente com muita reflexão, rascunho, revisão e troca de ideias com
outras pessoas e, às vezes, mais reflexão ainda, é que a maioria dos escritores
consegue elaborar um texto razoavelmente satisfatório (NETO, 1993, p. 43).
88
partir da temática das oficinas, acrescidas da leitura de crônicas diversas (e outros gêneros,
como o texto poético, a canção, trechos de filmes, videoclipes, dentre outros), espera-se que
seu repertório de histórias seja ampliado, o que contribuirá para uma produção textual mais
prazerosa, criativa e livre. Assim, é fundamental desenvolver atividades de escrita ativando
conhecimentos e mobilizando várias estratégias, uma vez que o produtor, “de forma não
linear, „pensa‟ no que vai escrever e em seu leitor, depois escreve, lê o que escreveu, revê ou
reescreve o que julga necessário, em um movimento constante e guiado pelo princípio
interacional” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 34).
Portanto, todo o trajeto de escrita (revisão, reescrita e publicação) será orientado pelo
professor, a fim de que o aluno perceba que seu texto terá um novo objetivo, muito além de
uma nota, e um interlocutor real, os leitores do blog e da coletânea, dentre eles amigos da
própria sala e colegas da escola, além de pessoas que não se pode imaginar quem sejam. Essa
transposição do texto escrito em papel para a tela de computador, segundo Paulino (2001, p.
32), altera não apenas a postura corporal do leitor, que manterá contato com o objeto via
botão ou teclado, mas principalmente a do escritor, que terá sua produção ampliada por outras
instâncias de significação, uma vez que podem ser acrescidas imagens, comentários e
reflexões que enriquecem a produção original. Ali, produtor e leitor têm mais poder de
interferência, pois terão acesso ao universo hipertextual, numa interação diferente da que
temos com o texto impresso, participando ativamente de um processo de encadeamento de
textos e contextos, sem seguir obrigatoriamente um caminho pré-determinado (a sucessão de
páginas), fato que determina tanto o processo de criação como o de recepção.
Finalmente, visamos a contribuir para que os alunos participantes compreendam que
a leitura e a escrita são objetos sociais, não apenas escolares, e que para se apropriarem
efetivamente dessas habilidades, eles devem perceber o significado funcional desses atos - ler
e escrever - por meio do contato com as várias maneiras como eles são veiculados na
sociedade. Almejamos, ainda, que a escola empenhe-se em formar uma comunidade de
escritores que produzam seus próprios textos para mostrar suas ideias, e que seja um ambiente
no qual, como deseja Lerner (2002, p. 18), leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, e ler e
escrever sejam instrumentos poderosos que permitem reorganizar o próprio pensamento e
repensar o mundo.
2 A CRÔNICA
A escolha do gênero textual crônica deve-se ao fato de que esse tipo de texto, desde a
sua criação, registra, de maneira informal, simples e bem próxima do leitor, pequenos
89
acontecimentos de todo dia, “onde cabem pequenas coisas do cotidiano, (...) como páginas de
memória, lembranças de infância, flagrantes do cotidiano, comentários metafísicos,
considerações literárias, poemas em prosa, trechos de romance” (BENDER; LAURITO, 1993
p. 42). Narrativa curta, a crônica traz um texto muito acessível do ponto de vista da leitura e
da produção escrita, despontando um olhar sobre o cotidiano sem ser um mero relato. Com
sua linguagem descompromissada - numa combinação de elementos literários, como o uso
expressivo das palavras e da linguagem figurada, e elementos jornalísticos, como a
objetividade, a concisão, a clareza de informações -, esse gênero leve narra assuntos
corriqueiros em forma de histórias cheias de lirismo e humor, mas também pode dizer as
coisas mais sérias como uma conversa fiada, pois “tudo é vida, tudo é motivo de experiência e
reflexão, ou simplesmente de divertimento” (CANDIDO, 1992, p. 20). Assim, a crônica
convive e dialoga intensamente com a palavra e com o leitor, uma vez que seus objetivos
transcendem à simples informação.
Justamente pelo fato de ter essa dupla natureza - jornalística e literária -, nossos
alunos registraram, nas crônicas produzidas ao longo das oficinas, experiências pessoais ou
ficcionais vivenciadas dentro e fora da escola. Moisés (1978, p. 285) reforça a importância
desse narrador personagem que conta sua história de forma direta, uma vez que, para o
cronista, “é a sua visão das coisas que lhe importa e ao leitor, a veracidade positiva do
acontecimento cede lugar à veracidade emotiva com que o cronista divisa o mundo”. Esse
processo se realizará concomitantemente à leitura de crônicas de autores consagrados, como
Luís Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga,
Clarice Lispector, Lya Luft e Martha Medeiros, dentre outros.
Consideramos a crônica, portanto, como uma possibilidade de diálogo com as
situações experimentadas pelos alunos em seu dia a dia, a partir de temáticas selecionadas e
discutidas em sala. Esse gênero também contribui para lapidar esse olhar do aluno, de forma
que ele perceba com mais cuidado essas histórias que o cercam e pelo exercício da linguagem
- como na crônica, ágil como os acontecimentos, mas num tom coloquial -, consiga registrá-
las no papel e, posteriormente, no blog literário e na coletânea de textos que produziremos.
Nesse tipo de texto, portanto, queremos desenvolver e explorar o lado autor do aluno,
contando fatos como se tivessem acontecido mesmo, porém com uma liberdade maior que a
da notícia, pois o relato é feito como se fosse “por acaso”. Ângelo (2007, p. 10) destaca esse
aspecto da relação entre o leitor e o escritor desse tipo de gênero, ao afirmar que
A crônica é frágil e íntima, uma relação pessoal. Como se fosse escrita para um
leitor, como se só com ele o narrador pudesse se expor tanto. Conversam sobre o
momento, cúmplices: nós vimos isto, não é, leitor?, vivemos isto, não é?,
sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidade irmãs
(ÂNGELO, 2007, p. 10).
90
Pretendemos, portanto, que o aluno/escritor vá além de um simples relato, que
compreenda e pratique as estratégias da oralidade, marca desse gênero, para criar esse clima
de proximidade, de identificação. Como descreve Moisés (1978, p. 247), que esse jovem não
seja um simples repórter do dia a dia, mas o poeta ou o ficcionista do cotidiano, ressaltando
do acontecimento trivial sua porção fantasia.
3 O BLOG E A COLETÂNEA DE TEXTOS
Após a leitura, discussão, criação e revisão dos textos, estes foram publicados em um
blog, uma vez que os gêneros textuais “surgem emparelhados a necessidades e atividades
socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas” (DIONÍSIO; MACHADO;
BORGES, 2005, p. 19), e organizados em uma coletânea de textos, a fim de compor o acervo
da biblioteca da própria escola. Afinal, “à medida que o aluno utiliza a escrita para criar
textos, suas possibilidades de comunicação e socialização se ampliam, assim como sua
participação nas esferas sociais letradas, permitindo a ele construir uma imagem de si
associada aos textos que escreve, e elaborando, dessa forma, sua identidade de autor”
(FORTUNATO, 2010, p. 58). Um dos objetivos específicos do ensino de Língua Portuguesa,
segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p. 25), ressalta que devemos reconhecer o uso das novas
tecnologias, conhecer as ferramentas da mídia interativa e seus aplicativos (especificamente
para esse trabalho, o blog), utilizando a tecnologia como esfera de comunicação. Nesse
ambiente virtual, pretende-se que o aluno/escritor tenha uma relação com seus leitores reais,
que comentariam os textos disponibilizados, sugeririam alterações e identificariam problemas
que comprometem a legibilidade da produção.
Buscamos, ainda nessas produções, a recuperação de histórias que marcaram a
trajetória desses jovens nas instituições educacionais nas quais estudaram - uma das temáticas
para a produção de crônicas, assim como amor, família, lembranças da infância, dentre outras
-, a valorização da autoestima desse autor que “floresce”, consciente de que a produção é uma
atividade que é regida não apenas por regras, mas também pela imaginação e pela observação
de como outros escritores se utilizam dos próprios recursos expressivos para dizerem o que
querem dizer. Proporcionamos aos alunos, também, a aprendizagem em num novo ambiente
de comunicação e interação que já faz parte do cotidiano deles, para que, além de leitores, os
estudantes possam também ser escritores desses novos gêneros digitais presentes na web
91
(ROJO, 2012, p. 121). Afinal, quando os usuários dessas tecnologias educacionais –
professores e alunos – aprenderem a lidar com o mundo de sugestões e de atividades
diferenciadas que essas ferramentas disponibilizam, certamente a escola poderá se transformar
num lugar mais real, mais acessível, em que aprender será um prazer, e a troca de
informações, assim como a construção de saberes, serão atividades constantes e prazerosas.
4 A METODOLOGIA
Quanto à metodologia utilizada em nosso projeto, a proposta de trabalho será
desenvolvida por meio da abordagem qualitativa de natureza aplicada, com objetivos
descritivos e seguindo os procedimentos de uma pesquisa-ação como a sugerida por Tripp
(2005, p. 433-66), processo de melhora da prática recorrendo a ela própria para compreender
as situações, planejar as melhoras eficazes e explicar resultados. Tal proposta organiza-se nas
seguintes etapas: identificação do problema (dificuldades de leitura e produção textual);
planejamento de uma solução (atividades de leitura e de escrita com o gênero textual crônica);
implementação (aplicação das oficinas); monitoramento (revisão e reescritura das produções
textuais em sala de aula); avaliação da eficácia (acompanhamento, por meio de registros
pontuais, do avanço ou das dificuldades em cada oficina); planejamento de uma melhora da
prática (reformulação das oficinas posteriores, das temáticas ou da distribuição dos encontros,
quando houver necessidade). Dessa forma, produziremos conhecimento baseado na prática,
fazendo a transição da teoria para a prática e vice-versa, a fim de alcançarmos objetivos com a
participação efetiva e colaborativa de todos os participantes, alunos e professores envolvidos.
Pela característica da pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e interessada também
no processo de produção textual e não apenas no produto final (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p.
49), todo o material produzido nas oficinas será recolhido e avaliado, assim como os outros
tipos de registros (fotos, comentários nas discussões, análise dos textos lidos e dicas, por
exemplo), e reformulado quando necessário, para que o percurso de desenvolvimento dos
alunos seja registrado e analisado. Confirmando, ainda, o caráter indutivo do método de
abordagem selecionado para este trabalho (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 50), o processo de
reavaliação foi feito após cada oficina, percebendo-se os pontos positivos e negativos da
abordagem e atividades e contribuindo para que as particularidades sejam inter-relacionadas,
colaborando, assim, para que detectemos as dificuldades mais importantes nesse grupo.
Aproveitaremos para fazer uma análise comparativa da evolução da escrita dos estudantes,
pois o material, após a publicação no blog, será guardado para que retorne, ao final das
92
oficinas, ao próprio aluno, a fim de que ele mesmo observe como escrevia antes e o que
mudou com essa prática diferenciada de criação textual.
5 AS OFICINAS
Visando a práticas que, a princípio, exercitem a leitura e a escrita, permitindo uma
interação de modo criativo com as palavras (COSSON, 2007, p. 53), uma vez que serão
abordadas temáticas que extrapolam a sala de aula e se aproximam da realidade do aluno, as
oficinas de leitura, interpretação, discussão e produção de crônicas serão desenvolvidas com
base na proposta de Rildo Cosson, apresentada em seu livro Letramento Literário: teoria e
prática como “sequência básica do letramento literário na escola” (COSSON, 2007, p. 51).
Embora essa proposta seja voltada para o letramento literário e se organize em apenas quatro
passos (motivação, introdução, leitura e interpretação), nosso trabalho adotará essa sequência,
acrescentando outras etapas, uma vez que, após a interpretação, faremos a produção textual e,
em seguida, a publicação desse material em mídia virtual e em nossa coletânea de textos.
Ressaltamos, ainda, que a nossa proposta de atividades, seguindo as orientações dos PCNs
(BRASIL, 1997, p. 29), pretende mediar as três variáveis do ensino e aprendizagem da Língua
Portuguesa - aluno, língua e ensino -, com o intuito de promover o esforço de ação e reflexão
do estudante por meio das leituras e produções escritas.
6 RESULTADOS
As atividades propostas tiveram como propósito fazer com que os estudantes
conhecessem e refletissem sobre o funcionamento da língua e a prática da leitura como
instrumentos motivadores para uma eficiente produção textual, de forma que percebessem o
sentido do ensino e da aprendizagem da escrita, envolvidos nos processos de construção e
compreensão do texto. Almejaram, ainda, dinamizar as aulas de Língua Portuguesa
desenvolvendo as quatro habilidades linguísticas básicas - falar, ouvir, ler e escrever -,
utilizando-se da crônica, gênero textual que usa a sensibilidade e permite que a narrativa
reinvente os momentos belos da nossa vida vulgar, despertando também em nós poetas
adormecidos (SÁ, 1985, p. 87). As oficinas sugeridas, envolvendo os processos de leitura,
produção, revisão e publicação dos textos produzidos, promoveram o ensino da língua
pautado nas necessidades reais do usuário, no caso, o aluno, colaborando para que ele agisse
sobre o mundo para transformá-lo e, através da sua ação, formasse sua capacidade linguística
plural (GERALDI, 2012, p. 25). No entanto, apesar de todos os contratempos comuns ao
desenvolvimento de um projeto desse porte numa escola como a UMEF Sen. João de
93
Medeiros Calmon – um calendário dinâmico, com eventos como jogos e celebrações avisados
na véspera, poucas datas disponíveis no laboratório de informática, cancelamento de algumas
oficinas devido a realização de provas de outras disciplinas, dentre outras dificuldades -,
muitas foram as aprendizagens nesse percurso de meses, tanto para nós, docentes, quanto para
os alunos participantes.
Finalmente, entendemos que a metodologia aqui desenvolvida pode ser ampliada
para outros gêneros textuais, de forma que mais atividades diferenciadas de ensino e
aprendizagem da língua portuguesa sejam praticadas com os alunos, auxiliando-os na
ampliação das suas possibilidades de comunicação e socialização, principalmente por meio da
leitura e da escrita. Afinal, formar leitores competentes e capacitados para a escrita dos
diversos textos que circulam socialmente é uma das funções da escola, ambiente que deve
contribuir na interação fecunda entre os membros da comunidade escolar e na participação
efetiva dos alunos na construção da cidadania e da cultura escrita. Se a linguagem é
inseparável do pensamento e da história concreta dos nossos dias, da vida com os outros e da
participação no mundo, é na sala de aula, principalmente, que precisamos descobrir, despertar
e aperfeiçoar a capacidade da linguagem e suas diversas manifestações. Que a instituição
escolar empenhe-se, por meio de seus profissionais, em planejar e promover eventos de
letramento em quantidade, diversidade e qualidade satisfatórias, capazes de desenvolver nos
alunos as competências e habilidades de leitura e escrita que a vida contemporânea exige dos
cidadãos (RANGEL; ROJO, 2010, p. 11).
7 SEQUÊNCIA DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS
Oficina 1: “Muito prazer, o que vamos fazer?”
Apresentação do projeto, aplicação do questionário diagnóstico e leitura de uma
crônica introdutória. Texto motivador: “Fila nos bancos”, de Marcos Rey.
Oficina 2: “Descobrindo as crônicas”
Leitura por fruição de crônicas de obras publicações como “Para gostar de ler”,
dentre outras.
Oficina 3: “O olhar do cronista”
94
Atividades a partir das crônicas inspiradas em textos que apresentem o cronista e
suas inspirações. Gênero abordado: crônica. Textos motivadores: “Uma visão da vida” e “O
chamado da morte”, de Ignácio de Loyola Brandão.
Oficina 4: “Navegando nos mares do blog” e “Mãe é mãe”
Criação do blog (no Laboratório de Informática) e orientações para o cadastramento
da turma nessa mídia virtual. Atividades a partir das crônicas que falam sobre mãe. Gêneros
abordados: crônica e depoimentos orais dos alunos sobre o tema. Textos motivadores: “O
mundo não é maternal” e “Ainda sobre as mães”, de Martha Medeiros; “Minha mãe”, de
Andreia Delmaschio.
Oficina 5: “Do jornal para a crônica”
Atividades a partir de crônicas inspiradas em textos jornalísticos. Gêneros abordados:
texto jornalístico e a crônica. Textos motivadores: “Cobrança”, “Tormento não tem idade” e
“Um motivo para chorar”, de Moacyr Scliar.
Oficina 6: “Tô no blog”
Navegação no blog e postagens dos textos produzidos e selecionados pelos próprios
alunos.
Oficina 7: “Amigos, amigos...”
Atividades a partir de crônicas sobre amizade. Gêneros abordados: crônica e
depoimentos orais dos alunos sobre o tema. Textos motivadores: “O pior inimigo é o falso
amigo”, de Danuza Leão; “A turma”, de Domingos Pellegrini; “O melhor amigo”, de
Fernando Sabino; “Amigos”, de Luis Fernando Veríssimo.
Oficina 8: “Deu no jornal ”
Atividades a partir de crônicas inspiradas em textos jornalísticos. Gêneros abordados:
crônica e textos jornalísticos. Textos motivadores: “Espírito natalino” e “Espírito
carnavalesco”, de Moacyr Scliar; “Os jornais”, de Rubem Braga.
Oficina 9: “Você tem medo de quê?”
Atividades a partir de crônicas que falem sobre situações que causam medo, como
assaltos, violência e morte. Gêneros abordados: crônica e depoimento oral dos alunos sobre o
95
tema. Textos motivadores: “Este Natal”, de Carlos Drummond de Andrade; “Poder &
Paranoia”, de Moacyr Scliar.
Oficina 10: “Saudade, sentimento bom...”
Atividades a partir de crônicas que falem da saudade de pessoas, de lugares, da
infância, de momentos especiais. Gêneros abordados: crônica e poesia. Textos motivadores:
“Saudades”, de Clarice Lispector; “36 prestações de saudade”, de Gabito Nunes; “A maciez
do ferro”, de Andreia Delmaschio; “Carrossel”, de Antonio da Silva Pereira Neto.
Oficina 11: “Um tapinha dói”
Atividades a partir de textos que falem sobre a violência contra a mulher. Gêneros
abordados: crônica, canção e depoimento dos alunos sobre o tema. Textos motivadores: “Me
responda, sargento”, de Dalton Trevisan; “Não as matem”, de Lima Barreto; Trechos das
canções “Baile de Favela” (MC João), “Loira burra” (Gabriel, O Pensador), “Amiga da
minha mulher” (Seu Jorge), “Um tapinha não dói” (Bonde do Tigrão), “Mulher não manda
em homem” (Grupo Vou Pro Sereno), “Mulheres vulgares” (Racionais), “Mulher indigesta”
(Noel Rosa), “Buceta” (Velhas Virgens), e “Ai! Que saudades da Amélia” (Ataúfo Alves),
“Se essa mulher fosse minha” (Samba de Roda), “Minha nega na janela” (Germano
Mathias), “Pequena Raimunda” (Raimundos) e “Malandramente” (Dennis e MC‟s Nandinho
& Nego Bam), e “Maria da Vila Matilde”, de Elza Soares,
Oficina 12: “Bate papo com a autora”
Palestra com a autora do livro Cartas do mau aluno (2007), a jovem Carolina
Junqueira de Mattos, conversando sobre suas experiências como aluna na Educação
Fundamental, no Ensino Médio e na Universidade.
Oficina 13: “Lembranças da escola”
Atividades a partir de textos que enfoquem situações vivenciadas na escola. Gêneros
abordados: crônica e depoimento oral sobre as experiências como estudantes. Textos
motivadores: “Um espirro para ficar na história”, de Carlos Azevedo; “Uma crônica sobre a
escola e suas classificações”, de Igor Lopes; “Os terroristas”, de Moacyr Scliar; “A minha
glória literária”, de Rubem Braga.
96
Oficina 14: “Será um adeus?”
Postagem dos textos produzidos no blog, apresentação das produções organizadas em
coletânea e despedidas. Texto motivador: “O que as escolas não ensinam” (retirado da
internet).
8 PRODUÇÕES DOS ALUNOS
Lembranças (Gabriele Santos Silva)
Escola, aquele lugar onde passamos a maior parte das nossas vidas, onde fazemos
amigos, colegas e melhores amigos, aqueles que, quem sabe, podemos levar para a vida toda.
Pra mim, a escola até aqui é um lugar muito especial porque não me deixa ficar burra e
ser uma ninguém na vida! Foi aqui que fiz os melhores amigos do mundo, dos quais tenho
muito orgulho. Claro, né, cada um com seu jeito, sua personalidade. Afinal, quem nunca teve
um amigo maluco e vida “loka” que deixa sua vida mais engraçada e mais interessante? Ou
aquele amigo carinhosos que tá ali do seu lado pro que der e vier? Bem, eu tenho...
Posso dizer que foi aqui no João Calmon que tive as melhores experiências com meus
amigos. Entrei aqui em 2015, e foi um ano muito marcante pra mim. Um ótimo exemplo foi um
dia em que eu e minha amiga voltávamos pra sala após o recreio. Nesse momento, ela tropeçou
num arbusto e um menino a segurou pelo braço com toda a força. Foi a primeira vez que o João
Calmon ficou em silêncio, a escola parou para ver aquela cena. Eu não tenho palavras para
descrever as expressões de todo mundo naquele momento. Mas foi uma cena digna de risos...
Bem, esse foi um pequeno exemplo de experiências pra lá de malucas que já presenciei
e que me marcaram. Só digo que tudo que vivi até aqui foi graças a eles, “amigos”, aqueles
pelos quais agradeço a Deus todos os dias, pois sei que muita coisa ainda vem por aí... Mas
antes de terminar, como eu poderia me esquecer deles, os “professores”? Sempre tem aquele
maluco, que vive passando resumo, ou que te dá uma ocorrência se você não leva o livro pra
casa, enfim...
Uma professora que nunca vou me esquecer foi uma do 8º ano. Ser aluna dela foi
demais. E sabe por quê? É simples: na sala de aula, o tema era “Esqueceu o livro, ocorrência!”.
Os alunos se desesperavam quando esqueciam o livro, era muito engraçado, eu já vi gente estar
na escola e voltar pra casa por ter esquecido o livro.
Ela era uma das poucas professoras que a escola toda tem medo e respeita, além de explicar
muito bem. Mas foi um 8º ano inesquecível pra mim. Pena que não podemos voltar no tempo.
Violência contra mulher (Felipe Sala Carpes)
Eu vivia em uma cidade grande. Na metrópole mais populosa, para ser mais exato: São
Paulo. Sou branco, classe média alta e heterossexual. Pra completar, fazia Engenharia na melhor
faculdade do país, a USP. Ou seja, experiência zero com as minorias. Porém, isso mudou a
partir do momento em que aquilo aconteceu.
Mariana, minha irmã de 18 anos, começou a namorar um cara. Passados dois anos, eles
foram viver juntos, mesmo eu não concordando. Para mim, o relacionamento deles era uma
maravilha, sempre andavam juntos e o sujeito parecia super gente fina. Até que um dia, na volta
de um barzinho, percebi o quanto o cara poderia ser agressivo.
Depois de muito beber, Mariana e seu noivo Roberto começaram a discutir:
- Aquele cara te deu uma cantada! – ele disse, exaltado.
- Mas a culpa não é minha!
- É sim! Quem mandou você vir com essa saia curta? Eu já mandei você parar de usar
essas roupas que chamam atenção. Não quero uma noiva que pareça uma puta!
97
- M-mas...
- Cala a boca, Mariana! Em casa a gente resolve!
Mariana se calou e eu fiquei perplexo. Como ela deixava ele falar daquele jeito com
ela? Infelizmente não intervi na discussão porque, para mim, “briga de marido e mulher
ninguém mete a colher”!
Tempos passaram e Mariana, mesmo aparentando estar super feliz, aparecia com
manchas roxas. Perguntei para ela o que aquelas marcas significavam, e ela sempre dava uma
desculpa. Supus que ele batia nela, porém mais uma vez não interferi em nada.
Até que chegou o dia em que Mariana foi morta pelo próprio noivo. Não podia acreditar
que havia perdido minha preciosa irmã para um relacionamento abusivo. Eu não conseguia
dormir pensando no tanto que minha irmã sofreu.
E foi em uma noite dessas que percebi que Mariana era só mais uma das tantas
Marianas que sofriam. Quantas Marianas estavam sendo oprimidas, abusadas, sofrendo caladas?
Percebi que em briga de marido e mulher deve-se meter a colher sim. Percebi que mudar nossa
cultura era necessário sim, pois se mudássemos nossos pensamentos, muitas Marianas poderiam
ser salvas. Prometi a mim mesmo que lutaria junto com as mulheres e as defenderia,
independente das condições, pois quero que minha filha não seja uma Mariana.
Saudades do tempo (Natanael Leite Sepulchro)
Tem dias em que bate uma saudade de lembrar de momentos, relembrar e imaginar que
nunca vai ser igual ao que foi, de querer estar perto novamente. Saudade de um tempo em que
tudo era sorriso. Tempo em que eu sorria sem medo, assim como brincava sem medo de me
machucar.
Saudades de pessoas verdadeiras que passaram por minha vida, mas que deixei para trás
em busca de um novo começo. Saudades dos velhos momentos, quando tudo era perfeito e nada
parecia estar errado. Saudades das coisas que vivi e das que deixei passar, sem curtir na
totalidade.
Saudades da minha mãe... Que me faz pensar no descuido de Deus. Não dela perder a
vida, mas a vida de perdê-la. Saudade que não passa, mas adormece. Até que você aprende a
conviver com ela.
Saudade, agonia, angústia que aperta o nosso coração.
Violência contra a mulher (Nicole Vieira Lemos)
Gritos de desespero, som de vidros se quebrando e ameaças, muitas ameaças... Foi
assim aquele dia que nunca vou me esquecer. O dia em que eu vi e senti tudo o que acontecia há
anos, mas nunca havia percebido. O dia em que meu pai bateu na minha mãe, na minha irmã e
em mim. Mas posso afirmar que a dor física que eu senti não se compara a dor que eu senti em
meu coração.
Bom, era um dia como qualquer outro. Acordei, comi e fui pra escola junto da minha
irmã mais nova. Quando voltei, percebi que meu pai estavam meio estranho, mal humorado,
meio chateado. Minha mãe, como sempre, veio até mim, me deu um beijo e pediu que eu
arrumasse as coisas para o almoço. E eu fiz. Quando sentamos, percebi o clima meio tenso, meu
pai estava muito diferente do normal, e minha mãe parecia com medo. Perguntei o que estava
acontecendo, e meu pai começou a falar alto, xingando minha mãe por ela não ter arrumado a
casa. Ela, com medo, tentou se justificar, mas ele não deu nem tempo dela abrir a boca, deu-lhe
um tapa na cara. Então começou a bater muito nela, e minha irmã, inocente de tão pequena, foi
defendê-la, e sem nenhuma piedade, meu pai começou a bater nela também. Eu entrei em
choque, não consegui fazer nada, só conseguia ver aquilo e me sentir inútil por não fazer nada.
Quando dei conta do que estava acontecendo, eu liguei escondido para a polícia, mas eles não
chegaram a tempo. Quando apareceram, eu estava lá com minha mãe, fraca de tanto apanhar, e
minha irmã nos meus braços, morta.
98
Saudade (Samira de Oliveira Paiva)
Saudade é algo que machuca, maltrata, e dói muito. Saudade é algo constante em minha
vida, sempre presente e bem juntinho a mim. Talvez eu seja uma pessoa de fase: tem dias em
que eu sou só saudade, e tem dias em que eu quero esquecer de tudo e viver apenas o presente.
Afinal, a saudade me entristece muito pelo fato de eu não poder viver aquele momento
novamente. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o tempo cura. E cura mesmo. Vai ter
um momento em que aquela saudade vai se tornar vazia demais para ser considerada saudade.
Mas vão vir saudades novas, é inevitável.
Ensaio sobre elas (Camila Cristo Alexandre)
Ah, as mães... O que dizer sobre essas pérolas tão individuais para cada pessoa? A
minha, com seu “jeitão” protetor (da forma que só ela sabe), sempre trazendo luz em meus dias.
Algo que sempre achei irônico é como minha mãe é diferente de mim. Desde cedo, noto
essa diferença, principalmente pelo seu modo exacerbado. Com o tempo, aprendi com ela que
essa ironia da vida foi algo maravilhoso para meu amadurecimento e crescimento interno. Ela,
com todo seu carisma e humor, é a maior professora que tenho pelo seu maior ensinamento: as
diferenças não são o inimigo. O inimigo é o medo que temos do famoso respeito, aquele ser
desapegado e independente de alicerces não sondáveis.
Mãe, com toda sua diferença e amor, sempre nos ensinará a crescer verdadeiramente,
mesmo que, às vezes, inconscientemente. O sentimento de gratidão é o que flui em nós, crianças
em construção.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÂNGELO, Ivan. Sobre a crônica. In: Revista Na Ponta do Lápis. São Paulo: AGWM
Produções Gráficas e Editoriais, Ano III, nº 6, p. 10-1, agosto/2007.
BENDER, Flora; LAURITO, Ilka. Crônica: história, teoria e prática. São Paulo: Scipione,
1993.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação. Uma
introdução à teoria e aos métodos. Coleção Ciências da Educação. Portugal: Porto, 1999.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua
portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 1997.
CANDIDO, Antônio. A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil.
Campinas: Rio de Janeiro: UNICAMP; Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988.
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 1. ed. 2ª reimpressão. São Paulo:
Contexto, 2007.
DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. (Org.)
Gêneros textuais & ensino. 4. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
FORTUNATO, Marcia V. Ensinar a escrever para formar leitores. Revista Nova Escola.
Edição Especial. São Paulo: Abril, nº 30, p. 58, março/2010.
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Anglo, 2012.
99
KOCK, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção
textual. São Paulo: Contexto, 2009.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993.
(Série Educação em Ação).
LERNER, Delia; ROSA, Ernani (Trad.). Ler e escrever na escola: o real, o possível e o
necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 1975/1978.
NASCIMENTO, Priscila Rodrigues. Contribuições de Bakhtin para a leitura literária:
instrumentalizar para desenvolver o leitor estrategista. IF Goiano – CAMPUS CERES.
Publicado em Anais do SILEL, v. 2, n. 2, Uberlândia: EDUFU, 2011.
NETO, Antonio Gil. A produção de textos na escola. São Paulo: Loyola, 1993.
PASSARELLI, Lílian Maria Ghiuro. Ensino e correção na produção de textos escolares. 1.
ed. São Paulo: Telos, 2012.
PAULINO, Graça. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Fortunato, 2001.
(Coleção Educador em formação).
RANGEL, Egon Oliveira; ROJO, Roxane Helena Rodrigues. Língua Portuguesa: ensino
fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2010.
(Coleção Explorando o Ensino, v. 9).
RIBEIRO, Francisco Aurélio. A literatura infanto-juvenil e a formação do leitor. In: Revista
Contexto, nº 7. UFES, 2000.
ROJO, Roxane Helena Rodrigues. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.
SÁ, Jorge de. A crônica. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1985.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
TRIPP, David; OLIVEIRA, Lólio Lourenço de (Trad.). Pesquisa-ação: uma introdução
metodológica. Universidade de Murdoch. Revista Educação e Pesquisa. São Paulo: v. 3, p.
443-466, set./dez. 2005.
100
A LEITURA COMO ESPAÇO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA: HÁ UM OUTRO CAMINHO?
Heliud Luis Maia Moura (UFOPA)
Resumo: Este trabalho propõe-se a discutir a leitura como espaço da formação de docentes de
língua portuguesa, considerando as atividades pedagógicas realizadas na Educação Básica e as
implicações dessas atividades para a construção da prática cidadã. Tomo como referencial
101
teórico as postulações de Bakhtin (2010a), Colomer e Camps (2002), Kleiman (2007, 2011,
2013, 2016), Koch e Elias (2009a, 2009b), Machado, Castanheira, Bessa e Oliveira (2012) e
Moura (2005, 2009, 2014, 2016), para esses autores, a leitura constitui uma atividade central
não só para a formação docente em si mesma, mas também para a construção de ações didático-
pedagógicas à altura das exigências e complexidades dos espaços sociais e institucionais da
sociedade contemporânea. As análises realizadas referendam a premissa de que a leitura, sendo
constitutiva da formação de professores, tem seus desdobramentos na forma como os
docentesrealizam suas atividades no espaço escolar.
Palavras-chave:formação docente; leitura; ensino de língua portuguesa.
Abstract: This paper proposes to discuss reading as a space for the training of Portuguese-
speaking teachers, considering the pedagogical activities carried out in Basic Education and the
implications of these activities for the construction of citizen practice. I take as a theoretical
reference the postulates of Bakhtin (2010a), Colomer and Camps (2002), Kleiman (2007, 2011,
2013, 2016), Koch and Elias (2009a, 2009b), Machado, Castanheira, Bessa and Oliveira (2012)
and Moura(2005, 2009, 2014, 2016), for these authors, the reading is a central activity not only
for teacher training itself, but also for the construction of didactic-pedagogical actions in
keeping with the demands and complexities of social spaces and institutional aspects of
contemporary society. The analyzes carried out refer to the premise that reading, being
constitutive of teacher training, has its consequences in the way that teachers carry out their
activities in the school space.
Keywords:teacher training; reading; Portuguese language teaching.
Introdução
Este trabalho tem por objetivo analisar o modo como a leitura, enquanto
processo formativo, tem contribuído para a formação dos docentes de Língua
Portuguesa e para suas atividades pedagógicas no âmbito da educação básica,
compreendendo que a leitura se constitui como eixo básico para a formação dos
professores. Tomo como referencial teórico as postulações de Bakhtin (2010a), Colomer
e Camps (2002), Kleiman (2007, 2011, 2013, 2016), Koch e Elias (2009a, 2009b),
Machado, Castanheira, Bessa e Oliveira (2012), Moura (2005, 2009, 2014, 2016) para
os quais a leitura constitui uma atividade central não só para formação do docente como
também para a consecução de ações pedagógicas significativas no âmbito da formação
do aluno cidadão crítico-reflexivo.
1Bases teóricas
Como todos sabemos, nenhuma formação inicial é autossuficiente, válida para
todos os momentos do processo histórico-social, ainda mais se considerarmos a rapidez
com que as transformações sociais, tecnológicas e científicas têm acontecido
ultimamente, mais precisamente no contexto da Pós-modernidade. Nesse sentido, a
102
formação inicial não prescinde da formação contínua que, não sendo substitutiva desta
primeira, constitui uma forma de repensá-la e ampliá-la, dando oportunidade aos
docentes de atualizar/transformar as metodologias de ensino de língua, que devem
sempre estar atreladas às exigências das práticas sociais do mundo pós-moderno.
Para que essas transformações aconteçam, mediante o próprio uso dos recursos
tecnológicos, é necessário formar professores leitores, detentores de uma visão crítico-
reflexiva das formas de pensar a realidade social. Para não simplificar e/ou distorcer o
que significa a formação de profissionais críticos, é necessário também construir
instrumentos por meio dos quais esses docentes tenham acesso à informação, aqui
entendida, segundo Moura (2014) – com base em Moura (2005, p. 90) – “como uma
ampla e significativa informação teórica, no sentido mais profundo desta palavra”,
especificamente como apropriação de diferentes saberes, que, por sua vez, capacitam
tais profissionais a compreender a realidade como construída em diferentes ações de
linguagem, caracterizadas como dinâmicas, heterogêneas e instáveis.
Logo, a apropriação da informação supracitada passa pelas mais diversas
atividades de leitura, que passam a se constituir como instrumentos
informativos/formativos do docente. Nessa perspectiva, as atividades de leitura devem
se apresentar como um aparato para o exercício da reflexão, são uma espécie de ascese
na construção do pensamento analítico-reflexivo, que opera a partir de uma concepção
dialética do mundo, em constante processo de mudança e conflito. Dada essa visão, não
é possível compreender a formação docente sem a presença da atividade leitora, que, na
perspectiva de Gramsci, torna o educador intelectual orgânico, o condutor de um
conjunto de saberes, com os quais indivíduos tornam-se cidadãos corresponsáveis e
coparticipantes nas decisões políticas.
Frente ao exposto, o professor-leitor é capaz de tornar a leitura, segundo as
postulações de Colomer e Camps (2002, p. 7), uma “atividade „real‟ na escola em todas
as suas funções e em todo tipo de textos” dispondo aos aprendizes múltiplas
possibilidades no que concerne a uma interpretação mais profunda e ampla dos fatos
sociais, da própria história enquanto jogo dialético de forças. Nesse âmbito, o professor
constitui o profissional crítico, aquele que é capaz de instigar os sentidos preconstruídos
no mundo biossocial, de modo também a apontar para lugares vazios a serem
preenchidos nos diferentes textos/discursos.
De acordo com Machado, Castanheira, Bessa e Oliveira (2012), a escola
constitui-se como a principal agência de letramento da sociedade. Kleiman (2007) fala
103
da importância de o professor também constituir-se como pesquisador, o que implica
dizer que deve ser conhecedor das práticas sociais nas quais as escolas, enquanto espaço
de formação de saberes, se insere. Nesse sentido, deve ter sua prática pedagógica
centrada na cultura do aluno, sendo este concebido como sujeito sócio-histórico, capaz
de pensar reflexivamente a própria realidade. Por essa perspectiva, o professor é um
importante agente construtor da cidadania, na medida em que, como leitor proficiente e
instigante, conduz os aprendizes a um eficiente processo de desvelamento do universo
social em que estão imersos, enuviado por constrições simbólico-ideológicas, devendo
tal universo ser compreendido em suas dimensões política, histórica, social e cultural.
Assim, o professor é mesmo um agente-educador-letrador, que secoloca como
intelectual transformador em relação a práticas alienantes ou alienadoras, tendo a leitura
como instrumento de mudança, da qual os cidadãos não podem prescindir, sob pena de
ficarem alijados dos benefícios a que têm direito.
Levando em conta o que até aqui foi dito, justifico a realização deste trabalho,
que, em sua especificidade, visa implementar espaços de formação de professores
leitores, precisamente professores da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio)
em atuação nas redes Municipal e Estadual da Zona Urbana de Santarém,
compreendendo, nesse contexto, duas escolas do nível fundamental maior e duas do
ensino médio, objetivando-se propor reflexões teórico-metodológicas acerca de práticas
de leitura, sem se deixar de considerar a prática da escrita, que não sobrevive sem a
primeira e da qual constitui “a outra face da mesma moeda”, moeda de valor em
circulação na sociedade, espaço político de inserção dos indivíduos nas mais diversas
atividades sociais. Por outro lado, este trabalho deve se constituir num locus político-
pedagógico de intercâmbio de experiências entre docentes quando do exercício de suas
atividades profissionais, entendendo-se esse locus como suporte necessário para
transformações ou mudanças no que tange a práticas ultrapassadas em atividades de
leitura, infelizmente ainda presentes nas escolas. Acrescento como justificativa o fato de
o trabalhopoder possibilitar a ampliação de espaços e atividades de leitura para docentes
aí envolvidos, vislumbrando-se mudanças de perspectivas e de posturas no âmbito
dessas atividades, que, sendo complexas e diferenciadas em sua natureza, requerem
múltiplas e criativas metodologias, especificamente no que se refere aos contextos em
que ocorrem.
Uma outra justificativa que respalda este trabalho, reside na questão de que é
necessária a construção de novos paradigmas epistemológicos para o contexto da
104
formação contínua dos professores de língua portuguesa, o que poderá acontecer, de
acordo com os propósitos deste trabalho, por meio de um espaço de diálogo entre a
Universidade e as escolas públicas municipais e estaduais, no qual tenho por objetivo
implementar espaços de formação e de diálogo entre os professores participantes,
considerando, nesse contexto formativo, o contato desses docentes com teorias de
leitura, precisamente as teorias de base cognitivista, tendo em conta o contributo efetivo
destas para o ensino da leitura e da escrita, já que se apresentam como intercambiáveis e
não estanques no processo de formação de cidadãos leitores informados, reflexivos e
avaliativos das diferentes atividades sociais, construídas em/pela linguagem, capazes de
uma atitude responsiva (Cf. Bakhtin, 2010, p. 272) quando socialmente interpelados nos
vários lugares por onde transitam e atuam.
Para este trabalho, tomo como referencial teórico de base as postulações de
Kleiman (2011, 2013, 2016); logo, segundo essas postulações, a leitura é considerada
como uma atividade social. Nesse sentido, segundo a autora, a prática da leitura tem
como condição o fato de esta remeter necessariamente a outros textos e outras leituras.
Assim, ao lermos um determinado texto, acionamos valores, crenças e posturas, os
quais, de uma forma ou de outra, reconstroem a visão do grupo social a partir do qual se
deu nossa inserção na nossa própria cultura.
Tomo também como fundamento teórico as concepções de Koch e Elias (2009a,
2009b), para as quais a leitura é uma atividade interacional na qual os sujeitos são
constituídos como atores sociais, sendo construtores dos textos e ao mesmo tempo
construídos neles, considerando, aí, o próprio locus da interação e da construção desses
atores. Logo, no âmbito deste trabalho, a educação leitora dos professores da educação
básica pressupõe o entendimento de que a leitura é tanto um meio quanto um fim para a
construção da prática cidadã, pois é no processo da própria atividade leitora que se abre
caminhos para a constituição de sujeitos analítico-reflexivos e responsivos quando do
embate destes com as forças históricas da sociedade hegemônica, cujos valores
subjugam os interesses e demandas de grupos e classes historicamente excluídos e,
consequentemente, despossuídos do acesso aos bens sociais e culturais.
Ainda considerando o referencial teórico em questão, opto também pelas
postulações de Moura (2016), as quais tomam por base a concepção deque a leitura é
um processo dinâmico e irreversível de apreensão e avaliação do universo biossocial e
cultural, indo esta de atividades mais elementares de contato com a realidade até
atividades mais complexas de interpretação desse mesmo universo, como, por exemplo,
105
de formas de apropriação dos discursos científicos e filosóficos. Daí postular o autor
acerca da ideia de que a leitura constitui-se de atividades bastante heterogêneas,
diferenciadas e múltiplas, exigindo também dos leitores diferentes proficiências e
habilidades, devendo estes alcançar algumas e não outras no transcurso de suas
vivências e experiências de mundo. Dada essa noção, não alçamos todas essas
proficiências ao longo de nossa vida. Isto não quer dizer que não possamos
adquirir/desenvolver algumas habilidades de leitura nas várias áreas do conhecimento,
mas não de maneira propriamente proficiente ou plena, o que demandaria muito tempo e
muitos recursos, limitações concernentes a esse âmbito inviabilizam o desenvolvimento
pleno de tais habilidades. Também porque há um número muito grande de áreas do
saber, comportando estas muitas subáreas e especificidades, por sua vez também
comportando nuances ou características próprias.
As postulações de Moura (2016) reafirmam a questão de que ação de ler
compreende, na maioria das vezes, um trabalho contínuo e persistente de apreensão dos
mais diferentes significados em circulação no mundo, nem sempre fáceis de serem
compreendidos e interpretados, requerendo-se dos leitores diversos tipos de habilidades,
sem as quais não poderão transitar, de modo satisfatório, nos espaços sociais, nos quais
se exige competências discursivas adequadas ou coerentes com as práticas de linguagem
mobilizadas nesses mesmos espaços ou instâncias.
Por fim, as bases teóricas aqui apontadas respaldam, do ponto de vista
epistemológico, a natureza deste trabalho, que objetiva constituir-se como um espaço
para a formação de professores em pleno curso de suas atividades docentes, de forma a
se viabilizar reflexões sobre o papel do professor-leitor na educação básica, entendendo
que, sem a presença desse profissional, o nível de informação leitora dos alunos não
estará à altura das exigências requeridas pelas práticas sociais em seus mais variados
contextos.
2Metodologia
O corpus em análise integra um conjunto de 10 (dez) relatos de experiência de
professores que atuam no Ensino Fundamental Maior, sendo 5 (cinco) de professores
mestrandos do Profletras e 5 (cinco) de professores de escolas públicas municipais, mas
que não fazem parte do Profletras. Estes relatos constituem um dos instrumentos de
pesquisa do projeto intitulado “A leitura como espaço para formação de professores da
106
educação básica: há um outro caminho?”. Dos 10 (dez) relatos mencionados escolhi 2
(dois) para esta análise, com objetivo de observar, ainda que preliminarmente, o modo
como esses professores falam de suas atividades de leitura em sala de aula e,
concomitantemente, da relação entre a sua formação inicial e/ou contínua e as
atividades pedagógicas de ensino da leitura.
Logo, tais relatos trazem evidências das práticas de leitura desenvolvidas em
sala de aula e da interferência da formação leitora desses professores nessas práticas, o
que implica as próprias concepções que os professores têm em relação ao ato de ler,
ainda arraigado em práticas reificadas, obsoletas e tradicionais, com consequências para
as práticas pedagógicas mobilizadas nos espaços escolares. Por outro lado, observam-se
nos relatos tentativas de avanço e práticas leitoras que, de certa forma, superam
concepções e ações já cristalizadas, permeadas de crenças e com pouca possibilidade de
inovação nesse campo. A pesquisa, ora em andamento, tenta apontar sugestões
metodológicas que possam integrar leitura, oralidade, escrita e análise linguística
(ADIs), conforme postulado por Moura (2017).
Os recortes analisados são de duas professoras do Profletras ingressantes no ano
de 2017 e apontam tanto para as práticas mais conservadoras como para práticas mais
significativas, especificamente aquelas em que os aprendizes se constituem como
leitores mais autônomos, proficientes e interventivos.
3 ANÁLISE DOS RELATOS
A análise do relato 1 objetiva apresentar alguns recortes de um relato de
experiência de uma professora do ensino fundamental II, no qual tece comentários sobre
sua ação docente, especificamente no que tange a leitura e a escrita e em que essas
atividades estão dissociadas, quando deveriam ser intercambiáveis e consorciáveis.
Considerando as práticas formadoras dos professores e as crenças advindas dessas
práticas, observa-se ainda, conforme a fala da docente, uma ação pedagógica um tanto
impositiva no âmbito da leitura e da escrita, fato que retira a possibilidade dos alunos de
se constituírem como agentes do que leem e escrevem, corroborando-se, portanto,
produções de leitura e escrita mecânicas, pouco reflexivas e dissociadas das
experiências sociais dos aprendizes, tendo em conta o fato de que circulam por diversas
instâncias dos contextos sociais, nos quais precisam se colocar como indivíduos que
avaliam e refletem não só sobre seus discursos, mas também acerca dos mais díspares
107
discursos em circulação no universo biossocial de que fazem parte ou por onde
transitam. Observe-se o relato:
Relato 1.
Meu nome é Maria do Socorro Santos, sou professora de Língua Portuguesa
da rede estadual há cinco anos, ministro aulas para turmas de ensino
fundamental e de ensino médio e sempre estive preocupada com minha prática
pedagógica. Às vezes, me sinto frustrada com algumas atividades que parecem
não ter nenhum sentido para a formação dos meus alunos. Essa frustração ao
mesmo tempo que me preocupa me impulsiona a buscar novos modos de
ensinar.
Essa procura por um ensino-aprendizado significativo me fez reestruturar
uma atividade proposta no livro didático do nono ano. O capitulo traz o título:
“O registro de mim mesmo”. Abaixo desse título tem um comentário sobre a
união do celular com a máquina fotográfica e em seguida um painel de imagens
com pessoas fazendo selfie. Na página seguinte algumas perguntas sobre as
imagens e um subtítulo “Produção de texto” A Reportagem. Posteriormente,
traz uma reportagem sobre o uso excessivo de aparelho celular.
Lemos esse texto, respondemos as questões relacionadas tanto ao conteúdo
quanto as características do gênero. Em seguida os autores propõe que os alunos
formem grupos a fim de produzirem uma reportagem sobre o tema: “Os jovens
de hoje e a tecnologia” e apresentam um grupo de cinco aspectos que podem ser
discutidos na reportagem. Dizem que os alunos podem abordar outros aspectos
além dos propostos e após concluírem a reportagem devem montar um jornal,
incluí-la e expor o jornal.
Decidi ficar com os temas propostos e formei cinco grupos. Pedi que eles
pesquisassem sobre os temas e apresentassem na sala com a utilização de
cartazes. Lembro que o primeiro grupo a expor quase não se ouvia a voz das
alunas, a maioria estava muito nervosa e a estética dos cartazes muito ruim.
Pedi que elas reapresentassem em outra aula. Essa atitude me fez bem, porque
geralmente eu avaliava, dava uma nota e o trabalho ficava como estava. Percebi
que dar uma nova chance ao grupo fez com que o trabalho melhorasse e
motivou os demais grupos a se empenharem mais. Melhorando. Senti que
estávamos tendo sucesso.
O seminário foi muito bom, os alunos se envolveram, se identificaram com
alguns dos problemas relativos ao uso abusivo do celular, contaram suas
próprias histórias, de seus familiares e amigos. Ao término do seminário pedi
que cada grupo produzisse uma reportagem para montarmos uma revista com os
textos das três turmas de nono ano. Eles concordaram e também duas alunas
socializaram as temáticas no evento realizado pela escola em homenagem as
mães.
Agora estamos esperando um momento para socializarmos com a
comunidade escolar estes textos. Estou pensando em pedir que eles exponham a
revista na feira cientifica ou de uma outra forma.
Está atividade foi muito interessante pra mim, porque pude vê-los lendo,
pesquisando, produzindo textos orais, retextualizando e percebi a presença de
outros gêneros na produção da reportagem. Observei também um aspecto
negativo: a falta de autenticidade no texto escrito, pois a maioria dos grupos só
copiou o que estava nas pesquisas. Senti falta de um laboratório de informática
para que eu pudesse acompanhá-los na produção e principalmente para que eles
pudessem aprender a formatar os textos como eles aparecem nas revistas.
108
Neste relato verifica-se, inicialmente, que a professora se sente frustrada quanto
às atividades que desenvolve, mas, ao mesmo tempo, preocupada em buscar “novos
modos de ensinar”, no entanto, como o próprio relato traz, utiliza-se de uma atividade
proposta no livro didático, valendo-se de perguntas apresentadas na seção “Produção de
texto” – a reportagem, que se refere à união do celular com a máquina fotográfica,
mostrando um painel de imagens com pessoas fazendo selfie. Logo depois, tem-se uma
reportagem sobre o uso excessivo do celular. Esse trecho do relato evidencia que a
professora fica restrita à utilização do livro didático, por outro lado, a atividade de
leitura que deveria antecipar a produção textual, praticamente inexiste, há, por
conseguinte, uma pressa na resolução de atividades.
Mais adiante, observam-se preocupações com o conteúdo e características do
gênero, desse modo, as atividades apresentam-se direcionadas para aspectos mais
superficiais dos itens apontados. Os alunos formam grupos para a produção de uma
reportagem sobre o tema “O jovem de hoje e as tecnologias”.Assim, conforme o relato
da professora, não há discussões prévias sobre a temática em questão, o que poderia ser
feito por meio de gêneros como: debates, júris simulados, seminários, conversas entre
grupos de alunos, mas que deveriam estar subsidiados por textos de base referentes à
temática em pauta.
No mesmo excerto, observa-se que a professora solicita a produção de uma
reportagem e inclusão desta num jornal. A docente não exemplifica com modelos de
reportagem e de construção de um jornal. As atividades, como detectado, são
impositivas, não se apontando estratégias ou caminhos para a construção desses
gêneros.
Num outro excerto do relato, a professora solicita que os alunos pesquisem sobre
temas e os apresentem na sala em forma de cartazes, quando deveria apresentar textos
previamente, comentar a temática de alguns deles e exemplificá-los em cartazes
produzidos por ela mesma ou retirados de algum suporte. Vê-se que a docente tem por
objetivo a produção dessas atividades, mas não investe em metodologias antecipatórias
que conduzam à produção dos textos que está requerendo. De acordo com o relato, a
professora apressa-se na avaliação dos trabalhos e em dar nota, mesmo pedindo que os
reapresentemnum outro momento. No relato, a professora afirma que os alunos se
envolveram na atividade e se identificaram com algum dos problemas referentes ao uso
excessivo do celular, “contaram suas próprias histórias, de seus familiares e amigos”.
Pede também que os alunos produzam uma reportagem, mas não indica os caminhos ou
109
estratégias retórico-discursivas para a produção do gênero, assim como para a
construção do seminário que antecede a produção da reportagem.
Finalmente, a professora observa a falta de autenticidade no texto escrito, já que
a maioria dos grupos apenas copiou o que estava nos textos de suas pesquisas. A
professora também sente falta de um laboratório de informática, a fim de que pudesse
acompanhar a produção dos alunos. De qualquer modo, não há atividades prévias de
leitura, a partir das quais os alunos pudessem discutir com mais profundidade os temas,
assim como não há um acompanhamento mais detido e menos apressado do processo de
escrição de textos produzidos, o que vai cair em meras atividades de copiação,
desconsiderando-se a capacidade linguístico-discursiva e sociorretórica dos aprendizes,
tendo em vista o fato de que podem falar de temas, a partir da própria
compreensão/interpretação que fazem destes.
Em suma, como o próprio relato enfatiza, as atividades de leitura/escrita,
realizadas pela professora, não avançam sob uma perspectiva na qual os discentes
consigam se colocar como agentes de seus discursos, em que a leitura deve se constituir
como um processo contínuo e inexaustivo que leve a produção tanto de textos escritos
quanto de textos orais, objetivando-se a formação de leitores/escritores capazes de uma
atitude responsiva (cf. Bakhtin, 2010a) diante dos diferentes textos/discursos em
circulação nos espaços sociais e institucionais por onde transitam ou transitarão a
posteriori.
A análise do relato 2 visa discutir alguns recortes de um relato de experiência de
uma professora do ensino fundamental II. Esses recortes apontam para avanços em
relação a práticas leitoras que se constituem como significativas em relação a práticas
estabilizadas ainda realizadas em muitas escolas. O que a professora realizou, na
modalidade oficina, pode ser também implementado na sala de aula, com certas
modificações. Conforme o relato, as ações da docente primam por criatividade e
compromisso político. Contudo, a sua formação constituiu um dos fundamentos pelos
quais consegue avançar em suas atividades diárias de ensino de língua. Constata-se, no
depoimento da professora, uma postura crítico-analítica no que tange às atividades
desenvolvidas nas salas de aula em termos de leitura e escrita. Embora precise avançar
mais, a docente possui um propósito definido no que concerne a esses avanços, saindo
das práticas obsoletas e comodificadas para ações que possam se constituir como
significativas para as experiências leitoras dos seus alunos, tendo em conta que estes
necessitam de autonomia e reflexão quando leem e escrevem, mas que precisam
110
engajar-se quando da execução de tais atividades. É papel do professor construir esse
engajamento, numa atitude de corresponsabilidade frente aos desafios enfrentados pelos
aprendizes nos espaços de linguagem pelos quais se mobilizam. Observe-se o relato:
Relato 2.
Porque é através do registro que deixamos nossas “pegadas” no
mundo...
Sou Marta Maria Silva Oliveira, tenho 42 anos, santarena. Mas fiz o Curso
de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa na Universidade Federal do Pará,
Campus de Marabá. E há 17anos ministro aulas de Língua Portuguesa. Por 5
anos atuei na rede de ensino privada. E há 12 anos estou na rede pública, 08
desses anos trabalhei em escolas municipais marabaense, e atualmente faço
parte do quadro de funcionário da rede estadual de ensino.
O insucesso dos estudantes da escola pública, quando o assunto é
LEITURA, sempre me trouxe INQUIETAÇÃO. E no ano de 2001 ao realizar
uma pesquisa de campo para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) da graduação - que teve como tema “A prática de Leitura no Ensino
Fundamental: Discussões e Propostas” - percebi o quanto precisávamos
avançar, pois as atividades em voga ainda estavam vinculadas à uma concepção
de leitura como processo de decodificação. E como consequência a prática em
sala de aula era a predominância de atividades mecanicistas em que o aluno era,
como acerva Paulo Freire (1980): Um mero depósito de conhecimento bancário,
isto é, um mero repetidor de informações, passivo, inerte. Essas postulações
teóricas, as vi a olho nu, durante a realização do estágio, aliás essas vivências
foram um divisor de águas em minha formação docente, porque a partir dali
pude mudar o olhar...
Nas aulas de Língua Portuguesa observadas em quatro escolas da rede
municipal de Marabá o que regia o ensino era a “LEIDURA”, como bem já
destacou Ezequiel Theodoro Silva, pois a LEITURA CRÍTICA não tinha nem
vez e nem voz. Os alunos sob a observação implacável da professora viviam
uma espécie de SOFRIMENTO máximo, ao oralizarem em voz alta os
fragmentos de texto - porque o texto não aparecia na integra- tremiam como
vara verde, isso quando conseguir emitir determinado som, pois alguns mal
sussurravam e desistiam de ler após o grito retumbante da mestra. Na outra
etapa do martírio, os estudantes copiavam, literalmente todas as questões do
livro didático. E sem tempo para discutir, analisar o texto, as aulas findavam.
Ao longo de vários dias de observação, as aulas de língua materna seguiam
esse mesmo rito sacro. Eu, cá com os meus botões pensava “Esse filme já vi e
vivi”. Era igualzinho, quando eu estudava lá pelos idos de 80/90. Mudanças?!
Nehumazinha!!! E de súbito, embevecida por uma VONTADE semelhante à da
Raquel (protagonista da BOLSA AMARELA), que na maior parte do tempo
ficava escondida, mas que naquele momento MOTIVAVA, INCOMODAVA, e
sobretudo, MOVIA minha consciência. Provavelmente, brotava em mim o
sentido do verbo MUDAR, ao menos em mim, a forma de ensinar a Língua
Portuguesa! Era preciso vencer os moinhos de vento, derrubar os muros das
desigualdades por meio dos textos. Fazer valer o direito de aprender a ler e
escrever na escola.
No segundo de atuação na Escola, elaborei o Projeto Jovens Escritores...
essa atividade envolveu os alunos do 6º e 7º ano. As aulas forma transformadas
em OFICINAS. O gênero selecionado foi o POEMA. Fazíamos rodas de leitura,
dramatizações de alguns poemas escolhidos pelos alunos, produziram,
reescreveram e a última etapa foi a produção de um CD (com poemas
111
produzidos pelos alunos e outros de autores consagrados) e um livro, ambos
distribuídos no dia da festa em comemoração ao dia das mães. A produção do
CD contou com a participação do professor de Matemática (por ter uma banda
de música, ele contava com os equipamentos para a produção). A biblioteca do
Irmã Theodora não funcionava por falta de um profissional para realizar o
atendimento.
Foi numa manhã ensolarada de setembro, de calor intenso, que me
apresentei ao diretor da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental
MarinaContini. A minha primeira ação, após dialogar com o gestor, foi visitar a
biblioteca, aliás, não era uma biblioteca, mas sim um depósito de livros repleto
de teias de aranhas, escuro, sujo, empoeirado, lembrava bem os cenários de
histórias de terror! Naquele lugar insalubre, sem vida ficavam armazenados os
livros. Aquela situação disparou em mim uma enorme revolta, saí dali a procura
da professora readaptada que era responsável pelo “ambiente”. Perguntei-lhe se
aquele lugar era mesmo a biblioteca. E ela com cara de poucos amigos, olhou
por cima das lentes dos óculos, respondeu rispidamente: “É sim! Por aqui
ninguém GOSTA de LER. Os alunos são desinteressados, por isso os LIVROS
estão GUARDADOS.” Aquelas palavras permaneceram em mim por longo
tempo. Porém, eu precisava expurgá-las de mim. Então, disparei: “Essa situação
vai MUDAR!” A velha senhora, com ar de deboche revidou: “Todos os
forasteiros falam isso.”
Em meio a essas teias em formato de aulas, ou seria aulas em formato de
teias?! O importante é que desatei as amarras.E comecei, ou melhor, continuei
minha caminhada. Como já havia testado as oficinas de LEITURA, resolvi
reconfigurá-las, a iniciar pelo tempo, pois duas aulas não eram suficientes,
assim os dias de folga foram destinados para as oficinas, ou seja, no contraturno
com 4horas de duração. A sensibilização para os alunos ingressarem nessa
atividade se deu a partir do relato oral das atividades já realizadas em Marabá.
Também fiz um cartaz para divulgar o evento. Assim... Na primeira oficina cujo
título foi LEITURA, MUITO PRAZER! se não me falha a memória 08 ou 10
alunos apareceram, realmente, fiquei muito decepcionada, mas a VONTADE de
FAZER DIFERENTE falou mais alto! Eu precisava multiplicar aquele número
de participantes. Não podia deixar longas horas de planejamento se perderem.
Antes de detalhar o desenvolvimento da oficina, preciso falar da contribuição
das coordenadoras pedagógicas, elas me ajudaram na ornamentação do espaço,
conseguiram patrocínio para o lanche diferenciado ofertado aos alunos, além de
organizarem os livros na sala onde aconteceram os encontros. Partimos então
para a execução das atividades! Nossa viagem começava. As boas vindas aos
nossos viajantes foram dadas por meio da exposição de imagens de várias
pessoas lendo: crianças, adolescentes, jovens, idosos em diferentes ambientes.
Depois, alguns alunos teceram comentários sobre as imagens na roda de
conversa. Também fiz o levantamento das expectativas em relação ao evento,
utilizando uma técnica chamada de CHUVA DE IDEIAS a partir da palavra
LEITURA. Em seguida elaboramos por escrito o CONTRATO DE
CONVIVÊNCIA- as regras para o bom andamento das atividades. A próxima
ação foi informar o objetivo daquele encontro, deixei claro que era oportunizar
o contato com textos sem o compromisso de fazer exercícios interpretativos.
Ler descompromissados, sem obrigação nenhuma. Um ato como bem postula
Ana Maria Machado (2002): Ninguém tem que ser obrigado a ler. Ler é um
direito de cada cidadão, não é dever. A seguir, uma dinâmica de apresentação
com gestos espontâneos em que cada aluno se expressava através de um gesto e
os demais repetiam. Passamos, então para o relato da minha experiência como
leitora, contei-lhes, detalhadamente como fui conduzida por minha mãe ao
universo da leitura. Foi um momento de extrema emoção para mim, tanto por
relembrar minhas primeiras aventuras de leitura como por perceber o grande
112
envolvimento dos participantes ao ouvirem o relato. Emoção a parte, veio o
momento do encontro com os textos, Na sala colocamos varais com poemas,
livros sobre algumas mesas ornamentadas, revistas e jornais nos cantos da sala.
No chão colocamos carpete e almofadas. Foi uma iniciativa propositalmente
pensada, porque os meninos e meninas puderam ler confortavelmente. Logo
após o momento de leitura livre, alguns alunos comentaram as fábulas ou contos
que leram, outros pediram para levar o livro escolhido para ser lido em casa. Ao
final houve avaliação do encontro, a maioria dos estudantes gostou muito e se
comprometeu, voluntariamente em conquistar novos participantes para as
oficinas vindouras. O lanche especial deu o toque final para celebrarmos a
inauguração de nossas viagens longínquas. Realmente, na segunda o número de
estudantes superou as expectativas!
Conforme o relato, precisamente no excerto em destaque, a docente fala de suas
inquietações em relação à prática da leitura, que é tema do seu Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) da Graduação em Letras/Língua Portuguesa, cujo título é “A Prática de
Leitura no Ensino Fundamental: discussões e propostas”. A partir deste trabalho, pôde
perceber a necessidade de uma concepção de leitura que pudesse avançar em relação a
processos de simples decodificação. Nesse sentido, com base em Paulo Freire (1980),
questiona a existência de um aluno como mero depósito de conhecimento bancário, em
outras palavras, um simples repetidor de fórmulas, conceitos e nomenclaturas. Constata-
se, então, que a docente, com base em teorias mobilizadas em sua formação inicial, já se
investe de uma postura um tanto crítica, referindo-se a determinadas vivências que se
constituíram, de acordo com suas palavras, como um divisor de águas na sua formação,
mudando sua perspectiva sobre o que se entende por atividade leitora.
A professora constatou, nessas experiências, que os alunos do ensino
fundamental, nas escolas em que realizou o estágio docente, viviam uma espécie de
sofrimento, mormente quando oralizavam, em voz alta, fragmentos de textos, sempre
sobre o controle autoritário da mestra. Conforme o relato da docente, “os estudantes
dessas turmas copiavam literalmente todas as questões do livro didático”. Não havia
tempo para se analisar e discutir os textosfornecidos pela professora. Durante os vários
dias em que realizou o estágio de observação, a professora relata que as aulas de Língua
Portuguesa seguiam um ritmo mecânico e cansativo, prática que a incomodava, mas
também a movia em direção a outras perspectivas e ações.
Já como professora numa escola municipal de ensino fundamental, elaborou um
projeto denominado Projeto Jovens Escritores, direcionado para os alunos do 6º e 7º
anos. Assim, suas aulas foram transformadas em oficinas. O gênero trabalhado
inicialmente foi o poema. No âmbito dessas oficinas, fez rodas de leitura, encenações de
alguns poemas escolhidos pelos alunos, produção de textos poéticos e reescrição destes,
113
culminando com a produção de um CD, no qual havia poemas produzidos pelos alunos
e por autores consagrados, além de culminar também com a produção de um livro,
sendo estes dois distribuídos na festa de comemoração do dia das mães. Com base neste
excerto, podemos observar que a professora está disposta a avançar em relação a
algumas práticas já cristalizadas,bastantepresentes não só nas escolas da época em que
fez o estágio, mas também ainda inseridas em contextos atuais de ensino de língua.
Continuando seu relato, a professora mostra-se preocupada com a biblioteca que,
no âmbito das suas observações, constitui um depósito de livros, sujo e empoeirado. Ao
questionar essa situação, a docente faz um novo investimento nas oficinas de leitura, as
quais passam a se realizar fora do turno no qual dá aula, com 4 horas de duração. Nessas
oficinas, sensibiliza os alunos a ingressar nas atividades, tendo por base relatos orais de
atividades realizadas anteriormente na cidade de Marabá (PA). Num primeiro momento,
faz cartazes para divulgar os eventos de leitura. Na primeira oficina, aparecem somente
oito ou dez alunos, o que, de certa forma, a decepciona. Entretanto, realiza novos
investimentos, organizando o espaço onde as atividades devem se realizar. Faz uma
exposição, na qual constaimagens de várias pessoas lendo: crianças, adolescentes,
jovens e idosos nos mais diferentes ambientes. Neste espaço,os alunos tecem
comentários sobre as imagens nas rodas de conversa. Também faz o levantamento de
expectativas acerca desse evento, com a utilização de uma técnica denominada Chuva
de Ideias, a partir da palavra Leitura. Dando prosseguimento, oportuniza o contato com
os textos, sem a obrigação de fazer exercícios interpretativos, deveriam ler
descompromissados, sem obrigação nenhuma. Ainda no âmbito de suas oficinas, a
professora usou de sua criatividade, teatralizando, junto com os alunos, textos lidos, de
forma a engajá-los naquilo que liam.A mestranda encara o ato de ler como um direito e
não como um dever, conforme postula Machado (2002).
Conforme a relatante, observa-se que a sua experiência leitora, conduzida pela
própria mãe, a faz pensar a leitura como espaço pelo qual podemos, com o lúdico e para
além do lúdico, nos apropriar dos diferentes sentidos em construção no mundo, mas
consideramos ser a sua formação o espaço desencadeador para a construção de um
profissional leitor. Embora sua criatividade e experiência contem muito, sua formação
contribuiu,direta ou indiretamente, para o que mais tarde se constituiria uma prática. É a
partir das próprias ações leitoras da professora, que os alunos constroem sentidos para o
que fazem e para o que leem. No entanto, é necessário um compromisso político em
direção às práticas de leitura, que devem constituir-se como relevantes para os que as
114
direcionam e para aqueles a quem estas são dirigidas, levando em conta sempre as
experiências dos sujeitos que aí estão envolvidos, que passam a se reconhecer nos textos
que leem e escrevem, não numa perspectiva especular ou repetidora, mas como
reconstrução ou deslocamento dos referentes com os quais têm contato em sua ação de
compreensão e interpretação dos textos que passam a ler.
É tarefa do profissional de língua viabilizar práticas leitoras, considerando não
só os seus objetivos, mas também os propósitos daqueles a quem convoca em suas
ações, não para ensinar coisas, mas para desvelar e/ou desmistificar significados
preconstruídos ou pré-fabricados,indo-se além de significações correntes e estabilizadas.
Por essa perspectiva, cabe ao professor-leitor questionar tais significações, convocando
outras que possam se contrapor a estas, veiculadas em outras esferas de produção do
sentido, numa atitude de respondibilidade reflexiva a tudo que já está dito ou que poderá
vir ainda a ser enunciado.
4 CONCLUINDO POR ENQUANTO
Os dois relatos, em análise, levam-me a considerar que a formação do
licenciando constitui-se como relevante para as suas futuras atividades docentes. Se essa
formação se apresenta como parâmetro positivo para uma escola na qual os alunos
devam se constituir como agentes do que leem e escrevem, então ela deve ser repensada
na forma como é construída nos espaços de formação dos graduandos em Letras,
saindo-se da rotinização e dos conteúdos, para atividades que, de fato, possam
corresponder às exigências requeridas pelos espaços sociais e institucionais,
compreendendo que esses espaços primam por instabilidades e conflitos, de forma a
requerer-se uma formação à altura de tais exigências. Nesse sentido, deve se instigar
espaços formativos em que os licenciandos possam construir uma atitude reflexiva e
responsiva diante dos desafios e complexidades da sociedade contemporânea, na qual as
linguagens, cada vez mais diferenciadas entre si, requerem de formadores e formandos
ações cada vez mais interventivas em relação aos modos de construção dessas
linguagens, com investimentos progressivos e diferenciados em relação às práticas
tradicionais de ensino de língua ainda correntes nas instituições formadoras.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes,
2010.
115
COLOMER, T; CAMPS, A. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre:
ARTMED, 2002.
KLEIMAN, A. Leitura e Interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da escola.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.
______. Leitura: ensino e pesquisa. 4ª ed. Campinas, SP: Pontes editores, 2011.
______. Oficina de leitura – teoria e prática. 15ª ed. Campinas, SP: Pontes editores,
2013.
______. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. 16ª ed. Campinas: Pontes
editores, 2016.
KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2009 a.
______. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009 b.
MACHADO, V. R; CASTANHEIRA, S. F; BESSA, A. L. C; OLIVEIRA, F. E. de.
Leitura e mediação pedagógica no ensino fundamental: formação continuada de
professores. In: Leitura e mediação pedagógica. São Paulo: Parábola Editorial. 2012.
MOURA, H. L. M. A argumentação em petições jurídicas: um estudo do gênero a partir
da análise do discurso. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005.
_____. Gêneros textuais: conceituação e ensino. Mimeo, 2009.
_____. Leitura e formação do professor de língua da Educação Básica. Mimeo,
2014.
_____. A produção de leitura na escola: objetivos e desafios. Mimeo, 2016.
______. A leitura como espaço para formação de professores da educação básica:
há um outro caminho? 2017.
APRENDER E ENSINAR EM TODO LUGAR: OS ESPAÇOS PARA A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar (UnB)
Resumo: O presente artigo objetiva discutir a importância do ensino em espaço não escolar,
evidenciando o compromisso da educação com o exercício da cidadania e a relevância de
práticas educativas em espaços sociais variados. Além disso, apresenta a experiência obtida
através da execução do projeto O letramento a partir das histórias em quadrinhos,
desenvolvido mediante a aplicação de um minicurso realizado na Organização Não
Governamental (ONG) Casa Serena, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Partindo da
concepção de educação de Paulo Freire (1988 e 2002), as discussões presentes neste trabalho
fundamentam-se, principalmente, nos princípios das Leis de Diretrizes e Bases (LDB) (1996);
na abordagem teórica de Figueiredo e Melo (2011) e Gohn (2005) sobre a educação não formal;
nos postulados de Marcuschi (2007 e 2008) e Soares (2002) a respeito do letramento e nos
pressupostos de Kaufman e Rodriguez (1995) e Marcondes (et al.) sobre histórias em
quadrinhos.
Palavras-chave: Educação não formal. Letramento. Histórias em quadrinhos.
Abstract: This article aims at discussing the importance of teaching in non - school space,
evidencing the commitment of education to the exercise of citizenship and the relevance of
educational practices in various social spaces. In addition, it presents the experience obtained
through the execution of the Literature project from the comics, developed through the
application of a mini-course carried out at the Non-Governmental Organization (NGO) Casa
Serena, in the city of Teixeira de Freitas, Bahia. Based on Paulo Freire's conception of
education (1988 and 2002), the present discussions are based mainly on the principles of the
116
Laws of Guidelines and Bases (LDB) (1996); in the theoretical approach of Figueiredo and
Melo (2011) and Gohn (2005) on non-formal education; in the postulates of Marcuschi (2007
and 2008) and Soares (2002) on literacy and in the assumptions of Kaufman and Rodriguez
(1995) and Marcondes (et al.) on comics.
Keywords: Non-formal education. Literature. Comics.
INTRODUÇÃO
“Aprender é uma das coisas mais bonitas, mais gostosas da
vida. Acontece em qualquer tempo, em qualquer idade, em
qualquer lugar. Ajudar as pessoas a descobrir esse prazer, a
„degustar‟ o sabor dessa iguaria é ascender às mais altas
esferas da atuação humana”.
Irandé Antunes
O letramento constitui-se no uso da leitura e da escrita como práticas sociais.
Seu processo pode ser considerado complexo, na medida em que exige dos sujeitos
experiências sociais de leitura e escrita e a convivência com diversos gêneros textuais.
Mas esse contato mais profundo com o mundo letrado nem sempre é possibilitado aos
indivíduos. Há pessoas que residem em espaços onde não há acesso e incentivo a tal
prática, e existem aquelas que estão ou estiveram às margens da sociedade, vivendo em
situação de vulnerabilidade social, capaz de compromete seu desenvolvimento humano,
inclusive sua participação e inclusão no mundo da leitura e da escrita, impossibilitando
o uso dessas habilidades como práticas sociais.
As crianças e dos adolescentes da Organização Não Governamental (ONG) Casa
Serena são indivíduos que fazem parte do grupo de pessoas citado acima, pois não
tiveram a ampliação do letramento. Na tentativa de possibilitar a esse público o acesso
ao mundo do letramento, foi elaborado e executado um projeto que fez parte das
atividades realizadas na disciplina Estágio supervisionado em espaços não escolares
durante o curso de graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas na
Universidade do Estado da Bahia - UNEB - Teixeira de Freitas – BA. Dessa forma, no
segundo semestre do ano de 2013, foi realizado um minicurso de quarenta horas,
distribuídas em oito encontros com a duração de cinco horas cada, no qual se
estabeleceu por objetivo tornar os participantes aptos a utilizarem as habilidades de
leitura e escrita no convívio social através do contato com o mundo letrado, por
117
intermédio das histórias em quadrinhos. Essa experiência será apresentada e discutida
nesse trabalho.
A Casa Serena é uma organização não governamental (ONG) do município de
Teixeira de Freitas, Ba. Essa entidade sem fins lucrativos foi fundada nos anos oitenta,
na cidade metropolitana de São Paulo. Atualmente, além de atender no local de origem,
também está presente na localização citada acima e no município de Eunápolis, Ba.
Trata-se de uma organização que tem por finalidade assistir e abrigar crianças e
adolescentes em condições de vulnerabilidade social, sem distinção de raça, cor, sexo,
credo religioso e político, desempenhando um trabalho de acompanhamento e
orientação social aos menores que acolhe, tendo parceria com instituições educacionais
e empresas, atividades de ordem assistencial, cultural, social e recreativa. Observa-se,
portanto, são várias as crianças e adolescentes de níveis de escolaridade diferentes e
muitos que nunca frequentaram a escola.
Tais considerações preliminares impulsionam o desenvolvimento desse artigo
que, antes de apresentar tal experiência, pretende discutir a importância de práticas
educativas em espaços não escolares – a educação não formal – e em seguida, aborda
questões teóricas que envolvem o conceito de letramento, apresentando as histórias em
quadrinhos como intermediadoras do processo de letramento. Para tanto, o trabalho se
organiza em três partes distintas, discutindo questões diversas, em defesa de um mesmo
ponto, a saber, a o compromisso da educação com o exercício da cidadania.
1 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: OS ESPAÇOS POSSÍVEIS PARA A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a
preparação para a vida, é a própria vida”.
John Dewey
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação deve
está presente como algo natural e necessário nas rotinas cotidianas das pessoas: pois “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”
(BRASIL, 1996, s/p). Assim, a educação não ocorre somente na escola, mas também
em outros espaços, já que visa formar, concomitantemente, sujeitos alfabetizados,
letrados, críticos e conscientes. Para isso, não basta ensinar a ler e escrever, é preciso
118
preparar o indivíduo para o mundo adulto e suas contradições, proporcionando
momentos de interação, nos quais o indivíduo possa desenvolver sua consciência crítica,
compreender a própria realidade, adequar suas necessidades individuais ao meio social e
entender seu papel na sociedade.
Sendo assim, a educação tem como papel fundamental promover a identidade
cultural do discente e a sua conscientização para o exercício da cidadania, de modo que
“[...] as práticas educativas estendem-se às variadas instâncias da vida social”
(FIGUEIREDO e MELO, 2011, p.5), podendo ocorrer em qualquer ambiente que tenha
por finalidade formar cidadãos capazes de perceber o espírito crítico embutido nos
vários âmbitos sociais, inclusive nos espaços não escolares, aqueles espaços além da
escola, o que não significa necessariamente um espaço desassociado ou contrário à
escola, mas um ambiente além dos muros escolares, onde também a experiência do
educar aconteça.
Nessa perspectiva, há vários espaços não escolares, nos quais são desenvolvidas
medidas educativas através da educação não formal, que segundo Gohn (2005), “[...]
capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é
abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações
sociais” (2005, p. 29). Afinal, enquanto ser de relações, faz-se necessário que o homem
se torne um sujeito consciente, crítico, participativo e autônomo, capaz de ler e
interpretar o universo ao seu redor, sabendo situar-se devidamente nele.
Gohn (2005) ainda observa que a educação não-formal é “um espaço concreto
de formação com a aprendizagem de saberes para a vida em coletivos” (p. 32), de modo
que cabe ao educador garantir a aprendizagem de certas habilidades e conteúdos que
promovam a inclusão social e o respeito à diversidade, auxiliando na construção do eu e
na descoberta do outro, o que significa preparar os discentes para a vida em sociedade,
formar cidadãos aptos a lidar com demandas sociais no convívio humano. Nessa mesma
perspectiva, Paulo Freire (2007) apresenta os saberes necessários para a prática docente,
e, entre estes, está o comprometimento, atitude diretamente relacionada com a noção de
educação defendida nesse trabalho, que seria:
O comprometimento com a educação de qualidade e igualitária,
visando à inserção de indivíduos ainda marginalizados, numa
sociedade desigual e excludente, pois, somente por meio dessa
educação ideal, os envolvidos nesse processo terão acesso à inclusão
na sociedade vigente (2002, p.18).
119
E assim, justamente por acontecer através de processos de compartilhamento de
experiências obtidas em ambientes de atos coletivos, “a educação é um processo que
ocorre a todo o momento e, em todos os espaços comuns aos seres humanos”
(FIGUEIREDO e MELO, 2011, p.3). Ora, diante das tantas demandas sócio-
educacionais que ultrapassam o sistema educacional institucionalizado, é preciso
valorizar os momentos de intervenções e ações educativas em ambientes não escolares.
Afinal, este é um campo de conhecimento formativo e, simultaneamente, lugar de
aprendizagem e de aprimoramento da profissão educador.
Ademais, vale destacar que, segundo Gohn (2005), “a educação não-formal
desenvolvida em ONGs e outras instituições é um setor em construção, mas constitui
um dos poucos espaços do mercado de trabalho com vagas para os profissionais da área
da Educação” (GOHN, 2005, p. 32). Portanto, a experiência em espaço não escolar –
enquanto agente formador de cidadãos –, possibilita maior proximidade com rotinas de
instituições que lidam com questões sociais, tornando os profissionais mais aptos a
atuarem em ambientes onde haja disparidade de faixas etárias, e, sobretudo, conforme
exigem as diretrizes curriculares educacionais, a considerar a realidade do educando.
2 O LETRAMENTO A PARTIR DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção”.
Paulo Freire
Na década de 1980, a palavra “letramento” – antes entendida como sinônimo de
escrita – ganhou o sentido que possui hoje, direcionado para a área da educação, em
especial, para as ciências linguísticas. Segundo Magda Soares (2002), esse conceito
recém-introduzido ao vocabulário justifica-se pela mudança da sociedade em relação ao
homem, já que este passou a enfrentar uma realidade, na qual precisa utilizar as
habilidades de leitura e escrita para responder às exigências que ocorrem
constantemente na vida social.
Diante dessas novas demandas, tornou-se indispensável o uso competente da
leitura e da escrita enquanto práticas sociais, pois é através deste que os sujeitos
desenvolvem aptidão para lidar com as rotinas e os desafios cotidianos sem muitas
dificuldades, no que diz respeito aos comportamentos básicos esperados no convívio em
120
sociedade e até às necessidades básicas, como se locomover pela cidade, por exemplo.
Mas é preciso destacar que, para ser letrado, o indivíduo não precisa necessariamente
saber ler e escrever, pois, de acordo com Soares (2002), a alfabetização e o letramento
são processos distintos, de natureza essencialmente diferente, porém, ao mesmo tempo,
interdependentes e indissociáveis, já que uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser
letrada ou vice-versa.
A esse respeito, Luiz Antônio Marcuschi (2007) discute que um analfabeto é
letrado na medida em que identifica o valor do dinheiro e o ônibus que deve pegar,
consegue fazer cálculos complexos e distinguir as mercadorias pelas marcas etc. Nesse
sentido, pode ser considerado letrado o indivíduo que participa de forma significativa de
eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal da leitura e da escrita.
Sendo assim, quando a pessoa aprende a ler e interpretar o mundo que a cerca,
adquirindo conhecimento a partir de sua própria prática e das experiências
compartilhadas nas relações sociais, torna-se uma cidadã de olhar mais aguçado, capaz
de fazer uma leitura crítica do universo ao seu redor, conforme preveem e exigem as
diretrizes da educação brasileira (LDB).
A formação de sujeitos críticos é uma demanda intermediada pela linguagem, já
que esta garante o acesso aos saberes linguísticos necessários para exercer a cidadania,
uma vez que possibilita ao homem a representação da realidade física e social, concebe
e regula seus pensamentos e ações, além de comunicar ideias de diversas naturezas,
através da interação com o outro. Enquanto prática social, estes processos permitem o
uso de diferentes tipos de linguagem, assim como proporcionam a compreensão e
interpretação das mais variadas tipologias textuais. Isso porque, conforme enfatiza
Marcuschi (2008), a língua se manifesta em textos orais e escritos ordenados e
estabilizados em diferentes gêneros, que são utilizados em situações concretas. Logo,
lidar com o mundo letrado significa estar envolvido com uma grande variedade de
construções textuais, pois o “letramento é informar-se através da leitura, é buscar
notícias e lazer nos jornais, é interagir com a imprensa diária, fazer uso dela,
selecionando o que desperta interesse, divertindo-se com as tiras em quadrinhos”
(SOARES, 2002, p.42).
Nessa perspectiva, discutindo a importância do professor trabalhar diversos
textos que circulam socialmente, levando em consideração as experiências dos alunos
fora do espaço acadêmico, o livro Como usar outras linguagens em sala de aula
(MARCONDES, 2002) apresenta propostas para se trabalhar diversos tipos e gêneros
121
textuais. Entre outros textos, as autoras apresentam as histórias em quadrinhos como um
tipo de texto importante para se trabalhar a leitura, a interpretação e a produção de texto,
colaborando também para construção da identidade do aluno e suas relações sociais:
Assim, os modelos de relação social são vistos como uma
possibilidade para a vida. Personagens com as quais as crianças vão se
identificar vão sendo incorporados ao longo dos anos em que se lê. De
super-heróis a anti-heróis, todos estão a serviço de uma identidade.
Um ponto interessante desse material é a relação entre as personagens,
como elas reproduzem as relações sociais do tempo em que foram
criadas, ou como elas evitam reproduzi-las (2003, p.31).
Assim, como ressaltam Ana Maria Kaufman e Maria Helena Rodriguez (1995),
tratando-se de um tipo de texto rico em aspectos estruturais e simbólicos, que exige a
observação e interpretação de diferentes sinais por possuir base icônica e utilizar
elementos verbais e não verbais para abordar os mais variados temas, além de ter
embutido um caráter crítico de cunho social e ser uma das variedades mais difundidas
do gênero narrativo, “as histórias em quadrinhos constituem-se excelentes
intermediadoras do processo de letramento” (1995. p.137). Além disso, é preciso levar
em consideração que foi estabelecido pelas diretrizes curriculares educacionais que
diferentes tipos de textos, tais como os publicitários, humorísticos, instrucionais,
jornalísticos e outros, sejam integrados à proposta curricular da disciplina Língua
Portuguesa.
3 UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR: CASA
SERENA QUADRO A QUADRO
“A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O ato de ler
o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na
relação que eu tenho com esse mundo”.
Paulo Freire
Tendo em vista a existência de demandas socioeducativas em espaços variados e
compreendendo a relevância de medidas educativas em cenários sociais diversos, foi
realizado o projeto O letramento a partir das histórias em quadrinho, executado na
Organização não Governamental Casa Serena, através da realização de um minicurso.
Cabe ressaltar que a elaboração e execução desse projeto fez parte das atividades
realizadas na disciplina Estágio supervisionado em espaços não escolares durante o
curso de graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas na Universidade do
122
Estado da Bahia - UNEB - Teixeira de Freitas – BA e foi aplicado sob a orientação e
supervisão da professora Crysna Bonjardim Carmo, contando com a participação das
graduandas Eliana Conceição de Jesus e Poliane de Oliveira Soares, que participaram da
experiência aqui compartilhada, colaborando para a elaboração desse trabalho.
Por se tratar de um espaço não escolar, o processo educativo se desenvolveu
através da educação não formal, vertente que adota uma metodologia cuja base é a
realidade do contexto, conforme destaca Gohn:
Na educação não-formal, as metodologias operadas no processo de
aprendizagem partem da cultura dos indivíduos e dos grupos. O
método nasce a partir de problematização da vida cotidiana; os
conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como
necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações
empreendedoras a serem realizadas; os conteúdos não são dados a
priori. São construídos no processo. O método passa pela
sistematização dos modos de agir e de pensar o mundo que circunda
as pessoas (2005, p.32).
Com base nesses pressupostos, no primeiro encontro do minicurso foi realizada
uma sondagem do ambiente e dos participantes, procurando-se conhecer o perfil,
expectativas e conhecimentos de cada um. Durante esta observação, notou-se que, ao
contrário do previsto, grande parte deles não sabia ler e escrever e muitos nunca tinha
frequentado a escola. Além disso, alguns apresentavam bipolaridade, idade mental
bastante inferior à idade cronológica, problemas de saúde e histórico de violência,
abandono e abusos.
Como o intuito do projeto consistia em possibilitar aos participantes o contato
com o mundo do letramento por meio das histórias em quadrinhos, estas foram
apresentadas aos alunos, para que pudessem se familiarizar com o gênero. Neste
momento, foi possível perceber o interesse dos cursistas pelo objeto de estudo, um
encantamento por aquele “mundo” cheio de imagens, palavras e histórias. Depois de
escolherem uma das histórias, foi proposta a leitura compartilhada da mesma. Diante
dessa situação, alguns demonstraram apreensão e insegurança, mas com a mediação
disseram que não sabiam ler: “Lê pra mim, eu não sei ler.” “E agora, tia? Eu não sei
ler.” “Nem eu, nem Lorena sabe ler, o que a gente faz?”(nome fictício).
A partir desse fato, esclareceu-se que as histórias em quadrinhos, assim como
outros gêneros textuais, possibilitam a leitura tanto das palavras quanto das imagens, e
mesmo que ainda não soubessem decodificar as letras, poderiam ler as figuras e assim
entenderiam o enredo. A partir de então, os participantes começaram a realizar as
leituras das imagens com mais segurança, cada um à sua maneira. Este foi um momento
123
importante, pois todos se sentiram incluídos na atividade e capacitados a realizá-la,
reconhecendo-se como sujeitos da ação. Afinal, o sistema educativo deve ter sempre
como objetivo o desenvolvimento das pessoas, de uma forma plena, conduzindo-as à
sua autorrealização.
A fim de tornar os cursistas aptos a utilizarem as habilidades de leitura e escrita
no convívio social, ou seja, capazes de participarem de forma significativa de eventos
de letramento e entendendo as histórias em quadrinhos como intermediadoras do
processo de letramento, nos encontros seguistes, diversos elementos que compõem esse
tipo de narrativa foram trabalhados. Além dos elementos da narrativa, os conteúdos
trabalhados nas aulas foram: elementos verbais e icônicos utilizados nas narrativas das
histórias em quadrinhos, os seus recursos gráfico-visuais, sequência dos quadros,
marcadores de tempo, título e sua relação com a narrativa, disposição das letras, tipos de
balões, tipos e/ou ausência de narrador, uso ou não da legenda e descrição do quadro,
onomatopeias e as linguagens verbal e não verbal. Tais conteúdos foram trabalhados de
maneira lúdica e contextualizada, buscando-se sempre mostrar exemplos práticos nas
histórias lidas e no contexto onde os cursistas estavam inseridos, levando-se em
consideração suas realidades.
Com base nesses conteúdos, muitos exercícios foram realizados ao longo do
minicurso, entre eles, uma atividade na qual foi entregue aos alunos uma história em
quadrinhos que continha apenas imagens para eles realizarem a leitura e em seguida,
uma proposta de produção de uma história em quadrinhos.
Frente a esse novo desafio, naturalmente, surgiram questionamentos: “Como vou
fazer uma história, se eu não sei escrever?” “Eu li as imagens, mas não sei escrever...”
E então, aqueles que não sabiam ler e escrever foram orientados a confeccionar a
história, utilizando somente desenhos e contá-la oralmente. Assim aconteceu: mesmo
com algumas dificuldades, como timidez e insegurança, conseguiram realizar as
produções contendo os aspectos trabalhados nas aulas até aquele momento, como
também narraram o enredo da história produzida por eles para os demais colegas.
É importante evidenciar que a seleção das histórias em quadrinhos foi criteriosa,
houve o cuidado de não escolher narrativas que incentivassem a violência, as drogas ou
qualquer outro comportamento desaprovado pela sociedade. Ao contrário, todas as
histórias em quadrinhos discutidas no minicurso, continham um caráter social, já que o
intuito era usá-las para intermediar o letramento, tendo em vista o compromisso da
124
educação com o exercício da cidadania e a formação não só intelectual do educando,
mas também humana.
Nesse sentido, através das leituras e análises de várias histórias em quadrinhos,
foram discutidas questões como saúde bucal, higiene, boas maneiras, educação no
trânsito e companheirismo, usando-as para apresentar-lhes as regras de conduta
praticadas no convívio social, a fim de que pudessem enfrentar as rotinas cotidianas sem
muitas dificuldades, no que diz respeito aos comportamentos básicos esperados na vida
em sociedade, já que esta foi uma das necessidades observada durante a sondagem e os
primeiros momentos de convivência.
Houve ainda leituras compartilhadas de histórias em quadrinhos, na quais, os
participantes foram orientados a identificar os conteúdos trabalhados durante os
encontros, bem como tecer comentários acerca dos temas presentes nas histórias. Essas
leituras aconteciam respeitando-se o tempo e as limitações de cada um. Assim, alguns
liam as imagens e as palavras e outros liam somente as imagens, cada à sua maneira.
Deixando-se os alunos à vontade, foi possível analisar então, que a maioria dos alunos
apontava, logo de imediato, apenas aspectos relacionados ao tema da narrativa. No
entanto, em seguida, após mediação, conseguiam perceber os conteúdos discutidos nas
aulas anteriores, como a estrutura da narrativa e as especificidades do gênero textual
história em quadrinhos.
Na tentativa de verificar as aptidões e dificuldades de cada indivíduo, em relação
ao aprendizado dos conteúdos citados acima, houve uma leitura e discussão da história
em quadrinhos Educação no trânsito. Nessa ocasião, os cursistas foram orientados a
apresentarem o entendimento sobre os assuntos programados. Durante a execução da
atividade, foi possível perceber que os estudantes identificaram com certo grau de
facilidade os elementos presentes na história em quadrinhos analisada, e com
empolgação disseram: “As placas de trânsito são linguagem não verbal, né?” “E o
semáforo, tia?” “A linguagem dos mudos também é não verbal, né?”.
Desta forma, o assunto gerou uma longa e proveitosa discussão, uma vez que os
participantes se identificaram com o tema e, por isso, conseguiram trazê-lo para as suas
realidades, contextualizando-o e citando numerosos exemplos de linguagem verbal e
não verbal no contexto onde eles estavam inseridos e em outras histórias em quadrinhos
que eles já haviam lido. Além disso, com o intuito de proporcionar aos cursistas
momentos lúdicos, foram trabalhados filmes de adaptação de histórias em quadrinhos
que eles haviam lido, bem como a montagem de quebra cabeças que formavam uma
125
história em quadrinhos. Foram ocasiões em que eles aprendiam de uma maneira
bastante divertida.
Como atividade final, foi orientado que os alunos produzissem, em um painel,
sua própria história em quadrinhos, que deveria conter os elementos explicados durante
o minicurso. Para isso, dividiu-se a turma em dois grupos, formados por meninas e
meninos, pois no decorrer do processo, ficou evidente que a competitividade entre eles
estimulava maior empenho. Após o término da elaboração das histórias em quadrinhos,
foi pedido que os alunos apresentassem suas histórias para os colegas, identificando nas
narrativas os aspectos trabalhados durante todo o processo, o que a grande maioria
conseguiu fazer de maneira satisfatória – vencendo suas dificuldades e limitações – e
com mais tranquilidade, segurança e facilidade em comparação com as primeiras
atividades realizadas por eles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Não há docência sem discência”.
Paulo Freire
A experiência em espaço não escolar mostrou que é possível – e necessário –
trabalhar em vários ambientes educativos através da educação não formal, pois a
vivência pedagógica na ONG Casa Serena proporcionou um crescimento na vida
acadêmica, profissional e pessoal das participantes do projeto. Afinal, durante esses
encontros, foram compartilhados muitos conhecimentos, uma vez que a aprendizagem
se realiza numa mão-dupla, ao passo que se ensina e se aprende simultaneamente. Dessa
maneira, esse minicurso constituiu-se numa experiência de educação e não de ensino,
pois, mais do que ensinar, foi possível educar, não só os alunos, mas também as
professoras. Isso porque esses saberes adquiridos servirão de base para a prática
docente, além de ter proporcionado um novo olhar sobre o mundo, ao estimular a
aceitação do outro com as suas diferenças e limitações.
No que diz respeito às contribuições ao contexto de atuação, acredita-se que
houve um acréscimo no conhecimento das crianças e adolescentes abrigados, pois
através do contato com o mundo do letramento a partir das leituras das histórias em
quadrinhos, foi possível perceber – através de observações e dos relatos dos próprios
cursistas –, que esses alunos passaram a compreender melhor o universo que os rodeia,
126
atribuindo sentido às suas experiências sociais, bem como mudaram a forma de
enxergar a si próprios, adquirindo sentimento de autovalorização, passando a se
sentirem capacitados para o aprendizado. Houve também uma significativa mudança de
comportamento e postura nos alunos desde o início do projeto até o final, mostrando-se
mais maduros. Em face do histórico de vida do cursistas, bem como seus perfis, é
possível afirmar que fora desenvolvido um trabalho relevante, mas ainda pequeno diante
de tantas carências que apresentam.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. 8. ed. São Paulo:
Parábola, 2003.
BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/L9394.htm#art92. Acessado em: 11 de novembro de
2015.
FIGUEIREDO, Silene Brandão; MELO, Raquel Lima de. O estágio supervisionado nos
espaços não formais. São Cristovão: Uneb, 2011.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 22. ed.
São Paulo: Cortez, 1988.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2002.
GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o
associativismo do terceiro setor. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUEZ, Maria Helena. Escola, leitura e produção de
textos. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.
MARCONDES, Beatriz (et al.). O trabalho com textos de circulação social. In: ______
Como usar outras linguagens na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2002, p.13-
345.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais no ensino de língua. In: ______.
Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.
______. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez. 2007.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002.
127
AS MÍDIAS WHATSAPP E FACEBOOK NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Norma Malaquias dos Santos Bayer (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo)
Resumo
As mudanças sociais e tecnológicas abrangem todas as áreas. Criam e modificam hábitos,
contribuindo para o crescimento individual e coletivo. Considerando essa realidade, este estudo
procurou investigar como essas mudanças podem contribuir para o processo ensino-
aprendizagem. Ele também propôs alternativas para trabalhar conteúdos da Língua Portuguesa
nos ambientes digitais, visando aliar o interesse dos jovens por equipamentos como
computadores e celulares ao trabalho com a leitura e escrita nesses suportes. É fruto de uma
pesquisa qualitativa com prática interventiva, embasada pelos autores Lévy (1987, 2010), Rojo
(2009, 2012, 2013, 2015), Coscarelli, (2014), Fava (2014), Papert (2008), Geraldi (2010), Freire
(2011), Martha (2015), Pérez Gomez (2015), entre outros, que discutem os avanços culturais
balizados pelas tecnologias e representações multiculturais. Nossa pesquisa procurou conciliar a
teoria para atender aos apelos sociais vigentes, com a prática, que auxiliou no desenvolvimento
de habilidades exigidas nas interações das linguagens multimodais, cuja compreensão e
produção dependem de competências construídas a partir de uma boa educação, sobretudo no
campo da linguagem. No trabalho, exploramos a capacidade e velocidade de comunicação
oferecidas pela mídia social Whatsapp e pela rede social Facebook, que funcionaram como
portais de acesso ao mundo virtual, além de espaços para interação na realização de atividades
pedagógicas mediadas pelo professor. O resultado da pesquisa demonstrou que é possível aliar
os conteúdos da disciplina Língua Portuguesa com a tecnologia e obter resultados satisfatórios
que favorecem a aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Mídias sociais.
Abstract
Social and technological changes cover all areas. They create and modify habits, contributing to
individual and collective growth. Considering this reality, this study sought to investigate how
these changes can contribute to the teaching-learning process. He also proposed alternatives to
work with Portuguese language content in digital environments, aiming to ally the interest of
young people in equipment such as computers and cell phones to work with reading and writing
on these supports. It is the result of a qualitative research with intervention practice, based on
the authors Lévy (1987, 2010), Red (2009, 2012, 2013, 2015), Coscarelli, (2014), Fava (2014),
Papert ), Freire (2011), Martha (2015), Pérez Gomez (2015), among others, who discuss the
cultural advances marked by multicultural technologies and representations. Our research
sought to reconcile the theory to meet the current social appeals with practice, which assisted in
the development of skills required in the interactions of multimodal languages, whose
understanding and production depend on skills built from a good education, especially in the
field of language . At work, we explored the capacity and speed of communication offered by
social media Whatsapp and the social network Facebook, which functioned as portals to access
the virtual world, as well as spaces for interaction in the performance of pedagogical activities
mediated by the teacher.The result of the research demonstrated that it is possible to combine
the contents of the Portuguese language discipline with the technology and obtain satisfactory
results that favor the learning of the students.
Keywords:Reading. Writing. Social media.
128
INTRODUÇÃO
A ideia de utilizar ferramentas conhecidas e apreciadas pelo alunado para trabalhar
conteúdos da Língua Materna começou a ser materializada a partir das recordações dos
bons resultados de trabalhos desenvolvidos no laboratório de informática com turmas
das séries finas do Ensino Fundamental, bem como a observação da insistência juvenil
em usar o celular no ambiente escolar, proibidos internamente em muitas instituições
escolares das redes municipaisde ensino das cidades deVitória e Vila Velha/ES.Foi
considerado ainda o interesse dos jovens pela tecnologia, o conhecimento e habilidades
apresentados por eles no manuseio de celulares e computadores, a criatividade utilizada
no desenvolvimento de trabalhos que envolvem informática e a insistência de
acessarem o Facebook e o Whatsapp, de maneira camuflada, durante algumas aulas.
Diante disso, pensamos em utilizar essas ferramentas no ambiente escolar, para auxiliar
em algumas atividades; afinal, o ambiente digital oferece uma multiplicidade de opções
para o trabalho com a linguagem a partir de diferentes ferramentas podendo
complementar o que é estudado na sala de aula. Daí o problema da nossa pesquisa:
como utilizar o Whatsapp e o Facebook nas aulas de Língua Portuguesa?
Nesta época, de expressão globalizada, as mídias e as redes sociais são espaços
interativos que vêm crescendo a cada dia, conquistando mais participantes e sendo
reconhecidas por setores mais formais da sociedade como meios de comunicação
importantes que, se bem aproveitados, podem gerar conhecimento, entretenimento e
lucro.
As comunidades virtuais têm atraído muitos jovens, que utilizam esses ambientes
para entretenimento, informação e relacionamentos. Já que esses espaços são bem
conhecidos e utilizados pelo público juvenil, oficialmente a partir de 13 anos, baseamo-
nos na possibilidade de promover neles discussões relacionadas ao conteúdo educativo,
utilizando a leitura e a escrita para estimular a colaboração e o compartilhamento de
suas opiniões e de suas produções com grupos de colegas da escola.
Diante do exposto, este trabalho falará sobre a revolução tecnológica provocada pela
Internet e suas implicações em diversos âmbitos sociais, procurando analisar os
aspectos positivos e negativos, a fim de perceber maneiras de utilizar esse
conhecimento, que emergiu com a internet, a favor da Educação. Ele demonstra o perfil
dos jovens e suas relações com a família e a escola, considerando que nasceram em um
mundo mais tecnológico e, em consequência disso, sua aprendizagem depende de
129
novos atrativos. Portanto é prudente que os docentes que lidam com esse público,
revejam suas práticas e procurem adequá-las à nova realidade para obterem resultados
mais significativos em suas atuações.
1 CIBERESPAÇO E SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Lévy (2010) define ciberespaço como um espaço de comunicação aberto pela
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Esse sítio
possibilita que pessoas do mundo inteiro se comuniquem, aprendam, compartilhem seus
conhecimentos e armazenem seus dados para utilizarem em suas necessidades. Ele
representa um grande avanço para a história da humanidade, que agora tem a
oportunidade de ver toda sua história registrada, arquivada, identificada e uma
facilidade incrível para resolver situações cotidianas por meio de ações simples e
rápidas.
O autor faz três constatações relacionadas ao mundo virtual: a velocidade de
surgimento e renovação dos saberes; a nova natureza do trabalho (aprender, transmitir
saberes e produzir conhecimentos) e a capacidade do ciberespaço suportar tecnologias
intelectuais que amplificam, exteriorizam numerosas funções cognitivas humanas como
memória, imaginação, percepção, raciocínios (LÉVY, 2010, p.159).
As novas formas de interação trazem outras exigências ligadas à cognição, ou seja,
diferentes formas de aprendizagem que influenciam a observação do mundo. Os nativos
digitais já conseguem aprender sob essa perspectiva e veem o mundo com outros olhos.
Para muitos deles, as conexões em rede, o manuseio de aparelhos celulares, tablets,
computadores, televisões digitais não são problemas, porque desde cedo já aprendem a
utilizá-los, foram e continuam sendo letrados informal e cotidianamente para a vida por
meio dessas linguagens, por isso não têm receio de operar tais equipamentos como
pessoas das gerações que antecederam a deles.
As tecnologias têm impacto direto na vida das pessoas, pois incentivam a
aprendizagem de novos conceitos e novas linguagens, o manuseio de ferramentas, o
investimento na compra de novos produtos, mudança na rotina e no comportamento,
além de proporcionarem interação entre as pessoas. Elas favorecem o desenvolvimento
social, cultural e melhoram a vida dos indivíduos, oferecendo-lhes conforto e
praticidade. “A mediação digital remodela certas actividades cognitivas pondo em jogo
a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação criadora” (LÉVY, 1995, p.
14).
130
O ciberespaço está presente no cotidiano da sociedade remodelando os hábitos, a
convivência e a cultura de indivíduos analógicos e ampliando as capacidades da geração
Z, desafiando-a a conviver em um mundo cada vez mais tecnológico. No próximo
tópico, caracterizaremos essa geração, cujo comportamento surpreende pais, professores
e cientistas sociais.
1.1 COMPREENDENDO UMA GERAÇÃO
Para descrever a geração nascida no final do século XX, após a década de 1990,
baseamo-nos nas considerações de Tapscott (2010) e Veen e Vrakking (2009). O
primeiro a denomina de “geração Z” e “geração internet”, enquanto os segundos a
chamam de Homo zappiens, por ser uma espécie que atua em uma cultura cibernética
global com base na multimídia (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 30). Esses autores
ressaltam que essa geração recebe outros apelidos, atribuídos pelas características do
ambiente que frequentam e do comportamento que apresentam: “geração de rede”,
“geração digital”, “geração instantânea”, “geração ciber”.
Nas descrições dos autores, esses jovens pensam e agem com mais rapidez, aliás a
velocidade é a marca dessa geração, que cresceu em um ambiente rodeado de
tecnologia, em uma época em que as invenções surgem a cada instante para superar o
que já existe no mercado. Consideram a tecnologia como um amigo e estão preocupados
em compreender como as invenções tecnológicas podem ajudá-los no dia a dia.
Crescer no meio digital influenciou a percepção, o pensamento, as formas de
aprendizagem, a visão profissional e o posicionamento político e social dessas pessoas
que enxergam o mundo de outra maneira e têm outras perspectivas em relação a
diferentes aspectos da vida. Especialistas relatam com base em seus estudos que o
cérebro delas funciona de outra forma, pois possibilitou outras conexões, acostumou-se
com leituras não lineares, porque desenvolveu habilidades por meio da interação com o
mundo digital e isso faz muita diferença. As estratégias cerebrais para resolver
problemas são outras, os valores internalizados também. Apesar de mal compreendida,
considerada por alguns uma geração preguiçosa e alheia a tudo, tem muito a nos ensinar
e a aquisição de conhecimentos bem direcionada pode fazê-la mudar o mundo. Quem
lida com esse público já percebeu que deve utilizar novos caminhos para obter o que ele
tem de melhor. Grandes empresários já perceberam isso, modificaram a forma de
recrutar funcionários, dão mais liberdade para que exponham suas ideias, valorizam e
investem neles e em ferramentas para explorar seu potencial.
131
Tapscott (2010) diz que este é um período extraordinário da história humana porque,
pela primeira vez, a geração que está amadurecendo pode nos ensinar a preparar o nosso
mundo para o futuro. Esse autor ressalta que as características juvenis estão se
uniformizando em vários países. Apesar da diversidade cultural, o compartilhamento de
informações a respeito de gostos musicais, séries, filmes, ídolos, ideias e valores acaba
influenciando na forma de perceber o mundo e nos comportamentos. “Pela primeira vez
na história podemos falar de uma geração jovem mundial” (GERACI, 2007 apud
TAPSCOTT, 2010, p. 36).
Esses jovens não se contentam com o modelo educacional vigente e “estão forçando
uma mudança no modelo de pedagogia, que passa de uma abordagem focada no
professor para um modelo focado no estudante e baseado na colaboração” (ibidem, p.
21). Aprendem a todo instante, buscam, fazem várias coisas ao mesmo tempo com
muita naturalidade, sabem escolher diante de tantas opções que o mundo virtual oferece,
não são passivos e, por isso não acreditam em tudo o que lhes dizem, sabem que
existem fontes para confirmar ou negar o que foi dito e não hesitam em procurá-las.
Impõem sua opinião quando sabem que têm razão e insistem até provar que estão
certos. Manuseiam diversos aparelhos e se transformaram em nossos orientadores para
sanar as dúvidas a respeito das tecnologias. Divertem-se enquanto trabalham, sempre
criam um tempinho para ler mensagens, olhar as últimas notícias, compartilhar o que
consideram interessante. Eles responderão ao novo modelo educacional que está
começando a surgir – focado no aluno, multidirecional, customizado e colaborativo
(TAPSCOTT, 2010, p. 112-3).
Adaptar-se a tantas mudanças em um curto período e tempo pode ser realmente
desafiador, mais ainda quando estas estão ligadas à comunicação, tão necessária para a
convivência social. A inteligência humana não tem limites, mas a adaptação social nos
condiciona a comportamentos mecânicos, internalizados por nosso cérebro, que acaba
limitando a forma como vemos o mundo. Várias instituições sociais têm
responsabilidade neste condicionamento, entre elas a família, a escola, as empresas, a
igreja.
Quando falamos em tecnologia, vamos ao encontro dessa realidade de moldagem de
comportamentos e pensamentos. O surgimento da internet possibilitou a visão além
muros e a Geração Internet aprendeu a viver assim, a colaboração para melhorar as
coisas faz parte desse novo olhar, as informações podem e devem ser compartilhadas,
pois muitas pessoas pensam melhor do que uma. Essa lição acompanha essa geração,
132
que utiliza a internet para tudo com o intuito de aperfeiçoá-la cada vez mais. Para essas
pessoas, a conexão faz parte da vida, por isso a interação social nos espaços virtuais é
constante, conforme veremos a seguir.
1.2 ESPAÇOS DE INTERAÇÃO SOCIAL
As redes e mídias sociais são espaços de comunicação muito utilizados por pessoas
dediferenciadas faixas etárias para interação social, porém a geração digital, pelas
habilidades já descritas anteriormente, destaca-se nessa utilização. Elas tornaram-se a
extensão da vida real, estimulam a criação de identidades, às vezes idealizadas para
compor um perfil público, e a expressão pessoal sobre diversos assuntos. A utilização
do ciberespaço pressupõe a aprendizagem das regras de convivência na sociedade da
conexão, que funciona de forma colaborativa e incentiva o exercício da liberdade
consciente e do respeito mútuo. As relações virtuais interferem na subjetividade dos
sujeitos, que vão aprendendo com suas próprias experiências.
Procuramos usufruir das potencialidades comunicativas do Facebook e do Whatsapp
para ensinar conteúdos da Língua materna aos alunos do nono ano do Ensino
Fundamental. A rede e a mídia referidas são permeadas por muitas semioses, entre elas
as linguagens verbal e não-verbal, objetos de estudo da Língua Portuguesa, que
possibilita aos alunos interagirem com o mundo em que vivem, tornando-os seres
capazes de se relacionar socialmente, atendendo às exigências impostas pelo mundo
contemporâneo, onde a informação circula em velocidade e quantidade nunca antes
imaginadas pela humanidade.
Os ambientes em estudo são ferramentas poderosas utilizadas por muitas pessoas
para todo tipo de comunicação (oral, escrita ou visual). Em nossa pesquisa, nos
concentramos na materialização dos discursos da Língua Portuguesa. Esses espaços
estimulam a participação das pessoas e contribuem para mudanças de hábitos culturais
desenhando uma nova organização social. Para Porto (2014), saímos de uma cultura de
participação passiva, onde poucos podiam se expressar e passamos para uma cultura em
rede, onde “as pessoas gostam e querem produzir, opinar, relatar suas experiências, falar
de si, compartilhar” (PORTO, 2014, p. 52). Essa cultura deve ser incentivada e
valorizada nas instituições escolares, sobretudo nas aulas de Língua Portuguesa, cujos
programas contemplam o trabalho com diferentes manifestações linguísticas.
2 A LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DIGITAL
O ensino da Língua Portuguesa na atualidade apresenta desafios que requerem um
planejamento docente mais abrangente e flexível, que contemple a multiplicidade de
133
suportes para trabalhar com a linguagem, além de metodologias que valorizem a
colaboração do aluno e contribuam para uma prática mais significativa e consciente. É
preciso considerar que a escola, há muito tempo, não é mais detentora do saber formal e
que hoje o conhecimento pode ser adquirido por de várias fontes, inclusive por meio de
um acesso rápido ao ciberespaço. Nesse contexto, o trabalho com a Língua Portuguesa
tem a área de atuação ampliada, porque a comunicação na contemporaneidade ocorre de
maneira dinâmica, em todo o tempo, sem barreiras geográficas. A grande quantidade de
informações presente no mundo virtual não representa qualidade, o acesso a elas não
garante a aquisição de conhecimentos e essa disponibilização pode desviar a atenção do
usuário, principalmente aqueles que não estão habituados com o ambiente. Sendo assim,
é necessário que as pessoas se familiarizem com o ciberespaço e sejam instruídas a
realizarem uma navegação mais produtiva, tornando-se mais aptas a selecionarem
conteúdos confiáveis que possam auxiliá-las melhor em suas necessidades.
As práticas sociais de leitura e de escrita tornaram-se inerentes ao cotidiano das
pessoas, que atualmente se expressam com mais frequência, interagindo com um
número maior de interlocutores. Os indivíduos estão se habituando a compartilhar suas
reflexões acerca de temas variados, demonstrando reações diversas por meio de
manifestações públicas e espontâneas. A escrita popularizou-se e tem sido cada vez
mais praticada por pessoas de todas as idades e de diversas camadas sociais. Aos
poucos, ela está deixando de ser patrimônio de certos grupos da sociedade. Essa
realidade foi impulsionada, entre outros fatores, pela comunicação em rede, propiciada
pela internet e incentivada pelo uso das mídias e redes sociais. Já é possível que todos
tenhamos o direito à expressão, condição necessária para que a liberdade de expressão
não seja um privilégio social daqueles que pertencem ao mundo da escrita (GERALDI,
2010, p. 147).
A leitura hoje é bem acessível e está mais presente na vida das pessoas, que na
sociedade globalizada buscam e recebem informações por meio de suportes variados,
inclusive os digitais. Os livros digitais já são uma realidade e o acesso a eles tem sido
facilitado, pois a tecnologia utilizada para criá-los permite que os valores de
comercialização sejam inferiores aos cobrados pelo formato físico. Na web, pode-se ler,
gratuitamente, livros digitalizados ou e-books com conteúdos diversificados,
disponibilização importante para estudantes, leitores, pesquisadores e profissionais da
educação. A leitura do produzido não se faz mais em função da repetição, mas em
134
função da construção de compreensões distintas, engrandecendo os horizontes de
possibilidades humanas (GERALDI, 2010, p. 147).
Considerando que “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que
sejam, estão sempre relacionadas a utilização da língua” (BAKHTIN, p. 279), percebe-
se a abrangência e as especificidades da linguagem no mundo contemporâneo e
constata-se que a escola pouco tem explorado esse vasto campo na rotina escolar,
limitando-se, muitas vezes, a enfatizar aspectos metalinguísticos, demonstrando uma
visão fragmentada da totalidade comunicativa que se torna pouco atrativa e
desconectada da realidade dos alunos.
Um dos objetivos dos PCNs para o Ensino fundamental é que, o docente seja capaz
de “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimento” (BRASIL,MEC/SEF, 1998, p. 8), entretanto sabe-se que a
concretização desse objetivo tem ocorrido lentamente, pois em nosso país, em muitos
Estados e municípios, ainda faltam condições financeiras favoráveis para que isso
aconteça, além da ausência de incentivo pessoal e profissional para essa efetivação.
Concordando com a importância do objetivo proposto pelos PCNs, destacamos
algumas possibilidades para o trabalho com a Língua Portuguesa no contexto digital.
2.1 - TEXTOS, ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
Os PCNs preconizam que o eixo do ensino de Língua Portuguesa deve ser o texto,
instrumento de trabalho bem presente nas aulas de Português. Porém, quando
apresentado no contexto digital, o texto tem particularidades que merecem ser
observadas e estudadas nas aulas da referida disciplina. Não se pode mais pensar em
textos relativamente fixos e estáveis, eles estão mais fluidos com as virtualidades
mutantes das novas mídias, estão cada vez mais multimodais e interativos (BARTON,
2015, p. 31).
Exemplo disso é o hipertexto, que de acordo com Martha (2015) potencializa a
velocidade e o tempo e é caracterizado nos textos impressos por meio das notas de
rodapé, ou fim de texto, alusões e referências (p. 64). No contexto digital, ele se
apresenta de forma ampliada, constituído por um diálogo de múltiplas semioses que
permite uma leitura não linear, descontínua e fragmentada. Para Coscarelli (2016), os
textos, digitais ou impressos, são dialógicos e polifônicos e, mesmo que os autores
criem pistas ou produzam marcas que possam conduzir o fluxo dos acessos e links,
quem decide o caminho é o leitor. Nesse sentido, é importante que os alunos sejam
estimulados e motivados a conhecerem e explorarem essa modalidade de apresentação
135
textual, direcionados ao entendimento das partes e da completude do texto. Os discentes
devem aprender a analisar a importância dos links ou hiperlinks na construção textual,
sabendo que esse conteúdo compõe não só a estrutura, mas também a semântica do
texto, cientes de que nesse espaço o leitor tem autonomia para escolher os caminhos que
o conduzirão à compreensão.
A multimodalidade é presença constante no ciberespaço. Ela é formada por semioses
que se hibridizam para produzir sentido como linguagem verbal, imagens, sons, cores,
layouts, designers. É um recurso textual utilizado com finalidades diversas:
exemplificação, complementação, ampliação de significados, entre outros. Nas mídias
podemos perceber a conciliação cada vez mais intensa das semioses para qualificar a
qualidade das produções e atrair o público consumidor. Apesar disso, os leitores nem
sempre conseguem perceber a relevância e a finalidade dos recursos multimodais na
produção de sentidos, apresentando dificuldades para interpretarem textos imagéticos.
Percebe-se, no cotidiano, a inabilidade dos leitores para compreenderem mapas,
gráficos, infográficos, tabelas. Isso ocorre porque “parte das atividades apresentadas nos
livros que adotamos nas escolas não aborda questões de leitura e produção textuais que
considerem, de um modo interessante a imagens ou os textos multimodais” (RIBEIRO,
2016, p. 31). Embora fora do ambiente escolar os alunos estejam sempre em contato
com textos multimodais, por meio de anúncios publicitários, letreiros, folders, a escola
continua priorizando e evidenciando os textos escritos. O estudo de textos multimodais
pode auxiliar os alunos na vida escolar e na vida social, ele pode contemplar textos
impressos e textos digitais, para que os discentes possam se familiarizar com efeitos e
incluí-los em suas produções, tornando-as multimodais.
É possível realizar trabalhos significativos no ciberespaço, considerando que “vale
tomar um texto como referência para o estudo da língua, e, consequentemente, para o
desenvolvimento de competências em fala, em escuta, em leitura e em escrita dos fatos
verbais com que interagimos socialmente” (ANTUNES, 2009, p. 57). Cada texto
apresenta características formais e ao se assemelhar a outros textos podem ser
agrupados, formando classes, gêneros, que representam a língua nas mais diversas
situações cotidianas.
Os gêneros são compostos por elementos obrigatórios e opcionais e têm
regularidades de estrutura, de conteúdos e de elementos lexicais e gramaticais, que
permitem a realização de um trabalho mais completo acerca do estudo da língua,
considerando primeiramente os aspectos sócio-comunicativos e funcionais da prática da
136
linguagem, de onde se pode depreender a funcionalidade de elementos gramaticais e
propósitos comunicativos. Eles podem ser transmutados ou assimilados por outros
(BAKHTIN, 2011), dadas as situações apresentadas por novos contextos de
comunicação, sobretudo nas novas mídias. O trabalho com gêneros pode ser realizado
também no ambiente virtual, local onde circulam e-mails, receitas, crônicas,
comentários virtuais, posts, convites, entrevistas, histórias em quadrinhos, entre outros.
Se esse ambiente já faz parte da vida da maioria das pessoas, os gêneros que nele
circulam precisam ser incluídos nos currículos escolares, passando a fazer parte do
cotidiano de professores e alunos para oportunizar novas experiências de aprendizagem.
Conhecer os diferentes gêneros que circulam oralmente ou por escrito faz parte do
nosso conhecimento de mundo, de nosso acervo cultural (ANTUNES, 2009, p. 54). É
direito de todos se apropriar dos textos, conhecendo como se dão as condições de
comunicação, seus aspectos estruturais e as finalidades com que são produzidos e isso
só poderá ocorrer no contexto escolar por meio da mediação docente, pautada por uma
prática bem fundamentada, a fim de diminuir as desigualdades e ampliar o universo de
compreensão textual.
Apresentamos como outra possibilidade de trabalho a conexão com a hipermídia
(blogs, podcasts, animações, games, poemas visuais digitais, mini e hipercontos) cujo
objetivo é estimular a participação dos alunos na realização de diferentes tarefas,
apresentando a eles formatos diferenciados de comunicação, a fim de agregar
conhecimento e promover multiletramentos. Para Rojo (2013), “isso implica negociar
uma crescente variedade de linguagens e discursos, interagir com outras línguas e
linguagens, interpretando ou traduzindo, usando interlínguas específicas de certos
contextos [...]” (p. 17). Se a formação do leitor na atualidade requer o desenvolvimento
de habilidades necessárias à vivência no mundo globalizado, cuja comunicação é, em
grande parte, possibilitada pelas tecnologias da informação, é preciso que a escola se
organize para atender as exigências da sociedade contemporânea. A Língua Portuguesa
tem muito a contribuir para essa organização no que diz respeito preparação de leitores
para esse novo formato social. Rojo (2012) aponta caminhos para a realização desse
trabalho:
A formação de um leitor proficiente é um dos principais objetivos do
ensino da língua portuguesa e uma proposta de alfabetização com
vistas aos multiletramentos precisa levar em conta o caráter
multimodal dos textos e a multiplicidade de sua significação. Para
esse fim, a perspectiva enunciativa da linguagem, na vertente
137
bakhtiniana, mostra-se especialmente profícua, porque a leitura de
gêneros discursivos diversos permite a ampla e rica abordagem das
condições de produção de enunciados, situações de comunicação e
relações dialógicas que lhe são constitutivas (ROJO, 2012, p. 39).
3 REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola, localizada no município de Vila Velha,
região Metropolitana da Grande Vitória/ES, com alunos das turmas dos 9º anos D e E,
do turno vespertino.A clientela atendida pela referida instituição é composta por alunos
que residem em bairros adjacentes pertencentes a famílias das classes B, C e D, com
renda financeira mensal média e baixa.
No decorrer do trabalho, foram ministradas dez oficinas presenciais, divididas em 22
aulas, com conteúdo de leitura e escrita, distribuído em atividades que contemplaram os
gêneros crônica, conto, poesia, histórias em quadrinhos, entre outros, que estimularam
os discentes a conhecerem sites e interagirem neles com conteúdos pedagógicos, lerem,
interpretarem, discutirem, refletirem e comentarem criticamente os temas trabalhados.
As oficinas foram ministradas em sala de aula e na sala de informática, as tarefas
solicitadas foram cumpridas de forma síncrona e assíncrona, nos ambientes citados
anteriormente e em casa, por meio da utilização de sites recomendados pela
pesquisadora, rede social Facebook e mídia social Whatsapp.
Para este trabalho, elaboramos e aplicamos uma Sequência Didática, que “é um
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um
gênero textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2011, p. 82). Segundo os
autores, o objetivo de uma sequência didática é “ajudar o aluno a dominar melhor um
gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada
numa dada situação de comunicação” (p. 83). A elaboração de uma sequência inicia-se
com a apresentação da situação, seguida de uma produção inicial, módulos de análise
dos textos evidenciando aspectos intra e extratextuais, objetivando a produção final,
mais refinada.
Nesta pesquisa, trabalhamos com diversos gêneros textuais por meio de atividades
sequenciais que oportunizaram a interação dos discentes com diferentes contextos de
interlocução, a fim de que realizassem adequações linguísticas para aperfeiçoarem a
leitura e a escrita.
138
A sequência de atividades trabalhada preocupou-se em apresentar detalhadamente as
situações de comunicação, os gêneros que seriam estudados em cada oficina, além de
definir os destinatários das produções docentes (colegas de turma e professora).
3.1 APLICAÇÃO DAS OFICINAS
A primeira oficina foi denominada “Quem quer entrar na rede?”. Nela apresentamos
o projeto e discutimos sobre o uso do aplicativo Whatsappe darede social Facebook.
Após o debate, fizemos o convite para que os discentes participassem da pesquisa.
Na oficina “Conhecendo o Whatsapp”, as potencialidades deste aplicativo foram
exploradas e a discussão sobre a consciência da utilização foi bastante produtiva.
Em “Conhecendo o Facebook”, a proposta era explorar os recursos da referida rede
social a fim de que os alunos pudessem perceber a multissemiose do ambiente e as
opções de serviço que ele oferece.Depois da navegação pelo ambiente estudado, os
alunos analisaram e comentaram à luz da norma culta, duas postagens feitas pela
pesquisadora. Nesse momento, houve crítica ao conteúdo da mensagem, porque
segundo eles, estavam com erros de português. Esse momento foi propício para falar
sobre o preconceito linguístico, carregado de valores que privilegiam uma pequena parte
da sociedade, fazendo com que os que não pertencem a ela se sintam incapazes e
diminuídos socialmente. Foi abordada ainda a importância de conhecer as diversas
formas de expressão e de aprender a utilizá-las nas diferentes situações do cotidiano,
considerando as exigências sociais. Depois disso, foi proposto aos alunos que
elaborassem uma lista de expressões que costumam utilizar no Facebook e no
Whatsapp.
A oficina “Um novo olhar sobre Posts”teve início com o envio de alguns posts para
o Facebook da turma. Os alunos deveriam analisá-los e conversar sobre eles no próximo
encontro, onde comentaram oralmente as postagens que receberam, a partir da análise
dos temas sob um olhar crítico. Após o momento inicial, em dupla, os discentes
analisaram outros Posts, no papel, observando os tipos de linguagens utilizadas e a
importância delas na construção da mensagem. Em seguida, os estudantes expuseram
sua interpretação para os colegas, justificando-a com os elementos textuais de cada
figura e procurando posicionar-se criticamente.
Na segunda parte da oficina, o diálogo teve o objetivo de saber o que os alunos
pensavam sobre a frequência de compartilhamento de Memes no Facebook e no
Whatsapp e se eles conheciam o processo de criação desse tipo de mensagem, tão
139
popular em vários meios de comunicação. Depois disso, os alunos foram desafiados a
criarem Memes com outros temas, explorando a criatividade e utilizando linguagens
verbal e não verbal.
“Dançando conforme a música” foiiniciada na sala de aula, com a distribuição da
letra da música “Trem Bala” de Ana Vilela para os alunos, seguida da análise da
construção textual, resgate das características do gênero poesia (versos, rimas), reflexão
sobre a mensagem transmitida pela compositora e cantora e audição da música. Após
esse momento, iniciou-se o diálogo sobre preferência musical e sobre os meios de
comunicação utilizados por eles para ouvirem as músicas favoritas; foi proposto que os
alunos, em casa, selecionassem uma música que gostassem, fizessem um link e
postassem na página do Facebook do projeto juntamente com o comentário informando
o motivo dessa escolha.
A oficina “Ligado no dia a dia” começou com a leitura de crônicas, na sala de
informática, em sites recomendados pela docente. Os alunos leram os textos “O lixo” de
Luiz Fernando Veríssimo e “A turma” de Domingos Pellegrini. Foi aberta uma
discussão sobre as temáticas tratadas nos textos, aspectos comuns ao comportamento
humano, situações cotidianas que podem se transformar em histórias, depois
observaram as crônicas a fim de perceberem a utilização de elementos intratextuais
comuns a esse gênero. Após o diálogo, os alunos visitaram sites de crônicas capixabas a
fim de conhecerem textos produzidos no estado em que vivem e, em seguida, foi
proposto que postassem um comentário no Facebook a respeito dos textos lidos e que
produzissem uma crônica que retratasse um tema escolhido por eles.
“Histórias em quadrinhos” foi iniciada na sala de Informática, onde os alunos
acessaram os sites indicados pela docente e leram histórias em quadrinhos da Turma da
Mônica e Turma da Mônica Jovem. Os discentes demonstraram surpresa ao saberem da
existência de sites que disponibilizam HQ´s para baixar ou ler gratuitamente. Os
aficcionados por esse gênero gostaram e disseram que lerão mais histórias. Depois
realizarem as leituras, os estudantes foram orientados a acessarem um site que
possibilita a criação de HQ´s online,a se inscreverem e a navegarem por ele. Depois da
exploração do ambiente, foram incentivados a criarem seus próprios quadrinhos.
Na oficina “Hipercontos”, os alunos foram instruídos a acessarem e navegarem um
site de hipercontospara que pudessem realizar a leitura de um conto digital com oito
finais diferentes, direcionados pelas escolhas dos leitores. Os estudantes ficaram
140
empolgados ao interagirem com a história e visualizarem na tela do computador,
mensagens endereçadas a eles, inserindo-os na trama e desafiando-os a tomarem
decisões para ajudarem um detetive a solucionar um caso de sequestro. Os discentes
gostaram da experiência, mas alguns não concordaram com o desfecho do conto e,
curiosos para saberem dos outros finais, recomeçaram a leitura do conto, escolhendo
caminhos diferentes para descobrirem outros desfechos para a trama. Após a oficina, a
docente os incentivou a postar no facebook comentários sobre sua experiência com o
conto digital.
Na oficina “Poesia virtual concreta”, o tema trabalhado foi poesia virtual concreta.
Nela, os aprendizes acessaram sites que definem e exemplificam com vários textos o
que é um poema concreto. Os discentes se interessaram pelas formas dos poemas e
elegeram esse critério para leitura. Após a navegação pelo site e orientações da docente,
os alunos foram desafiados a criarem poemas concretos.
Na décima oficina, “Um pouco mais de animação”, os alunos assistiram aos vídeos
“Changingbatteries” (Carregando as baterias),“O presente” de Jacob Frey e “O outro
par”, de Sara Rozik e “O farol”, do diretor PoChou Chi, filmes de curta duração,
compostos apenas por imagens e fundo musical, que retratam situações relacionadas à
solidão, ao preconceito, à desigualdade social e à solidariedade humana. Eles despertam
reflexões e sentimentos acerca dos temas abordados, despertando diferentes reações. Os
alunos se emocionaram com os filmes, numa atitude de catarse, colocando-se no lugar
das personagens. Houve um momento de considerações a respeito dos sentimentos
despertados pelos curtas e, depois, postaram comentários sobre eles no Facebook e no
Whatsappdo projeto.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo:
Parábola Editorial, 2009.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
BARTON, Davi; LEE, Carmen. Linguagem online: textos e práticas digitais. São Paulo:
Parábola Editorial, 2015.
BRASIL, Ministério da Educação. Juventude e contemporaneidade (Coleção
Educando para todos,16). Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007.
141
_______, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: Terceiro e quarto ciclos do Ensino
Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 1998.
COSCARELLI, Carla Viana, RIBEIRO, Ana Elisa (Orgs). Letramento digital: aspectos
sociais e possibilidades pedagógicas. 3. Ed. Belo Horizonte, Ceale; Autêntica Editora, 2014.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2011.
GERALDI, João Wanderley. A aula como acontecimento. São Paulo: Pedro & João Editores,
2010.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola o real, o possível e o necessário. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo, Editora
34, 2010.
________. A Máquina Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática. Lisboa,
Instituto Piaget, 1995.
MARCUSHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antonio Carlos (Orgs). Hipertexto e gêneros digitais:
novas formas de construção de sentido. São Paulo: Cortez. 2010.
MARTHA, Aline Áurea Penteado; AGUIAR, Vera Teixeira de. (Orgs). Leitura e
escrita no ciberespaço. EdiPUCRS, Porto Alegre, 2015.
PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
PÉREZ GÓMES, Ángel I. Educação na Era digital: a escola educativa. Porto Alegre:
Penso, 2015.
PORTO, C., and SANTOS, E., orgs. Facebook e educação: publicar, curtir,
compartilhar [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2014. <http://books.scielo.org>.
PRENSKY, M. Digital Native, digital immmigrants. Digital Native
immigrants. On the horizon,MCB University Press, Vol. 9, N.5, October, 2001.
Disponível
em:<http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. Acesso em:
12 de novembro de 2016.
RIBEIRO, Ana Elisa. Textos multimodais: leitura e produção. São Paulo: Parábola Editorial,
2016.
ROJO, Roxane Helena. Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo:
Parábola, 2009.
142
_______. Escola Conectada, os multiletramentos e as TIC’s. São Paulo: Parábola, 2013.
_______. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo:
Parábola, 2015.
_______. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São
Paulo: Mercado Letras, 3ª Ed., 2011.
SILVA, Simone Bueno Borges da. Multiletramentos e formação de leitores.
Salvador: UFBA, 2015.
SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura.
Educação e Sociedade, v.23, n.81, p. 143-160, 2002. Disponível em:
<http://www.sclielo.br/pdf/es/v23n81/13935>. Acesso em 18/10/16.
TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram
usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. Rio de Janeiro,
Agir Negócios, 2010.
TELLES, André. A revolução das mídias sociais – cases, conceitos, dicas e ferramentas.
São Paulo, Editora M. Books, 2010.
VEEN, W; VRAKKING, B. Homo Zappiens − educando na era digital. Porto Alegre: Artmed,
2009.
OS PERCURSOS DA ATIVIDADE ORGANIZADORA DE ENSINO: DESCREVER E ANALISAR
Marion Rodrigues Dariz (UFPel)
Fabiane Villela Marroni (UCPel)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar trechos de algumas atividades
produzidas por estudantes do Ensino Fundamental, partindo da proposta de Atividade
Orientadora de Ensino - AOE (MOURA 1996a, 2002, 2010) - uma forma de organização da
atividade de ensino-aprendizagem que, sustentada pelos pressupostos da Teoria Histórico-
Cultural, se apresenta como uma possibilidade para realizar a atividade educativa, tendo por
base o conhecimento produzido sobre os processos humanos de construção de conhecimento.
As produções das AOE são produtos da leitura de narrativas curtas de autores brasileiros de
referência na literatura. São elas: produção de book trailers, de poesias de cordel e de histórias
em quadrinhos, gravação de curtas-metragens, com base em roteiro escrito pelos próprios
alunos a partir dos contos, confecção de cartazes de divulgação... Assim, essas tarefas surgem
como uma proposta para ensinar e incentivar nossos aprendentes a ler e escrever, utilizando-
143
se, para tanto, de diferentes recursos tecnológicos. Como base teórico-metodológica de
análise, foram utilizados os pressupostos da Semiótica Discursiva de Greimas e seus
colaboradores, por ser uma teoria que se encarrega de investigar diferentes linguagens e que
procura conhecer a maneira pela qual o sentido do texto é construído.
Palavras-chave: Atividade Organizadora de Ensino. Processo Ensino-aprendizagem. Semiótica
Discursiva.
Abstract: This paper aims at presenting excerpts from some of the activities produced by
Elementary School students, starting from the proposal of Teaching Guiding Activity - AOE
(MOURA 1996a, 2002, 2010) - a form of organization of the teaching-learning activity that,
supported by assumptions of the Historical-Cultural Theory, presents itself as a possibility to
carry out the educational activity, based on the knowledge produced on the human processes
of knowledge construction. The productions of the AOE are products of the reading of short
narratives of Brazilian authors of reference in the literature. They are: production of book
trailers, string poetry and comic strips, recording of short films, based on a script written by
the students themselves from the short stories, the creation of publicity posters… Thus, these
tasks emerge as a proposal to teach and encourage our learners to read and write, using, for
that, different technological resources. As a theoretical-methodological basis of analysis, the
assumptions of Discursive Semiotics of Greimas and their collaborators were used, because it
is a theory that is in charge of investigating different languages and that seeks to know the way
in which the meaning of the text is constructed.
Keywords: Teaching Organizing Activity. Teaching-learning Process. Discursive Semiotics.
INTRODUÇÃO
Tendo por base os estudos de Moura (2001, 2010), sobre Atividade Orientadora de
Ensino, o objetivo deste trabalho é descrever, minuciosamente, as etapas de “Atividade
Organizadora de Ensino” (AOE), uma proposta como forma de organizar a atividade de
ensino-aprendizagem, de modo a incentivar nossos alunos das séries finais do Ensino
Fundamental (8ª série/9º ano) à leitura de autores da literatura brasileira de forma diferente.
Atividade Orientadora de Ensino é aquela que se estrutura de modo a permitir que os sujeitos
144
interajam, mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de solucionar
coletivamente uma situação-problema (MOURA, 2001, p.155).
Para tanto, surge o projeto de sala de aula com atividades envolvendo a leitura e a
produção de gêneros distintos utilizando para tal a tecnologia. Acreditamos que o trabalho
com essa diversidade de gêneros textuais pode auxiliar os alunos a desenvolverem as
habilidades e competências em leitura e contribui para que esses educandos se envolvam com
temas variados e, esses textos, por trabalharem com diferentes linguagens, vão ao encontro
dessa proposta e colaboram para despertar o interesse desse aluno para a prática leitora.
Não é novidade para os professores que os documentos nacionais de referência que
norteiam/ regem a educação assinalam como responsabilidade da escola tentar expandir o
“letramento” dos alunos, com o objetivo de fazê-los interagir com textos diversos de maneira
efetiva, interpretando-os e/ou produzindo-os. Começamos, então, nosso percurso tentando
resgatar o sentido de letramento no contexto educacional brasileiro. O “letramento” foi
definido pelos PCN como o “produto da participação em práticas sociais que usam a escrita
como sistema simbólico e tecnologia” (BRASIL, 1998. p. 19) e vai além, afirmando que “são
práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que, às vezes,
não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever”. Soares (2004) assevera que
letramento é “entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso
competente da leitura e da escrita em práticas sociais”. (SOARES, 2004, p.20)
No que tange à formação leitora, nos PCN de Língua Portuguesa,
o trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores
competentes e, consequentemente, a formação de escritores pois a
possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática
de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de
referências modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a
matéria-prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui
para a constituição de modelos: como escrever. (BRASIL, 1997, p.53).
Cabe destacar que, quando se fala na formação de escritores, como os próprios PCN
trazem em nota de rodapé, “*n+ão se trata, evidentemente, de formar escritores no sentido de
profissionais da escrita e sim de pessoas capazes de escrever com eficácia.” (1997, p.40).
Pensando nessa formação de um leitor crítico, é que se insere esta proposta na qual se
busca a valorização de textos literários para “evocar o imaginário do leitor” e não como um
145
“pretexto” para fins gramaticais. Para tanto, faz-se necessária uma mudança de postura, pois
se os textos da contemporaneidade mudaram, as competências/capacidades de leitura e
produção de textos exigidas para participar de práticas de letramento atuais não podem ser as
mesmas (ROJO, 2013, p.8).
1. ATIVIDADE ORGANIZADORA DE ENSINO: PERCURSO TRILHADO
Primeiramente, para a execução do trabalho, dividem-se os estudantes em grupos de 3
a 4 componentes e sorteia-se um conto para cada grupo. Distribui-se, então, o texto para a
leitura e, em seguida, propõe-se o estudo do período literário do qual esses autores fazem
parte. Os alunos pesquisam sobre o contexto histórico da época, as principais características
desse período, os principais autores e obras e, principalmente, dedicam-se ao estudo
pormenorizado dos autores cujas obras serão lidas e do conto a ser estudado. Importante
ressaltar que a escolha por contos se deve ao fato de serem narrativas curtas e de fácil
aceitação.
Após pesquisa, sob mediação da professora, o grupo prepara os principais tópicos em
slides, para apresentação aos demais colegas da turma durante um seminário marcado
antecipadamente, tendo por finalidade o desenvolvimento cognitivo de todos e a
aprendizagem conjunta. Para esse seminário já é exigido dos grupos o uso das
mídias/tecnologias. Alguns grupos preparam as apresentações em slides no Power Point, no
Prezi, mas grande parte do grupo opta pelo Movie Maker – apresentação em forma de vídeo.
Este é um software de edição de vídeos da Microsoft e, atualmente, faz parte do conjunto de
aplicativos Windows Live. É bastante utilizado, possui uma interface bastante amigável e de
fácil usabilidade, o que facilita que pessoas sem muita experiência em informática possam
fazer edições, adicionar efeitos de transição, textos personalizados e áudio nos seus filmes.
Figura 1- Imagens da apresentação para o seminário
146
Apresentação seminário sobre pré-modernismo, Monteiro Lobato e obra Urupês
Disponível em https://prezi.com/fw4ulmyi4q0c/apresentacao-do-conto-bucolica-da-obra-urupes-de-
monteiro-lobato/
Como já mencionado, a professora teve o cuidado aqui de não somente pedir que o
aluno lesse atentamente o texto, foi além, procurou orientá-lo do que era necessário observar,
é preciso ensinar o aluno a ler, pois como é assegurado por Fiorin (2013, p. 9) na introdução do
livro Elementos de Análise do Discurso “a sensibilidade não é um dom inato, mas algo que se
cultiva e desenvolve”.
Durante esse seminário, fica acordado com os educandos antecipadamente que
estamos em um momento formal, diferente de uma conversa no recreio com o colega; que
cabe, assim, boa oralidade e uma “postura adequada” na apresentação. Quando nos referimos
a essa “postura adequada”, queremos destacar o posicionamento, a forma de gesticular, de
usar o corpo como expressão, além do domínio daquilo que vai dizer, cuidar o uso adequado
da língua, não estabelecendo qualquer tipo de preconceito linguístico.
Todos os grupos apresentam o trabalho abordando principalmente sobre a narrativa
estudada relacionando com os aspectos/características do período literário e contexto
histórico no qual a obra se insere. Além disso, como cada grupo apresenta um conto, os
demais alunos formulam questionamentos ou fazem acréscimos aos trabalhos dos colegas.
Têm-se, assim, as primeiras etapas concluídas. Percebe-se o envolvimento dos alunos com o
trabalho, cujo objetivo, neste momento, é promover a interação como forma de crescimento e
147
interlocução, visto que nossa sala de aula ainda hoje é vista como um espaço no qual o
professor detém o conhecimento e ao aluno o transmite. Com base em minhas percepções, tal
envolvimento acontece porque eles se sentem “afetados” positivamente pelo trabalho, pois é
uma atividade que faz sentido para eles, ou seja, algo que lhes produz sentido.
Tais efeitos de sentido são produzidos pela proposta de trabalho da professora-
pesquisadora (destinador) de modo a levá-los (sujeitos/destinatários) a crer e aceitar o
percurso da proposta. É estabelecido um contrato fiduciário, em que o destinador manipula os
sujeitos, levando-os a aceitar o que a professora propõe a um querer e/ou dever- saber/poder,
habilitando-os para a realização da performance.
Greimas e Courtés (2016, p.208) asseveram que o
[...] contrato fiduciário põe em jogo um fazer persuasivo de parte do
destinador e, em contrapartida, a adesão do destinatário: dessa
maneira, se o objeto do fazer persuasivo é a veridicção (o dizer
verdadeiro) do enunciador, o contraobjeto, cuja obtenção é
esperada, consiste em um crer-verdadeiro que o enunciatário atribui
ao estatuto do discurso enunciado[...]
Após esse seminário, exige-se maior envolvimento com o texto e mais leituras são
realizadas, pois é, a partir daqui, que os discentes vão se preparar para as próximas fases do
trabalho: a produção da resenha crítica, produção da releitura do conto, transformando-o em
História em Quadrinhos (HQ), escrita de uma poesia de cordel, produção do cartaz de
divulgação, confecção/elaboração de uma revista digital, de um book trailer e, finalmente,
produção do curta-metragem, tendo como base um roteiro escrito pelos grupos a partir da
narrativa de referência. Curta-metragem, ou simplesmente curta, é o nome que se dá a um
filme de pequena duração. O Dicionário Houaiss define curta-metragem como "filme com
duração de até 30 minutos, de intenção estética, informativa, educacional ou publicitária,
geralmente exibido como complemento de um programa cinematográfico".
Para o desenvolvimento do gênero textual denominado resenha, fez-se, antes o ensino
do resumo, dando destaque ao processo de sumarização, visto que esse gênero é um dos mais
importantes nas atividades escolares, pois as capacidades de produção desse gênero são
indispensáveis para a produção de outros gêneros, tais como artigos, relatórios, projetos etc.
Com o ensino da técnica do resumo, começa-se, assim, a preparação quanto à
aprendizagem do gênero resenha. Para tanto, algumas resenhas são lidas e, nelas, são
148
apontadas as partes que as compõem. Após esta apresentação de conteúdo, ocorre a
produção conjunta de uma resenha como modelo. Nessa etapa, o grupo é desmembrado em
duplas ou em trios. A partir daí, são produzidos novos textos nesse gênero, configurando-se
dois novos trabalhos sobre cada conto. Apesar dessa nova subdivisão, a ajuda mútua constitui-
se em uma constante, as atividades continuam sendo realizadas colaborativamente, uma vez
que estas se têm mostrado benéficas à aprendizagem. Com base nos estudos concernentes à
Psicologia Histórico-Cultural, Damiani (2008) salienta que as atividades colaborativas trazem
inúmeros benefícios para as pessoas que nelas estão envolvidas, principalmente na área da
Educação. A mesma ideia é defendida por Moura (2007). Para a autora,
[...] o participar da troca de experiências possibilitada pelo trabalho
em grupo, o indivíduo precisa organizar o seu pensamento a fim de
exprimir suas ideias de forma a ser compreendido por todos, Na
dinâmica do trabalho em grupo, o aluno fala, ouve os companheiros,
analisa, sintetiza e expõe ideias e opiniões, questiona, argumenta,
justifica, avalia (MOURA, 2007 p.12)
Dando continuidade aos passos do trabalho, os alunos, voltam a ler os contos, para
fazerem uma releitura em quadrinhos, ou seja, a produção de HQ. Este gênero se constitui um
importante gênero textual apresentado por uma sequência de quadros, na qual se utiliza de
texto e imagens para narrar uma história dos mais variados gêneros. A produção segue o
mesmo caminho de desenvolvimento da resenha. Primeiramente, apresenta-se aos
educandos inúmeras HQ, lemos, discutimos, vemos estruturas, elementos constitutivos como
o uso de recursos linguísticos no que tange à forma escrita (discurso direto e indireto) e oral,
uso de onomatopeias, variações linguísticas, o uso de elementos específicos, como os balões,
usados para expressar as falas dos personagens, expressões, gestos... Elementos utilizados
como forma de enriquecer a história apresentada. Após explorarmos o estudo desse gênero,
os alunos são desafiados a produzir uma HQ, tendo como orientação o uso de softwares
educativos gratuitos. Alguns destes softwares são sugeridos para uso - Pixton, HagáQuê,
Toondoo, cujo funcionamento é explicado em detalhes aos alunos em sala de aula. A maioria
opta por utilizar o Pixton (é um aplicativo Web 2.0 com o qual se pode, através de ferramentas
de arrastar e soltar, criar quadrinhos rapidamente e gratuitamente), pois, segundo os próprios
educandos, é um aplicativo mais fácil e simples de usar e, ainda, permite seu uso por meio de
uma conta no Facebook. Isso nos leva a crer que a ferramenta multimídia Pixton seja bastante
utilizada pelos educandos porque apresenta uma interface de fácil usabilidade, oportunizando
aos alunos “sem muita experiência” o acesso aos seus recursos.
149
Além de ser um importante gênero textual, é importante salientar que as HQ podem
ser aproveitadas como uma espécie de storyboards para os curtas. Os storyboards e as
histórias em quadrinhos são bastante próximos no que diz respeito ao formato e à maneira
com que são criados, embora apresentem propósitos bem diferentes. Os quadrinhos são uma
obra de entretenimento e contam uma história, enquanto os storyboards apenas servem de
base para uma outra obra de entretenimento que conta uma história: os filmes. (FURINI E
TIETZMANN, 2012). Segundo Togni (2008),
[...] storyboard é o roteiro desenhado em quadros, semelhante aos
quadrinhos, porém não possuem balões de fala. Traduzindo, "story"
significa história e "board" que pode ser quadro, tábua, placa. Esta
tradução justifica-se pelo fato de os artistas/diretores de cinema
esboçarem o roteiro e os fixarem em uma placa com tachinhas.
Figuras 2 e 3 – Histórias em Quadrinhos
A produção da poesia de cordel acontece como etapa seguinte. A partir de um modelo
desse tipo de poesia produzido a partir da obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, mostra-se
uma das estruturas e solicita-se que os alunos produzam uma poesia de cordel tendo como
base o conto estudado. Além do texto produzido, também são elaboradas “xilogravuras”,
utilizando, para tanto, estratégias computacionais/midiáticas. Temos mais uma etapa da AOE e
o processo de ensino-aprendizagem de mais um gênero textual, pois acreditamos que, como
professores, é nosso compromisso preparar os estudantes para lidar com a diversidade das
práticas sociais de leitura e escrita. Não podemos mais “pensar em textos como fixos e
Biografia em HQ de João Simões Lopes Neto.
Disponível em https://www.pixton.com/br/comic-
strip/fh5z6kd3
HQ do causo “A morte do Gemada” de Casos do
Romualdo de João Simões Lopes Neto. Disponível
em https://www.pixton.com/br/comic/s2azyxbt
150
estáveis, eles estão se tornando cada vez mais multimodais e interativos” (BARTON e LEE,
2015, p.31)
Figura 4 – Poesia de Cordel
Poesia de Cordel produzida pelos alunos com base no 'causo “A Enfiada dos Macacos” da obra Casos do
Romualdo
Fonte: retirada dos arquivos de trabalho da professora-pesquisadora
A produção dos cartazes de divulgação do curta e a produção do vídeo propriamente
dito acontecem paralelamente. É dado o momento de colocar as ideias em prática. Talvez a
máxima “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" do cineasta Glauber Rocha, um dos
diretores brasileiros mais aclamados de todos os tempos, encaixe-se perfeitamente aqui! No
momento, dessas produções, os alunos terão em mente de que precisam fazer o trabalho de
modo a “convencer” de certa forma a professora e os demais membros da comunidade (os
destinatários - outros). Momento em que vai ocorrer a persuasão, ou seja, os sujeitos tentam
manipulá-los/convencê-los a querer assistir ao filme. Tanto Barros (2011) quanto Fiorin (2013)
compartilham a ideia de que o discurso é sempre persuasivo, no qual o enunciador assume a
postura de manipulador, persuadindo o enunciatário a acreditar nas “verdades” do discurso.
Sobre a persuasão, Fiorin (2013, p.75) postula que
[a] finalidade última de todo ato de comunicação não é informar,
mas persuadir o outro a aceitar o que está sendo comunicado. Por
isso o ato de comunicação é um complexo jogo de manipulação com
151
vistas a fazer o enunciatário crer naquilo que se transmite. Por isso,
ele é sempre persuasão.
Anterior à produção do vídeo, os alunos, com base em orientações dadas por um
estudante do curso de cinema (um pequeno workshop) e/ou pela professora, preparam seus
roteiros, escolhem cenário, figurino, distribuem as falas entre os personagens, ensaiam
inúmeras vezes e partem para a gravação. Este vídeo é gravado com câmeras digitais simples,
não profissionais, e/ou com celulares. A proposta do trabalho não é utilizar equipamentos
profissionais. Pretende-se que os estudantes utilizem as ferramentas de que dispõem, seus
celulares, suas câmeras portáteis.
Inicia-se, então, o ponto culminante do trabalho e talvez o mais esperado: o momento
da gravação dos curtas (vídeos com duração de aproximadamente 12 min.), com base nos
contos de autores da nossa Literatura.
No que tange à edição, os grupos, quase que na totalidade, optam pelo uso do
programa Movie Maker, provavelmente, como já mencionado, por ser “mais” acessível que
outros. Acompanhando o trabalho, percebe-se que os grupos que têm mais facilidade ajudam,
ensinam aqueles com mais dificuldades. Há uma preocupação com a gravação das imagens,
com o som..., enfim, preocupam-se na produção/edição com o uso de elementos como
música, figurino, cenário, dramatização etc., elementos necessários na construção da
linguagem audiovisual.
Figura 5 - Imagens do banho de Blau
152
As figuras representam o banho de Blau Nunes concretizados pelos grupos em 2011 e 2015 respectivamente
Fonte: retiradas dos arquivos de trabalhos da professora-pesquisadora
Até o momento os autores e obras escolhidos para o estudo e desenvolvimento das
atividades foram Monteiro Lobato com os contos da obra “Urupês”, Lima Barreto com contos
avulsos, João Simões Lopes Neto com a obra “Contos Gauchescos” e “Casos do Romualdo”,
Machado de Assis, com contos avulsos, e Carlos Drummond de Andrade com a obra “Contos
de Aprendiz”. As produções artísticas são realizadas na íntegra pelos educandos – desde
produção, direção até atuação, e são apresentadas em momento destinado a tal. Um
momento muito importante para esses “artistas”: uma Mostra de Cinema que ocorre ao final
do ano letivo com direito à premiação por escolha de um júri, composto por professor de
Literatura, estudante de cinema e/ou teatro e professor da área de Artes, e também por
escolha popular. Esse é o momento no qual se reúnem membros da comunidade escolar –
familiares, alunos e professores – para prestigiar essas verdadeiras “obras de arte”. É neste
momento em que ocorre a sanção do programa e do percurso narrativo, ou seja, momento em
que é realizado um julgamento por parte do destinador, em que há a constatação de que a
performance se realizou e o reconhecimento do sujeito que operou a transformação. Ratifica-
153
se, então, que o estudante entra em conjunção com o saber, momento final de sanção da
aprendizagem.
A escolha de atividades como as aqui mencionadas, assim como a elaboração de uma
revista digital, quanto o book trailer deve-se em função dos diferentes aparatos tecnológicos a
que temos sido submetidos diariamente; sendo utilizados, para tanto, linguagens verbais,
visuais e sincréticas, ou seja, a articulação de diferentes linguagens e não a anulação de uma
em benefício da outra (MARRONI, 2013).
Cabe destacar que, para a produção da revista digital, diversos softwares foram
utilizados, desde a montagem no Publisher até a produção do arquivo em formato PDF em
que, posteriormente, faziam o upload e era convertido automaticamente numa belíssima
publicação digital, organizada, fácil de folhear (Flipsnack). Ao publicar as revistas digitais
online, o link ficava acessível, pronto a compartilhar com a professora e nas redes sociais
(Facebook).
Figura 6 – Revista produzida no Flipsnack
Revista Digital sobre vida e obra de Machado de Assis.
Disponível emhttps://www.flipsnack.com/asipsilva/crin-
edicao-machado-de-assis.html
Revista Digital sobre vida e obra de Machado de Assis. Disponível em
https://www.flipsnack.com/leopoldo8/revista-digital-machado-de-assis.html
154
Concernente à produção do book trailer, utilizamos essa atividade, posterior ao ensino
do resumo e da resenha. Produzido em poucos minutos, permeado com imagens que tivessem
relação com a narrativa e com frases de impacto, envolto com uma música de fundo com o
objetivo de chamar a atenção do leitor e, quem sabe, despertar o desejo de ler a narrativa.
Mais uma vez foi utilizado para produção e edição desta atividade o mesmo editor de vídeo
usado anteriormente.
Vemos, assim, que, com todo o avanço tecnológico a que estamos expostos, o modo
de leitura não pode mais ser o mesmo. Há um ‘bombardeio” de textos verbais, visuais e,
principalmente, sincréticos. Então, como bem ressalta Antunes (2003), não podemos ver a
leitura “como uma pedra no meio caminho das aulas de Língua Portuguesa” nem a ter
“reduzida a momentos de exercícios e *que+ não desperta o prazer nos alunos”. Rojo e Moura
(2012) defendem a pedagogia do multiletramento, “em que os alunos se transformem em
criadores de sentidos [...] que sejam capazes de transformar discursos e significações seja na
recepção ou na produção” (p. 29) e, como professores, temos de pensar que significados estão
sendo construídos a partir da tecnologia.
2 BREVES REFLEXÕES ACERCA DE ALGUMAS ATIVIDADES PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES À
LUZ DA SEMIÓTICA DISCURSIVA
Como já mencionado, grandes são as dificuldades de leitura e escrita percebidas pela
professora-pesquisadora nas séries finais do Ensino Fundamental. Dentro das AOE, uma das
propostas feita aos alunos consiste em “trazer uma história do papel para as telas”, com a
utilização da tecnologia, por entendermos que “ao utilizarem-se das linguagens verbal, visual e
sonora terão um “percurso diferente” de incentivo à leitura. Não queremos com isso dizer que
os textos verbais não sejam capazes de desempenhar essa função leitora, mas como afirma
Marroni (2013) essas manifestações [sincréticas] possuem um fazer persuasivo. Segundo a
autora:
essas manifestações articulam diferentes tipos de linguagens,
possibilitando uma estrutura complexa de significação. Isto não quer
155
dizer que os textos que articulam um único tipo de linguagem sejam
menos complexos. Todo texto, cada um com sua especificidade, é
portador de uma significação e todos têm algo a dizer, expressando
ideias que lhe são peculiares. O uso de diferentes tipos de linguagens
é um artifício a mais, que tem, dentre outras funções, um alto grau
de persuasão para o destinatário do texto. (MARRONI, 2013, p.343)
Procurando incentivar nossos alunos de forma a lhes produzir sentido, propusemos,
como mencionado, a tradução intersemiótica utilizando, para tal, os recursos tecnológicos de
que os alunos dispõem. Essa tradução, definida como tradução de um determinado sistema de
signos para outro sistema semiótico, tem sido estudada por muitos autores contemporâneos
como Nelson Goodman, Michael Benton, Mario Praz, Júlio Plaza, Solange Oliveira e outros. De
posse desses “curtas”, analisaremos, nessas produções, os efeitos de sentido despertados por
meio da articulação das diferentes linguagens.
Tanto nessas produções quanto nos book trailers serão analisados os processos de
figurativização e tematização, além de verificar os efeitos de sentido produzidos por meio da
articulação das diferentes linguagens nesses vídeos.
Na análise empreendida a essas produções, partiremos de um tema, procurando
imagens que lhes deem cobertura figurativa. Focaremos, pois, no nível da
concretização/ figurativização dos temas.
Na proposta de produção dos curtas, cada grupo concretiza a linguagem verbal do seu
jeito, fazendo uso da liberdade proporcionada pela professora para recriar, fazer a releitura
audiovisual do texto literário em prosa. Percebe-se, então, que essa tradução intersemiótica
(produção/adaptação de obra literária, “transpor a história do papel para a tela”) resulta em
produtos diferentes do texto original.
A análise será feita mediante as imagens apresentadas e retiradas dos curtas-
metragens produzidos pelos alunos. Tais traduções intersemióticas constituem-se artefatos
privilegiados de uma análise.
Nessa produção audiovisual, nas cenas produzidas, e não apenas no texto lido, o
enunciador dispõe de muitos recursos, além do texto escrito, para persuadir o
enunciatário, como a organização do cenário, a iluminação, o som, o figurino e a
atuação das personagens. Os elementos são colocados de forma a criar efeitos de
realidade, procurando estabelecer um contrato de veridicção, ao enunciatário do texto.
156
Esse contrato recebe esta denominação por ser estabelecido com base na confiança e
crença; que estatui (estabelece) sobre o parecer-verdadeiro.
A produção de histórias em quadrinhos (HQ), ou seja, a tradução intersemiótica
a partir de uma narrativa ou de uma biografia em prosa trata-se de mostrar como se deu
a tradução do texto em prosa para a história em quadrinhos, ver como essa história foi
elaborada e quais os efeitos de sentido que tal elaboração proporcionou.
A análise desse gênero textual refere-se ao conteúdo de alguns balões e
quadrinhos do texto produzido. Procura-se selecionar os quadrinhos consoante as
peculiaridades do que é proposto pela Semiótica de Greimas, na qual se analisam, na
visualidade, topologia, cores, formas e de como esses elementos estão associados ao
plano do conteúdo.
Alguns elementos assinalam as relações semissimbólicas entre imagem e texto.
O semissimbolismo é quando ocorre uma correlação/articulação entre dos dois planos
(conteúdo e expressão), possibilitando uma nova leitura do mundo, ao associar
diretamente relações de cor, de forma (plano de expressão) com relações de sentido
(plano de conteúdo), contribuindo, desse modo, para tornar o aluno um leitor proficiente
de textos/imagens.
Apesar de, muitas vezes, fazermos uma separação entre as palavras e as
imagens, nas HQ, imagem e palavra se juntam para compor um gênero mesclado,
constituindo-se um importante instrumento para os alunos, no sentido da conexão da
expressão com o conteúdo. Assim, deve-se aproveitar esse gênero para fazer com que o
aluno perceba que as imagens, os aspectos visuais mais os elementos verbais formam
uma unidade de sentido e possibilitam, com interdependência, as apreensões de sentido.
A partir das análises realizadas sobre o conteúdo temático das HQ por meio das figuras
encontradas no texto, pensa-se em um direcionamento à prática pedagógica e o trabalho com
o objeto analisado em sala de aula. Com a importante tarefa de uma leitura interligada à
conexão do plano de expressão com o plano de conteúdo, ou seja, a relação das figuras que
levam ao tema cujos aspectos apontam para uma unidade de sentido, em correspondência
com os elementos visuais presentes nas imagens. Além da comunicação verbal, nas HQ, é
encontrada também a comunicação visual, já que são (as HQ) formadas de textos e imagens.
CONCLUSÃO
157
Assim, apresentamos as etapas/os trabalhos da “Atividade Organizadora de Ensino”
(percurso) e apontamos que é na relação de diferentes textos que é construído o
significado/sentido. Dissecamos esse objeto, para, em trabalhos futuros (que, por não ser o
foco deste artigo, não ocorreu), fazer a análise, com base no arcabouço teórico-metodológico
da Semiótica Discursiva, de Greimas e seus colaboradores, por ser uma teoria que se encarrega
de analisar textos de qualquer natureza, de investigar diferentes linguagens e que procura
conhecer a maneira pela qual o sentido do texto é construído, ou seja, a teoria semiótica, ou
teoria da significação se preocupa em explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que
diz (BARROS, 2011, p.7).
Não é nosso objetivo, neste trabalho, trazer a análise semiótica das etapas da AOE,
todavia salientamos que, tendo por base os pressupostos da Semiótica Discursiva, na tese e
em um próximo trabalho, serão trabalhadas e analisadas as atividades utilizando a relação
entre o plano da expressão, a partir de seus formantes, e o plano de conteúdo, analisando o
Percurso Gerativo de Sentido em seus diferentes níveis: discursivo, narrativo e fundamental.
Esse percurso se constrói no e pelo texto e mostra como se produz e se interpreta o sentido
desse texto.
Por ser a literatura uma entre as inúmeras artes, ela vai dialogar com outras artes
como teatro, dança, pintura, música, canto, circo, moda, arquitetura, escultura, fotografia,
cinema...e se constituir em um dos canais de expressão de criatividade. Assim, ao falarmos em
literatura, temos de levar em conta também a abrangência da cultura da imagem.
Acreditamos, pois, na possibilidade de realizar um trabalho com textos sincréticos
(multimodais) a fim de potencializar as práticas de leitura e produção textual nas séries finais
do Ensino Fundamental (práticas de multiletramentos, ou seja, [p]ráticas que partam das
culturas de referência do aluno e de gêneros, mídias e linguagem por eles conhecidos [...] que
ampliem o repertório cultural na direção de outros letramentos[...] (ROJO E MOURA, 2012,
p.8)) e, para que se obtivesse sucesso, a tecnologia constituiu-se uma forma de mudança nas
relações na sala de aula, do professor com os alunos, com o conhecimento, a relação do que se
entende efetivamente por escola. Ao inserirmos a tecnologia as relações são reorganizadas.
Pensemos, então, na apropriação dessa tecnologia como forma de contribuir para reinventar a
própria escola, já que a forma como essa instituição produz conhecimentos hoje não é mais
compatível com o modo como os jovens estão aprendendo esse conhecimento.
Assim sendo, inovar nas práticas de ensino de leitura e escrita tem-se constituído uma
necessidade, tendo em vista os grandes avanços tecnológicos de que os alunos se utilizam.
158
Diante disso, está posto um dos grandes desafios do educador e novas ações/demandas nas
práticas docentes se tornam imprescindíveis no sentido de desenvolver estratégias para
aproximar o clássico literário do leitor e incentivar a leitura desses textos.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura – MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua
Portuguesa. Brasília, MEC/SEF 1997.
_______. Ministério da Educação e Cultura - MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro
e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial,
2003.
BARROS, D. L. P. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2011.
BARTON, D.; LEE, C. Linguagem online: textos e práticas digitais. São Paulo: Parábola
Editorial, 2015.
DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus
benefícios. Educar em Revista. V. 31, 2008, p.213-230.
FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2013.
GREIMAS, A. J; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Trad. Alceu Dias Lima et al.
São Paulo: Contexto, 2016
MARRONI, F. V. O fazer persuasivo em mídias digitais: um estudo de caso. In. As
interações sensíveis: ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski/ ed.
Ana Claudia de Oliveira. - São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013, p.343-350.
MOURA, M. O. de. A atividade pedagógica na Teoria histórico-cultural. Brasília-DF: Liber Livro Editora Ltda, 2010.
______. A atividade de ensino como ação formadora. Ana Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar. São Paulo: Pioneira Thomson Learning Ltda, 2001, p. 143-162.
MOURA, R. C. A. Trabalho em Grupo na Sala de Aula. Presença Pedagógica, Belo
Horizonte, v.13, n. 78, nov/dez 2007.
ROJO, R; MOURA, E. (Org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012.
159
ROJO, R. (Org). Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola, 2013.
SOARES, M. Alfabetização e letramento: caminhos e descaminhos. Pátio: Revista Pedagógica, Porto Alegre: RS, n. 29, p. 18-22, fev./abr. 2004.
TIETZMANN, R.; FURINI, L. Os quadrinhos de Scott Pilgrim como storyboard do filme Scott Pilgrim contra o Mundo. RUA. Revista Universitária do Audiovisual, 2012, p. 12.
TOGNI, A. C. Construindo Objetos de Aprendizagem. Disponível em http://paginapessoal.utfpr.edu.br/kalinke/novas-tecnologias/grupos-de-pesquisa/grupos-de-pesquisa/pdf/construindo_objetos.pdf. 2008. Acesso em jul. 2016.
160
OS MULTILETRAMENTOS E O LETRAMENTO CRÍTICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Patricia da Silva Oliveira (UNEMAT/Campus Sinop)
Helenice Joviano Roque-Faria (UNEMAT/ Campus Sinop)
RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar a prática das teorias da Pedagogia dos
Multiletramentos e do Letramento Crítico em sala de aula na Educação de Jovens e Adultos.
Para a realização de tal empreendimento aliamos à Linguística Aplicada e nos respaldamos em
teóricos como Rojo (2009, 2012, 2013, 2015), Roque-Faria (2014), Maciel e Takaki (2015). A
metodologia adotada é de cunho na pesquisa de cunho intervencionista de no viés de
Cassandré e Querol (2014) e a coleta dos dados serviram de base para as análises e o
desenvolvimento das aulas aplicadas. Com base na amostra dos resultados, consideramos que
o desenvolvimento dos novos estudos da linguagem no espaço escolar não é uma jornada fácil
para o professor, mas possível de ser exercida, o que requer estudo e pesquisa por parte dos
agentes educacionais e adequação à realidade educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Multiletramentos, Letramento Crítico, Educação de Jovens e Adultos.
ABSTRACT:The present paper aims to present the practice of theories of Pedagogy of
Multiliteracies and Critical Literacy in the classroom of Youth and Adult Education. In
order to carry out such an undertaking, we allied to Applied Linguistics and supported
theorists such as Rojo (2009, 2012, 2015), Roque-Faria (2014), Maciel and Takaki
(2015). The methodology adopted is qualitative and interpretative in the bias of Bauer
and Gaskel (2002) and the data collection served as a basis for the analysis and
development of the classes applied. Based on the sample of results, we consider that the
development of new language studies in the school space is not an easy journey for the
teacher, but it is possible to be exercised, which requires study and research by
educational agents and adaptation to the educational reality.
KEY WORDS: Multileteracies, Critical Literacy, Youth and Adult Education.
INTRODUÇÃO
161
A expansão das Tecnologias de Informação e Comunicação tem estado na pauta de
muitos estudos relacionados à educação e linguagem. Isto se deve às facilidades da
comunicação instantânea e da possibilidade de interagir com diferentes pessoas em diferentes
espaços geográficos, tais aparatos aliados a internet demonstram ganhar mais adeptos na
sociedade contemporânea.
Porém, algumas instituições escolares parecem recear das práticas pedagógicas
mediadas pelas tecnologias. Os alunos, por sua vez, aparentam estar cada vez mais imersos no
mundo virtual, levando para a sala de aula, novas práticas de linguagem. Assim, nosso objetivo
é investigar a possibilidade de materializar o diálogo entre os multiletramento e o letramento
crítico na Educação de Jovens e Adultos, por compreendermos que este público não pode ficar
à margem das mudanças sociais e estarmos diretamente integrados a este contexto, pois
como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência (PIBID- Língua
Portuguesa) esta política pública de formação nos possibilita tornarmos pesquisadores, pela
observação das práticas de ensino de Língua Portuguesa e colocarmos à serviço para colaborar
com o ensino nesse seguimento através leitura teóricas e consequentemente, pesquisas
teóricas.
1. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA CONTEMPORANEIDADE
E AS PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS E DO LETRAMENTO
CRÍTICO
Já afirmamos que o mundo globalizado se apresenta em constante evolução no
campo científico e tecnológico. São diferentes culturas e povos que se relacionam e
buscam constantemente entender a linguagem, pois, consoante Roque-Faria:
A linguagem liga mundo, pessoas, ações. Noutros termos, construída
historicamente na interação com o outro vem mediada pelas
relações inerentes às condições de produção humana, possibilita que
pessoas dialoguem e acessem os diversos campos do conhecimento,
é o capital mais precioso que a humanidade possui (ROQUE-FARIA,
2014, p. 47).
162
Deste modo, entendemos que para um estudo coerente sobre o ensino/aprendizado
de Língua Portuguesa na contemporaneidade é imprescindível que o contexto histórico e as
múltiplas formas comunicacionais, exercidas pelo alunado, sejam levados em conta, pois é na
interação do sujeito com o mundo que se dá os múltiplos usos da verbalização.
Esta abordagem implica na reflexão do ensino ofertado por algumas instituições
escolares que concebem ter somente nas gramáticas tradicionais, nos livros didáticos e
literaturas clássicas, práticas de letramento. Para Roque-Faria(2014):
[...] rompe-se com a visão tradicional e amplia-se a ideia de que os
objetos de significação, como o código (constituídos por signos e
símbolos, instrumento comum de interação dos homens), os textos
(materialidade significativa, produto das relações humanas) e a
leitura (processo de fruição e representação do mundo e construção
de significação) transcendam a materialidade produzida, seja oral ou
escrita, e alcancem a experimentação do novo na relação dialógica
com o cultural, o social e o histórico (ROQUE-FARIA, 2014, p. 47).
Assim, explicita-se que o atual contexto social é propicio para a novos estilos de
produção e circulação dos textos, entretanto, Rojo (2009) alerta sobre a desvalorização nas
instituições escolares.
Todavia, é perceptível que os aparatos tecnológicos estão cada vez mais presentes no
dia-a-dia dos estudantes, e embora algumas escolas repreendam o uso do celular e notebooks
pessoais em sala de aula, a necessidade em manter-se conectado rompe os muros escolares
resultando na perplexidade de pais e professores que vêem seus filhos e/ou alunos cada vez
mais integrados a esse emaranhado de novas linguagens. Ao refletir sobre esse novo
paradigma, Rojo e Barbosa entendem:
[...] que o mundo mudou muito nas últimas décadas, ninguém há de
discordar. E não somente pelo surgimento das novas tecnologias
digitais da informação e comunicação (doravante, TDICs), embora
com seu “luxuoso” auxílio. Surgem novas formas de ser, de se
informar, de aprender. Novos tempos, novas tecnologias, novos
textos, novas linguagens (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 116).
163
Neste sentido, atenta-se para a influência dos ambientes digitais sobre os textos
contemporâneos, entendidos como hipertextos, que conjugam a imagem, o movimento, o
som, e as cores, para significar. Possivelmente a eclosão das novas produções textuais
modificou e/ou modificam os hábitos e aumentam as possibilidades de leitura, como
observado em Almeida,
Não se trata da mesma leitura realizada no espaço linear do material
impresso. A leitura de um texto não linear na tela do computador
está baseada em indexações, conexões entre idéias e conceitos
articulados por meio de links (nós e ligações), que conectam
informações representadas sob diferentes formas, tais como
palavras, páginas, imagens, animações, gráficos, sons, clipes de vídeo,
etc. Dessa forma, ao clicar sobre uma palavra, imagem ou frase
definida como um nó de um hipertexto, encontra-se uma nova
situação, evento ou outros textos relacionados (ALMEIDA, 2005, p.
41-2).
Este novo cenário social pode colaborar para a formação de pesquisadores ágeis e
escritores criativos, pois ao romper com as fronteiras de leitura sequenciada, os sujeitos
adquirem autonomia para decidir por onde começar e terminar a leitura, e “ao saltar entre as
informações e estabelecer suas próprias ligações e associações, o leitor interage com o texto
assumindo um papel ativo e tornando-se co-autor do hipertexto” (ALMEIDA, 2005, p. 42).
Neste contexto, convém salientar que o acesso a essa nova modalidade de letramento
mostra-se extremamente facilitado, logo é rotineiro para os alunos, fora do ambiente escolar,
ler, interpretar e interagir com os hipertextos e a leitura online, com seu caráter prático,
multesemiótico e móvel demonstra conquistar a preferência do homem contemporâneo.
Ao que concerne o ensino de Língua Portuguesa, reafirmamos com Rojo que:
[...] o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de
linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira,
sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais,
recobrindo contextos diversos (família, igreja, trabalho, mídias,
164
escola etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e
sociocultural (ROJO, 2009, p. 98).
No entanto, intramuros escolares, muitas vezes, podemos observar a extrema
valorização da língua padrão, o que pode condicionar as aulas de português, a transmissão das
regras gramaticais, leitura e produção de textos, por vezes consideradas pelos alunos,
“maçantes”. Porém, Roque-Faria (2014, p. 31) confirma que “as propostas de leitura e escrita
devem focalizar abordagens comunicativas de linguagem, contextualizadas e que nos
assentem diversos construtos culturais.”
Assim, ao olhar pelo prisma da “era digital”, as novas tecnologias de informação e
comunicação tornam-se ferramentas facilitadoras para um ensino contextualizado, motivador,
que visa o preparo do aluno para atuar na sociedade. Logo, “*...+ Se os alunos fizerem pontes
entre o que aprendem intelectualmente e as situações reais, experimentais e profissionais
ligadas aos seus estudos, a aprendizagem será mais significativa, viva e enriquecedora”
(MORAN, 2013, p. 13-4).
Para que esta ponte se consolide na disciplina de Língua Portuguesa, respaldados em
Rojo (2009, 2012, 2015), argumentamos ser necessário trazer à luz o conceito de
multiletramentos:
O conceito de multiletramentos [...] aponta para dois tipos
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa
sociedade, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a
multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica
de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se
comunica (ROJO, 2012, p. 13).
Neste sentido, é importante atentar-se para as múltiplas culturas que figuram a sala de
aula. Por conseguinte, as mesmas práticas de linguagem são vivenciadas de forma diferente
entre uma cultura e outra. Portanto, é fundamental que o professor, que nesta perspectiva
atua como facilitador, escolha criticamente o repertório de textos/hipertextos.
Para tanto, Rojo (2009) propõe que o trabalho pedagógico viabilize os “letramentos
multiculturais”. Fato que implica na integração da “cultura escolar e da dominante”, “culturas
165
locais e populares” e a “cultura de massa”, às práticas docentes. Como já sinalizado, a
problemática das Instituições Escolares na contemporaneidade parece encontrar-se em muitas
vezes ater-se ao primeiro grupo de linguagem. Porém, de acordo com Rojo,
[...] o ingresso de alunado e professorado das classes populares nas
escolas públicas trouxe para os intramuros escolares letramentos
locais ou vernaculares antes desconhecidos e ainda hoje ignorados,
como o rap e o funk, por exemplo. Isso cria uma situação de conflito
entre práticas letradas valorizadas e não valorizadas na escola [...]
(ROJO, 2009, p. 106).
Neste contexto, pode-se sentir a necessidade da integração de textos que advenha da
cultura do aluno nas aulas de Língua Portuguesa para uma possível mediação pedagógica
contextualizada com a realidade do educando, como também, do professor. Dessa forma,
acredita-se que o ensino partirá do conhecimento que o educando possui e agregará a
tolerância e o respeito à diversidade cultural.
Acresça-se ao cenário contemporâneo, a possibilidade de um trabalho com os textos
de diversos níveis culturais para auxiliar no desenvolvimento da criticidade e posicionamento
ético, pois, o fácil acesso aos meios de comunicação e posteriormente a flexibilidade de postar
notas referentes a determinados temas tem colocado em voga a credibilidade da informação
que circula nos ambientes virtuais. Compartilhando desta reflexão, Rojo afirma que:
A cultura de massa da globalização é padronizada, monofônica,
homogênia e pasteurizada, a ponto de alguns estudiosos da
globalização falarem do Mundo Mc, de “mcdonaldização” da cultura,
tendo como centro dominante e irradiador o ocidente, branco,
masculino, heterossexual, norte-americano: cultura da rapidez, da
instataneidade (fast food, zapping, clipping) e do excesso (fat food,
megalópoles, stress, hipertudo). Por isso se torna tão importante
hoje as maneiras de incrementar, na escola e fora dela, os
letramentos críticos, capazes de lidar com os textos e discursos
naturalizados, neutralizados, de maneira a perceber seus valores,
suas intenções, suas estratégias, seus efeitos de sentido (ROJO, 2009,
p. 112).
166
Deste modo, é pertinente que os multiletramentos sejam integrados às práticas
docentes na Educação de Jovens e Adultos, ofertando assim uma “educação libertadora”
descrita em Freire (2001, p. 103) e salientada que “quanto menos criticidade em nós, tanto
mais ingenuamente tratamos os problemas e discutimos superficialmente os assuntos”.
Para tanto, a inclusão das tecnologias digitais de informação e comunicação, como
também os múltiplos textos que nela circulam, poderão auxiliar o professor em um trabalho
pedagógico que signifique para aluno e facilite o desenvolvimento de sua criticidade. Neste
contexto, Roque-Faria (2014, p. 32) enfatiza que, “ao que parece, vive-se em um mundo
extremamente midiatizado e a modernidade prenuncia, cada vez mais, novas e incipientes
modalidades de letramento.”
2. METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada no Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA) da
cidade de Sinop, no Estado de Mato Grosso. Os participantes são 20 estudantes do referido
lócus que compõe uma turma do 2° ano do Ensino Fundamental. A faixa etária dos então varia
entre 16 a 28 anos de idade.
Dessa forma, nos respaldamos na pesquisa de cunho intervencionista, sendo que esta,
nas palavras de Cassandré e Querol (2014, p. 4), “sedimenta-se na intenção de valorizar a
produção de conhecimento que favoreça o surgimento de novos atores no processo de
pesquisa e que, por sua vez, sejam, co-responsáveis na condução e na construção do
conhecimento coletivo.”
Por esse caminho, planejamos três aulas com duração de uma hora que foram
desenvolvidas no dia 11/10/2016. O tema proposto foi “Gênero discursivo meme:
interpretação e produção de texto”. A escolha do gênero teve por base a reflexão de Maciel e
Takaki (2015, p. 64) de que:
Os memes não somente constituem textos que deflagram discussões
maiores para o entendimento das diferenças na sociedade, mas
também servem de estímulo para a criação e recriação, como tarefas
pedagógicas que ampliam a prática de línguas, propiciando a
167
autoconfiança, a autonomia multimodal e a crítica dos aprendizes
(TAKAKI, 2015, p. 64).
Com base no exposto, selecionamos textos multimodais que aludissem às diferentes
culturas, atentando-nos, deste modo, para a afirmação de Jordão (2016, p. 47) de que “a sala
de aula, talvez especialmente (mas não exclusivamente) nas escolas públicas de país, agrega
pessoas bastante heterogêneas em vários sentidos, desde seus letramentos até suas
identidades raciais, religiosas, políticas.”
Sob este prisma, as salas de aula da EJA – no qual observamos na posição sujeito de
pesquisadora e bolsista do PIBID – por ser composta por pessoas de várias regiões do Brasil se
mostram heterogêneas. Nesta multiplicidade cultural, estudar o gênero meme possibilita a
contribuição para a formação de um estudante questionador e reflexivo de sua participação na
sociedade.
Também, exibimos um pequeno trecho de dois programas humorísticos da Rede
Globo, Zorra Total e Toma Lá Dá Cá, que possuem personagens que caracterizam o nordestino
e o sulista e, a seguir projetamos o filme O caminho das nuvens, dirigido por Vicente Amorim e
estreado em 2003. Para finalizar, encaminhamos os estudantes ao laboratório de informática,
alunos criassem memes referente ao filme ou as múltiplas culturas.
3. AMOSTRA DOS RESULTADOS
A presente aula analisada foi desenvolvida no dia 11/10/2016, no 2° ano do Ensino
Fundamental. No primeiro momento, apresentamos os memes como um gênero discursivo, e
como tal, dotado de certas características1:
• Imagem (real ou desenho), vídeo, música, frases. • Propagação, multiplicação/viralização - Curtir e compartilhar • Relação do texto verbal e não verbal • Intertextualidade
1 Disponíveis no site: http://www.cefaprosinop.com.br/site/.
168
• Inferir ideia implícita no texto
Ao entrarmos na sala de vídeo, local onde acorreu a aula, um dos alunos se acomodou
no fundo, entretanto, quando abrimos o slide com o tema meme ele se levantou e sentou-se
na primeira fileira. Ao analisarmos a postura do estudante consideramos que uma das
possíveis razões para sua atitude encontra-se na reflexão de Moran (2013) ao ponderar que:
Os alunos impressionam-se primeiro com as telas, jogos ou
aplicativos mais bonitos, mais em moda, mais bem ranqueados ou
“curtidos”. Há uma sobre-exposição da vida pessoal, do banal, de
interação superficial com centenas ou milhares de “amigos virtuais”.
Dispersão, superficialidade, perda de tempo e dependência são
fenômenos em ascensão num mundo mais conectado e móvel. E
aprender implica ampliar a percepção, a reflexão, a avaliação e a
aplicabilidade do que é significativo, do que pode nos ajudar a
crescer. É necessário parar, refletir, comparar, rever (MORAN, 2013,
p. 57-8).
A partir da reflexão acima, buscamos proporcionar uma aula diferenciada e provocar a
reflexão sobre nossos conceitos e posicionamentos acerca do outro. Nessa via, em prol de
exemplificar o texto verbal e não-verbal, além de fomentar uma discussão sobre preconceitos,
exibimos o texto abaixo:
Figura 1: Meme texto não verbal
Fonte: http://www.paraiba.com.br/2014/10/27/245
169
Após a explicação sobre o que é texto verbal e não verbal, perguntamos aos alunos o
que eles compreenderam do mesmo. Uma aluna respondeu: “tem mais gente atrás de bolsa
família do que procurando emprego”. Assim, questionei novamente: Qual o valor monetário
destinado às pessoas que recebem o benefício? outra aluna respondeu: “olha professora eu
recebia setenta reais”.
Continuei a indagar: Com setenta reais uma família consegue fazer a compra do mês?
a primeira aluna respondeu: “se a mulher tiver uns quatro filho e receber para os quatro...”,
fomentei ainda mais: Com setenta reais você compra para uma criança uniforme escolar,
material escolar, calçado, leite, fralda? A primeira aluna respondeu novamente: “mas tem
gente que nem precisa e recebe”.
Diante do exposto, argumentei que apesar de algumas pessoas agirem de má fé não
podemos rotular todos que fazem parte do programa como sujeitos que não gostam de
trabalhar. Assim, cogitamos ser importante questionar, provocar a reflexão, instigar a análise
profunda do texto, pois como assevera Jordão “*…+ problematizar as hierarquias sociais,
questionar os sistemas de inclusão e exclusão, de valorização e desvalorização de pessoas e
seus saberes, torna-se condição necessária para promover a diversidade de práticas tão
importantes para uma democracia (JORDÃO, 2016, p. 45).
Fechada a discussão acima, apesar de aparentemente nem todos concordarem,
entramos no âmbito da intertextualidade por meio do meme abaixo. Quando finalizamos a
explicação, novamente pedimos para ouvir os alunos em suas análises.
Figura 6 : Meme sobre o nordeste
Fonte: http://pt.memedroid.com
170
Nesse momento os estudantes aparentemente mais novos começaram a falar talvez
pelo fato de na imagem aparecer um dos personagens do desenho Dragon Ball Z exibido no
ano 2002 no programa TV Globinho, da Rede Globo. É interessante mencionar que quando
perguntei por que o cangaceiro pede três copos de água uma aluna respondeu: “porque lá só
tem seca”.
A partir da observação da estudante, iniciamos uma reflexão sobre a imagem pré-
concebida que, por vezes criamos, acerca de culturas diferentes da nossa. Iniciando, assim, o
último tópico, o fato de os memes inferirem ideia implícita no texto. Para exemplificar para os
estudantes apresentamos o texto-imagético a seguir:
Figura 6: Meme de cunho xenofóbico 2
Fonte: http://www.meme4fun.com
A partir do então gênero, indagamos: “Que ideia o texto objetiva inferir?”. A resposta
da aluna foi “Porque não é bom morar no nordeste”. Continuamos a questionar: A imagem de
qual pessoa aparece no meme? Vocês conhecem a história do holocausto? Será que o sujeito
realmente deseja não ser preconceituoso? Qual a imagem que passa à mente de vocês quando
referimos a palavra nordeste?
Uma aluna respondeu à última pergunta: “seca e um lugar cheio de poeira e fome”.
Por isso a questionei: Por que você pensa assim? E ela não soube responder. Na sequência,
mostramos outro exemplo de meme implicitamente xenofóbico:
Figura 7: Meme sobre o sul
171
Fonte: https://onsizzle.com/i/garotas-do-norte
A reação dos alunos foi de achar o meme cômico e, sem que nós indagássemos,
começaram a falar: “há lá em Pelotas só tem viado”, “os gaúchos são todos boiolas mesmo”.
Ao perceber a vibração dos estudantes em estereotipar uma cultura que jugavámos
desconhecida para eles indagamos: Como vocês sabem? No sul há somente relacionamentos
homoafetivos?
Para oportunizar aos estudantes olhar para a sua própria cultura com as lentes do
outro, levamos também para a sala de aula alguns memes que caracterizavam a vida no Mato-
Grosso:
Figura 8: Meme Mato grosso
Fonte: http://www.saedf.org.br/s/?p=1781 1
A seguir, foi perceptível a indignação na fala dos alunos: “ah... nem é assim”, “minha
família acha que é bem assim mesmo”. Tais expressões nos permitem refletir que os
estereótipos causam maior impacto quando dirigidos a nós. Outro fator relevante, é que a
peculiaridade cômica do gênero demonstrou “camuflar” o preconceito e a desvalorização
cultural, pois a reação da maioria dos alunos foi achar engraçados os memes.
172
Entretanto, ao exibirmos o texto verbal post a postura dos mesmos foi de espanto. A
seguir, surgiu um aglomerado de vozes exaltadas: “Só paulista presta é?”, “Que troxa!”, “Vai
morar em outro país então!”.
Figura 9: Post twitrer
Fonte: https://blogdovq.wordpress.com/2010/11/0 1
Nesse sentido, Janks (2016, p. 33) reflete que “há aqueles que experimentam a
diferença como uma ameaça a sua própria identidade. Eles constroem uma divisão entre nós,
o nosso povo, e eles, os estranhos e perigosos outros”. Nessa ótica, analisamos que em uma
sala de aula miscigenada como a EJA é importante abordar os diferentes gêneros discursivos,
com o qual o referido grupo tem contato, para que se evoque a tolerância e o respeito às
diversidades.
Nesta perspectiva, passamos o vídeo dos programas humorísticos Zorra Total e Toma
lá da cá da Rede Globo. O objetivo foi mostrar como a mídia caracteriza, por meio dos dois
programas o nordestino e o sulista. Por conseguinte, pedimos aos estudantes que analisassem
ambas as caricaturas – suas roupas, aparência dos cabelos e dos dentes, bem como a posição
social que ocupavam dentro do enredo.
Para complementar a reflexão e a análise, além dos memes e do vídeo, utilizamos
também o gênero cinematográfico, pois conforme afirma Almeida (2005, p. 41) “a televisão e
o vídeo são ótimos recursos para mobilizar os alunos em torno de problemáticas quando se
intenta despertar-lhes o interesse para iniciar estudos sobre determinados temas ou trazer
novas perspectivas para investigações em andamento.”
Com base na reflexão acima, buscamos por meio do filme nacional O caminho das
nuvens – dirigido por Vicente Amorim e estreado em 2003 – visualizar as penúrias do migrante
173
brasileiro, agregando dessa forma à aula, “novas perspectivas” acerca do preconceito e da
desvalorização desse grupo.
Porém, havíamos reservado três aulas para efetivar a prática pedagógica, assim,
cogitamos finalizar o filme na segunda aula, pois na última os alunos fariam uma atividade no
laboratório de informática. Contudo, não foi possível finalizar o longa-metragem como
previsto, nos sendo imposto ocupar parte da terceira aula.
Neste contexto, analisamos que houve pouco tempo para discutir o filme, mesmo
assim, os alunos não deixaram de expressar a suas impressões: “Mas também, o homem quer
um serviço de mil reais!”, “Coitada daquela mulher cheia de crianças na estrada”, “E eu
tenho preguiça de andar de bike até o mercado”.
Ao finalizar o momento teórico, avaliamos que por meio de diferentes esferas de
circulação da informação, aos discentes foi oportunizado vislumbrar os retratos midiáticos
acerca dos aspectos e costumes relacionados a diversidade cultural. Acerca dessa didática. A
ênfase de Rojo (2009, p. 115) é que, “cabe, portanto, também à escola potencializar o diálogo
multicultural, trazendo para dentro de seus muros não somente a cultura valorizada,
dominante, canônica, mas também a culturas locais e populares e a cultura de massa, para
torná-las vozes de um diálogo, objetos de estudo e de crítica.”
Nessa via, intencionamos incluir também na atividade escrita o texto multimodal. Para
tanto, propusemos que os alunos produzissem memes no laboratório de informática. Acerca
dessa prática, Maciel e Takaki (2016, p. 65) refletem que a mesma implica no rompimento da
educação comparada a uma árvore, isto é, “cujas extensas raízes estão presas ao solo firme,
ramificando-se em galhos como que representando a divisão entre as disciplinas escolares”.
Ancorados nos autores, não estabelecemos padrões nem sugerimos quais palavras
deveriam aparecer no texto, como comumente os professores LP aparentam trabalhar,
quando o assunto é produção textual. Assim, Maciel e Takaki (Idem) destacam que “o princípio
norteador dos memes é a transversalidade, ou seja, transitar pelo território do saber,
construindo sentidos, fazendo conexões no “inter ser”, sem controle preestabelecido”.
Contudo, uma das alunas falou: “Ah professora, vamos pra sala de aula mesmo”.
Quando questionamos o possível motivo a mesma respondeu: “Não gosto de mexer no
computador”. Julgamos, dessa forma, que os estudantes teriam algumas limitações quanto ao
uso do computador. Por isso, solicitamos que se assentassem em duplas.
174
Entretanto, os discentes ligaram os computadores e acessaram o site2 sem necessitar
do nosso auxílio. Assim, de dupla em dupla, instruímos acerca do funcionamento da página e
como deveriam proceder para criar os textos. Dada as condições necessárias, concedemos a
liberdade de criação conforme o desejo dos alunos, obtendo alguns dos resultados3 abaixo:
A partir da criação dos alunos, consideramos que os mesmos foram criativos,
utilizaram reflexões acerca das diferenças culturais e relacionadas ao filme. Também, é
relevante ressaltar que durante o processo, os discentes se ajudaram dando sugestões acerca
das figuras que dialogavam melhor com os textos e explicando os procedimentos de
construção aos que demonstravam ter um pouco mais de dificuldade. Desse modo, Rojo
explica que:
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver
(normalmente envolverá) o uso de novas tecnologias de
2 http://geradormemes.com/criar.
3 Essas imagens correspondem as atividades realizadas pelos alunos trabalhos realizados pelos alunos.
175
comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas
caracteriza-se em um trabalho que parte das culturas de referência
do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e
linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático [...] (ROJO, 2012, p.08).
Sob essa ótica, avaliamos que o trabalho na escola com os multiletramentos vai além
de uma aula divertida para os alunos. Colabora ainda para a formação da identidade de
sujeitos que atentos às expectativas de uma sociedade baseada no conhecimento e na
criatividade, se mostram conscientes e problematizam as ‘verdades’ incutidas nos texto.
176
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos teóricos que subsidiaram este trabalho consideramos que as
Tecnologias de Informação e Comunicação estão engendrando novas formas e novas práticas de
linguagem. Neste contexto, a pedagogia dos multiletramentos propõe que a escola amplie as suas
práticas e leve em conta, intramuros, extramuros os textos multissemióticos. Nesse sentido, a
referida teoria também solicita que os professores e demais colaboradores valorizem a
multiculturalidade presente na escola e, considere em suas aulas as mútiplas práticas de letramento
do alunado.
Entretanto, esse trabalho requer um olhar analítico, tanto dos professores como também
dos alunos, pois a intensa circulação de informações na Web e suas variadas fontes necessitam de
uma leitura que observe as condições de produção e questione a “verdade absoluta”, como também,
demanda que o leitor questione o seu posicionamento frente ao mesmo.
Neste contexto, no que tange à prática pedagógica na EJA, acreditamos que esses sujeitos,
no decorrer de sua história educacional, estiveram sempre à margem da sociedade, no entanto, as
contribuições, na década de 60, do pesquisador Paulo Freire nos levam a refletir que o ensino para os
jovens e adultos deve estar pautado em uma educação inclusiva, crítica e libertadora.
Nesse sentido, ressaltamos que o professor precisar ser um pesquisador e um constante
avaliador de suas práticas docentes. É importante mencionar que cogitamos a possibilidade dos
alunos não conseguirem desenvolver a atividade no laboratório de informática. Mas, com base nos
resultados obtidos, observamos que o prejulgamento estava equivocado e não que há limites para o
aprendizado.
Dessa forma, alcançamos os objetivos traçados, porém consideramos que, devido ao tempo,
pouco se discutiu acerca de um filme tão rico como consideramos ser O caminho das nuvens. Assim,
acreditamos que para a extensão do conteúdo que trabalhamos, seria preciso o total de quatro
aulas. Nessa via, deixamos a nossa sugestão para trabalhos com os multiletramentos aplicados ao
campo das novas linguagens em contexto da EJA.
REFERÊNCIAS
177
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Práticas e formação de professores na integração de mídias.
Prática pedagógica e formação de professores com projetos: articulação entre conhecimentos,
tecnologias e mídias. In: Tecnologia, currículo e projeto. 2015, Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/1sf.pdf >. Acesso em: 02 jan. 2016.
CASSANDRE, Marcio Pascoal; QUEROL, Marco Antônio Pereira. Metodologias intervencionistas:
contribuição teórico-metodológica Vigotskyanas para aprendizagem organizacional. RPCA. Rio de
Janeiro. v. 8. n. 1. jan./mar. 2014, p. 17-34.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
______. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
JANKS, Hilary. Panorama sobre letramento crítico. In: JESUS, Dánie Marcelo de; CARBONIERE,
Divanize (orgs). Práticas de Multiletramentos e Letramento Crítico: Outros Sentidos para a Sala de
Aula de Línguas. Campinas: Pontes Editores, 2016.
JORDÃO, Clarissa Menezes. No tabuleiro da professora tem...Letramento Crítico? In: JESUS, Dánie
Marcelo de; CARBONIERE, Divanize (orgs). Práticas de Multiletramentos e Letramento Crítico:
Outros Sentidos para a Sala de Aula de Línguas. Campinas: Pontes Editores, 2016.
MACIEL, Ruberval Franco; TAKAKI, Nara Hiroko (orgs). Novos letramentos pelos memes: muito além
do Ensino de Línguas. In: Olhares Sobre Tecnologias Digitais: Linguagens, Ensino, Formação e Prática
Docente. Campinas: Pontes Editores, 2015.
MORAN, José Manuel. et. al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2013.
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial,
2012.
178
ROJO, Roxane; BARBOSA, Jaqueline Peixoto. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros
discursivos. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
ROQUE-FARIA, Helenice Joviano. (Des) encontros na formação docente na/para a EJA: reflexões
sobre o curso de Letras, o PIBID e o Projeto Sala de Educador. Cáceres: UNEMAT, 2014.
EDUCAÇÃO: DESAFIOS E LIMITAÇOES DE IMIGRANTES E REFUGIADOS NO
ESPAÇO LOCAL
Vinícius Alves da Silva (UNICENTRO)
Resumo: O presente artigo visa contribuir para o debate na medida em que objetiva analisar os
desafios enfrentados por alunos refugiados nas escolas públicas da cidade de Florianópolis, Santa
Catarina. Contempla prioritariamente, entender como as escolas percebem o processo de inclusão de
etnias e de qual forma buscam a integração desses alunos garantindo o resguardo de sua identidade. A
análise teórica fundamenta-se predominantemente no campo da educação e contempla múltiplos
enfoques sobre as relações entre identidades globais. Num segundo momento, o artigo expressa os
desafios do processo educacional mediante os impactos gerados por este processo de fluxos e visa
observar qual dinâmica educacional está sendo utilizada mediante desafios do idioma, crenças e
hábitos culturais. No eixo final de análise executado através de pesquisa de campo, observou-se a
relação entre alunos refugiados com a comunidade escolar, verificando se a educação está adaptável a
realidade do aluno estrangeiro e a aceitação e assimilação do mesmo no processo de aprendizagem. Os
resultados apontam que a educação ainda precisa trilhar os caminhos da inclusão, pois deixa falhas,
não permitindo a consolidação de um processo educacional inclusivo com programas educacionais
específicos. Mostra-se muitas vezes limitada e exclusiva não permeando o sentido mais concreto da
educação do futuro.
Palavras-chave: Educação. Inclusão. Refugiados.
179
Abstract: This article aims to contribute to the debate in that it aims to analyze the challenges faced
by refugee students in public schools in the city of Florianópolis, Santa Catarina. Includes priority
understand how schools realize the process of inclusion of ethnic groups and which way seek the
integration of these students by ensuring the blade guard your identity. The theoretical analysis is
based predominantly in the field of education and includes multiple approaches on relations between
global identities. Secondly, the article expresses the challenges of the educational process by the
impacts generated by this process of flows and aims to observe what is being used by educational
dynamic challenges of language, beliefs and cultural habits. In the final analysis axis runs through
field research, the relationship between refugee students with the school community, by ensuring that
education is adapted to the reality of foreign student and the acceptance and assimilation of the same
in the process of learning. The results show that education still needs to tread the path of inclusion, let
failures, not allowing the consolidation of an inclusive educational process with specific educational
programs. Is often limited and non-exclusive permeating the concrete sense of the education of the
future.
Keywords: Education. Inclusion. Refugees.
INTRODUÇÃO
Com vistas à emergência dos recentes fluxos migratórios e chegada de refugiados no
Brasil, denota-se a existência de desafios que não se limitam somente em recebê-los, mas em
acolhê-los e integrá-los na sociedade. Bem como, traz a necessidade de uma contextualização
da temática do refúgio com a educação visando o alcance de uma educação inclusiva. A partir
disto, vem a preocupação acerca da inclusão e integração destes estrangeiros como alunos nas
redes de ensino brasileiras e a necessidade de uma maior observação do processo educacional,
bem como da atuação profissional para promover a integração social e evitar a exclusão.
Conforme relata Moura (2016), a tentativa brasileira em acolher refugiados é válida, porém
continua sendo falha a partir dos obstáculos e desafios enfrentados por pessoas em situação de
refúgio no Brasil, visto que o país tem desempenhado o papel de apenas acolher e não de
integrar e incluir este grupo na sociedade brasileira.
O estudo desta temática se justifica pela importância da discussão acerca de ações
inclusivas e iniciativas de integração, contribuindo para o aprimoramento de políticas
educacionais voltadas para a inclusão e integração do aluno refugiado no processo de ensino.
Sendo assim, o presente artigo objetiva analisar como se dá o processo de integração do aluno
estrangeiro no âmbito escolar, visando identificar, através da pesquisa de campo, as
estratégias para a integração criadas pelas escolas/professores a partir do contexto escolar.
Para o desenvolvimento deste estudo, foram escolhidas duas escolas da rede estadual de
ensino localizadas na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e os envolvidos foram
professores de alunos refugiados. As escolas foram identificadas com a nomenclatura Escola
1 e Escola 2, de forma a preservar as identidades dos envolvidos. O procedimento
180
metodológico se baseou em uma abordagem qualitativa, valendo-se da pesquisa de campo
através de entrevistas que tiveram como finalidade compreender a questão da integração de
culturas e da inclusão/integração do aluno refugiado no contexto educacional.
CARACTERIZANDO O REFÚGIO NAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS
Para dar início a essa discussão, faz-se necessário uma compreensão conceitual das
migrações, do que é um refugiado e o que o distingue do conceito de migrante, possibilitando
um melhor entendimento do processo migratório no qual estão inseridos os refugiados. Desta
forma, nas palavras de Gottardi (2015, p. 15), o termo migração caracteriza “o movimento ou
a realocação de pessoas de uma região para outra, ou seja, o deslocamento de indivíduos num
determinado espaço geográfico e que pode ocorrer de forma permanente ou temporária”. E
para Sayad (1998), migração é entendido como um deslocamento de pessoas no espaço, sendo
que este espaço não é visto somente como um espaço físico, mas também social, econômico,
político e cultural.
De acordo com a Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados
de 1951, em seu artigo 1º, o termo refugiado se aplicará a qualquer pessoa que:
[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se
da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora
do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a
ele.
A diferenciação conceitual entre os termos migrante e refugiado merece destaque,
visto que ambos se referem aos deslocamentos populacionais, mas pertencem a categorias
analíticas distintas. O termo migração se aplica aos movimentos realizados em busca de algo
não plenamente satisfeito em sua localização de origem, já o termo refugiado tem um conceito
predefinido sob uma concepção política, social e legal, como a pessoa que devido ao temor
fundado e claro, precisa sair de seu país pois este não é mais capaz de lhe assegurar proteção
(DIAS; SIQUEIRA, 2017).
Com efeito, migração deve ser compreendida como um processo voluntário e é
definida como o deslocamento de um país a outro em busca de melhores oportunidades. Já o
refúgio deve ser tratado como um processo de deslocamento em que não haverá a
possibilidade de retorno em segurança e sendo assim, impõe o direito à proteções específicas.
Para Almeida (2017), o migrante pode escolher, no anseio de melhores condições de vida,
181
deslocar-se para outro país ou migrar internamente em sua nação e o que o difere do refugiado
é a possibilidade que o migrante tem de retornar à sua residência em seu país de origem.
Portanto, pode-se auferir a partir deste breve apanhado conceitual que o refugiado é
definido como uma pessoa que teve de abandonar o seu país devido à situações de
perseguição, migrando para outros países em busca de segurança e com a sua chegada ao
Brasil se manifestam os desafios de acolhê-lo e integrá-lo na sociedade, fortalecendo a
integração local como solução duradoura, sendo necessário que se sintam parte do ambiente
geográfico e social usufruindo de direitos que evitem a sua exclusão.
OS DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO LOCAL DO REFUGIADO
Com o aprofundamento do tema dos refugiados e a importância do acesso aos direitos
sociais, culturais e econômicos, o Brasil vem reconhecendo a necessidade de inclusão dos
refugiados nas políticas públicas existentes, bem como, implementando políticas específicas,
ao amparo da Constituição, que garantem tratamento igualitário entre os brasileiros e os
migrantes residentes no país (PACIFICO; MENDONÇA, 2010). Nesse sentido, muitos
esforços devem ser empenhados para tornar efetiva a estrutura de acolhimento e integração
social dos refugiados, fortalecendo a importância das políticas públicas para aprimorar as
condições de vida dos refugiados aqui acolhidos. Os refugiados chegam ao país de destino
muitas vezes sem perspectiva de reestruturação de suas vidas. Assim, a formação de redes de
assistência passa a ser fundamental para acolher e integrar essa população.
O processo migratório que faz com que pessoas deixem seus países para começarem
uma nova vida em outro país traz muitos desafios e gera muitas vezes, expectativas frustrantes
por parte do migrante. Problemas como o idioma local, dificuldades de sua regularização no
país e intolerância religiosa por parte de quem os acolhe, geram o começo de um grande
problema caracterizado pela exclusão. Em sua análise, Araújo (2003, p.33) cita alguns
desafios que os refugiados trazem consigo:
[...] desafio de ser aceito; de alcançar a cidadania; manter suas crenças
religiosas; desafio linguístico, desafio de preservar seu patrimônio cultural,
ter acesso ao progresso educacional, de ganhar independência financeira, de
se sentir em segurança, de transitar livremente pelo país e deste para o
exterior.
Andrade (2011) traz a questão da adaptação cultural como forma de promover um
sentimento de pertencimento do refugiado e afastar preconceitos e discriminações:
182
A adaptação cultural adequada pode favorecer o sentimento de
pertencimento, afastando o sectarismo, a intolerância, e os xenofobismos que
atualmente têm desaguado em terrorismo, nacionalizando-se esse estrangeiro
nos casos em que a lei permita. A experiência transcultural também é algo
bastante enriquecedor para o país que engloba devidamente os refugiados em
políticas públicas de inclusão, posto que o imiscuir de culturas diversas
somente enriquece a própria cultura (ANDRADE, 2011, p. 136).
Nesse contexto, a integração local constitui um processo complexo que abrange
fatores socioeconômicos, culturais e políticos. É preciso proporcionar aos refugiados meios
que favoreçam a construção de relações sociais com os membros da comunidade local, bem
como oportunidades de emprego, moradia, aprendizado da língua, acesso à saúde e educação
(VIEIRA; MENEZES; SILVA, 2017).
Entre os direitos inerentes à pessoa humana, está também o de inserir-se na
comunidade política na qual julga poder dar melhores condições a si e à
própria família. Consequentemente, é um dever das autoridades públicas
acolher os novos membros que chegam e, quanto o permite o verdadeiro
bem da comunidade, favorecer a integração daqueles que, a ela, pretendem
incorporar-se (SANTIAGO, 2003, p.48).
Para que este processo tenha resultado positivo, é preciso que o refugiado seja
plenamente inserido e integrado na sociedade, sendo fundamental a construção de relações
sociais com membros da comunidade local. Andrade (2011) refere que um acolhimento do
refugiado baseado em direitos humanos deve ser pautado na não-discriminação, na igualdade,
na inclusão e na participação.
Sendo assim, a estruturação do acolhimento não pode omitir a questão da preservação
da identidade do refugiado, já tão imensamente prejudicada. Também deve haver uma política
de conscientização de quem acolhe, para que não veja o refugiado nem como um agressor
nem tampouco como um incapacitado em assumir funções importantes ou cargos com
exigência intelectual ou conhecimento técnico (BAUMAN, 2017). Nesta mesma linha crítica,
Pacífico e Mendonça (2010) referem a necessidade de fomentar uma educação para a acolhida
dos refugiados baseada em uma conscientização nacional e no conhecimento sobre a temática,
evitando receios e preconceitos e facilitando a proteção e integração dos refugiados na
sociedade brasileira.
Em sua análise, Araújo (2003) enfatiza que tornar-se refugiado representa uma grande
sensação de perda. Ao deixar seu país para procurar refúgio em outro, os refugiados são
frequentemente obrigados a abandonar bens e isso implica em uma degradação de seu nível
sócio econômico. Além das dimensões econômicas, o sentimento de perda de um refugiado
183
tem dimensões sociais, psicológicas e jurídicas, devido a separação de seu ambiente familiar e
das redes sociais ora estabelecidas. Para pontuar com maior profundidade a questão, o
referido autor ainda ressalta o drama duplo que o refugiado vivencia, o de se fazer entender e
o de buscar entender as pessoas. Se esta busca pelo entendimento fracassar, surgirão outros
obstáculos que servirão para conservar a sua insegurança e o seu sentimento de não
pertencimento.
Portanto, para que o acolhimento cumpra seus propósitos é preciso que tenha a
capacidade de devolver ao refugiado não apenas o acesso aos seus direitos básicos, mas
sobretudo, a sensação de que os mesmos ainda lhe pertencem, independentemente das
violações já por ele vivenciadas. Esse é sem dúvida um dos maiores desafios a serem
cumpridos pelo país, para que efetivamente possa acolher de maneira digna aqueles que aqui
procuram uma nova oportunidade de vida.
Apesar dos esforços, muitos são os desafios para conseguir integrar dignamente
pessoas com realidades culturais diferentes e, apesar de o Brasil ser reconhecido
mundialmente como um país acolhedor, muitos são os obstáculos passados por esses
indivíduos até que sejam legalmente formalizados e instituídos no território brasileiro. A ideia
não é somente abrigar, mas implementar condições para acolher, cabendo ao governo se
articular, desenvolver métodos para incluí-los na sociedade proporcionando as condições
básicas necessárias.
A INTEGRAÇÃO DO REFUGIADO NO CONTEXTO ESCOLAR E AS QUESTÕES
DE IDENTIDADE E CULTURA
Os processos migratórios trazem diversidade cultural, embora esta nem sempre seja
valorizada ou mesmo percebida pelas sociedades que recebem os estrangeiros. O “ser
estrangeiro” está permeado por preconceitos, indiferenças, o que acaba trazendo o isolamento,
também no ambiente escolar (ANDRÉ, 2016). Para Almeida (2017), quando se pensa ou se
pratica educação na sala de aula é necessário ter a sensibilidade de pensar uma educação para
todos. A escola deve ser antagônica às práticas sociais de exclusão, partindo para uma
educação baseada, além do sentido de aprendizagem de conteúdos, para aprendizagem no
sentido de convivência, respeito e aprendizagem de uma nova cultura através dos alunos
refugiados. Portanto, a escola deve ser um espaço de acolhimento, de solidariedade, de
garantia dos direitos e, em especial, do respeito às diferenças. O processo inclusivo deve ser
planejado na escola, buscando proporcionar um ambiente acolhedor para o aluno refugiado.
184
A análise desta interface do processo de inclusão considera que em função de um
contexto cultural, a possibilidade de troca de culturas dentro do ambiente escolar propicia um
ambiente que facilita ao aluno refugiado a sua integração e inclusão. Sendo assim, o espaço
escolar deve ser um ambiente socializador que incorpore as diferentes culturas e que todos
possam manifestar suas ideias sem que haja discriminação a partir das explicitações de suas
vivências por colegas brasileiros e professores.
Portanto, cabe à escola o papel trabalhoso e necessário de incluir para ensinar,
proporcionado pela troca de ensinamentos à respeito de cultura, língua e hábitos entre os
alunos brasileiros e os alunos refugiados. O processo de ensino e aprendizagem deve
acontecer de forma inclusiva apesar das dificuldades de comunicação e diferenças culturais
que intrincam a adaptação em uma nova realidade. Esse processo precisa acontecer de forma
com que o aluno possa aprender o idioma e se sentir incluído ao mesmo tempo (ALMEIDA,
2017).
Ao citar que as escolas precisam incluir para ensinar, entende-se que estas devam estar
abertas às questões de identidade e ao respeito à cultura e à língua e que devem se tratar de
ambientes educacionais inclusivos que se caracterizam por um ensino que não exclui e não
categoriza o estrangeiro como diferente. Este processo inclusivo se dá não só na sala de aula,
mas na escola como um todo:
Inclusão contempla, para efeitos de discussão e sugestões para as práticas
pedagógicas e de gestão escolares, o incentivo à participação de todo e
qualquer membro da escola que esteja em processo ou em risco de exclusão,
e no caso particular do educando, de participar também na construção do
próprio processo educacional (SANTOS; SOUZA; MELO, 2009, p. 14).
Muraro (2017, p. 96) caracteriza a educação tradicional como uma experiência
“deseducativa” porque diminui a capacidade de pensar e de fazer experiências devido a
exigência de memorização em função de interesses e experiências distantes dos alunos. Esta
prática não desenvolve as capacidades de enfrentamento dos problemas reais dos alunos e de
sua sociedade. A educação tradicional é reproduzida na condição de refugiado que limita a
possibilidade de crescimento das pessoas, de sua identidade cultural e da prática democrática.
Em consonância com as ideias do autor ora citado, pode-se descrever que o principal
problema da educação tradicional é que esta não desenvolve assuntos inerentes à troca de
cultura. A educação tradicional se preocupa com a reprodução de um modelo pronto sem
interferências por meio de discussões e trocas de experiências. Sendo assim, os alunos
refugiados enfrentam o obstáculo do conhecimento imposto e concluído, dificultando as
185
situações de convívio inclusivo, podendo assim gerar um espaço exclusivo, acarretando em
problemas de convívio e aprendizagem, gerando a exclusão dos alunos refugiados.
Cabe então ao professor, sendo este o mediador do processo pedagógico, fazer de suas
aulas um ambiente prazeroso tanto para os alunos estrangeiros quanto para os brasileiros. As
aulas devem ser planejadas levando em consideração as vivências culturais de todos os alunos
e mais especificamente, no que se refere ao aluno estrangeiro, buscando informações de seus
hábitos culturais e crenças e envolvendo sua cultura com os conteúdos obrigatórios do
currículo.
Desta forma, com a presença de refugiados no Brasil como alunos na rede de ensino,
pede-se uma maior observação da atuação profissional para promover a integração social e
evitar a exclusão. A tratativa dada à educação é indispensável levando em consideração a
continuidade dos estudos no novo país, assegurando o direito ao refugiado de estudar e se
integrar com o meio social em que é inserido.
Torna-se necessário que o ensino universal seja valorizado e que os professores se
conscientizem de sua responsabilidade social perante o ensino, preocupando-se em integrar o
aluno refugiado no processo e levando o mesmo a compreender o mundo em que vive. Paulo
Freire (1983) reforça que é preciso considerar uma sociedade que passa constantemente por
transição devendo dessa forma, contestar uma educação que não leva à discussão de ideias,
nem tampouco a produção de novos conhecimentos.
Nessa perspectiva, a temática da pluralidade cultural permeando os espaços escolares
onde estão inseridos os alunos refugiados pode ser marcada por conflitos. A análise e reflexão
acerca das posturas adotadas pelos professores e alunos, das práticas em sala de aula e das
estratégias criadas e utilizadas para trabalhar com as diferenças de forma a não excluir,
poderão fomentar atitudes que ensejem tolerância, acolhimento, respeito e valorização das
diferenças.
Assim, através da ênfase nas diferenças, busca-se compreender o processo de inclusão
e integração do aluno refugiado no contexto escolar tendo como propósito o alcance de uma
educação proposta por Paulo Freire (1983) que considere o universo cultural no qual o aluno
está inserido. O mesmo autor faz uma crítica à educação e às práticas escolares que carregam
uma concepção excludente induzindo os alunos à simples repetição de conhecimentos, não
proporcionando, nem tampouco possibilitando a discussão de problemas emergentes do
cotidiano.
186
Nessa mesma ótica, Hall (2003) refere que não é suficiente aceitar as formas
tradicionais que indicam uma cultura única e completamente homogênea, mas trabalhar a
relação dialógica das diferenças e das possíveis igualdades entre a diversidade e a pluralidade
cultural. O indivíduo permanecerá como único mesmo com uma identidade cultural com
bases amplas e diversificadas. Para Hall (2003, p. 44) “estamos sempre em processo de
formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar”.
Pressupõe-se assim, que a cultura passa por processos de redescobertas ao longo das
interações sociais e a identidade, sendo alicerçada pela relação com o outro, acaba por ter
vertentes exploradas tardiamente conforme novos aspectos culturais vão sendo apresentados.
Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm
solidez de uma rocha. Não são garantidas para toda a vida, são bastante
negociáveis e revogáveis. E de que as decisões que o próprio indivíduo
toma, o caminho que percorre, a maneira como age – a determinação de se
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o pertencimento
quanto para a identidade (BAUMAN, 2005, p. 17-18, grifos do autor).
Uma vez que o indivíduo é exposto à diferentes tipos de práticas sociais, habitua-se à
pluralidade de culturas e obtém novas informações para estruturar sua identidade. Quando
apresentado à algo novo é capaz de enxergar o diferente de forma favorável, podendo utilizá-
lo para fundamentar ainda mais as questões que cercam sua identidade, assim como repensá-
las de forma a se reorganizar no coletivo. A essência da identidade permanece, mas é tolerante
a variações. Para Hall (2003, p. 47) "As identidades, concebidas como estabelecidas e
estáveis, estão naufragando nos rochedos de uma diferenciação que prolifera”.
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem
em uma das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos,
algumas vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou
jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso estamos falando de forma metafórica.
Essas identidades não estão literalmente impressas em nossos genes.
Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa
natureza essencial (HALL, 1992, p. 47).
A possibilidade de troca de culturas dentro do ambiente escolar propicia um ambiente
menos hostil e opressor ao aluno refugiado facilitando sua integração e inclusão. Sendo assim,
torna-se necessário que o ensino universal seja valorizado e que os educadores se
conscientizem de sua responsabilidade social perante o ensino, preocupando-se em integrar o
aluno refugiado no processo e levando o mesmo a compreender o mundo que o cerca.
187
AS INICIATIVAS E DINÂMICAS INSTITUCIONAIS ACERCA DA INTEGRAÇÃO
NO CONTEXTO ESCOLAR
Foram analisadas inciativas institucionais em busca da integração de alunos
estrangeiros em duas escolas da rede estadual de ensino que atendem, entre outras
nacionalidades, alunos refugiados sírios. Um dos projetos analisados foi o projeto Semente
desenvolvido pela Escola Estadual 1, em Florianópolis e o projeto Integra Ação, desenvolvido
na Escola Estadual 2, na mesma cidade. Esses dois projetos compõe o quadro de análise de
experiências e estratégias de práticas pedagógicas acerca das relações entre as diferenças
culturais e linguísticas com a adaptação escolar.
Os projetos foram planejados a partir do crescimento do número de matrículas de
alunos de outras nacionalidades e da inexistência de medidas que trouxessem soluções para a
problemática da falta de inclusão escolar e dificuldades de adaptação. Considerando as
iniciativas dos professores das escolas pesquisadas, percebeu-se a preocupação com a
acolhida destes alunos estrangeiros, principalmente acerca da inserção linguística, o que
motivou o desenvolvimento destes projetos, auxiliando no processo de inclusão e adaptação.
O projeto Semente iniciado em 2016 adotou referências formativas no processo de
integração dos alunos estrangeiros através da troca de experiências linguístico-culturais entre
esses alunos com a comunidade escolar, utilizando abordagens com o objetivo de alcançar a
integração e a inclusão. Conforme relatado por uma das professoras do projeto Semente, este
surgiu da demanda de inserção linguística e cultural de alunos sírios matriculados na escola
frente à inexistência de procedimentos estabelecidos pelos órgãos de educação estadual para a
demanda específica e considera a importância do estabelecimento de vínculos de respeito,
confiança e amizade a partir do interesse em compreender a cultura e o estabelecimento de
diálogos com bom nível de compreensão, bem como o desenvolvimento do sentido do
respeito e da tolerância dos alunos brasileiros com o estrangeiro.
Percebe-se que o elemento estruturante do projeto enfatiza a questão linguística em
detrimento das questões culturais, mas isto não pode ser considerado negativo, visto que as
dificuldades em entender o idioma e de ser entendido se configuram como a principal barreira
para a integração e inclusão do aluno estrangeiro. A partir da transposição da barreira
linguística, o processo de adaptação acontece simultaneamente com a troca de experiências
culturais, trazendo o sentimento de pertencimento. Como bem dito por Araújo (2003), que
ressalta o drama duplo vivenciado pelo refugiado, o de se fazer entender e o de buscar
188
entender as pessoas. Se esta busca pelo entendimento fracassar, surgirão outros obstáculos
que servirão para conservar a sua insegurança e o seu sentimento de não pertencimento.
A barreira linguística é um dos desafios principais enfrentados por
imigrantes no que se refere à adaptação a uma sociedade de acolhimento. Ao
nos referirmos à língua [...] aludimos ao construto língua-cultura, entendido
como um processo que envolve não só o conhecimento linguístico estrutural
de uma língua, mas também suas variantes sociais e os elementos culturais
intrínsecos ao pensamento humano, transformados pela língua e transmitidos
por meio dela (BARBOSA; SÃO BERNARDO, 2017, p. 60).
Já o projeto Integra Ação da escola 2 tem por objetivo “integrar os alunos estrangeiros
[...], por meio de trocas de experiências e estudos de noções sobre vocabulário, gramática e
literatura da Língua Portuguesa”, oportunizando aos alunos vivenciar elementos da cultura de
maneira a valorizar a sua identidade. A sua metodologia está alicerçada na realização de
encontros presenciais, desenvolvimento de atividades sobre noções do vocabulário, gramática
e literatura da Língua Portuguesa, promoção de estudos dirigidos para a realização de
atividades avaliativas e dicas para preparação de trabalhos para a sala de aula, bem como
palestras e outros eventos.
A valorização da cultura é defendida como base do projeto, visando ao
desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas ao conhecimento dos elementos culturais
dos alunos, auxiliando no desenvolvimento dessas iniciativas e estratégias educativas.
Valorizar o conhecimento sobre a cultura brasileira e síria significa, portanto, uma tomada de
consciência sobre a existência de outros referenciais que constituem os saberes e valores
sociais e culturais da sociedade.
Percebe-se que este projeto revela aspectos importantes sobre o desenvolvimento de
práticas pedagógicas das relações culturais na escola, porém, contrapondo-se ao diálogo do
professor, o projeto Integra Ação em sua versão documentada traz a seguinte afirmação: “[...]
Um dos braços da iniciativa é o oferecimento de aulas com noções do ensino do português e
trocas de experiências sobre aspectos da cultura brasileira para os estudantes estrangeiros.”
Isto chama a atenção para um ponto paradoxal ao citar a troca de experiências a partir da
cultura brasileira para os alunos estrangeiros, não trazendo à reflexão, as vivências da cultura
estrangeira, deixando implícito o fato de que deve ocorrer uma adaptação deles à cultura
brasileira. Não obstante, Cardozo (2012, p. 26) defende que:
Considera-se que ao deslocar-se, o sujeito migrante deixa para trás sua
origem – nasce neste momento o emigrante. Mas este mesmo sujeito leva
consigo sua bagagem cultural, e ao desembarcar no país anfitrião, passa a ser
189
um estrangeiro, um imigrante. Assim, deve adaptar sua bagagem cultural à
do país que o recebe [...].
O processo de adaptação do estrangeiro e de reconstrução da identidade pode ser
influenciado pela cultura que o cerca e acontece simultaneamente com a troca entre os
envolvidos no processo de integração. De acordo com Hall (1992), a identidade é formada a
partir da interação entre o eu e a sociedade e a essência interior permanece, que é o eu real,
mas é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores.
Com efeito, percebeu-se a partir da análise dos dois projetos escolares, que as
estratégias pedagógicas desenvolvidas conseguiram atingir resultados relevantes na vida
cultural, bem como social dos alunos estrangeiros. Ademais, as aulas de português
disponibilizadas a estes alunos possibilitou a superação da barreira linguística que se constitui
como uma barreira para a adaptação e integração do estrangeiro no Brasil. A abordagem da
diversidade linguística e cultural se vincula a uma perspectiva complexa que segue em direção
à criação e recriação das práticas pedagógicas que se dão com base na relação educativa
instituída entre os alunos no processo de aprendizagem.
Conforme cita André (2016), em se tratando de integração não existe um modelo a
seguir, a adaptação pode ser considerada uma atitude individual, na qual a construção do
caminho para esta integração será realizada a partir das necessidades e oportunidades. Assim,
“a adaptação pode ser considerada uma atitude pessoal de adequar-se, amoldar-se ou
acostumar-se com algo”.
Para Santos, Bahia e Gomes (2016, p. 07):
Os imigrantes não deixam de ser o que eram antes de imigrar. A língua, a
maneira de ver o mundo, os hábitos e outras coisas adquiridas na infância e
na juventude continuam com os imigrados e não se perdem no processo de
migração. Contudo, mudanças, e muitas vezes mudanças fundamentais,
ocorrem (pois os recém chegados têm que aprender uma nova língua,
conviver num novo mundo e com pessoas que pensam de forma diferente),
mas a transformação nunca é absoluta e total.
Foi possível compreender que este processo de integração em meio as novas
representações culturais não desconstrói aspectos culturais construídos anteriormente, mas
denotam que a associação à estas representações agregam e se fazem necessárias para
favorecer o sentimento de pertencimento e identificação ao novo ambiente.
A abordagem da diversidade cultural na escola se realiza a partir do encontro de
valores culturais e do entendimento dessa diversidade cultural como princípio educativo,
instigando a aprendizagem de valores sociais e culturais do outro para além da busca pela
190
inclusão de novos conteúdos na realização das práticas pedagógicas na educação escolar,
assim como desafiando a repensar as relações sociais, econômicas, políticas, pedagógicas e
culturais na sociedade de maneira sensível, investigativa e responsável (SILVA, 2011).
[...] pode-se afirmar que, quando imigrantes e/ou seus filhos passam a
frequentar a escola, frequentemente entram em choque com os valores,
comportamentos e informações que lhes são apresentados. A escola,
homogeneizadora por princípio e definição, tem dificuldade para lidar com
as diferenças (SANTOS; BAHIA; GOMES, 2016, p. 9.).
Percebe-se que a pluralidade cultural estando presente no contexto social escolar é de
suma importância, propiciando aos alunos estrangeiros e aos não estrangeiros a possibilidade
de um contato ativo com a diversidade a partir do contato com o outro e com o meio,
favorecendo o enriquecimento cultural, a construção da identidade e do conhecimento através
de múltiplos enfoques.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta breve análise e reflexão, percebe-se que uma postura educacional
voltada para a inclusão dos alunos refugiados será o principal mecanismo para desencadear as
almejadas mudanças no processo educacional vigente. Mediante tais mudanças será possível
uma maior reflexão sobre quais saberes estão sendo incorporados e como estes irão interferir
na construção de um novo saber pedagógico, voltado para a inclusão de valores sociais,
morais e religiosos partindo da escola e por consequência, o meio social trazendo a inclusão
de diferentes etnias. Uma sociedade inclusiva se fundamenta no respeito a diversidade.
Partindo desse pressuposto e tendo como alicerce leis que regulamentam os direitos humanos,
sinaliza-se a necessidade de garantir o acesso e participação de todos, indiferentemente de
suas raízes culturais.
A partir do estudo ora relatado, percebeu-se que as instituições pesquisadas estão, de
forma positiva, desenvolvendo projetos para favorecer a integração do aluno estrangeiro,
porém, percebem-se falhas quando se trata dos objetivos desses projetos, que voltam as
estratégias para a transposição da barreira linguística em detrimento do ensino da pluralidade
cultural para a integração do aluno e valorização de sua cultura. Há que se ressaltar que as
dificuldades em entender o idioma e em ser entendido se configuram como a principal
barreira para a integração e inclusão do aluno estrangeiro no contexto escolar e que a partir da
transposição desta barreira linguística, o processo de adaptação acontece simultaneamente
com a troca de experiências culturais, trazendo o sentimento de pertencimento.
191
Estas estratégias individuais escolares se tornam pertinentes mediante as poucas
iniciativas governamentais que auxiliam no processo escolar e que visem a inclusão e
integração de alunos estrangeiros nas escolas. Percebeu-se que os projetos analisados buscam
medidas inclusivas visando o alcance de um espaço escolar com igualdades de oportunidades
para todos. Trabalhar a pluralidade cultural promove a valorização das diferenças culturais, o
reconhecimento e o respeito pela cultura do outro e quanto mais o ambiente escolar
proporcionar atividades e projetos que favoreçam o conhecimento e o respeito às diferenças
culturais, mais enriquecedor e positivo serão os processos de aprendizagem e de integração
social. Além disso, faz-se necessário uma educação que traga a conscientização e o
conhecimento dos brasileiros acerca da temática a fim de evitar preconceitos e favorecer a
acolhida e adaptação dos refugiados nas escolas e na sociedade brasileira.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. S. N. de. Educação para Refugiados Congoleses em Duque De Caxias/RJ:
a (in) devida inclusão de Crianças e Adolescentes. Trabalho de conclusão de curso.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. 53 f. Disponível em:
<http://pantheon.ufrj.br/handle/11422/2255> Acesso em: 20 Out. 2017.
ANDRADE, G. B. de. A guerra civil síria e a condição dos refugiados: um antigo
problema, “reinventado” pela crueldade de um conflito marcado pela inação da comunidade
internacional. Revista de Estudos Internacionais, Vol. 2, 121- 138. UEPB, 2011. Disponível
em:
<http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei/article/view/69>Acesso
em: 05 Ago. 2017.
ANDRÉ. B. P. A diversidade dos alunos estrangeiros e seu processo de adaptação em
escolas brasileira. In: Um olhar sobre as diferenças: a interface entre projetos educativos e
migratórios. Organizadoras: Joana Bahia e Miriam Santos. São Leopoldo: Oikos, 2016.
ARAÚJO, W. Refugiados: realidades e perspectivas/organizado por Rosita Milesi. Brasília:
CSEM/IMDH; Edições Loyola, 2003.
BARBOSA, L.; SÃO BERNARDO, M. A importância da Língua na integração dos/as
Haitianos/as no Brasil. Revista Periplos, Volume 01, Número 01, p. 58-67. Disponível em:
<http://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/issue/view/1787/showToc Acesso em:
06 Maio 2018.
BAUMAN, Z. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.
______ . Identidade: Entrevista a Benedetto Vechi. Tradução de Carlos Alberto Medeiros.
Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
192
CARDOZO, P. F. O Líbano Ausente e o Líbano Presente: espaço de identidades de
imigrantes libaneses em Foz do Iguaçu. Tese de Doutorado, Universidade Federal Do Paraná.
Curitiba, 2012. Disponível em: <https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2017/07/tese-
poliana-fabiula-cardozo.pdf> Acesso em: 20 Set. 2017.
CONVENÇÃO DE 1951. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951).
Disponível em:
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/refugiados.htm>A
cesso em: 05 Ago. 2017.
DIAS, D. SIQUEIRA, R. S. da P. de. Extensão, educação e deslocamentos populacionais
contemporâneos: experiências do projeto SER+ na ambientação em língua portuguesa para
migrantes e refugiados radicados na região de Taguatinga e adjacências. Revista Diálogos.
v.21, n.1. Brasília, 2017. Disponível
em:<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/view/8000> Acesso em: 18 Set. 2017.
FREIRE, P. Educação e mudança. 9 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
GOTTARDI, A. P. P. De Porto a Porto: o Eldorado Brasileiro na percepção dos imigrantes
haitianos em Porto Velho-RO. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015. 116 f. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/10923/7229>. Acesso em: 20/10/2017.
HALL, S. A Identidade Cultural na Pós Modernidade. São Paulo: DP&A
editora. 1992.
______ . Da diáspora: identidades e mediações culturais. São Paulo: UFMG, Ed 2°. 2003.
MOURA, C. S. B. Crise humanitária de refugiados: obstáculos e desafios existentes no
Brasil. Faculdade ASCES, Curso de Relações Internacionais. Pernambuco: 2016. Disponível
em: <http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/188> Acesso em: 22 Set. 2017.
MURARO, D. N. Os refugiados sob o olhar da filosofia e da educação. Revista Conjectura:
Filos. Educ., Caxias do Sul, v. 22, n. 1, p. 82-98, jan./abr. 2017. Disponível em:
<www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/4590 Acesso em: 18 out. 2017.
PACÍFICO, A. M. C. P.; MENDONÇA, R. de L. A proteção sociojurídica dos refugiados
no Brasil. Revista Textos & Contextos. Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 170 - 181, jan./jun. 2010.
Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/27242740.pdf>Acesso em: 22 Set. 2017.
SANTIAGO, J. R. de. Refugiados: realidades e perspectivas/organizado por Rosita Milesi.
Brasília: CSEM/IMDH; Edições Loyola, 2003.
SANTOS, M. de O.; BAHIA, J.; GOMES, C. Aspectos socioeducativos dos processos
migratórios. In: Um olhar sobre as diferenças: a interface entre projetos educativos e
migratórios. Organizadoras: Joana Bahia e Miriam Santos. São Leopoldo: Oikos, 2016.
SANTOS, M. P. dos; SOUZA, M. P. de; MELO, S. C. de. Inclusão em Educação: diferentes
interfaces. Curitiba: Editora CRV, 2009.
193
SAYAD, A. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998.
SILVA, N. N. da. A diversidade cultural como princípio educativo. Belo horizonte, 2011.
Revista Paideia. Disponível em:
<http://www.fumec.br/revistas/paideia/article/view/1307> Acesso em: 15/10/2017.
VIEIRA, M. T. B. P.; MENEZES, F. L. de; SILVA, B. H. A força da educação na
integração de refugiados no Brasil: crianças russas na cidade de Santos (1958-1968).
Universidade Católica de Santos. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 17, n. 51, p. 41-59,
jan./mar. 2017. Disponível em:
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/2788 Acesso em:
05/08/2017.
FORMAR PARA TRANSFORMAR: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
O PAPEL DA FORMAÇÃO CONTÍNUA NO CONTEXTO DE CENTROS DE
LÍNGUAS
Camila Mara Andrade Silva (UnB)
Resumo: O mundo globalizado nos trouxe inúmeras facilidades e também desafios. Abriu espaços
para a educação (KUBOTA, 2002) e principalmente para o ensino/aprendizagem de língua estrangeira
(LE), como pontua Alvarez (2010). Contudo, novos desafios também surgiram. O paradigma da
educação inclusiva tornou-se efetivamente parte do contexto escolar e isso foi um ganho para a
sociedade, pois os alunos com deficiência têm o direito a uma educação igualitária que visa dar a eles
mais participação/acessibilidade e menos preconceito/desigualdade. Entretanto, há muito a ser feito
para que essa educação inclusiva Almeida (2014) existente em documentos e políticas educacionais,
como é o caso da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(PNEE-EI) realmente aconteça no cotidiano dos alunos e professores. Assim, o presente estudo, se
trata de um pré-projeto de doutorado e tem como objetivo principal investigar os desafios enfrentados
pelos Centros Interescolares de Línguas (CILs) do Distrito Federal (DF) na perspectiva da promoção
da educação inclusiva – que é de direito do aluno com deficiência Morejón (2009), e da formação
contínua que interfaceia a rotina do professor Veiga (2010), para que esse possa oferecer ao seu aluno
o ensino na LE com excelência, gerando resultados significativos para referida comunidade escolar e a
sociedade como um todo. Esta será uma pesquisa qualitativa Chizotti (2006) de cunho etnográfico
Watson-Gegeo (1997). Como técnicas de geração de dados serão utilizados questionários; entrevistas;
gravações e observações com diários de notas de campo. Teremos participantes desse estudo os
professores dos referidos CILs do Distrito Federal.
Palavras-chave: Formação contínua. Educação Inclusiva. Ensino de língua estrangeira.
Abstract: The globalized world has brought us lots of facilities as well as challenges. It also opened
opportunities to the education Kubota (2002) and mainly to the teaching/learning of a foreign language
(FL), as it is pointed out by Alvarez (2010). However, new challenges have also come along. The
paradigm of the inclusive education has also become part of the educational context, which was a
great issue to the society, for students with any disability have the right to an egalitarian education that
has as its characteristics giving them more participation/accessibility and less prejudice/inequality. On
the other hand, a lot must be done in order to really have this inclusive education Almeida (2014) that
already exists in the documents and educational policies, as we have in the National Policy of Special
194
Education in the Perspective of the Inclusive Education (NPSEP-IE) really happens in the daily basis
of students and teachers. Thus, the present study, is about a doctors pre-project and has as its main aim
find out the challenges that the Language Centers from Federal Disctrict face, in the perspective of
fostering the inclusive education – which is a right for the disabled students Morejón (2009), and also
the continuous training that surrounds the teacher‟s routine Veiga (2010), this way he will be able to
teach the student effectively, resulting in great results to the educational society. This is a qualitative
research Chizotti (2006) with an ethnographic approach Watson-Gegeo (1997). To get the data, we are
going to use questionnaires; interviews; recordings and observations with diaries and field notes. The
participants will be the teachers from the Language Centers.
Keywords: Continuous Training. Inclusive Education. Foreign Language Teaching.
INTRODUÇÃO
O mundo globalizado nos trouxe inúmeras possibilidades e vantagens nos mais
diversos âmbitos: na ciência, na tecnologia e principalmente na educação. Deu-nos
oportunidades e facilidades, por exemplo, diminuiu distâncias outrora existentes (como é o
caso da comunicação que se tornou muito mais dinâmica), quebrou barreiras/fronteiras
aproximando o contato das pessoas com outras culturas e línguas e, como nos assevera
Kubota (2002) também abriu portas para as educação formal, dando a esta o acesso necessário
para poder chegar com mais facilidade àqueles que pelos mais diversos motivos não a tinham.
Dentro desse pressuposto, podemos elucidar o ensino de língua estrangeira (doravante LE)
ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) em seus Centros
Interescolares de Línguas (CILs) semeados por todo o DF, os quais atendem tanto aos alunos
da rede pública quanto a comunidade de suas regiões administrativas, com excelência no
ensino/aprendizagem das diversas línguas estrangeiras modernas (LEMs)4.
Ante ao que fora dito acerca da globalização, das distâncias terem ficado menores, da
comunicação mais dinâmica, da informação chegar a todos, da tecnologia ser uma constante
em nosso cotidiano Buzato (2001), para citar alguns exemplos, aprender uma língua
estrangeira se faz algo de suma necessidade e importância para que o cidadão da
contemporaneidade possa se comunicar com mais propriedade, entendendo e se fazendo
entender. Segundo Gimenez (2005), na sociedade hodierna, a língua estrangeira pode dar ou
negar possibilidades àqueles que a desconhecem. Destarte, podemos dizer que esse novo
4 Atualmente há quinze CILs distribuídos pelo DF, os quais oferecem as línguas estrangeiras a saber: inglês,
espanhol, francês, japonês e alemão, sendo que em alguns apenas os três primeiros idiomas elencados. Desde o
primeiro semestre de 2016 a comunidade pôde concorrer às vagas remanescentes nos referidos CILs.
Normalmente, a distribuição das vacâncias se dá por meio de sorteio ou por ordem de chegada, cabendo aos
gestores a observância das portarias vigentes.
195
mundo é um lugar onde muitas exigências sobre a formação do professor são requisitadas.
Com efeito, de modo que esse não venha a perder possibilidades devido à falta de preparo, é
que surge a necessidade da busca pelo conhecimento, pela reflexão e pela (trans)formação
contínua.
Dessa maneira, para atender a esse público advindo desse novo século repleto de
novas descobertas e de tamanha dinamicidade é que se vê a necessidade do professor de
línguas estar em constante formação para que possa atender aos alunos e suas demandas
propriamente, pois como nos pontua Alvarez (2010) as transformações são constantes, pois o
conhecimento é renovado a cada momento. Com isso, a sociedade passa a exigir do
profissional de línguas novas capacidades, novas habilidades e acima disso, que ele busque
atualização em sua área permanentemente, visando a excelência no ensino de LE.
No que tange os CILs e, principalmente os professores que compõem seus quadros,
podemos ressaltar que com a democratização do acesso da educação a todos, em especial ao
que cerne a educação inclusiva, novos desafios também surgiram. Para Garcia (2013), pensar
no atendimento aos alunos especiais nessas instituições é por si um grande desafio, pois os
professores acabam se vendo numa situação em que, uma vez tendo esse aluno que necessita
de atendimento educacional especializado matriculado, cabe a ele fazer com que esse acesso
que lhe fora dado seja mantido, e que lá ele possa desfrutar do doce sabor de se aprender uma
língua. Entretanto, é nesse ínterim que um duelo é travado, pois, por mais que o professor
queira que o aluno aprenda e se beneficie de sua aula buscando a perspectiva inclusiva, por
sua vez, este não possui as ferramentas adequadas, sendo elas: a formação necessária para
atendê-lo, os materiais apropriados e a estrutura propícia, para citar algumas.
A educação inclusiva nos remete refletir sobre as questões atinentes ao acesso e a
qualidade na educação, num currículo que seja abrangente, na organização dos espaços
educacionais para bem receber esses alunos com deficiência5, atendendo às suas
especificidades fazendo com que eles se sintam pertencentes àquele meio em que se
encontram, pois uma vez tendo essa acessibilidade, as barreiras que os impediriam ou
dificultariam esse acesso, ou ainda trariam demandas ao processo de ensino/aprendizagem
não mais existirão. De fato, há documentos que norteiam esses direitos, como por exemplo, o
de Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-
5 Adotaremos aqui o termo “deficiência/pessoa com deficiência” por se tratar do termo utilizado atualmente
pelos pesquisadores e estudiosos da área de Educação Inclusiva. Não obstante, segundo Morejón (2009), tal
termo se refere a pessoas com Necessidades Educativas Permanentes, as quais requerem adaptações
generalizadas no currículo, que deve adequar-se às características do aluno.
196
EI/08), que é considerado um marco para a educação, ao dizer que em todas as etapas e
modalidades da educação básica deve ser ofertado o atendimento educacional especializado,
de modo a complementar ou suplementar a formação dos alunos (BRASIL, 2008).
Entretanto, o que acontece no cotidiano de uma escola não é bem isso. Infelizmente, a
maior parcela dos professores de LE – como dito a priori, não possui em sua formação, seja
ela inicial ou contínua, as competências para trabalharem com o paradigma da educação
inclusiva e fazerem dela realmente inclusiva, com vistas a beneficiar esse aluno que vem
motivado para aprender essa nova língua e que, por falta de um olhar mais reflexivo e de
conhecimento prévio sobre suas necessidades, acaba perdendo seu interesse inicial e
abandonando o curso que almejara concluir, pelas mais diversas razões.
Ante o exposto, é notório que todos perdem: o estado que não terá cidadãos críticos e
capacitados na LE, o professor que sentirá despreparado por não ter o conhecimento prévio
necessário, o arcabouço para manter esse aluno na escola e fazer com que ele obtivesse bons
resultados. Por fim, o próprio aluno que se sentirá incapaz por não ter conseguido aprender
outra língua, e que provavelmente se sentirá inferiorizado por ser refém de um sistema que
não lhe oferece o que é preconizado pelos documentos e políticas que norteiam a educação
inclusiva, como temos no PNEE-EI (2011) quando ao ressaltar que as escolas deveriam
buscar formas de educar os alunos com deficiência de maneira a buscar os melhores
resultados, incluindo aqueles estudantes que possuam desvantagens severas, afinal há um
consenso emergente de que toda criança e/ou jovem com deficiência deve ser incluída em
arranjos educacionais. Assim, ao não obter os resultados esperados, a motivação inicial que
ele trouxe consigo se transformará em frustração por não ter avançado na LE que pretendia
aprender.
No centro de todo esse movimento é que nos deparamos com o desafio da educação
inclusiva nos Centros de Línguas do Distrito Federal, os quais recebem os alunos da rede
pública de ensino, assim como pessoas da comunidade, como dito anteriormente, os quais
precisam de: atendimento educacional especializado, como nos assevera Brasil (2011) para
complementar ou suplementar a educação inclusiva, de salas de recursos para a promoção das
condições efetivas de acesso, participação e aprendizagem dos alunos e, por conseguinte, de
professores em constante formação, fomentando assim o conhecimento e a valorização desses
profissionais de forma a garantir a eles as condições de trabalho, estudo e principalmente de
aulas bem preparadas para a obtenção de êxito na educação inclusiva.
197
Sendo assim, a problemática para a presente pesquisa está nas lacunas existentes entre
o que nos dizem os documentos que norteiam a educação inclusiva na rede pública de ensino
– no âmbito de um Centro Interescolar de Línguas (CIL) do DF e o que de fato temos na
prática, ou seja, como aponta a LDB 5692/71ª ao dizer que a escola regular deve receber os
alunos com deficiência e fazer dessa educação inclusiva e sem restrições. Entretanto, o
sistema não oferece ao professor os princípios, meios, a formação e as ferramentas adequadas
para que este, por sua vez, desenvolva esse trabalho como deveria, de maneira inclusiva.
Destarte, como dito anteriormente, o aluno possui o acesso, mas se perde na acessibilidade e,
por conseguinte toda a comunidade escolar e a sociedade acabam perdendo também.
Diante do panorama aqui descrito, e por trabalhar em um CIL como professora de
língua inglesa, foi que me despertou o desejo em desenvolver essa pesquisa. Nos últimos
semestres, temos recebido muitos alunos com as mais diversas deficiências e, por mais que
tentemos fazer adaptações curriculares através de pesquisas e leituras que buscamos por conta
própria, o que mais vemos ao término de cada semestre letivo6 é o número elevado de alunos
que acabam não obtendo êxito e sendo reprovados, e esses números lamentavelmente são
muito significativos. Aqui também devemos mencionar que a evasão dos alunos com
deficiência também é muito relevante, pois uma vez que ele não aprenda ou não tenha o
atendimento especializado e as condições necessárias para sua aprendizagem, acaba
abandonando o curso. Dessa forma, a reprovação e a evasão além de trazerem dados e
números negativos para a escola também trazem grande frustração aos profissionais de LE
que se desmotivam por não terem recebido a formação adequada para oferecerem a seus
alunos excelência na educação inclusiva.
Sendo assim, acreditamos que seja de suma importância levantar esses dados de
maneira formal, ou seja, numa pesquisa expressiva como é uma tese de doutorado e levar
tanto à Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) órgão responsável
por oferecer formação contínua aos professores da SEEDF apresentando as potencialidades do
oferecimento de cursos acerca da educação inclusiva numa sala de aula de LE, aos professores
dos quinze CILs presentes no DF com vistas a fomentar a necessidade da formação contínua
para alcançarmos a educação inclusiva que nossos alunos merecem, as equipes gestoras e
coordenadores para que motivem e dêem suporte a seus professores a usarem do tempo
disponível da coordenação pedagógica para também se formarem com seus colegas de
trabalho dentro do seu locus, fazendo disso uma mola propulsora para a transformação social,
6 Nos CILs, por se tratarem de cursos de idiomas, trabalhamos com calendário escolar de regime semestral.
Calendário esse que é desenvolvido pela SEEDF e enviado às escolas no início do ano letivo.
198
como nos aponta Silva (2011) e por fim, mostrar aos professores que desacreditam na
educação inclusiva que é realmente possível termos esse tão sonhado ensino interfaceado pela
inclusão com qualidade e acima de tudo, com excelentes resultados.
Com base no que fora exposto, podemos apontar os objetivos específicos desse estudo
como segue: analisar as principais dificuldades que os professores de LE do CIL têm para
trabalhar com os alunos deficientes e com a educação inclusiva; verificar as lacunas na
formação desses professores no que tange a inclusão no sistema de ensino/aprendizagem da
LE; compreender através das entrevistas e questionários as angústias e anseios desses
professores que trabalham com alunos deficientes; refletir sobre possíveis mudanças no
espaço da coordenação pedagógica para o aprimoramento desses profissionais no que cerne a
inclusão; identificar os desafios enfrentados pelos professores para trabalhar com esses alunos
sem as condições, ferramentas, e formação necessárias para o bom desempenho de seus
trabalhos.
1. REFERENCIAL TEÓRICO
A presente seção visa fazer um breve levantamento de alguns autores e da literatura
que embasarão esse estudo, tendo como pano de fundo os dois pilares que se pretende
investigar, sendo eles a formação contínua e os desafios da educação inclusiva no contexto de
um CIL.
Diversos estudos na área de formação de professores de LE têm sido realizados nas
últimas décadas, dentre eles podemos elencar: Brown (2001), Harmer (2007), Gil & Vieira-
Abrahão (2008), Bertoldo (2009), Liberali (2010), Silva (2010), Cristovão (2011) e Ur
(2012), devido à real necessidade de se formar professores críticos e capacitados para lidar
com os diversos desafios da contemporaneidade. Outros estudos, concernentes à formação
contínua ou continuada7, como nos asseveram autores da área, tais quais: Moita Lopes (1996),
Mateus (2002), Barcelos (2005), Almeida Filho (2007), Alvarez & Silva (2007) Vieira-
Abrahão (2006) Bonfim & Borges (2011) e Silva et. al. (2011) para citar alguns, são de suma
importância por enfatizarem a necessidade de o profissional de línguas refletir sobre sua
práxis bem como repensar suas práticas pedagógicas.
7 Aqui, inicialmente serão apresentadas as duas nomenclaturas: contínua e continuada, devido às predileções
feitas por cada um dos teóricos, Almeida Filho (2009), Vieira-Abrahão (2010). Entretanto, o termo utilizado
doravante será o de formação contínua. Pois continuada, se refere a um verbo em particípio passado, ação que
iniciará e findará. Desse modo, pela ideia que a própria palavra contínua nos remete a “algo inacabado, em
constante (trans)formação”, penso ser ela a mais adequada ao presente estudo.
199
Como mencionado, o mundo globalizado exige do professor diversas competências,
habilidades e saberes, dessa maneira, segundo Almeida Filho (2009) é necessário que o
profissional da educação tenha uma dieta rica em leituras e estudo para que os novos
caminhos que se busca para sua prática pedagógica não sejam superficiais. É importante frisar
que formar-se continuamente faz com que esse profissional amplie suas habilidades e busque
amplo desenvolvimento em suas práticas, valorizando a construção do conhecimento e com
isso, deixando de ser um formador e tornando-se um (trans)formador. Destarte, como sugere
Vieira-Abrahão (2010), o professor torna-se o almejado profissional dessa nova era, a qual
está debruçada no conhecimento e na reflexão e por conseguinte, com a busca da formação
contínua e da reflexão, ele deixará de ser um mero reprodutor das teorias veiculadas pela
academia e, se tornará um profissional reflexivo, produtor de suas teorias, as quais serão
elaboradas e melhoradas por suas práticas diárias, atendendo assim as reais necessidades de
seus alunos e do contexto em que esses se encontram.
Ainda dentro desse viés das potencialidades do professor e da importância dele se
formar continuamente com vistas a atender as necessidades da sociedade nos hodiernos,
podemos citar Veiga, Sousa, Borges e Resende (2001) ao pontuarem que o profissional
licenciado não é visto apenas como um profissional dotado de competências e habilidades,
mas como o detentor do saber que fora historicamente construído, sendo ele compreendido
como:
[...] o profissional da educação: profissional multiqualificado (...) capacitado
para entender novos parâmetros da cultura; contribuir para a construção de
saberes e conhecimentos no campo educacional; assume o compromisso de
transformar a educação e as condições sociais sobre as quais ele se dá tendo
como norte a transformação da sociedade (...). A formação do profissional da
educação é compreendida como uma preparação capaz de formar um
profissional da educação competente, “que conhece e reconhece o espaço
escolar em sua totalidade, como articulador e organizador do processo
político-pedagógico escolar, no bojo de uma sociedade perpassada por novos
paradigmas políticos, econômicos, sociais e culturais” (VEIGA, SOUSA,
BORGES & RESENDE, 2001, p.12-13).
Ante o exposto, corroborando com a ideia de que o professor de LE deve estar sempre
se (trans)formando, refletindo suas práticas pedagógicas para bem atender as peculiaridades
de seus alunos na contemporaneidade e, principalmente no que cerne essa pesquisa, que
evidencia a importância do professor buscar por essa formação como uma fonte inesgotável
de saber, para obter as ferramentas do conhecimento com vistas a alcançar a almejada
excelência no atendimento e o trabalho aos alunos com deficiência, de maneira a ser ter uma
educação inclusiva de qualidade, não podemos deixar de admitir que não há como ter uma
200
escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência
sem que seus professores sejam preparados para atendê-los adequadamente (Brasil, 2000,
p.87).
Ainda dentro de uma perspectiva da busca por uma educação inclusiva, podemos
afirmar que a referida inclusão tem sido um assunto bastante discutido e que ela tem ocupado
lugar de destaque no contexto educacional atual, seja no âmbito nacional, seja no
internacional, por querer que os alunos com deficiência possam de fato receber àquela
educação e atendimento idealizado pelos documentos e, mais que isso, que eles tenham uma
educação igualitária, livre de preconceitos, sendo protagonistas e não apenas o aluno
deficiente, ou como temos em Freire (1970), que seja dada a eles uma educação democrática,
libertadora e conscientizadora. Corroborando Freire (op. cit), ao dizer que, as pessoas devem
ser percebidas com igualdade, implicando assim no reconhecimento e atendimento de suas
necessidades específicas, temos as palavras de Morejón (2009):
Há que se garantir que pessoas com deficiência tenham direitos a uma
educação igualitária e de qualidade; que sejam vistos no seu todo quanto ao
desenvolvimento; que a todos seja provida uma educação que respeite suas
necessidades e características especiais e peculiares; estas, na sua essência,
se constituem direitos fundamentais de qualquer pessoa; que seja facilitada a
sua transição para a vida ativa, de tal forma que possam mover-se na
sociedade a que, por direito, pertencem. (MOREJÓN, 2009 p.37-38).
É nesse sentido, de formar-se para ser um agente transformador, capacitado para
trabalhar dentro da perspectiva da inclusão que Almeida (2014) sugere que nesse momento
cabe ao professor a tomada de consciência para a importância de se investir em sua formação,
com o intuito de agregar ao seu cotidiano novas perspectivas pedagógicas com apoio de
recursos diversos que possam responder de forma mais efetiva às demandas educacionais dos
estudantes, favorecendo-lhes condições de acesso ao currículo, maior interação com o meio
em que se encontram e principalmente na busca pela autonomia e por fim, a inclusão deles no
sistema educacional.
Ainda no tocante educação inclusiva, mesmo sendo esse um tema bastante abordado
na sociedade, na academia e também pelas políticas públicas que regem a educação, temos
que ter em mente, como defendem Farias, Santos e Silva (2009) que por mais que tenhamos
avançado nas discussões atinentes a esse paradigma, ainda há muito por fazer, por mudar, por
discutir, por transformar. Não obstante, é de suma importância afirmar que a transformação
concreta, real e efetiva só virá quando os professores e a comunidade escolar em sua
totalidade, buscarem formação reflexão acerca de suas práticas para bem tratar de um tema
com tamanha relevância social.
201
Por fim podemos salientar que ainda dentro dessa perspectiva de ensino/aprendizagem
inclusiva e formação contínua, os professores e alunos assumem novos referenciais e novos
paradigmas, como pontuado por Almeida (2014), tornando-se não mais um transmissor e
receptor do conhecimento como antes, mas sim, seres que dependem um do outro para juntos
construírem o saber. Tornando, por conseguinte, o tempo que passam juntos muito mais
proveitoso, dinâmico e profícuo. Tais premissas vão ao encontro com as palavras assertivas de
Veiga (2010)
[...] formação de educador e professor implica formação para o exercício de
uma profissão. A profissionalização docente é algo que se constrói, estando
apoiados em saberes diversos que dizem respeito ao conteúdo da disciplina,
aos aspectos didático-pedagógicos, além de inúmeros saberes da vida
escolar, tão essenciais quanto os anteriores, como os saberes afetivos que se
referem ao relacionamento com os colegas de profissão, com os alunos e
com os familiares destes, sem deixar de lado, igualmente o aspecto
organizacional da escola (VEIGA, 2010, p.41).
Diante dos pontos apresentados, fica claro que a educação inclusiva é por si só um
desafio, mas que com professores sedentos pela mudança, apoiados em políticas
transformadoras e mais que isso, por amor ao que fazem, é que se torna evidente a
possibilidade de uma educação crítica de qualidade num contexto de centro de línguas, pois
com afinco e dedicação grandes serão os benefícios que serão dados a sociedade.
2.METODOLOGIA DE PESQUISA
Elegemos como metodologia de pesquisa para este trabalho, a pesquisa qualitativa, a
qual é em si mesma, um campo de investigação, pois atravessa disciplinas, campos e temas
(DENZIN e LINCOLN, 2006). Não obstante, a pesquisa qualitativa foi escolhida por se tratar
de um campo vasto e repleto de possibilidades, no qual seus agentes não são vistos apenas
como um mero participante, e, sim um ser com uma história de vida, que pode ser visto por
vários prismas e interpretado das mais diversas formas. Segundo, Gergen e Gergen (2006), a
investigação qualitativa se caracteriza como uma das mais ricas e compensadoras explorações
por se tratar de um campo repleto de entusiasmo, criatividade e ação, fazendo da pesquisa
qualitativa aquela que pode ser construída, recriada e analisada dentro das múltiplas ações e
interações dos sujeitos enquanto participantes.
Ainda dentro dessa perspectiva da pesquisa qualitativa ser rica e vasta, é que podemos
nos ancorar nas palavras de Chizotti (2006, p. 28), as quais corroboram aquilo que fora posto
pelos teóricos supra mencionados, ao nos dizer que a pesquisa qualitativa:
202
[...] recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências
humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise,
derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo,
da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre,
e, enfim, procurando tanto encontrar sentido desse fenômeno quanto
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZOTTI, 2006,
p.28).
O autor também pontua que esse termo “qualitativo”, além de implicar uma partilha
profunda com as pessoas, os fatos, e, não menos importante, o local no qual a pesquisa
acontecerá, só passa a ter significados visíveis e verossímeis a partir do momento em que o
pesquisador dá a eles uma atenção sensível, meticulosa.
Haja vista que a pesquisa qualitativa compreende/abrange a pesquisa etnográfica, ela
também será utilizada como metodologia nesta pesquisa. Afinal, de acordo com Watson-
Gegeo (1997), a etnografia escolar abrange observação intensiva e minuciosa de uma sala de
aula durante determinado período. Ainda dentro da perspectiva da pesquisa etnográfica, seus
traços se fazem presentes dentro da pesquisa qualitativa.
2.1. Os participantes da pesquisa e o local de desenvolvimento da pesquisa
Pretende-se que a pesquisa seja desenvolvida em três dos quinze CILs encontrados no
Distrito Federal, sendo de preferência em uma das unidades pioneiras duas das novas
unidades, pois estas as novas unidades normalmente não possuem a estrutura almejada,
tampouco detém dos recursos básicos necessários para o ensino/aprendizagem da LE num
ambiente de inclusão educacional. Como serão coletados em quatro semestres, será possível
observar as possíveis transformações pelas quais a escola e os professores passarão ou não.
Assim, os participantes da pesquisa serão os professores de um CIL que normalmente
trabalham com turmas de diversos níveis – dentre eles podemos elencar básico, intermediário
e avançado e de diversas idades8.
2.2 A coleta de dados e os instrumentos utilizados
Para a realização dessa pesquisa, pretende-se utilizar os seguintes instrumentos de
pesquisa: notas de campo, questionários semiestruturados, entrevistas e gravações. De acordo
com Rosa e Arnoldi (2006), os questionários devem ser formulados de modo que seus
respondentes possam expor seus pensamentos, verbalizar suas ideias, e realizar suas próprias
8 Os CILs recebem os alunos matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.
203
reflexões no que se refere ao tema/assunto que lhes foi questionado. Quanto às entrevistas,
Gil (1999) afirma que é um dos instrumentos de pesquisa mais utilizados no campo das
ciências sociais, e é com ela que o pesquisador se encontrará com o participante para coletar
dados relevantes. Por outro lado, é importante salientar que a entrevista não se trata apenas de
um diálogo ou um bate-papo informal, mas sim de uma conversa com um objetivo definido.
Como afirmam Bogdan e Biklen (1998), as notas de campo levam em consideração aquilo
que o pesquisador vivencia, vê, escuta e sente ao longo do processo de observação e coleta e,
principalmente, de reflexão dos dados. Já as gravações, para Rosa & Arnoldi (2006), também
têm sido um meio muito utilizado atualmente, pela dinamicidade e praticidade que oferece ao
pesquisador. Contudo, há que se observar se com ela o participante não ficará constrangido,
para que as coisas fluam e não se perca nenhum detalhe.
2.3 Tratamento dos dados gerados
Após a dedicação da pesquisadora e dos participantes para a coleta dos dados, bem
como a realização das leituras, será a hora de unir o corpus gerado. Esperamos que eles
possam nos oferecer o aporte necessário para que os dados gerados possam ser triangulado de
maneira coerente e positiva, pois segundo Flick (2009), essa triangulação de dados é palavra
chave na pesquisa qualitativa. É importante salientar que os dados coletados serão
triangulados a partir das respostas fornecidas pelos participantes em contraposição às teorias
que embasarão a pesquisa, bem como com as notas da pesquisadora e suas reflexões ante o
que fora dito por participantes e teóricos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FILHO, J. C. P.(Org). O Professor de Língua Estrangeira em Formação.
Campinas, SP: Pontes Editores, 3ª ed., 2009.
ALMEIDA, L. M. R. de. Educação inclusiva: um olhar sobre a formação de professores
para o uso das tecnologias nas salas de recursos multifuncionais de escolas públicas
estaduais de Campos Belos – Goiás. 2014. xv, 117 f., il. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
ALVAREZ, M. L. O. & SILVA, K. A, (Orgs.) Linguística aplicada: múltiplos olhares.
Campinas: Pontes, 2007.
204
BEYER, H. O. Inclusão e avaliação na escola de alunos com Necessidades Educacionais
Especiais. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2006.
BOGDAN, R. C. & BIKLEN, S. K. Qualitative research for education: an introduction to
theory and methods. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1998.
BONFIM, C. J. de L. & BORGES, L. F. F . Formação Continuada de Docentes para Atuação
em Cursos Técnicos de PROEJA: desafios e possibilidades. 2011.
BORGES, L F F.; VEIGA, I. P. A.; SOUSA, J. V. de ; RESENDE, L. M. G. de . Inovação
Pedagógica e formação de profissionais da educação. In: IV Encontro de Pesquisa em
Educação do Centro-Oeste, 2001, Brasília. IV Encontro de Pesquisa em Educação do Centro-
Oeste, 2001. p. 111-112.
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas
especiais. Brasília: UNESCO, 1994.
_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Formação de Professores
para o Atendimento Educacional Especializado. Brasília: MEC/SEE/UFSM, 2011.
_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Nota Técnica n.
05/MEC/SECADI/GAB, de 09 de maio de 2011. Implementação da Educação Bilíngue.
Disponível em: http://inclusaoja.com.br/2011/06/02/implementaçãoda-educação-bilingue-
nota-tecnica-052011-mecsecadigab/. Acesso em: 17 abr. 2014. _____. Ministério da
Educação. Secretaria de Educação Especial. Nota Técnica n.º 11, de 07 de maio de 2010b.
Orientações para a Institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado –
AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. Brasília:
MEC/SEESP, 2008.
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva –
versão preliminar. Brasília: MEC/SEESP, 2007.
BUZATO, M. E. K. O letramento eletrônico e o uso do computador no ensino de língua
estrangeira: contribuições para a formação de professores. 2001. 189 f. Dissertação
(Mestrado) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP.
CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem: Educação
Inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2010.
CELANI, M. A. A. Perguntas ainda sem resposta na formação de professores de línguas.
In: GIMENEZ, T.; GOES, M. C. (Orgs) A formação de professores de línguas e a
transformação social na América Latina. Campinas, SP: Pontes Editores, p. 57-67, 2011.
205
CELANI, M.A.A & COLLINS, H. Formação contínua de professores em contexto
presencial e a distância: respondendo aos desafios. In: BRABARA, L. & RAMOS, R. C.
G. (Orgs.). Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Mercado das
Letras, 2003.
CHIZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ: Vozes,
2006.
CRISTOVÃO, V. L. L. (Org.) Atividade docente e desenvolvimento. Campinas: Pontes,
2011.
DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa
qualitativa. In: DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. (orgs.). O planejamento da pesquisa
qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. PP.15-41.
FISCHER, J. & BYLAARDT, M. B. Educação inclusiva: processo irreversível, uma
questão de direito. In: II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas
com Necessidades Especiais. Natal, 2006.
FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Trad. Joice Elias Costa. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1970.
GARCIA, R. M. C. Política de educação especial na perspectiva inclusiva e a formação
docente no Brasil. In: Revista Brasileira de Educação v.18 p. 101 – 119, 2013.
GIL, G. Mapeando estudos de formação de professores de línguas no Brasil. In: FREIRE,
M. M.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H.; BARCELOS, A. M. (Orgs.). Linguística Aplicada e
Contemporaneidade. Campinas, SP: Pontes Editores, 2005.
GIMENEZ, T. Desafios contemporâneos na formação de professores de línguas:
contribuições da linguística aplicada. In: FREIRE, M. M.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H.;
BARCELOS, A. M. (Orgs.). Linguística Aplicada e Contemporaneidade. Campinas, SP:
Pontes Editores, 2005.
GERGEN, M. M. & GERGEN, K. J. Investigação qualitativa: tensões e transformações. In:
DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. (orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e
abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 367-388.
KUBOTA, R. The impact of globalization on language teaching in Japan. In: BLOCK, D.;
CAMERON, D. (eds). Globalization and language teaching. London: Routledge, 2002.
LIBERALLI, F. C. O diário como ferramenta para a reflexão crítica. Tese de doutorado
em linguística aplicada ao ensino de línguas. São Paulo, PUC, 1999.
206
LÜDKE, M. & ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.
MOREJÓN, K. O acesso e a acessibilidade de pessoas com deficiência no ensino superior
público no estado do Rio Grande do Sul. 2009. Ribeirão Preto, 2009.
NÓVOA, A. (Coord.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1997.
ORTIZ, H. M. O professor reflexivo: (re)construindo o “ser” professor. Vargem Grande
Paulista, III Congresso de Educação – MHN, 2003.
PIMENTA, S.G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA,
S.G. (Org.) Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p.15-34.
RAJAGOPALAN, K. O lugar do inglês no mundo globalizado. In: SILVA, K. A. (Org)
Ensinar e aprender línguas na contemporaneidade: Linhas e Entrelinhas. Campinas, SP:
Pontes Editores, 2010.
ROSA, M. V. F. P. C. & ARNOLDI, M. A. G. C. A entrevista na pesquisa qualitativa. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.
SILVA, E. M. A.; ARAÚJO, C. M. Reflexão em Paulo Freire: Uma Contribuição Para a
Formação Continuada de Professores. V Colóquio Internacional Paulo Freire. Recife, 10-22 –
setembro, 2005.
SILVA, K. A., DANIEL, F., KANEKO-MARQUES, S. M. & SALOMÃO, A. C. B. (Orgs.)
A formação de professores de línguas: novos olhares – volume I. Campinas: Pontes
Editores, 2011.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; D‟AVILA, Cristina Maria (Orgs). Profissão docente: novos
sentidos, novas perspectivas. Campinas, SP: Papirus, 2010.
VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. A formação de professores de línguas: Passado, presente e
futuro. In: SILVA, K. A. (Org) Ensinar e aprender línguas na contemporaneidade: Linhas e
Entrelinhas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010.
WATSON-GEGEO, K. A. Classroom ethnography. In: Hornberger, N., & Corson, D. (eds.).
In: Research Methods in language and education. Encyclopedia of Language and Education,
v. 8. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. P. 135-144.
INTERFERÊNCIA DA LÍNGUA MATERNA NO APRENDIZADO DA LÍNGUA
INGLESA: O USO DE SUBSTANTIVOS E DETERMINANTES POR ALUNOS DE
UMA ESCOLA DE IDIOMAS DO DISTRITO FEDERAL
207
Raissa Barboza Ferreira (Universidade Católica de Brasília – UCB)
Resumo: O presente artigo trata sobre as influências do português brasileiro no processo de
aprendizagem da Língua Inglesa como Língua Estrangeira. Objetivamos verificar como os alunos de
nível intermediário de uma escola de idiomas no Distrito Federal usam na escrita os substantivos
contáveis e não contáveis em conjunto com os determinantes centrais. Além disso, serão verificados se
os erros cometidos por esses alunos são referentes à interferência da língua materna deles. Para obter
esses dados, os alunos produziram um texto escrito em Língua Inglesa com tema determinado. Os
resultados mostram que os substantivos que são classificados em contáveis ou não-contáveis de forma
diferente na Língua Inglesa da Língua Portuguesa apresentam uma maior porcentagem de erros,
confirmando a teoria da interferência entre as línguas.
Palavras-chave: Interferência. Substantivos contáveis. Substantivos não contáveis.
Abstract: The present article refers to the influences of Brazilian Portuguese on the English Language
learning as a Foreign Language. This work aims to verify the use in written production of countable
and uncountable nouns with central determiners by intermediate students of a language school from
Distrito Federal. Besides, it will be analyzed if the mistakes made by these students are related to their
mother language. To obtain these data, the students produced a written text in English with a defined
theme. The results show the nouns that are classified as countable or uncountable differently in
English and Portuguese present a higher percentage of mistakes, confirming the theory of interference
between the two languages.
Keywords: Interference. Countable nouns. Uncountable nouns.
INTRODUÇÃO
Há quem diga que estudar gramática não seja importante no aprendizado da Língua
Inglesa (doravante LI), pois os erros gramaticais não interferem na compreensão e/ou na
estrutura de uma oração. Com o propósito de discutir essas questões, o presente trabalho
208
abordará as interferências do português brasileiro (PB) no uso de determinantes centrais da LI
por alunos de uma escola de idiomas do Distrito Federal (DF).
O objetivo geral deste trabalho será verificar o uso na escrita dos substantivos
contáveis e não contáveis com os determinantes centrais (DCs). Com isso buscamos provar a
hipótese de interferência da língua materna (LM), neste caso o PB, no uso desses
substantivos, principalmente quando antecedidos pelos DCs. Após esse levantamento serão
verificados se os erros cometidos pelos alunos estão associados à LM deles.
Para os professores de inglês este estudo será bastante relevante, pois, a partir da
constatação desses principais erros, poderão ser encontradas formas de corrigi-los ou
minimizá-los durante suas aulas a fim de tornar a comunicação de seus alunos mais fluente e
natural.
1 MORFOSSINTAXE
Segundo Radford (2003), a gramática é dividida em duas áreas diferentes, porém
relacionadas, que são a morfologia e a sintaxe. A morfologia estuda as classes gramaticais, os
processos de formação de palavras, os morfemas, os quais são as menores unidades que
possuem significado; a sintaxe, por sua vez, analisa as funções que as palavras exercem em
uma oração, assim como a ordem em que elas são organizadas. Dessa forma, a morfossintaxe
é o estudo da morfologia e da sintaxe em conjunto, ou seja, ao analisar um período, levaremos
em consideração tanto os aspectos morfológicos quanto os aspectos sintáticos.
1.1 SUBSTANTIVOS NA LÍNGUA PORTUGUESA
No PB, segundo Perini (2010) os substantivos pertencem à classe de palavras chamada
de nominais, pois possuem as características de gênero, número marcado pelo sufixo –s e tem
potencial referencial, ou seja, são aqueles utilizados para dar nomes ou designar alguma
entidade/ação.
Os substantivos podem ser classificados de muitas maneiras, porém neste artigo
destacamos a classificação em contáveis e não contáveis. Contudo, de acordo com Blühdorn,
Simões e Schmaltz (2008, p. 43) “em relação à língua portuguesa, a questão da contabilidade
foi discutida por relativamente poucos autores”. Almeida (2009, p. 3024) postula em seu
artigo que no PB “o que acontece é a pluralização do quantificador quando o nome
modificado é contável, e o uso da forma singular com nomes não contáveis”.
209
Allan (1980 apud ALMEIDA, 2009) sugere que a característica de contabilidade na
verdade seja chamada de preferência de contabilidade, já que alguns substantivos serão
preferencialmente contáveis em determinados contextos e preferencialmente incontáveis em
outros.
1.2 SUBSTANTIVOS NA LÍNGUA INGLESA
De acordo com Quirk (2012) os substantivos na LI também são classificados de
diversas formas, entre elas em contáveis e não contáveis.
Porém, existem aqueles substantivos que podem ser contáveis ou não contáveis
dependendo do contexto em que eles estão inseridos, como por exemplo: Would you like a
fruit? „Você gostaria de uma fruta?‟ No, I don’t like fruit „Não, eu não gosto de fruta‟. Nesse
exemplo, na primeira ocorrência, “fruit” aparece como um substantivo contável, enquanto que
na segunda é um substantivo não contável.
Celce-Murcia e Larsen-Freeman (1999) possuem uma definição mais simplificada de
nomes contáveis e não contáveis. Os contáveis são aqueles que podem receber o morfema –s,
ou seja, podem ser pluralizados, enquanto os não contáveis não podem.
Ainda em relação à contabilidade dos nomes, os substantivos não contáveis podem vir
acompanhados de partitivos, que são “construções que denotam a parte de um todo” (QUIRK,
2012, p. 249, tradução nossa).
Para Percegona (2005) a divisão em contável e incontável é bastante importante pelo
fato de que dependendo da classificação serão utilizados determinantes ou quantificadores
diferentes. Isso será explicado detalhadamente na subseção seguinte.
1.3 DETERMINANTES NA LÍNGUA PORTUGUESA
Segundo Leech e Startvik (1975 apud MASTER, 1993) os determinantes podem ser
divididos em: determinantes centrais, predeterminantes e pós-determinantes. Essa
classificação é feita de acordo com a posição do determinante central no sintagma nominal.
Isso é verdade tanto para a língua portuguesa (LP) quanto para a LI.
210
Em relação ao uso dos determinantes centrais seguidos de substantivos na LP é
necessário observar as questões de concordância nominal, ou seja, se concordam em gênero e
número, quando possível.
1.4 DETERMINANTES NA LÍNGUA INGLESA
Os determinantes centrais na LI são, segundo Quirk (2012): os artigos “the/a/an” „o(a,
os, as)/um(a)‟, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, “every” „cada/todo‟,
“each” „cada‟, “no” „nenhum(a)‟, “some/any” „algum(a)‟, “either/neither” „um ou
outro/nem um nem outro‟ e “enough” „suficiente‟.
É importante observar que na LI a classificação dos substantivos em contáveis e não
contáveis vai ser fundamentalmente importante, visto que a categoria do substantivo irá
implicar a colocação de determinantes diferentes, como mencionado na subseção 1.2.
Seguindo a explicação de Quirk (2012) o artigo definido “the” pode ser usado com os
substantivos contáveis no singular, contáveis no plural e com os incontáveis. Ex: Can you
give me the book/the books/the milk? „Você pode me dar o livro/os livros/o leite?‟. Já os
artigos indefinidos “a/an” só podem ser empregados antes de contáveis no singular, uma vez
que eles expressam a ideia de “um”. Ex: Can you lend me a pen? „Você pode me emprestar
uma caneta?‟.
Os pronomes possessivos podem ser usados com nomes contáveis no singular e no
plural e também com os não contáveis. Ex: I didn’t find your backpack/your backpacks/your
luggage „Eu não encontrei sua mochila/suas mochilas/sua mala‟.
Os pronomes demonstrativos são: this, that, these e those „este(a)/isto, aquele(a),
aquilo, estes(as), aqueles(as)‟. Os dois primeiros (this e that) são utilizados antes de
substantivos contáveis no singular e não contáveis. Ex: Could you pass me this/that
book/this/that chocolate? „Você poderia me passar este/aquele livro/este/aquele chocolate?‟.
Já os pronomes “these” e “those” apenas podem ser usados com substantivos contáveis no
plural. Ex: Could you pass me these/those books? „Você poderia me passar estes/aqueles
livros?‟.
Os quantificadores “every” e “each” só podem ser empregados antes de nomes
contáveis no singular, visto que eles expressam a ideia de individualidade. Ex: Each/every
student has to turn in the exercise. „Cada/todo aluno tem que entregar o exercício‟.
211
Quanto aos quantificadores “either” e “neither”, podem ser usados apenas com
substantivos contáveis no singular. Ex: You can park on either side „você pode estacionar em
um lado ou do outro‟ Neither party accepted the proposal „nenhum dos partidos aceitou a
proposta‟. (QUIRK, 2012, p. 257).
O quantificador “enough” deve ser utilizado com substantivos contáveis no plural e
com substantivos não contáveis. Ex: I don’t have enough t-shirts/money to travel. „Eu não
tenho camisetas/dinheiro suficiente para viajar‟.
Em relação ao pronome indefinido “no”, ele pode ser usado tanto com substantivos
contáveis no singular e no plural quanto com substantivos não contáveis: I have no
problem/problems with the test. „Eu não tenho problema/problemas com o teste‟. This soup
has no salt. „Esta sopa não tem sal‟.
Os pronomes indefinidos “some” e “any” são empregados com nomes contáveis no
plural e com não contáveis. Exs: I want some cookies/chocolate. „Eu quero alguns
biscoitos/algum chocolate‟. Do you have any cookies/chocolate? „Você tem algum
biscoito/chocolate?‟.
2 LÍNGUA MATERNA, LÍNGUA ESTRANGEIRA E SEU APRENDIZADO
Para Almeida Filho (2005 apud MAIA, 2009, p. 20) a LM, também chamada de
primeira língua (doravante L1), é a língua de identificação cultural, regional e étnica do
indivíduo.
Para Spinassé (2010, p. 6) a segunda língua (doravante L2) “é uma não-primeira-
língua que é adquirida sob a necessidade de comunicação e dentro de um processo de
socialização”. O conceito de L2 está bastante relacionado à necessidade de integração social.
Já a língua estrangeira (LE) é aquela que não se aprende necessariamente para se
comunicar ou para se integrar socialmente, como afirma a mesma autora. Neste artigo,
utilizaremos os termos LM e LE, visto que queremos investigar as influências da LM no
aprendizado da LE.
2.1 O PAPEL DA LÍNGUA MATERNA NO APRENDIZADO DE UMA LÍNGUA
ESTRANGEIRA
212
Ellis (1998) menciona que a LM pode afetar a LE em diversos níveis, como o
fonológico, lexical e sintático. Quando o aluno está aprendendo uma LE, ele utilizará os
conhecimentos da sua LM, que é o que ele já conhece, para tentar fazer construções na LE.
Essa utilização de conhecimentos de uma língua para outra é chamada de transferência.
De acordo com Selinker (1975) transferência é a aplicação de regras da LM na LE,
fazendo com que os aprendizes consigam construir sentenças na LE da mesma forma que eles
fariam na LM. É importante mencionar que a transferência pode ser positiva ou negativa. Para
alguns autores, como Krashen (1982), a transferência é positiva quando o uso automático das
estruturas da LM na LE resulta em sentenças corretas e isso ocorre devido à semelhança entre
as estruturas das duas línguas. Já a transferência é considerada negativa quando ela causa
erros na formação das estruturas na LE. Conforme Durão (1999) a transferência negativa
também pode ser chamada de interferência.
Segundo Brown (2007) a interferência é a principal responsável pelos erros durante a
aprendizagem da LE, e por esse motivo, ela será o foco do nosso trabalho.
3 ERROS
Primeiramente é importante mencionar que existe diferença entre erros e enganos. De
acordo com Brown (2007) os enganos estão relacionados a deslizes que os alunos cometem ao
utilizar estruturas que eles conhecem, já os erros são predisposições da língua do aprendiz e
estão ligadas a sua competência. Ainda segundo o mesmo autor é bastante difícil fazer a
distinção entre os dois.
Durante muito tempo, principalmente com a Teoria do Behaviorismo, os erros foram
vistos como algo negativo, indesejável, que deveria ser evitado. Segundo Ellis (1998) eles
eram a evidência do não-aprendizado e poderiam se tornar hábitos.
Já teorias mais modernas veem os erros como parte do processo de aprendizagem e
podem ter um significado muito importante nesse processo. Para Corder (1991) os erros são
importantes para o professor, pois é por meio deles que ele consegue avaliar o progresso do
aluno; fornecem evidências aos pesquisadores de como a língua é aprendida; e, auxiliam os
aprendizes na sua própria aprendizagem, pois eles podem aprender com seus erros.
213
4 METODOLOGIA
A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma escola de idiomas do DF. Ao todo
participaram 10 turmas de nível intermediário em LI com aproximadamente 6 alunos em cada
turma, totalizando 68 alunos. Escolhemos o nível intermediário, pois acreditamos que nessa
fase os alunos já têm certo conhecimento da língua, mas ainda não a dominam. Não fizemos
restrições em termos de faixa etária. Sabe-se que a idade é um dos fatores que influenciam a
aprendizagem, mas não foi nosso objetivo observar esse aspecto no presente artigo.
Os dados foram coletados por meio de textos escritos pelos alunos, aproximadamente
de 5 linhas, cujo tema eles deveriam escolher entre duas opções e tentar utilizar o máximo das
palavras sugeridas, conforme o enunciado do exercício. Optamos pela escolha da produção de
um texto escrito, em vez de questionários, pois acreditamos que quando o aluno escreve
livremente sobre um tema determinado, a escrita é produzida de forma mais espontânea. Os
textos foram aplicados pelos professores titulares das turmas e a aplicação durou
aproximadamente 15 minutos.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentaremos, primeiramente, os dados a partir do uso dos substantivos utilizados
nos textos dos alunos, conforme as instruções do exercício aplicado. Em seguida, os
resultados serão discutidos. É importante ressaltar que os erros cometidos pelos alunos foram
analisados sob o ponto de vista da gramática prescritiva, dedicada à norma culta da língua.
Também devemos destacar que, conforme foi mencionado na teoria abordada por Brown
(2007), por ser difícil diferenciar erros de enganos, essa pesquisa tem uma limitação quanto a
essa definição, visto que os textos produzidos foram curtos e não houve como verificar a
frequência dessas construções para conseguir classificá-las corretamente.
5.1 RESULTADOS
214
Os gráficos e a análise de dados foram feitos observando o uso dos substantivos com
os determinantes. Assim, listamos todos os substantivos encontrados nos textos e calculamos
a
porc
enta
gem
de
erros
no
uso
dess
es
subs
tanti
vos
com
os
deter
minantes.
Information „informação‟
A palavra “information” foi utilizada de forma errada em alguns textos e de forma
correta em outros. Alguns alunos pluralizaram o substantivo, escrevendo “informations”, o
que não é possível na LI, visto que é um nome não-contável. Além disso, foi utilizada, na
maioria dos casos, com o artigo indefinido “a”, que como foi mencionado por Quirk (2012),
só pode ser seguido por substantivos contáveis no singular. Outro determinante empregado
com a palavra foi o quantificador “neither”. Porém, ele só pode ser utilizado com substantivos
contáveis no singular, ficando a construção “neither information” „nenhuma informação‟
errada, conforme explicado pelo mesmo autor.
Já outros alunos pluralizaram a construção de forma correta: “some information”
„algumas informações‟.
Hair „cabelo‟
Gráfico 1 – Porcentagem dos substantivos não contáveis na LI e contáveis no PB
Fonte: Elaborado pelo autor
215
Primeiramente, devemos observar que na LI o substantivo “hair” pode ser contável ou
não contável. Ele é considerado como contável quando se refere a um fio de cabelo, por
exemplo. Porém, para nosso artigo, consideraremos “hair” como não contável.
O substantivo teve uma grande ocorrência de erros. Os alunos empregaram a palavra
com o artigo indefinido “a”, formando a construção “a hair” „um cabelo‟. Nas frases em que
o substantivo estava presente corretamente, ele estava acompanhado dos pronomes
possessivos “my” ou “our”, que podem ser utilizados tanto como nomes contáveis ou não-
contáveis.
Furniture „mobília‟
O substantivo “furniture” foi usado nos textos acompanhado pelo artigo indefinido
“a”. Portanto, o uso foi incorreto, já que esse artigo só pode ser utilizado com nomes
contáveis no singular, como foi dito anteriormente. Não foram encontrados outros
determinantes acompanhando essa palavra. Conforme podemos observar no Gráfico 1, esse
substantivo, assim como o substantivo “bread”, foram os que tiveram a maior porcentagem de
erros.
Bread „pão‟
A palavra “bread” foi utilizada com o artigo indefinido “a”, formando a frase “a
bread” „um pão‟. No PB, a construção é totalmente aceitável, porém na LI, o artigo indefinido
só antecede substantivos contáveis no singular. Para que possamos contar o pão em inglês,
precisamos nos referir a uma fatia de pão ou um pedaço de pão.
News „notícia‟
Apesar de não ser o foco deste trabalho, é importante observar que em muitos textos a
palavra “news” foi empregada como o adjetivo “new” „novo(a)‟. No PB, os adjetivos são
variáveis assim como os substantivos, ou seja, os adjetivos concordam em gênero e número
216
com os substantivos. Já na LI, isso não ocorre. Os adjetivos são invariáveis. Um exemplo
encontrado nos textos foi a construção “news clothes” „roupas novas‟. Em inglês, a construção
correta seria “new clothes”.
O –s na palavra “news” não é indicativo de plural, é parte do próprio radical dela. Em
alguns exemplos ela foi usada de forma errada com o artigo definido “a”, mas na maioria dos
casos foi usada corretamente com o artigo definido “the”. Com esse artigo podemos utilizar
tanto nomes contáveis quanto não contáveis.
Music „música‟
O substantivo “music” foi usado corretamente na maioria dos textos. Ele veio
acompanhado pelo pronome indefinido “some”, formando a estrutura “some music”
„alguma(s) música(s)‟. Segundo Quirk (2012) com este pronome indefinido podemos utilizar
substantivos contáveis no plural e substantivos não contáveis. Em apenas um caso o nome
“music” foi utilizado com o artigo indefinido “a”, formando assim uma construção errada.
Luggage „bagagem‟
O nome “luggage” foi empregado incorretamente com o artigo indefinido “a” e, em
outro caso, com o quantificador “either”, que apenas pode ser utilizado com substantivos
contáveis no singular. Porém, o substantivo também foi usado corretamente em dois textos
com o pronome possessivo “my”.
O gráfico relativo aos substantivos contáveis na LI e não contáveis no PB não foi feito,
pois os dois substantivos encontrados nos textos (vacation e parents) foram empregados de
forma correta, ou seja, tiveram zero por cento de erros.
Vacation „férias‟
A palavra “vacation” é considerada tanto contável quanto não contável na LI.
Normalmente, quando ela significa a expressão “tempo de férias” é não contável, por exemplo
217
na oração “How much vacation do you have at your job?” „Quanto tempo de férias você tem
no seu trabalho?‟, e quando significa simplesmente “férias” é contável. Nos textos, os alunos
a utilizaram corretamente com o quantificador “every”, já que ele pode ser usado com
substantivos contáveis no singular.
Parents „pais‟
O nome “parents” foi utilizado de forma correta nos textos, pois veio acompanhado do
pronome possessivo “my”. Não foram encontrados outros determinantes acompanhando esse
substantivo nos textos.
Agora vamos analisar os substantivos que têm a mesma classificação na LI e no PB.
No gráfico 2 estão os substantivos contáveis tanto na LI como no PB e no gráfico 3 estão os
não contáveis nas duas línguas. Observando estes dados, poderemos comparar se houve
diferença na porcentagem de erros em relação ao uso dos substantivos com os determinantes
quando são classificados de forma diferente nas duas línguas.
Day „dia‟
Gráfico 2 – Porcentagem dos substantivos contáveis na LI e contáveis no PB
Fonte: Elaborado pelo autor
218
O substantivo “day” foi empregado praticamente em todos os textos corretamente com
o quantificador “every”, formando a expressão “every day” „todo(s) (os) dia(s)‟. Em apenas
um caso um aluno escreveu “every days”, o que tornou a expressão incorreta, visto que
“every” apenas pode ser utilizado com nomes contáveis no singular. O substantivo também
foi usado corretamente com o pronome demonstrativo “those”, na construção “those days”,
pois deve ser acompanhado de substantivo contável no plural.
Morning „manhã‟/ Night „noite‟/ Week „semana‟/ Weekend „fim de semana‟/ Sunday
„domingo‟/ Month „mês‟
Os substantivos “morning”, “night”, “week”, “weekend”, “Sunday” e “month” foram
todos utilizados com o quantificador “every” de forma correta nos textos. Não foram
encontrados outros determinantes acompanhando esses substantivos.
Person „pessoa‟/ People „pessoas‟
O uso da palavra “person” foi feito corretamente, pois ela foi utilizada com o
quantificador “each”, que é usado apenas com substantivos contáveis no singular. Já a palavra
“people” foi usada erroneamente no texto, pois foi pluralizada e empregada com o
quantificador “every”, ficando a construção “every peoples”. “Every”, assim como “each”, só
é utilizado com substantivos contáveis no singular.
Song „canção‟
O nome “song” foi usado corretamente com o quantificador “every”, visto que esse
determinante é utilizado apenas com substantivos contáveis no singular.
219
Gráfico 3 – Porcentagem dos substantivos não contáveis na LI e não contáveis no PB
Fonte: Elaborado pelo autor
Milk „leite‟
A palavra “milk” teve apenas um uso incorreto com o artigo indefinido “a”. As demais
ocorrências da palavra foram com o pronome indefinido “some” ou com o artigo definido
“the”, ou seja, foram feitas de forma correta.
É importante observar que no PB podemos falar um leite, dois leites, mas estamos nos
referindo a latas, garrafas ou caixas de leite, e não ao líquido leite em si, por isso
consideramos a palavra não contável.
Money „dinheiro‟
O substantivo “money” foi usado incorretamente com o artigo indefinido “a” e
também com o quantificador “every”. Os demais exemplos foram corretos. Esse nome foi
usado com os pronomes possessivos “my” ou “our”, os pronomes indefinidos “some” e “no”,
e o artigo definido “the”.
5.2 DISCUSSÃO
Como foi visto, o uso do determinante na LI vai depender da classificação do
substantivo em contável ou não contável. Nos textos dos alunos, nem todos os determinantes
centrais disponibilizados nos exercícios foram utilizados, como foi o caso dos pronomes
220
demonstrativos “this” e “these”, o pronome indefinido “any” e alguns pronomes possessivos
(“your”, “his”, “her”, “its” e “their”). Os quantificadores “either” e “neither” foram utilizados
raras vezes, e em alguns exemplos, de forma errada, com outro valor semântico, com o
sentido de “qualquer” ou até mesmo sendo usado como um substantivo. Acreditamos que seja
porque nesta escola de idiomas os alunos só entram em contato com esses dois determinantes
no nível avançado.
No Gráfico 1, podemos observar que as duas palavras que mais apresentaram erros
quanto ao uso com os determinantes centrais foram “furniture” e “bread”; os dois
substantivos tiveram 100% de erros. Essas duas palavras são classificadas como não contáveis
na LI, porém elas são contáveis no PB. Como os alunos utilizaram o artigo indefinido “a”
para se referir a esses substantivos, provavelmente eles estavam considerando-os como
substantivos contáveis, como se fosse em PB.
Ainda em relação ao Gráfico 1, o substantivo “luggage” também teve uma
porcentagem alta de erros. Ele também faz parte da classificação de substantivos não
contáveis na LI e contáveis no PB. Assim como ocorreu com as palavras do parágrafo acima,
esse substantivo foi utilizado com o artigo “a”, considerando o substantivo como contável.
Já no Gráfico 2, outro substantivo com porcentagem alta de erros foi “people”, pois foi
utilizado na forma pluralizada “peoples” e com o determinante “every”. Na LI, é possível
empregar a palavra “peoples” mas não com sentido de “pessoas”, e sim de “povos”. No texto,
o aluno quis se referir a pessoas na expressão “todas as pessoas”, assim ele escreveu “every
peoples”. Um dos substantivos que teve o menor percentual de erros foi “day” (ver Gráfico 2).
Já as palavras “morning”, “night”, “week”, “weekend”, “Sunday”, “month” e “song” não
tiveram erros, conforme também Gráfico 2.
No gráfico 3, os substantivos “milk” e “money” tiveram uma pequena porcentagem de
erros, porém maior do que as dos substantivos apresentados no gráfico 2.
Conforme podemos perceber, as palavras que apresentaram os maiores percentuais de
erros foram aquelas que são substantivos não contáveis na LI e contáveis no PB (ver Gráfico
1). Enquanto as palavras que não tiveram erros ou tiveram os menores percentuais, foram: (i)
os substantivos contáveis na LI e contáveis no PB (ver Gráfico 2), (ii) os substantivos
contáveis na LI e não contáveis no PB e (iii) os substantivos não contáveis na LI e não
contáveis no PB (ver gráfico 3).
221
Como vimos na teoria mencionada por Ellis (1998) o aluno que está aprendendo uma
LE utilizará os conhecimentos da sua LM para tentar fazer construções na LE. Quando essas
construções são corretas, dizemos que ocorreu uma transferência, e quando elas são erradas,
dizemos que ocorreu uma interferência. No caso dos substantivos, foram empregados
corretamente com os determinantes centrais justamente porque os substantivos tanto na LI
quanto no PB são contáveis, como também os não contáveis nas duas línguas, ocorrendo uma
transferência - já que as duas línguas compartilham características em comum. Já com os
substantivos que tiveram um número grande de erros foi ocasionada uma interferência entre
as línguas, já que elas, nessa situação, possuem características diferentes entre si.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve o propósito de discutir sobre as influências do PB, LM dos alunos, no
aprendizado da LI. O principal objetivo foi verificar o uso dos substantivos contáveis e não
contáveis em relação aos determinantes centrais nas orações, observando se existe ou não
interferência da LM na LE dos aprendizes.
Para isso, discutimos os conceitos de morfossintaxe, dos substantivos no PB e na LI,
dos determinantes no PB e na LI, assim como as definições de língua materna, segunda língua
e língua estrangeira. Também discutimos o papel da LM durante a aprendizagem da LE, com
as questões de transferência e interferência de uma língua para outra.
A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de um texto escrito pelos alunos do
nível intermediário de uma escola de idiomas do DF e foram coletados os dados de acordo
com o uso dos substantivos contáveis e não contáveis com os determinantes centrais na LI. Os
resultados encontrados foram que os substantivos que tiveram a maior porcentagem de erro
quanto ao uso com os determinantes foram aqueles que eram não contáveis na LI, mas
contáveis no PB, resultado de uma interferência entre as línguas. Entendemos que se
tivéssemos mais dados e mais tempo para realizar a pesquisa de campo, poderíamos ter
resultados mais aprofundados sobre o tema.
Além disso, mencionamos a importância dos erros, os quais ocorrem naturalmente
durante a aprendizagem de uma LE. Como percebemos, apesar de os erros interferirem na
estrutura e/ou na compreensão das orações em alguns casos, eles são parte natural do processo
de aprendizado e devem ser observados com maior atenção, pois se não forem corrigidos no
222
momento correto, podem ocasionar fossilização, que é quando o aprendiz internaliza
estruturas erradas e não consegue mais eliminá-las do seu conhecimento.
Com os resultados obtidos e levando em consideração a importância dos erros,
verificamos que os alunos têm dificuldades relacionadas ao uso dos substantivos com os
determinantes e que os professores de LI precisam encontrar meios de corrigir e/ou minimizar
esses erros.
É relevante mencionar que a reflexão que este artigo pretende gerar nos professores
quanto à correção desses erros é a de que ela deve ser feita em momento conveniente,
possibilitando que a comunicação ocorra de forma mais natural e contínua, evitando
interrupções. Mais interessante ainda seria se os professores encontrassem maneiras de fazer
com que o próprio aluno percebesse seu erro e se autocorrigisse.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Ensino de línguas e comunicação. São Paulo: Editora Pontes,
2005.
ALMEIDA, V. P. de. Uma análise semântica: nomes contáveis e não-contáveis. Brasília:
UnB, 2009.
ALLAN, K. Nouns and countability. Language (Baltimore), vol. 56, n. 3, 1980. p. 541-
567.
BLÜHDORN, H.; SIMÕES, L.; SCHMALTZ, M. (2008). Sintagmas nominais contáveis
e não-contáveis no alemão e no português brasileiro. In BATTAGLIA, M. H. V.;
NOMURA, M. (Orgs.), Estudos linguísticos contrastivos em alemão e português. São Paulo:
Annablume, 2008.
BROWN, H. D. Principles of language learning and teaching. 5. ed. New Jersey: Pearson,
2007.
CELCE-MURCIA, M.; LARSEN-FREEMAN, D. The grammar book. 2. ed. Boston:
Heinle Cengage Learning, 1999. 854 p.
CORDER, P. Error analysis and interlanguage. Londres. Oxford University Press, 1991.
DURÃO, A. B. de A. B. Análisis de errores e interlengua de brasileños aprendices de español
y españoles aprendices de português. Londrina: UEL, 1999.
ELLIS, R. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1998. 147 p.
KRASHEN, S. D. Principles and practice in second language acquisition. California:
University of Southern California, 1982.
LEECH, G.; STARTVIK, J. A communicative grammar of English. London: Longman,
1975.
MAIA, A. M. B. da. Os erros de interlíngua na produção escrita da LE (inglês): um estudo
com alunos do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal. 2009. 111 p.
Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Universidade de Brasília, Brasília,
2009.
223
MASTER, P. A contrastive study of determiner usage in EST research articles. ERIC. n.
45. 1993.
PERCEGONA, M. S. A fossilização no processo de aquisição de segunda língua.
Dissertação de Mestrado. Paraná: UFPR, 2005.
PERINI, M. A. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
366 p.
QUIRK, R. A comprehensive grammar of the English language. Harlow: Longman, 2012.
1779 p.
RADFORD, A. Syntax: a minimalist introduction. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003. 283 p.
SCHUTZ, R. Interlíngua e Fossilização. 2003. English Made in Brazil. Disponível em:
http://www.sk./skinterfoss.html
SELINKER, L. The interlanguage hypotesis extended to children. Language Learning. v.
25, n. 1, jun. p. 139-151, 1975.
SPINASSÉ, K. P. Os conceitos de Língua Materna, Segunda Língua e Língua
Estrangeira e os falantes de línguas alóctones minoritárias no Sul do Brasil. Revista
Contingentia, v. 1, nov 2010.
CRIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE
NACIONAL DE ASSUNÇÃO - PARAGUAI
Luís Eduardo Wexell Machado (UNA/UAA)
Riciele Reis de Urbieta UNA/UAA)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um desenho e exemplos de atividades para a
criação de materiais didáticos para o ensino de português como língua estrangeira para estudantes
universitários. O conceito de língua refletido nos materiais se relaciona com a ideia de língua de uso e
de língua-cultura e as atividades refletem uma abordagem eclética e sem emendas - seamless learning,
unindo ensino presencial com ensino a distância, materiais impressos com materiais digitais e ensino
formal com ensino informal. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, estudo de caso, e o desenho
apresentado contempla um enfoque intercultural e a utilização de multidispositivos para acesso aos
objetos digitais de aprendizagem em etapas de Pré-aulas, Pós-aulas e aulas complementares. Não
foram medidos os efeitos do uso do desenho no processo de aprendizagem, mas, como ponto positivo,
o desenho permite o desenvolvimento de habilidades relacionadas com identidade, integração e com o
uso das novas tecnologias para finalidades educacionais, além de incentivar o desenvolvimento nos
estudantes da habilidade de solução de problemas.
Palavras-chave: Português língua estrangeira. Material didático. Ensino Superior.
Abstract: This paper aims to present a design and examples of activities for the creation of didactic
materials to teach Portuguese as a foreign language for university students. The concept of language
reflected in these materials relates to the idea of language of use and language-culture and the
activities reflect an eclectic and seamless approach - seamless learning, linking face-to-face teaching
224
with distance learning, printed material with digital materials and teaching informal education. We
used a qualitative approach, a case study, and the presented design contemplates an intercultural
approach and the use of multi-devices for access to digital learning objects in the stages of Pre-lessons,
Post-classes and complementary classes. The effects of the use of the drawing in the learning process
were not measured, but, as a positive point, the design allows the development of abilities related to
identity, integration and the use of new technologies for educational purposes, as well as encouraging
the development of student problem-solving abilities.
Keywords: Portuguese as a foreign language. Didactic material. Higher education.
INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo amplamente conectado em que a comunicação ocorre,
frequentemente, em tempo real; nesse mundo, aprender línguas estrangeiras é algo sumamente
importante para as relações globais e a para a formação de estudantes e profissionais
(ALMEIDA FILHO, 2009, p.1).
Em conformidade com essa realidade, o Livro Branco para a Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação Superior do Paraguai destaca, em seu capítulo sobre
internacionalização, a necessidade de que sejam criados centros de aprendizagem de idiomas
nas diversas universidades do país, além de enfatizar a necessidade da presença do inglês e do
português como matérias curriculares nos cursos de nível superior (CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2017).
Um dos elementos importantes para o aprendizado de línguas estrangeiras é o conjunto
de materiais e recursos que nominamos como material didático, que pode ser definido como
qualquer meio, ferramenta ou criação que contribua com o objetivo de aprendizagem; sua
função mais ampla é auxiliar o aprendizado/estudante e, consequentemente, auxiliar o
ensino/professor. (VILAÇA, 2009)
É possível vislumbrar que os livros didáticos, juntamente com os resumos, tarefas,
atividades, distintos gêneros textuais, assim como um grande número de ferramentas digitais,
225
programas de computador, webs educativas, plataformas virtuais de ensino, entre outros, são
formas e/ou modalidades de realização e emprego de materiais didáticos (VILAÇA, 2011).
O livro didático pode apresentar e cumprir papéis bem específicos como, por exemplo,
apresentação de insumos linguísticos, atividades de interação, vocabulário, gramática,
elementos para o aprendizado autoguiado e podem servir de suporte para professores em fase
de afiançamento de suas funções (VILAÇA, 2011).
Para que o aprendizado seja realmente significativo, é importante que o material
didático atenda às necessidades de seu público, que muitas vezes é muito específico, e deve
ser dinâmico e flexível, partir de ações integradoras e relacionadas com o contexto,
permitindo a vivência de experiências de interação e a prática intercultural. (MENDES, 2011).
O nosso contexto de trabalho demanda o uso e desenvolvimento de materiais didáticos
que estimulem a vivência de experiências de interação e que sejam significativos para o
desenvolvimento das competências comunicativas dos estudantes, dos conhecimentos de
aspectos culturais da língua-cultura meta, assim como o uso de materiais que lhes aproximem
ao máximo à realidade de uso da língua portuguesa utilizada no Brasil.
O trabalho em aula deve partir de uma perspectiva mais ampla e dinâmica, utilizando
o conhecimento da estrutura da língua e a aquisição de vocabulário como parte dos elementos
de compreensão e competência linguística e não como seu ponto de partida.
Optamos por organizar o trabalho, de forma a estimular ao máximo as habilidades
comunicativas dos estudantes no processo de aprendizagem, a partir da planificação e
apresentação em sequências didáticas, que são basicamente atividades ou módulos graduados
para melhor organizar o processo de compreensão. (BARROS E ROSA, 2013, p. 114).
Além das sequências didáticas apresentadas em classe por meio de material impresso,
confeccionamos materiais didáticos digitais, complementares aos materiais utilizados na aula
presencial, para apoio e conformação, no conjunto, de um sistema integrado de
possibilidades de aprendizagem.
Os cursos de português são ministrados em dois módulos: Português 1 e Português 2,
em dois semestres letivos como matéria eletiva com duas aulas semanais de duas horas cada
e são oferecidos para diversos cursos superiores das faculdades Politécnica e de Ciências
Exatas e Naturais da Universidade Nacional de Assunção, Paraguai.
Tradicionalmente os semestres contam com dois exames parciais e um final, além da
elaboração de trabalhos práticos e apresentações, que conformam o sistema de avaliação da
matéria.
226
Os exames parciais e final são feitos com suspensão das aulas; no total são,
aproximadamente, seis semanas dedicadas às avaliações que, somadas aos feriados e pontos
facultativos, reduzem o semestre letivo a aproximadamente 40 horas de aula.
Os estudantes de português são constituídos por jovens, predominantemente do sexo
feminino (próximo a 60%), com média de idade entre 22 e 24 anos, que se dedicam aos
estudos em tempo integral, já que os horários de aula da universidade impedem o exercício de
atividades profissionais.
O problema que fundamentou este trabalho de pesquisa foi, por um lado, a
necessidade de contar com materiais próprios e contextualizados, de acordo com os
interesses e necessidades dos estudantes e, por outro lado, aumentar a oferta de insumo
linguístico, beneficiamentos (affordances) e o contato com a língua portuguesa sem alterar
a quantidade de horas das aulas presenciais, já que elas estão programadas de acordo com o
currículo de cada curso, oferecendo maior oportunidade para que os estudantes pudessem
alcançar o nível intermediário, nível mínimo requerido para aceder a cursos de pós-
graduação em universidades brasileiras ou para a obtenção do certificado oficial de
proficiência de português como língua estrangeira - Celpe-Bras - após as 80 horas de aula
(dois semestres).
O projeto de pesquisa surgiu, principalmente, devido à limitação que enfrentamos em
nossa prática profissional ao não dispor de materiais didáticos adaptados ao nosso entorno e à
necessidade de expandir as possibilidades dos estudantes de contato com a língua-meta.
Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado parcial da pesquisa de criação
de material didático para o ensino de português língua estrangeira para os estudantes da
Universidade Nacional de Assunção por meio de um desenho e de exemplos de atividades.
A abordagem de aprendizagem de língua deste projeto se orienta pelas necessidades e
características dos estudantes e se apoia em uma abordagem comunicativa intercultural
(MENDES, 2008; 2011; 2015).
Mendes (2015) define três princípios que orientam a abordagem intercultural: o
primeiro deles está relacionado à imagem do Outro e do mundo ao nosso redor, à alteridade; o
segundo princípio refere-se ao nosso agir no mundo e a forma como compartilhamos nossa
experiência, à identidade e; o terceiro é o resultado dos dois primeiros princípios, uma vez que
está relacionado a forma como entramos em contato e dialogamos com o outro. (MENDES,
2008)
227
Contudo, muitas vezes a cultura é trabalhada em cursos de Língua Estrangeira de
forma acessória ou mesmo secundária, partindo de manifestações culturais, aspectos
históricos e/ou mesmo curiosos da língua-cultura a partir de imagens estereotipadas do povo e
da cultura (WALCZUK-BELTRÃO, 2007).
No que se refere ao uso das novas tecnologias e a relação entre objetos de ensino
digital e não-digital, optamos por utilizar uma abordagem sem costura, Seamless Learning em
inglês, que tem como objetivo integrar por meio da diluição das marcas que separam as
etapas, os meios, os modos e o tempo em que e com o qual o processo de aprendizagem
ocorre: material impresso versus material digital; ensino presencial versus ensino a distância;
material disponível na internet versus material disponível na biblioteca da escola; ensino
formal versus ensino informal; estudar na escola versus estudar em casa etc. (CHAN, 2015;
CHAN et al., 2006; WONG y LOOI, 2011)
O desenho resultante do aprendizado sem costura Seamless Learning trata de integrar
todos os elementos contemplados no material de maneira organizada, harmônica e sem
interrupção do fluxo de aprendizagem, de acordo com a imagem abaixo:
, Figura 1: Modelo para o aprendizado contínuo
Fonte: Adaptado e traduzido de Wong (2012).
É importante destacar que o conceito de Seamless Learning não é estanque e está
sujeito a variações. No início de seu emprego não estava associado ao uso das novas
tecnologias, como passou a ocorrer já a partir da primeira década de 2000 (CHAN et al.,
2006). Inicialmente foi aplicado no sentido de dar unidade às atividades elaboradas em classe
228
e fora da classe, também entre atividades prevista no plano curricular e outras emergentes,
que nasciam das negociações entre professor e estudantes. (KUN, 1996, p.136 citado em
WONG & LOOI, 2011)
O uso de dispositivos móveis inteligentes permite o acesso à vários contextos de
aprendizagem e a diversos recursos disponíveis em meio digital e também impresso, como
vídeos e lições aos quais se pode acessar por meio de códigos de barra (QR) dispostos nos
livros e materiais didáticos impressos.
O crescimento do uso de celulares inteligentes e sua presença nas escolas, utilizado ou
não com finalidades pedagógicas, já está consolidado e os estudantes já os utilizam em tempo
integral, o que pode representar uma economia para as instituições de educação superior já
que os estudantes podem utilizar seus próprios equipamentos para a realização das tarefas
escolares, se devidamente orientados.
Trazer o próprio dispositivo BYOD (bring your own devices, em inglês) foi assinalado
em 2014, pelo Open University Innovation Report 3, o relatório da Universidade Aberta de
Londres, como uma inovação de impacto potencial alto nos próximos 2 a 5 anos, oferecendo
oportunidades de conexão intra e extraclasse (SHARPLES et al., 2014, p. 19). O uso de
dispositivos próprios ajuda a integrar as modalidades formal e informal de educação, criando
um contexto único de aprendizagem.
METODOLOGIA
De acordo com os objetivos, adotamos uma abordagem qualitativa com uso de estudo
de caso, de caráter etnográfico, tendo como população a sala de aula e utilizamos como
técnica de coleta de dados a observação participante, questionários e narrativas de
aprendizagem para determinar as necessidades e interesses dos estudantes.
Também fizemos uma análise de materiais didáticos de português língua estrangeira
em circulação no Paraguai com o uso de uma ficha de análise que criamos com critérios
extraídos a partir do quadro teórico já explicitado e que resultaram na elaboração das unidades
didáticas destinadas à aula presencial.
Neste trabalho não detalharemos os dados e as análises elaboradas já que nosso
objetivo é explicitar o desenho e dar exemplos de atividades do material elaborado.
No que se refere à abordagem intercultural as atividades organizam-se principalmente
nas seções denominadas Pré-Atividades, Atividades e Interculturalidade em Foco. As duas
primeiras seções trabalham práticas de leitura, promovem discussões e realizam o
229
levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, assim como o estudo de gêneros
discursivos, a partir de textos autênticos, assim como vídeos e músicas que circulam
socialmente junto aos falantes da língua-meta.
Já a seção Interculturalidade em Foco trabalha mais especificamente aspectos da
língua-cultura tais como manifestações culturais, aspectos políticos, econômicos e cotidianos,
temáticas tradicionalmente discutidas quando se estuda cultura em cursos de língua
estrangeira.
Além disso, são estudados padrões culturais e comportamentos de grupos específicos,
formas de convivências e sociabilidade, trabalhados de forma interativa, buscando criar
pontes e reconhecer diferenças e semelhanças entre as duas culturas.
Os materiais digitais foram pensados para apoiar a apresentação dos elementos
estruturais contemplados em sala de aula em contexto comunicativo de uso da língua e para o
desenvolvimento de vocabulário. Também foram utilizados para reciclar certas lições ou
aspectos relevantes das unidades.
Os materiais digitais destinados a introduzir algum aspecto gramatical ou de
vocabulário - Pré-aulas - foram disponibilizados por meio de um ambiente virtual de
aprendizagem (Moodle) para serem acessados antes do tema ser trabalhado em aula. A ideia
seria ganhar tempo e aproveitar a sala de aula para a prática da língua mais do que para
explicar estrutura.
Os materiais digitais destinados a reciclar os temas tratados e a avaliar formativamente
os estudantes - Pós-aula - foram disponibilizados por meio de Formulários do Google e
apresentados ao acesso por meio de códigos de barra (QR Code) impressos no material ao
final das lições como tarefas a serem feitas fora da sala de aula.
A vantagem do uso dos formulários do Google é que mantém o registro de acesso e
assim se pode saber quem, quando e quantas vezes foram acessados, além do nível de acerto
das questões. Também possui uma excelente adaptabilidade à tela do celular, dispositivo
utilizado por todos os estudantes entrevistados como meio de acesso aos conteúdos escolares.
Além das Pré-aulas e das Pós-aulas, cada lição - duas por semestre - contém um
desafio de produção textual que deve compor o portfólio dos estudantes juntamente com
pequenos exercícios elaborados como tarefas extra aula.
Textos como apresentação oral, e-mails, resumos, sínteses, agendas, mapas etc.
compõe o portfólio elaborado por meio da ferramenta Google Sites e que são avaliados
230
criticamente pelo próprio autor ao final do semestre e pelos seus pares, além de receberem
comentários do professor.
Todas as tarefas listadas em seus diferentes meios: impresso e digital são
acompanhados pelo professor ao longo do semestre e recebem retroalimentação ou processo
de avaliação formativa e/ou somativa. Há, contudo, alguns códigos de barra (QRs) dispostos
no material impresso que servem para ampliar ou aprofundar temas: fóruns, blogs, páginas da
web, vídeos, entre outros, que não são acompanhados nem avaliados e que estão a disposição
dos estudantes para utilizá-los ou não.
RESULTADOS
A seção Interculturalidade em foco propõe a reflexão sobre questões interculturais a
partir de temas cotidianos, revelando formas de convivência, posturas em relação a
determinados assuntos e principalmente reconhecimento de padrões culturais do grupo de
falantes da língua-meta.
Além disso, são tratados padrões culturais e comportamentos de grupos específicos,
formas de convivência e sociabilidade, trabalhados de forma interativa, a partir de um
trabalho de reconhecimento de diferenças e semelhanças entre as duas culturas e de respeito à
alteridade do Outro, além da promoção do autoconhecimento.
Com relação aos recursos digitais e à proposta seamless learning e o modelo de
aprendizado contínuo (WONG, 2012), o primeiro aspecto de continuidade é poder dispor de
materiais que possam ser acessados a qualquer momento do tempo, durante as aulas
presenciais, depois e antes delas ou mesmo depois de finalizar o semestre e o ano letivos.
O segundo aspecto de continuidade é que os estudantes possam entrar em contato
com a língua-meta a partir de qualquer lugar: universidade, casa, transporte, cafeteria etc.
O plano de continuidade também contempla a integração entre os elementos físicos,
como a sala de aula e a biblioteca e os elementos digitais, disponibilizados na web. O
aprendizado pode correr a partir de iniciativas pessoais e também da interação com os demais
colegas em sala de aula, nos fóruns e no portfólio.
O modelo trata de privilegiar a integração entre ensino formal e informal como
elementos de desenvolvimento da autonomia, do interesse e da motivação dos estudantes e os
diferentes estilos de atividades buscam alcançar o maior número possível de estilos de
aprendizagem.
231
O uso de múltiplos dispositivos, como o celular em sala de aula e nos espaços
públicos e o computador em casa e na biblioteca, permitem o acesso ubíquo a diferentes
conteúdos e exercícios (CHAN, 2015; CHAN et. al., 2006)
A relação seamless dos recursos que compõem o desenho do material didático digital
pode ser sintetizado no seguinte diagrama:
Figura 2: Modelo de aprendizagem mediada pela tecnologia
Fonte: Elaboração nossa
Nos materiais didáticos, esses três componentes aparecem em forma de código de
barras ou acessíveis por meio da Plataforma Moodle. Materiais alojados na web também
podem ser trazidos para discussão em classe com a utilização de código de barras e o uso de
celulares:
Assista o vídeo “Você já ouviu falar em Netiqueta?” e responda às questões: Figura 3: Acesso a materiais disponíveis na web - vídeos
232
https://goo.gl/Gm1SbA Vídeo 9
Fonte: Material instrucional de português língua estrangeira
Os códigos de barras (QRs) inseridos dentro das lições do material impresso dão
acesso à recursos e atividades alojados na web; os códigos de barras (QRs) disponibilizados
ao final das lições do material impresso permitem ampliar os temas e devem ser acessados
fora da sala de aula e fora do tempo escolar, permitindo aos estudantes navegar pela web, de
forma livre e sem controle, utilizando apenas uma indicação temática, como é o caso do site
abaixo utilizado para apresentar conteúdos em língua portuguesa sobre o tema relato,
trabalhado em classe.
Figura 4: Acesso a materiais disponíveis na web - atividades ampliativas
Museu da Pessoa
https://goo.gl/wILgNv
Fonte: Material instrucional de português língua estrangeira
As Pós-aulas, chamadas de Exercícios Complementares, estão disponibilizadas ao
final de cada lição como elementos de reforço e reciclagem do conteúdo, além de servirem
como oportunidade de avaliação formativa.
Figura 5: Acesso a materiais disponíveis na web - exercícios complementares
233
Exercícios Complementares
Pronomes de Tratamento Pronomes Possessivos
Fonte: Material instrucional de português língua estrangeira
Os códigos de barra levam o estudante à formulários do Google preparados com os
exercícios:
Figura 6: Formulários do Google
Fonte: formulários Google elaborados pelos autores
Os formulários registram e identificam o estudante e podem servir de instrumento de
análise por parte do professor.
As Pré-aulas também são elaboradas em formulários do Google, que comportam a
utilização de vídeos, imagens e textos, além de uma série de diferentes questionários que vão
desde perguntas estruturadas para serem respondidas com verdadeiro ou falso até perguntas
para respostas abertas.
Os formulários das Pré-aulas não estão disponíveis por meio do material didático,
mas seu momento de consulta e realização estão sinalizadas nos materiais. Para acessá-los, os
estudantes devem ingressar na Plataforma Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem
oficial da faculdade.
234
O desafio, apresentado no início de cada tema, deve ser concretizado, em parte de
forma individual e, em parte, de forma coletiva e deve ser publicado, juntamente com outras
pequenas atividades ao longo da lição, no portfólio do estudante.
Como plataforma para o portfólio foi selecionado a ferramenta Google Sites por sua
facilidade de uso e por sua integração com as ferramentas do Drive, já amplamente utilizadas
pelos estudantes.
DISCUSSÃO
A Interculturalidade é apresentada de forma interativa, buscando criar pontes e pontos
comuns entre as duas culturas - brasileira e paraguaia, assim como realizando exercícios de
identidade, de reconhecimento de diferenças a partir de posturas críticas e respeitosas,
buscando estabelecer o diálogo e um espaço de convivência entre identidades.
A própria concepção de língua do material engloba, em sua totalidade, a cultura. A
concepção de língua pretendida é a de língua-cultura (MENDES, 2011; 2015).
As Unidades Didáticas foram planejadas e desenvolvidas a partir de princípios da
abordagem intercultural, tais como: consideração do contexto e das necessidades dos alunos,
utilização da sala de aula como ambiente privilegiado de interação, promoção de discussões
sobre aspectos das duas culturas presentes em sala de aula - língua-cultura e língua materna,
estudo e comparação de padrões culturais e formas de sociabilidade.
O reconhecimento de padrões culturais contribui para o desenvolvimento e para a
aquisição da competência comunicativa intercultural, assim como na aquisição da consciência
intercultural, composta pela consciência de como seu próprio comportamento e o dos outros é
influenciado culturalmente e pela aquisição da capacidade de expor seu ponto de vista,
respeitando os demais. (WALCZUK-BELTRÃO, 2007, p. 287 - 288)
Os recursos digitais foram elaborados com base no Modelo para o aprendizado
seamless, figura 1 (WONG, 2012) e resultaram em um modelo integrado de aprendizado que
relaciona e une os aspectos físico e digital dos materiais, pessoal e social da elaboração das
atividades e compartilhamento dos resultados e formal e informal de acesso a meios de
aprendizagem com base no modelo elaborado pelos autores representado na figura 2.
O desafio é um trabalho coordenado que une os aspectos pessoal e social e tem como
objetivo a concretização de um trabalho final com relevância social e destinado ao mundo real
e não somente à sala de aula.
235
A elaboração do trabalho pode ser feita de forma individual e/ou coletiva, de acordo
com as características dos estudantes e, além de constarem no portfólio individual, como
evidência de realização, devem ser elaborados e utilizados para atender alguma necessidade
real atual ou futura dos estudantes: envio de e-mail formal com apresentação do currículo,
vídeos de apresentação pessoal para empresas, agendas etc.
A criação desses objetos e seu uso no mundo real cria uma tensão na sala de aula,
típica dos problemas para os quais os estudantes, em formação para o trabalho, deverão se
acostumar a enfrentar. A solução do problema intencionalmente passa pelo uso de ferramentas
e aplicativos digitais, como forma adicional de formação para um mundo profissional em que
a tecnologia se destaca de forma cada vez mais intensa.
A conjugação dos materiais físicos, desenvolvidos em sala de aula, e o materiais
digitais, trabalhados na sala de aula e fora dela por meio das Pré-aulas, Pós-aulas e da
ampliação do tema relacionam os espaços físico e digital da aprendizagem, sendo que a
ampliação do tema permite incorporar aspectos tangenciais, não formais e informais de
aprendizagem, já que a partir dos enlaces selecionados cada estudante terá um mundo para
explorar de acordo com seu interesse e motivação.
Todos os materiais podem ser ubiquamente acessados, inclusive o material impresso
trabalhado na sala de aula, que pode ser digitalizado e depositado em algum repositória nas
nuvens, já que os materiais são elaborados pelos professores e disponibilizados como
Recursos Educacionais Abertos.
Apesar de oferecer uma experiência mais continua no aprendizado do português língua
estrangeira e uma maior oportunidade de contato com a língua, não temos, até o momento,
evidências de melhora no aprendizado em função do uso desse conjunto de recursos,
pensamos que devemos aprofundar nossa pesquisa no tema tratando principalmente de
questões relacionadas com a autonomia e a motivação dos estudantes e professores.
Também devemos mencionar que o trabalho com a tecnologia em sala de aula é ainda
muito desafiante e que, apesar da tecnologia fazer parte do dia-a-dia dos estudantes, seu uso
na educação ainda é visto como algo incômodo que exige paciência e formação, tanto para
professores como para estudantes.
Apesar dessas questões levantadas serem importantes, nós, particularmente, não
perdemos de vista que o uso da língua em contexto real, a criação de espaços comuns entre a
cultura dos estudantes e a cultura meta, a realização de tarefas socialmente orientadas e o uso
das novas tecnologias são elementos vitais para o sucesso dos aprendizes.
236
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FILHO, José Carlos A. O Ensino de Português como Língua Não-Materna:
concepções e contextos de ensino. Museu da Língua Portuguesa. Estação da Luz. 2009.
Disponível em: https://goo.gl/T4fn6S. Acessado em: 29 ago. 2018.
BARROS, Eliana. M. D.; ROSA, Lidiane. E. B. A didatização do gênero textual “Coluna de
Dúvidas de Português”. Revista Educação e Linguagens, Campo Mourão, v. 2, n. 03, p.110-
127, 2013.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Libro Blanco para la Educación
Superior. Asunción: Governo do Paraguai. 2017. Disponível em: https://goo.gl/HLYSDG.
Acessado em: 29 de ago. 2018.
CHAN, Tak. W. Removing Seams by Linking and Blurring How We Came Up with Seamless
Learning. In M. Wong, L. H.; Milrad, M.; Seamless Learning in the Age of Mobile
Connectivity, London: SPECHT Ed., 1 ed., pp. v–xv, Springer. 2015.
CHAN, Tak. W. et. al. One-To-One Technology-Enhanced Learning: an Opportunity for
Global Research Collaboration. Research and Practice in Technology Enhanced Learning,
v.1, n.01, p. 3–29, 2006. Disponível em: https://goo.gl/MwkT2W. Acessado em: 29 ago. 2018
KUH, George. D. Guiding Principles for Creating Seamless Learning Environments for
Undergraduates. Journal of College Student Development, n. 37, p. 135–148, 1996.
MENDES, Edleise. Por uma formação intercultural de professores e alunos de PLE. In:
MENDES, Edleise. (Org). Diálogos interculturais: ensino e formação em português língua
estrangeira. Campinas – SP: Pontes Editores. 2011.
MENDES, Edleise. A ideia de cultura e sua atualidade para o ensino-aprendizagem de LE/L2.
Revista Entre Línguas, Araraquara, v. 1, n. 02, p. 203-221, 2015.
MENDES, Edleise. Língua, cultura, e formação de professores: Por uma abordagem de
Ensino Intercultural. In: Mendes, Edleise; Castro, Maria Lúcia. S (Orgs). Saberes em
Português: ensino e formação docente. Campinas: Pontes, 2008.
SHARPLES, Mike; et. al. Innovating Pedagogy. In: Open University Innovation Report 3.
Innovating Pedagogy 2014: London, 2014.
VILAÇA, M.L.C. O material didático no ensino de língua estrangeira:
definições, modalidades e papéis. Duque de Caxias: Unigranrio, Revista Eletrônica do
Instituto de Humanidades, V. VIII, n. XXX. 2009.
VILAÇA, Márcio L.C. A elaboração de materiais didáticos de línguas estrangeiras: autoria,
princípios e abordagens. In: Cadernos do CNLF. Anais do XVI CNLF 2011, Rio de Janeiro:
UERJ, v. XVI, n. 04, t. 1, pág. 51. 2011.
WALCZUK-BELTRÃO. Ana Carolina. (2007) Comunicação Intercultural: novo Caminho
para as aulas de Língua Estrangeira. Revista Itinerários, v.6, n.16, pp.283-295. Polônia.
237
Universidade de Varsóvia. Disponível em: https://goo.gl/v2hcGU. Acessado em: 29 ago.
2018
WONG, Lung. H.; LOOI, Chee-Kit. What seams do we remove in mobile-assisted seamless
learning? A critical review of the literature. Computers and Education, v. 57, n. 04, p. 2364–
2381, 2011. Disponível em: https://goo.gl/yNvUvb. Acessado em: 29 ago. 2018.
WONG, Lung. H. A learner-centric view of mobile seamless learning. British Journal of
Educational Technology, v. 43, n.01, p. 19–E23, 2012. Disponível em: https://goo.gl/BT9APf.
Acessado em: 29 ago 2018.
REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES E ATORES SOCIAIS: OPORTUNIDADES
SOCIOEDUCACIONAIS NA SEÇÃO DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA DE UM
LIVRO DIDÁTICO
Maria Beatriz de Azevedo Ramos (UFLA)
Maria Eugenia Batista (UFLA)
Resumo: A leitura pode ser um importante instrumento para o engajamento linguístico e social dos
alunos nas aulas de língua inglesa. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da
representação dos atores e ações sociais contida nos gêneros propostos na seção de leitura de um livro
didático para o 6º ano em uso na educação básica pública. Este estudo buscou realizar uma análise
crítica de tais representações e suas implicações socioeducacionais. A Linguística Sistêmico-Funcional
(HALLIDAY, 1994; 2004;2014) e a Análise Crítica do Discurso (VAN LEEUWEN, 2008) compõem
o quadro teórico que viabilizou o encaminhamento de uma análise crítica do discurso. Halliday
concebe a língua como um sistema que nos permite gerar e interpretar significados. Para Van
Leeuwen, discursos são cognições sociais, formas específicas de se conhecer as práticas sociais, e
podem ser e são usadas como recursos para a representação de práticas sociais em um texto. As
discussões acerca dos resultados baseiam-se em Bernstein (1990) e Hasan (2005) no que diz respeito
às pedagogias visíveis e invisíveis e mediação respectivamente. Foram analisados oito textos,
exemplos de diferentes gêneros Os resultados apontam que a representação das ações sociais são, em
maior parte, por meio de processos materiais. O aluno, por sua vez, configura-se o ator social de
destaque.Este estudo permitiu verificar o papel mediador dos exemplos de gêneros propostos como
oportunidades de engajar os alunos linguística e socialmente por meio do discurso.
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Representação. Leitura em Língua Inglesa
Abstract: Reading can be assumed as an important resource to engage students linguistically and
socially in English Language classes. Bearing this in mind, this study aims at presenting an analysis
about the representation of social actions and actors which inderly the genres proposed by the Reading
Section in a coursebook designed to be used in the 6th year of Elementary School in state schools.
The analysis carried out proposes a critical view on the representations and on their socio-educacional
implications. The Systemic Functional Linguistics (HALLIDAY, 1994; 2004;2014) and Critical
Discourse Analysis (VAN LEEUWEN, 2008) are the theoretical framework for the analysis. Halliday
conceives language as a system which allows us to construe meaning. Van Leeuwen argues that
238
discourses are social cognitions, in other words, specific ways to learn about social practices, which
can be and are used as resources to represent social practices in a given text. The discussions upon the
results are based on Bernstein (1990) and Hasan (2005) as far as visible and invisible pedagogies and
mediation are concerned. Eight examples of genres were analysed. Results indicate that social actions
are mainly represented by material processes and the student is the mais social actor in the
representation. This research has allowed us to verify the mediation the genres analysed may offer as
opportunities to engage students linguistically and socially through discourse.
Keywords: Discourse Critical Analysis. Representation. English Language Reading.
1. INTRODUÇÃO
Os momentos de leitura nas aulas de língua inglesa são considerados importantes para
o engajamento linguístico e social dos alunos, na medida em que os gêneros textuais e
discursivos, ao circularem em um contexto específico, o escolar, oportuniza a identificação
entre/dos próprios estudantes como grupo social e os encoraja a contribuírem para uma
transformação social. Nesse sentido, o livro didático, como meio principal de circulação
desses gêneros, como visto nas experiências de estágio e no âmbito do PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e discutidos nas orientações no âmbito do
PIBIC (Programa Institucional de Bolsas e Iniciação Científica), tem um papel fundamental
para que essas oportunidades sejam oferecidas e discutidas.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL
A Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF) é um estudo desenvolvido por
Michael Halliday (1994, 2004, 2014) que permite verificar e analisar a materialidade do
discurso, o texto, de maneira a considerar o uso em um dado contexto social no qual os textos
são produzidos, a quem são direcionados e como são circulados. Essa proposta linguística
permite entender como se dá a comunicação entre as pessoas, a relação entre esses sujeitos e
como eles agem em sociedade por meio da linguagem. Macêdo e Barbara (2009) consideram,
ainda, a LSF como uma teoria sociossemiótica, porque se preocupa com a linguagem em
todas as suas manifestações: como o homem usa a língua, bem como a linguagem em geral, e
como a sociedade a faz.
239
De acordo com a teoria da LSF, a função da linguagem é gerar significados e o faz por
meio de quatro metafunções (HALLIDAY, 1994 citado por BATISTA 2012) que dizem
respeito ao significado por elas gerado. A primeira delas, a Metafunção Experiencial, está
relacionada à representação de nossas ações no mundo. A Metafunção Interpessoal trata das
relações estabelecidas no texto e a Metafunção Textual diz respeito ao modo como o texto é
organizado e veiculado, isto é, modo falado ou escrito. Há, ainda, a Metafunção Lógica que
aborda as ligações lógico-semânticas no texto e compõe a Metafunção Ideacional composta
pela junção das Metafunções Experiencial e Lógica.
Este trabalho deteve-se em desenvolver uma análise sob a perspectiva da Metafunção
Experiencial, na qual a oração representa uma experiência humana em desenvolvimento.
Utilizando esse aporte teórico-metodológico, faz-se uso de nomenclaturas diferentes da
gramática normativa para identificação dos componentes da oração. Portanto, no âmbito da
Metafunção Experiencial, nomeamos as ações manifestas por meio de verbos como processos
e os sujeitos, atores as ações, como participantes, que também podem ser meta, escopo e
beneficiário, na posição de objetos direto e indireto, que complementam o significado das
ações. Abaixo, o Quadro 1 exemplifica os tipos de processos que dizem respeito à experiência
do ator e os tipos de participantes envolvidos nestes processos:
Tipos de Processo Categoria de
Significado
Participantes Exemplos de verbos
prototípicos
Material
- transformativo
- criativo
fazer acontecer
Ator
Meta
Escopo
Beneficiário
Atributo
comprar, vender, mexer,
pintar, cortar, quebrar,
riscar, limpar, sujar, bater,
matar
Mental
- perceptivo
- cognitivo
- emotivo
- desiderativo
perceber
pensar
sentir
desejar
Experienciador
Fenômeno
perceber, ver, ouvir,
lembrar, esquecer, pensar,
saber, gostar, odiar, amar,
querer
Relacional
- intensivo
- circunstancial
- possessivo
caracterizar
identificar
Portador
Atributo
Identificado
Identificador
ser (otimista)
ser (o presidente)
estar (em paz)
ter, possuir (livros)
Comportamental comportar-se Comportante
Comportamento
rir, chorar, dormir, cantar,
dançar, bocejar
Verbal
- comunicativo
dizer Dizente
Verbiagem
dizer, perguntar,
responder, contar, relatar,
240
Receptor
Alvo
Citação
Relato
explicar
Existencial existir Existente haver, existir, ter
Quadro 1 – Processos e Respectivos Participantes (Fuzer & Cabral, 2014, p.81/82)
Este estudo concentrou-se na análise e representação de ações e atores sociais. Assim,
teve como foco os diferentes tipos de processos, principalmente aos materiais que conferem
ao sujeito ator maior potencial de ação e transformação em sociedade.
2.2. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
Aliada à LSF, foi também utilizada a Análise Crítica do Discurso que considera o
discurso como uma cognição social por meio da qual é possível identificar representações de
ações e atores sociais presentes no texto, pelas práticas sociais de quem faz, o que faz, como
faz, para quem o faz. Van Leeuwen (2008) produziu um inventário de formas
sociossemânticas, ilustrado na Figura 1, que revelam se essas representações incluem ou
excluem os atores sociais para que o discurso corresponda aos interesses em relação ao
interlocutor e se a ação social pode ser interpretada como material ou semiótica, como “fazer”
ou como “significar”, em outras palavras, como ação que potencialmente tem um efeito ou
propósito material ou não (VAN LEEUWEN, 2008 citado por BATISTA, 2012).
Figura 1 – Inventário Sociossemântico para Representação de Atores Sociais (Adaptado de VAN
LEEUWEN, 2008)
241
Por meio desse inventário, pode ser feita uma análise de forma a verificar a inclusão
ou exclusão dos atores e/ou participantes nos processos, inclusive a forma como eles estão
representados.
2.3. MEDIAÇÃO VISÍVEL E INVISÍVEL E A PEDAGOGIA PROPOSTA POR
BERNSTEIN
No que se refere à mediação, Hasan (2005), fundamentada em Vygotsky, apresenta a
mediação como um processo inerentemente transitivo que requer pelo menos dois
participantes – algo/alguém mediando algo e introduz o termo mediação semiótica como
sendo: mediação de algo por alguém para um outro alguém por meio da linguagem,
assumindo que mediação semiótica é uma característica permanente da vida social humana.
Assim sendo, a condição natural da linguagem em uso, em um contexto de atividade cultural,
é mediar. A questão, portanto, não é se a linguagem faz a mediação, mas o que é que ela
medeia.
Ainda segundo Hasan, na visão vygotskiana sempre é invocada a agência deste
processo com referência específica à formação de conceitos e/ou algum tipo de resolução de
problema (problem-solving) que pertencem tipicamente às atividades educacionais
especializadas dos espaços educacionais oficialmente reconhecidos. Hasan ressalta que é
preciso lembrar que a mediação semiótica ocorre onde o discurso ocorre e é o que a língua
naturalmente faz por meio do discurso. Permitir que os sujeitos falantes internalizem o mundo
que experienciam no viver suas vidas é o papel mais importante que a língua pode
desempenhar. Surge, então, a pertinência tais considerações de Hasan para este estudo, no que
tange o papel semiótico da linguagem nos gêneros propostos para leitura no livro didático
analisado.
Há dois tipos de manifestação da mediação semiótica nomeados por Hasan de
mediação visível e invisível. A mediação visível é focada em algum conceito ou problema
específico: os participantes podem “ver” o que estão fazendo e pelo menos um dos
participantes têm consciência de que está ensinando ou explicando algo específico a alguém.
A mediação invisível, por sua vez, é instrumental no desenvolvimento de competências
preconizado por Bernstein (2000), uma vez que tais competências são cruciais para as formas
pelas quais o sujeito se engaja na mediação semiótica visível, portanto, mediação visível não é
totalmente independente da mediação invisível.
242
Além da concepção vygotskiana, a proposta de mediação visível e invisível de Hasan
encontra-se ancorada na visão de uma pedagogia visível e invisível de Bernstein (1990). para
o autor, uma pedagogia visível tem como foco o produto final externo, ao passo que uma
pedagogia invisível está focada no processo, nos procedimentos ou competências que todos os
aprendizes trazem e desenvolvem no contexto pedagógico. Assim, toda discussão a respeito
de uma pedagogia invisível é de grande interesse neste estudo, tendo em vista o papel da
leitura no desenvolvimento de competências que possam engajar o aprendiz na transformação
de grupos sociais em que atua a partir de sua transformação individual motivada pela
interação social em sala de aula mediada pela leitura.
Neste sentido, os gêneros textuais propostos pelo livro didático, entendidos como
eventos comunicativos com um propósito definido, orientado para um objetivo e organizado
em estágios (EGGINS, 1994), para os quais escolhas lexicogramaticais são feitas de modo
que tais objetivos e propósitos sejam alcançados, que nos permitem agir em sociedade por
meio da linguagem, configuram-se como componentes primordiais para a mediação.
3. O CORPUS
O material didático utilizado para análise foi o livro It Fits, selecionado no Plano
Nacional do Livros Didático - PNLD 2014 e 2017, que está em uso no ensino básico público.
O foco da análise concentra-se, na seção de leitura doe um livro didático para turmas do 6º
ano do ensino fundamental II, selecionados no PNLD 2014 e 2017. A escolha do material se
deu na necessidade da reflexão sobre a importância da seção de leitura no livro didático, bem
como a relevância da atenção que o professor em formação para o processo de leitura deve
dar ao desenvolvimento da habilidade de leitura e as oportunidades socioeducacionais que
estão disponíveis nos discursos que permeiam o livro didático.
Foram analisados oito textos, exemplos de diferentes gêneros: carteira de identificação
estudantil, cartazes de divulgação de filme, artigo de uma revista online, mapas, canção pop
estadunidense, receita culinária, regras de um jogo e página da web de fãs de uma banda.
4. METODOLOGIA
Norteiam os procedimentos metodológicos deste estudo o quadro teórico-
metodológico da Linguística Sistêmico Funcional que, segundo Eggins (1994), oferece um
243
modelo sistêmico para estudarmos a língua em uso, como ela funciona e sua relação com o
contexto. Esse modelo também fornece um conjunto de técnicas para analisarmos diferentes
aspectos do sistema de uma língua. Portanto, a LSF oferece um modelo de análise textual de
orientação social (GOUVEIA, 2009) que
elege o texto como unidade fundamental, a partir da constatação
facilmente verificável, de que este é a unidade de comunicação em
qualquer evento discursivo. Ou seja, encarado, na sua dimensão
comunicativa, como linguagem que é funcional, o texto é o resultado
de toda e qualquer situação de interacção, isto é, é ele próprio a forma
linguística de interacção social, uma unidade de uso linguístico. De
extensão variável, falado ou escrito, individual ou colectivo,
composto de apenas uma frase ou de várias (a extensão não é
relevante), o texto é o que produzimos quando comunicamos. É ainda
uma colecção harmoniosa de significados apropriados ao seu
contexto, com um objectivo comunicativo. (GOUVEIA, 2009, p. 18-
19)
O tratamento dado ao texto segue sob a perspectiva sistêmico-funcional que oferece
um quadro analítico para abordar as escolhas léxico-gramaticais. Portanto, foram apuradas as
ocorrências dos processos e dos participantes a fim de serem analisados e discutidos os
significados que constroem no texto.
5. RESULTADOS E ANÁLISE
Primeiramente foram analisados os processos, ou seja, a representação das ações dos
participantes. Houve ocorrência de todos os tipos de processos, porém, os processos materiais
são a maioria das ocorrências, que representam diferentes experiências vividas em sociedade,
como ilustram os verbos a seguir meet, begin, steer, lead, take, reduce, reuse, recycle, try,
buy, bring, combine, put, sprinkle, pick, run, entre outros, e, majoritariamente em modo
imperativo. A Tabela 1, abaixo, traz a quantificação das ocorrências dos processos nos textos.
Processos Ocorrências
Material 54
Relacional 36
Mental 12
Verbal 3
Comportamental 2
Existencial 1
244
Tabela 1 - Quantificação dos Processos
O quadro abaixo exemplifica como os processos se materializam no corpus.
(YOU) Pick three people as characters [...]
Participante: ATOR Processo: MATERIAL Participante: META
Quadro 2 – Excerto do texto How to play dodgeball - Unit 7
Identificadas as ocorrências dos processos materiais, o próximo passo foi analisar a
representação dos atores sociais. O tipo de maior ocorrência identificada foi a de exclusão por
meio de elipse, em função da forma imperativa, como pode ser verificado na Tabela 2 a
seguir.
Ator Social Ocorrências Exclusão Inclusão/Ativação
you (elíptico) 22 22 0
you 8 0 8
we 4 3 1
pets 5 1 4
Tabela 2 – Representação dos atores sociais e os tipos de representação
Nas categorias de exclusão, os atores sociais são excluídos da oração, mas podem ser
recuperados no texto, principalmente no modo imperativo. Em todo caso, este modo evoca a
participação do leitor para agir de acordo com o tipo do processo, seja ele com o sentido de
“fazer” ou de “significar” e corresponder ao objetivo do interlocutor.
O que indica que, levando em consideração o meio no qual os gêneros circulam e o
discurso pedagógico, o YOU imperativo refere-se ao leitor como ator social em destaque. Ao
estudante, interlocutor das propostas do livro didático no qual os gêneros mencionados são
veiculados, é atribuído o papel de agente social dos processos materiais. Os gêneros
apresentados no livro didático referem-se à práticas sociais por meio das quais os estudantes
comumente agem em sociedade (canção, regras de jogo, identificação estudantil).
6. DISCUSSÃO
De acordo com os resultados e a análise, é possível afirmar que a representação das
ações sociais se materializa, em maior parte, por meio de processos materiais. O estudante,
por sua vez, configura-se como o ator social de destaque, por meio de elipse, caracterizado
245
por uma representação por meio de Exclusão na maioria das vezes, em função da forma
imperativa.
Assim, este estudo permitiu verificar que o livro didático tem um papel mediador no
processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no momento de leitura, e, ao apresentar aos
estudantes gêneros textuais que oportunizam o engajamento discursivo, linguístico e social
dos alunos.
Partimos do princípio de que o aluno, ator social de destaque, participante do processo
de ensino-aprendizagem da língua inglesa, somente muda os grupos sociais no quais atua a
partir do momento em que ele entende que sua transformação individual decorre da interação
social (HASAN, 2005). Na busca para desenvolver competências que possam ser libertadoras
para o aprendiz na sociedade, Bernstein (1990) faz referência à Pedagogia Freiriana como
proposta prática para alcançarmos tais transformações. Neste sentido, trazemos como
exemplo o gênero textual canção, no qual pode-se perceber o uso de imperativos, que evocam
a participação do ator social em sociedade, ou seja, o aluno, por meio dos processos reduce,
reuse, recycle, como ilustra a imagem abaixo.
246
Figura 2: Exemplo do gênero canção no Reading Corner da unidade intitulada The Environment
Encorajado pelos processos que o evocam, o estudante tem a oportunidade de engajar-
se discursivamente com o que está aprendendo. Nesse sentido, este interage socialmente com
o texto e com os colegas e pode favorecer o desenvolvimento de práticas sociais
transformadoras, como pensar de forma sustentável para diminuir o desperdício, como
sugerem os processos já mencionados: reduce, reuse e recycle. O exemplo, a seguir, ilustra o
convite ao não desperdício, a não jogar coisas fora, por meio da polaridade negativa do
processo material throw out.
(YOU) Don’t throw it out.
Participante: ATOR Processo: MATERIAL Participante: META
Quadro 4 – Excerto da canção 3 R’s - Unit 5
247
Assim, a canção trazida como exemplo pode contribuir para sua transformação
individual, como apresentado pelo processo das mediações invisível e visível, no momento
em que ele se encontra discursivamente incluído no que lhe é apresentado pelo livro didático.
O material didático, ao possibilitar esse movimento de engajamento discursivo,
linguístico e social do aluno mediado por diferentes gêneros, propõe uma pedagogia
transformadora que propicia mudanças socioeducacionais ocorram em sala de aula e possam
ser expandidas para as interações na sociedade.
7. CONSIDERAÇÕES
Este estudo permitiu verificar o papel mediador dos exemplos de gêneros propostos,
incluindo a seção de leitura como possibilidades de proporcionar o engajamento linguístico e
social dos alunos por meio do discurso para agir e ser o ator de destaque em contextos
sociais.
A análise possibilitou verificar o papel potencial da leitura como oportunidade de
desenvolvimento de competências que permitem incluir o aluno, enquanto leitor, nas ações
sociais representadas por meio dos processos.
Em suma, o presente estudo resultado de experiências no âmbito dos PIBIC, PIBID e
Estágio Supervisionado, possibilitou vivências no que diz respeito à Formação do Professor
em pré-serviço a fim de promover conscientização em nível social e crítico acerca da
representação de atores e ações sociais em diferentes eventos comunicativos representados
pelos gêneros propostos pelo livro didático.
8. REFERÊNCIAS
BATISTA, Maria Eugenia. Implicações Socioeducacionais do Ensino de Inglês em Escolas
Públicas: Linguística Sistêmico-Funcional e Representação da Prática Pedagógica. São
Paulo: 272 p. 2012.
BERNSTEIN, B. A Estruturação do Discurso Pedagógico – classe, códigos e controle.
Volume VI da edição inglesa. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Luís Fernando Gonçalves
Pereira. Petrópolis: Vozes, [1990] 1996.
_____________. Pedagogy, Symbolic Control and Identity: theory, research, critique.
Boston: Rowen & Littlefield Publishers, Inc., [1996] 2000.
EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Pinter
Publishers, 1994.
248
FUZER, Cristiane; CABRAL, Carla Regina S. Introdução à gramática sistêmico-funcional
em língua portuguesa - 1.ed. - Campinas, SP: Mercado das Letras, 2014.
GOUVEIA, C. A. M. Texto e Gramática: Uma Introdução à Linguística Sistémico-Funcional.
Matraga, Rio de Janeiro, v.16, n.24, jan./jun, 2009.
HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. 2nd ed. London, New York:
Edward Arnold, 1994. IN: BATISTA, Maria Eugenia. Implicações Socioeducacionais do
Ensino de Inglês em Escolas Públicas: Linguística Sistêmico-Funcional e Representação
da Prática Pedagógica. São Paulo: 272 p. 2012.
______. An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. Revisto por MATTHIESSEN, C.
M. I. M. Oxford University Press Inc. United States of America, 2004.
______. Halliday’s introduction to functional grammar. 4th ed. Revisto por
MATTHIESSEN, C. M. I. M. Routledge, 2014.
HASAN, R. Semiotic Mediation, Language and Society: Three Exotripic Theories –
Vygotsky, Halliday and Bernstein. 2005. In: BATISTA, Maria Eugenia. Implicações
Socioeducacionais do Ensino de Inglês em Escolas Públicas: Linguística Sistêmico-
Funcional e Representação da Prática Pedagógica. São Paulo: 272 p. 2012.
MACÊDO, Célia Maria Macêdo; BARBARA, Leila. Linguística sistêmico-funcional para a
análise de discurso: um panorama introdutório. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 10
(1), 2009.
VAN LEEUWEN, T. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis.
New York: OUP, 2008. IN: BATISTA, Maria Eugenia. Implicações Socioeducacionais do
Ensino de Inglês em Escolas Públicas: Linguística Sistêmico-Funcional e Representação
da Prática Pedagógica. São Paulo: 272 p. 2012.
ENSINO, CULTURA E VARIANTES DA LÍNGUA ESPANHOLA:
UMA ANÁLISE DE PORTAIS EDUCACIONAIS
Célia Cristina Gautier Maria Xavier (UCPel)
Fabiane Villela Marroni (PPGL- UCPel)
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo propor uma reflexão acerca do processo ensino-aprendizagem de
espanhol como língua estrangeira no Brasil. Partimos da ideia de que a aprendizagem deve atender aos
interesses e necessidades dos alunos que buscam aprender outro idioma para aplicar nas suas tarefas,
obter um diferencial no mercado de trabalho fazendo uso da língua estrangeira. Acreditamos que
facilidades oferecidas pelas tecnologias possibilitam uma maior aproximação entre diferentes culturas
e não devem estabelecer barreiras reforçando discursos que evidenciam o preconceito linguístico.
Para contrapor ideias que prestigiam determinadas culturas e desvalorizam outras, examinaremos
algumas questões relativas à presença marcante do ensino do espanhol europeu em detrimento de toda
uma gama de conhecimentos obtidos em situações concretas de uso da língua espanhola e a riqueza
cultural dos países latino-americanos. Na tentativa de entendermos esse cenário eurocêntrico,
tomaremos como suporte os estudos de Irala, Goettenauer, Silva e Castedo. Também os
249
esclarecimentos de Godenzzi acerca do conceito de interculturalidade complementam as ideias de
igual valorização das variantes linguísticas e culturais corroboradas pelas afirmações de Moreno
Fernández, Fiorin e Leffa no que se refere as implicações metodológicas para o ensino e capacitação
de professores.
A partir do apanhado teórico, serão analisados os Portais Educacionais Só Espanhol, Espanholito,
EspanholGratis.NET e o Bom Espanhol por serem utilizados com maior frequência pelos nossos
alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Desta forma, acreditamos que as informações contidas nesta análise servirão como objeto de reflexão
para quem trabalha com portais educacionais no ensino de espanhol para brasileiros, cabendo a eles
também a tarefa de colaborar para a desconstrução de conceitos equivocados acerca da superioridade
ou não de uma cultura sobre as outras determinando o maior ou menor prestígio no ensino de um
idioma.
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, espanhol, portais educacionais.
Abstract: The present article aims to propose a reflection on the teaching and learning process of
Spanish as a foreign language in Brazil. We start from the idea that learning should meet the interests
and needs of students who seek to learn another language to use in their tasks, differentiate them in the
labor market making use of the foreign language. We believe that the facilities offered by technologies
enable a closer approximation between different cultures and it shall not build barriers reinforcing
discourses which highlight the linguistic discrimination.
In order to contrast ideas which acknowledge certain cultures and underestimate others, we will look
into some issues concerning the significant presence of the teaching of European Spanish in detriment
of a whole range of knowledge obtained in concrete situations of usage of the Spanish language and
the cultural richness of Latin American countries. In an attempt to understand this eurocentric
scenario, we will take into account as a support the stuedies from Irala, Goettenauer, Silva and
Castedo as well as the explanations from Godenzzi concerning the concept of interculturality
complement the ideas of equal valuation of linguistic and cultural variations corroborated by the
claims by Moreno Fernández, Fiorin and Leffa in relation to the methodological implications for the
teaching and for teacher training.
Based on the theory, the Educational Websites Só Espanhol, Espanholito, EspanholGratis.NET and the
Bom Espanhol will be analyzed as they are more commonly used by our Adult Education students.
Thus, we believe that the information found in this analysis will serve as an object of reflection for
those who work with educational websites in the teaching of Spanish for Brazilians. They also have
the task of collaborating for the deconstruction of mistaken concepts about the superiority or not o
fone culture over the others establishing a higher or lower prestige in the teaching of a language.
Keywords: Teaching, learning, Spanish, educational websites.
INTRODUÇÃO
Atualmente, verificamos um crescente número de estudantes que escolhem o espanhol
como segunda língua por acreditar que a proximidade com o português tornará o percurso de
estudo da língua estrangeira mais simples. Acreditamos que o despertar desse interesse se
250
deve as exigências de um mundo globalizado e também a necessidade de complementar os
seus estudos acadêmicos. Desta forma, as línguas espanhola e inglesa são fundamentais na
formação dos estudantes ainda que busquem esses conhecimentos para diferentes propósitos
como viagens, trabalho, ou para simples interação nas redes sociais.
Ao refletirmos sobre os propósitos da aprendizagem de um idioma, isto é, a
comunicação entre estrangeiros e falantes nativos, nos deparamos com o ensino ministrado
em muitas escolas brasileiras que priorizam apenas uma variante da língua. Talvez isso se
deva ao desconhecimento e desatualização dos profissionais que atuam nessa área, ou pela
construção de uma ideia equivocada de homogeneização de uma língua. Por essas razões,
examinaremos a presença marcante do eurocentrismo no ensino e na aprendizagem de alunos
brasileiros em Portais Educacionais na tentativa de entender os motivos que justificam a
ausência do ensino das variantes ou o fato de serem simplesmente deixadas para um segundo
plano, assim como a bagagem linguística e cultural presentes na heterogeneidade do idioma.
O ensino da língua espanhola no Brasil assume características interessantes que se
refletem muitas vezes na forma com que os conteúdos são propostos nos Portais Educacionais
de ensino de espanhol para brasileiros. É fundamental que a aprendizagem atenda aos
diferentes interesses dos alunos, portanto as tecnologias e a proximidade com as áreas de
fronteiras propiciam um material autêntico de aprendizagem muitas vezes desperdiçados na
elaboração de tarefas.
1 O EUROCENTRISMO NO ENSINO DE ESPANHOL PARA BRASILEIROS
No transcurso do processo implantação do ensino do espanhol no Brasil, muito se
discute sobre a capacitação de profissionais, escolha de materiais didáticos e outras questões
que circundam o tema como: qual a variante mais adequada ao ensino de espanhol para
estudantes brasileiros? Muitos professores já tiveram de responder a questionamentos do tipo:
qual o espanhol que iremos estudar? Por que o espanhol que aprendemos não é o mesmo
idioma falado na fronteira? Por que o espanhol dos livros didáticos é diferente? Essas e outras
perguntas nos fazem buscar respostas, pois uma das justificativas para a implantação do
ensino da língua espanhola é justamente facilitar a comunicação de brasileiros com os países
do Mercosul (IRALA, 2004, p.116).
Contudo, não buscamos aqui defender a supremacia de uma variante sobre outra, ao
contrário, é verossímil afirmar que a língua espanhola, assim como outras, apresenta uma
estrutura padrão que permite a comunicação seja qual for a variante escolhida. É fundamental
251
que os professores de língua espanhola tenham sempre presente que não existe uma variante
mais fácil ou mais difícil de ser aprendida ou de ser ensinada, também “não existem variantes
inferiores: toda variação no uso de uma língua é lógica, complexa e regida por regras
gramaticais” (IRALA, 2004, p.104). As afirmações anteriores corroboram a ideia de que os
profissionais da área devem incluir também em suas aulas os conhecimentos relativos às
variantes no que se refere à cultura, língua e literatura, possibilitando aos alunos
conhecimentos que vão além dos manuais que prestigiam a variante peninsular. Silva e
Castedo (2008, p.70) entendem que
[...] os docentes muitas vezes não conhecem todas as variedades da língua
espanhola, porém, deveriam ensinar as mais recorrentes (as usadas em uma
maior extensão territorial e/ou de maior importância para a região do aluno)
e incentivar ao aluno a buscar informações sobre elas.
Por essa razão, muitas vezes os alunos permanecem somente com os conhecimentos
relativos à variante europeia, pois é a que encontra também maior suporte através dos
materiais didáticos distribuídos aos professores que nem sempre apresentam formação na área
e sim cursos de capacitação. Muitos professores afirmam que encontram dificuldade em
apresentar aos estudantes brasileiros a diversidade do idioma para melhor atender aos
propósitos de seus alunos. De acordo com Irala,
[...] o professor de E/LE não pode ignorar os americanismos em suas aulas,
pois consideram essenciais para que o aluno possa utilizar a língua de forma
coerente e contextualizada, principalmente conhecendo a proximidade
existente entre o Brasil e os países hispano-americanos, e a frequência em
que há intercâmbio entre eles (IRALA, 2004, p.107).
Cabe, neste momento, questionar: qual a razão que justifica esse elevado destaque
atribuído ao espanhol peninsular? Talvez, o prestígio da variante encontre suporte nos
conceitos cultivados e transmitidos através de gerações que atribuíam um grande valor a tudo
que viesse da Europa, isto é o chamado “eurocentrismo” que se encontra ainda presente no
inconsciente coletivo que considera a língua dos colonizadores como a mais “pura”. O
referido conceito não pode se contrapor aos verdadeiros objetivos do ensino da língua
estrangeira, pois, ainda de acordo com a mesma autora,
[...] a contradição entre os objetivos propostos na inserção da Língua
Espanhola e o preconceito encontrado tanto nos manuais e
consequentemente por parte de professores e alunos, acaba por
desconsiderar o contato real existente com as variantes dos países vizinhos,
como apontam Lima & Silva (2001), referindo-se aos problemas de
comunicação encontrados no contato com falantes nativos, pois há uma
252
variedade de palavras aprendidas de acordo com a norma peninsular
predominante nos materiais didáticos que podem servir como obstáculo aos
brasileiros, ocasionando assim, algumas confusões (IRALA, 2004, p.107).
Na tentativa de escapar das estruturas previamente determinadas, muitos professores
buscam em portais educacionais uma maior aproximação dos estudantes com as variantes da
língua espanhola. Em alguns portais, é possível encontrar as variantes hispano-americanas,
mas a variante peninsular se apresenta em muitos ambientes virtuais e na maioria dos
materiais didáticos sob uma forma padrão. Sobre e existência de um espanhol padrão,
Goettenauer afirma que “podemos concluir, portanto, que não existe um único español
estándar e sim vários” (GOETTENAUER, 2010, p.161). Vale questionar: o predomínio do
espanhol peninsular se deve ao domínio econômico, político e cultural? A valorização
atribuída a tudo “o que vem da Europa é melhor”? Por que muitos professores brasileiros
preferem ensinar somente a variante europeia?
Bem, as respostas para esses e outros questionamentos pode estar no maior preparo de
muitos profissionais no que se refere à bagagem cultural de povos que, unidos por laços
históricos e traços de identidades, se cruzam e contam, também, com a aproximação entre
línguas irmãs e filhas da mesma mãe, a língua latina. Devido a essa semelhança com o léxico
do português, muitos estudantes acreditam até que não precisam estudar a língua espanhola.
Trata-se de um grande equívoco, já que o português e o espanhol apresentam divergências
léxicas bastante interessantes e o estudo dessas semelhanças e diferenças pode tornar o
processo de ensino de espanhol como L2 um marco significativo na aprendizagem de
estudantes brasileiros. Nas práticas pedagógicas vivenciadas em sala de aula, é possível
observar o despertar para o estudo de uma língua estrangeira que certamente contribuirá para
a compreensão e a valorização da língua materna. Podemos constatar que o ensino da língua
espanhola no Brasil merece um “olhar” mais atento, tanto na formação e capacitação de
profissionais como no ensino efetuado nas escolas de ensino fundamental e médio.
Entre tantas questões que perpassam o processo de ensino e aprendizagem da língua
espanhola, o que não podemos deixar de enfatizar é o importante papel dos professores de
E/LE, pois cabe a esses profissionais a tarefa de ir além dos objetivos que circundam a
aquisição de uma língua estrangeira e, assim, conduzir os seus alunos ao conhecimento das
culturas dos povos hispânicos através das artes, da literatura, da culinária, da religiosidade, da
política e também da história dos povos que têm raízes culturais em comum.
253
2 A INTERCULTURALIDADE PRESENTE NA HETEROGENEIDADE DA LÍNGUA
ESPANHOLA
A Língua Espanhola é o resultado da soma de diferentes culturas, de diferentes povos
que habitam diferentes regiões em diferentes continentes. Portanto, a sua heterogeneidade
linguística não pode ser apreciada de forma simplista através de conceitos semelhantes ao
propagado historicamente de que o espanhol da Espanha, castiço, seja o único que deva ser
ensinado, ou que ainda é “o espanhol mais correto”. Nessa perspectiva, ignora-se a grande
riqueza da língua: suas variantes e suas culturas. Além disso, essa visão equivocada reflete
preconceitos linguísticos e pode prejudicar ao ensino, já que exclui aspectos importantes da
língua que não podem deixar de compor a formação de professores e estudantes que entendem
que a riqueza da aprendizagem da língua consiste no conhecimento de suas variantes
linguísticas e culturais. Moreno Fernández afirma que “Devemos pensar que o simples fato de
que alguém se proponha tais questões está revelando, por um lado, a existência de uma
multiplicidade de opções: não há somente um modelo, manifestação ou uso da língua
espanhola” (MORENO FERNÁNDEZ, 2007, p.10).
Retomando os questionamentos relacionados ao predomínio de algumas variantes em
detrimento de outras, encontramos nos estudos de Pedro Henríquez Ureña uma interessante
divisão dialetal da América Latina em cinco zonas (1976, p.5) e Moreno Fernández (2000,
p.16) sugere a divisão do espanhol em oito zonas, sendo três delas localizadas na Europa.
Alguns portais educacionais também subdividem a língua espanhola em Espanhol peninsular
e Espanhol Latino-americano para melhor sistematizar o estudo do idioma. Contudo, o que
não podemos conceber é o ensino de uma única variedade da língua como um parâmetro de
normalidade e excelência que acaba por desvalorizar e camuflar a heterogeneidade que
compõe a língua espanhola. As palavras de Fiorin ilustram essa convivência harmoniosa entre
as variantes de um idioma ao afirmar que “as variedades não são feias ou bonitas, certas ou
erradas, boas ou ruins, elegantes ou deselegantes; elas são simplesmente diferentes”. (FIORIN
2002, p.114),
Tendo em vista o leque de variantes linguísticas, passamos a considerar também as
variedades culturais que enriquecem este estudo, pois tanto as culturas latino-americanas
quanto a cultura peninsular têm efeito atrativo em sala de aula. Torna-se pertinente tentar
entender como diferentes culturas com um eixo comum, oriundas de diferentes regiões
geográficas com semelhanças e diferenças marcantes, podem conviver harmonicamente. Por
254
isso, é necessário nesse momento compreender o processo intercultural que é abordado por
diversos autores em diferentes linhas teóricas.
Na área da linguística, entendemos que a comunicação não pode ser dissociada da
cultura, e a aprendizagem de uma língua estrangeira é um fator de grande importância, pois
agregado a ela está o aprendizado de toda uma bagagem cultural e também o ensino do
respeito às diferenças, a construção de uma sociedade solidária que promova relações
pacíficas através de um diálogo intercultural. Godenzzi define interculturalidade através das
seguintes palavras:
[…] interculturalidade pode ser definida como uma modalidade de
interlocução das interações e intercâmbios - entre indivíduos e / ou
instâncias coletivas - que consiste em negociar, alcançar acordos e decisões
para criar condições materiais e simbólicas básicas que abrem o caminho
para sociedades pluralistas e estados inclusivos, em cujas redes e áreas
podem ser discutidas em pé de igualdade e enriquecimentos mútuos.
(GODENZZI, 2005, p.9).
Tendo em vista a definição do autor, podemos entender a importância do ensino de
línguas estrangeiras, pois esse saber envolve outras aprendizagens que promovem a igualdade,
abrindo espaços e criando condições para a existência de uma sociedade mais justa e
pluralista. Portanto, as relações interculturais favorecem a interação e a convivência
harmônica entre os povos baseada no respeito mútuo e no diálogo entre as diferentes culturas.
Nas regiões de fronteira do Brasil com os demais países da América Latina, é bastante comum
o contato entre diferentes matrizes culturais, o que favorece a interação entre diferentes
manifestações de culturas presentes nas músicas, danças, crenças e também nas línguas
faladas pelos povos que habitam essas regiões. O modo de ser e de viver dessas pessoas
possibilita a convivência e o intercâmbio de usos e costumes assimilados pelos povos
fronteiriços que podem e devem fazer parte das aulas de língua estrangeira visando não
somente a capacitação instrumental para o uso do idioma. Ao abordar as implicações
metodológicas para o ensino e, consequentemente, para a formação de professores, Leffa
afirma que “quando se estuda uma língua multinacional, tem-se geralmente uma motivação
instrumental, onde não cabe mais a ideia tradicional do ensino de línguas estrangeiras baseado
na noção de uma língua uma cultura” (2008, p. 370).
Então, cabe acrescentar neste momento que os professores de língua espanhola não
podem abdicar dessa riqueza cultural em detrimento da opção de uma variante por questões
meramente de maior prestígio linguístico.
255
3 O ENSINO DE ESPANHOL NO BRASIL
Atualmente, é possível observar que o ensino de espanhol ainda se apresenta sob uma
forma instrumental e muitos professores ainda apresentam listas de palavras que formam o
vocabulário do texto, identificam palavras, classes gramaticais ou utilizam figuras de objetos,
imagens e cenários para que os alunos aprendam a nomear roupas, cores, as partes do corpo
humano, alimentos, as partes da casa e da cidade e outros assuntos. Vale questionar nesse
momento: o ensino de espanhol deve seguir os mesmos moldes do ensino de outras línguas
estrangeiras? O que diferencia o ensino de espanhol e o ensino de outro idioma? Propomos
essa reflexão porque acreditamos que o ensino da língua espanhola para brasileiro merece um
olhar diferenciado, através do qual as situações, as vivências que aproximam os estudantes da
cultura, literatura e de situações práticas de uso do idioma devem ser mais valorizadas porque
favorecem a construção de uma metodologia específica de ensino de espanhol para
brasileiros.
Acreditamos que as possíveis causas que levam os profissionais a trabalhar com
ênfase nas estruturas gramaticais, leitura e escrita seja a opção de muitos alunos do ensino
médio pelo espanhol no Enem. Por essa razão, muitos professores trabalham exaustivamente
questões pontuais que preparem os estudantes para essa avaliação. De acordo com Fernández,
Uma das provas da crescente vitalidade do espanhol no ensino secundário e
na universidade brasileira é dada ao número de candidatos que fazem o teste
de língua espanhola no exame vestibular, um teste de seleção organizado
pelas universidades para escolher seus novos alunos . Em 1998, quase todas
as universidades federais e estaduais, públicas e privadas do país incluíram
em seus processos de seletividade o conhecimento do espanhol, que se
tornou a língua estrangeira mais exigida, antes do inglês em algumas
universidades (FERNANDO MORAIS apud FERNÁNDEZ, 2005, p.22-23)
Com o despertar do interesse para o estudo da língua espanhola, muitos
conhecimentos podem e devem ser agregados além das exigências do Enem, pois é
importante oferecer aos alunos conhecimentos relacionados à história, cultura, literatura
visando refletir sobre semelhanças e diferenças entre os povos que habitam o mesmo
continente e, ainda, valorizar a herança cultural que recebemos de povos de outros continentes
que partilham dessa mesma identidade.
Com essa visão, alguns profissionais buscam na internet uma forma para aproximar os
estudantes brasileiros das culturas hispânicas. Essa prática costuma receber boa aceitação por
parte dos estudantes seja pela constatação de grande semelhança com a cultura do sul do
Brasil, ou, ainda, pelo acesso a filmes, museus, músicas, danças típicas, arquitetura de cidades
256
históricas e também pelo contato com falantes nativos. Esses fatores motivadores despertam a
curiosidade e o interesse dos estudantes possibilitando uma modalidade de ensino que deveria
ser a mais frequente e usual, pois busca a construção coletiva do conhecimento, o que não
representa nenhuma novidade já que se trata de uma conhecida proposta de Paulo Freire
(1997, p.96).
O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, do
professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não
apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor
e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (...) o bom professor é
o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do
movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma
“cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque
acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas,
suas dúvidas, suas incertezas.
Acreditamos que são consideradas válidas todas as metodologias e práticas docentes
que busquem um ensino de espanhol com características próprias e que evidenciem o
comprometimento dos profissionais dessa área, o que possibilitará aos estudantes uma
aprendizagem que verdadeiramente possa ser utilizada em situações concretas de uso do
idioma. Acrescentamos, ainda, que não há aqui uma desvalorização do preparo teórico dos
profissionais; ao contrário, um professor conhecedor profundo das estruturas da língua pode
conduzir os educandos a conhecimentos significativos e pertinentes a cada etapa de
aprendizagem através de aulas dinâmicas nas quais os saberes do aluno também fazem parte
da aula, despertando ainda mais interesse, evitando, assim, a monotonia, o desinteresse e a
indisciplina, problemas esses que desmotivam e afastam muitos estudantes da sala de aula.
Afinal, “saber teorias é importante, mas é preciso saber aplicá-las à nossa realidade e ainda
criar coisas novas de acordo com nossos interesses e recursos” (CUNHA, 2000, p.128).
4 APRENDIZAGEM BASEADA EM CONTEÚDOS OBTIDOS EM CONTEXTOS
AUTÊNTICOS DE COMUNICAÇÃO
A aquisição de recursos didáticos para o ensino de espanhol tais como livros, CDs,
revistas, jornais, vídeos e outros materiais tornaram-se mais acessíveis. Se examinarmos
alguns anos atrás, vamos constatar que era muito difícil obter materiais para o ensino de
espanhol inclusive para estudantes da graduação. Essa afirmação pode parecer estranha
atualmente, mas as palavras de Philippe Humblé nos fazem refletir sobre o tema ao afirmar
que:
257
Apenas alguns anos atrás, conseguir material „autêntico‟ chegava, para os
professores afastados das grandes metrópoles, a ser uma façanha. Era difícil
saber o que pedir e quando o material chegava, às vezes, já estava
ultrapassado. Isso era o caso mais do que nada de jornais e revistas, julgados
de grande potencial para as aulas. No caso de livros, o professor tinha que
estar por dentro do que se publicava, era difícil enviar dinheiro pra fora etc.
(2001, p.158).
As novas tecnologias são as grandes responsáveis pelo estreitamento de relações
entre as pessoas, o conhecimento e a informação tanto para professores quanto para alunos
dos mais diversos níveis de aprendizagem. Atualmente, as redes sociais (facebook, blogs,
glogster, twitter, entre outros) facilitam a interação entre as pessoas e socializam a
informação de forma instantânea. Através da internet, buscamos conteúdos de publicações
atualizadas em revistas e jornais de diversos países e nos mais variados idiomas com
possibilidade de tradução para o português se necessário. Os estudantes ou interessados por
literatura encontram facilmente os clássicos da literatura brasileira, espanhola, universal ou
publicações recentes para comprar ou simplesmente fazer sua leitura em aparelhos móveis, no
conforto de sua casa, no seu computador de mesa ou notebook. Por isso a internet tornou-se
fundamental tanto para o aluno como para o professor, pois facilita a aquisição de materiais
autênticos para as aulas de espanhol, possibilitando aos alunos um contato direto com falantes
do idioma. Esses portais se apresentam com um visual atraente que estimula a construção do
conhecimento através de uma pedagogia nada convencional, pois o aprendiz é incentivado
pelo feedback que recebe após a execução de tarefas realizadas no decurso da aquisição de
novas habilidades desenvolvidas em diferentes níveis de aprendizagem. Porém, os alunos que
buscam a aprendizagem do idioma para fins de comunicação nas fronteiras do estado, fazem
alguns questionamentos bastante pertinentes, como: qual o melhor portal a ser acessado? Em
situações reais de comunicação, qual o portal que melhor atende as necessidades dos alunos
brasileiros?
Tendo em vista essas questões, analisaremos alguns Portais a fim de melhor orientar
nossos estudantes no momento da busca pelo conhecimento.
5 BREVE ANÁLISE DE ALGUNS PORTAIS EDUCACIONAIS
Os portais educacionais aqui apresentados foram selecionados a partir de observações
sistemáticas do trabalho de alunos da educação de jovens e adultos e de suas respectivas
escolhas de portais educacionais. Os portais foram selecionados pelos estudantes, segundo a
presença ou não de conteúdos que julgavam capazes de resolver as situações problema
258
apresentadas nas aulas de espanhol. O Só Espanhol, EspanholGratis.Net, Bom Espanhol e o
blog Espanholito são os portais mais utilizados pelos alunos participantes desta pesquisa e,
por essa razão, foram escolhidos para essa análise a partir dos comentários dos estudantes em
aula.
a) Vocabulário:
Os portais Só Espanhol, EspanholGratis.Net, Bom Espanhol e o blog Espanholito
demonstram um cuidado bastante especial com os vocabulários contidos em suas respectivas
páginas, pois todos relacionam os grupos de palavras usadas pelos estudantes em situações
reais de comunicação em espanhol de uma forma bastante clara e consistente. Constata-se que
as listagens de palavras foram elaboradas contemplando as variantes peninsulares e latino-
americanas, e ainda as suas correspondentes em português contendo também exemplos e
ilustrações que auxiliam a compreensão do aluno.
b) Música:
Quanto à música, todos os portais apresentam letras de canções em espanhol e em português.
Encontramos no EspanholGratis.Net. um acesso a rádios e as tevês espanholas e latino-
americanas; já o blog Espanholito e o Bom Espanhol proporcionam o contato com as letras
das músicas de cantores europeus e latino-americanos e ainda vídeos legendados.
c) Cultura e Literatura:
No que se refere à cultura e à literatura, encontramos no Só Espanhol um link que chama a
atenção do estudante para personalidades e poesia latino-americanas. No link “Espanhol X
Castelhano”, “Espanhol pelo mundo” e “Curiosidades”, o estudante obtém conhecimentos
relativos à cultura peninsular e latino-americana. No blog Espanholito, EspanholGratis.Net e
o Bom Espanhol não encontramos um link específico para a literatura. O Bom Espanhol
apresenta no link “Recursos” um link denominado “cultura” com uma abordagem bastante
superficial em forma de “teste de conhecimentos” sobre aspectos já conhecidos das culturas
espanhola e latino-americana.
d) Áudio:
Encontramos a presença de áudios em todos os portais, porém observamos a maior incidência
no blog Espanholito e no portal Bom Espanhol. No Só Espanhol e EspanholGratis.Net
observamos a presença de áudios em exemplos, diálogos e outras situações comunicativas que
utilizam um vocabulário peninsular e algumas variantes latinas.
e) Curiosidades:
259
No portal Só Espanhol, as “Curiosidades” são apresentadas separadamente, em um link
específico. Nos Portais Bom Espanhol, EspanholGratis.Net e no blog Espanholito as questões
culturais que revelam o jeito de ser, de viver e de se expressar das pessoas que têm o espanhol
como língua materna são denominados como Recursos, Guia de Viagens, Gírias,
Hispanoesfera. Observa-se um cuidado em apresentar as variantes latinas, mas a ênfase no
espanhol peninsular é facilmente percebida e visivelmente marcada em alguns casos com a
bandeira espanhola para indicar a escolha do estudante.
f) Personalidades do mundo hispânico:
Podemos comprovar em nossas práticas pedagógicas que ao fazermos referências a pessoas
conhecidas através do cinema, moda ou futebol a aprendizagem da língua espanhola assume
um valor e um sentido diferente para os alunos de escolas públicas no Brasil. Portanto,
aproximar os alunos de pessoas famosas e admiradas pelos estudantes é uma estratégia que
não podemos deixar de considerar.
O portal Só Espanhol apresenta um link específico para pessoas conhecidas do mundo
hispânico, denominado “personalidades”, e outro contendo algumas “Letras de Músicas”. No
portal Bom Espanhol e no blog Espanholito encontramos o link “músicas”. No portal
EspanholGratis.Net não encontramos um link contendo artistas, jogadores ou outras
personalidades internacionalmente conhecidas que chama a atenção dos alunos. Nesses links,
os estudantes podem encontrar informações sobre atores, filmes séries, vídeos, músicas e
cantores conhecidos internacionalmente que servem de estímulo para aprendizagem da língua
espanhola.
g) Gírias
As gírias são bastante comuns entre os jovens e facilmente observamos o interesse de muitos
estudantes pela linguagem dos jovens hispano-falantes. Esse tipo de linguagem chama a
atenção e serve, muitas vezes, de ponto de partida para o estudo do espanhol como língua
estrangeira. Através das gírias, os alunos passam a entender o jeito de ser, de viver e o que
pensam os falantes nativos do idioma em estudo.
O Só Espanhol e o EspanholGratis.Net não dispõem de um link específico que apresente
somente as gírias. No blog Espanholito, encontramos o link “gírias”, onde o estudante tem
acesso a aproximadamente vinte e um países onde o espanhol é falado e se apresentam
devidamente identificados por suas bandeiras, atendendo, assim, aos interesses e curiosidades
dos alunos. O portal Bom Espanhol disponibiliza na sua página inicial “As gírias mais
260
recentes” e, no link “Recursos”, apresenta as gírias agrupadas por países também
identificados por suas respectivas bandeiras.
h) Jogos:
Os jogos se apresentam como um fator de grande motivação no processo de aprendizagem de
uma língua estrangeira, pois muitos alunos não acreditam que possuem muitos
conhecimentos. Quando essa aprendizagem é utilizada para superar as etapas de um jogo,
então o aluno comprova o quanto já conhece do idioma em processo de aprendizagem.
O portal Só Espanhol apresenta no menu principal e na barra lateral a possibilidade de
estudantes acessarem e jogarem em atividades, podendo aprender ou retomar conhecimentos
referentes aos falsos cognatos, adjetivos, números e gêneros de uma forma divertida e
desafiadora. No blog Espanholito, os jogos são apresentados em links internos e externos que
estimulam o aluno a conhecer a língua espanhola de uma forma interessante e variada. O
EspanholGratis.Net não disponibiliza um link específico para jogos que reforcem os
conhecimentos aprendidos. Os jogos são apresentados em links externos, o aluno tem a opção
de cadastrar-se e criar sua senha para acessar o jogo. No portal Bom Espanhol, é possível
visualizar, no menu principal, o link “Recursos”, que possibilita o acesso a diversos jogos
educativos que reforçam os vocabulários trabalhados e em algumas situações destaca as
variantes da língua espanhola. Nos demais portais educacionais que apresentam os jogos
como recurso educacional para o ensino da língua espanhola, foi possível constatar uma
destacada utilização de expressões peninsulares e, em situações esporádicas, são apresentadas
algumas variantes latino-americanas.
i) Voseo/tuteo:
No portal Só Espanhol, o “tuteo” e o “voseo” são apresentados na segunda página do link
“pronomes”. Através de uma explicação bastante sucinta, o portal apresenta onde o “vos” é
utilizado em substituição ao pronome “tú”, exemplificando ainda sinteticamente as
modificações que ocorrem ao flexionarmos os verbos.
No blog Espanholito, encontramos no link “Dialetoteca” um sublink denominado “Espanhol
Latino-americano X Espanhol da Espanha” onde o aluno pode encontrar diversos temas
interessantes, entre eles o “Espanhol Rio-platense”. Ao abrir esse sublink, é possível obter
diversas informações que caracterizam o espanhol Rio-platense, entre elas a substituição do
“tu” pelo “vos” e algumas expressões léxicas típicas do Uruguai. Para obter mais informações
acerca do “tuteo” e do “voseo”, o estudante deve clicar em “conjugador”, escrever o verbo no
infinitivo e clicar novamente em “conjugar”. A seguir, abre-se uma página com o verbo
261
selecionado contendo a conjugação em todos os modos e tempos verbais. O“vos” é
apresentado como a última pessoa na flexão dos verbos em diferentes tempos verbais,
dificultando, assim, a compreensão do aluno de que se trata de uma variante da segunda
pessoa.
O EspanholGratis.Net apresenta no link “Gramática” e, dentro desse link,
encontramos, no canto direito, “Voseo X Tuteo”, que propõe ao aluno que aprenda a conjugar
verbos com o pronome pessoal “vos” comparando o “vos” com o “tú”. Nessa página, o
estudante obtém uma detalhada explicação sobre o tema abordado com vinte exemplos de
verbos flexionados nas pessoas “tu” e “vos” apresentados paralelamente, o que ajuda a
entender cada uma das formas, pois, apresentadas lado a lado, é possível estabelecer relações
e perceber as diferenças.
No portal Bom Espanhol, o estudo do “vos” é apresentado no link específico “Voseo”
localizado dentro do link “Gramatica”. Se o aluno procurar no link “Pronomes Pessoais”
também pode acessar as informações igualmente contidas no link específico. Em ambos,
através de um estudo comparativo, o aluno tem a possibilidade de visualizar explicações e
exemplos com áudio em uma lista de dezesseis verbos no presente de indicativo e no
imperativo afirmativo. Na segunda página do link “voseo”, podemos observar o uso do “vos”
em onze frases também com opção de áudio em espanhol. Todas as frases apresentam-se
seguidas de suas traduções escritas logo abaixo entre parênteses. Na terceira página do mesmo
link, denominada “exercícios”, é possível realizar dez atividades, cada um contendo três
opções para testar os conhecimentos sobre o “vos” com “feedback”, ou seja, é possível
realizar as atividades e ver a soluções. Caso ainda tenha dúvidas, o estudante poderá “limpar”,
corrigindo o exercício se perceber o equívoco na resposta.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste estudo, foi possível refletir sobre as características marcantes do ensino da
língua espanhola no Brasil e analisar os Portais e Educacionais que se apresentam atualmente
como recursos que aproximam falantes nativos de estudantes brasileiros. Os Portais
Educacionais de ensino de espanhol para brasileiros podem ser considerados grandes
ferramentas aliadas dos professores num processo interessante, dinâmico e inclusivo que
colabora para a construção de novos conceitos que aproximam povos e aceitam o diferente
numa convivência harmônica. Portanto, alunos e professores têm a possibilidade de se
262
lançarem em novas perspectivas de aprendizagem mútua, verdadeira e significativa que
coloca em prática o novo conceito de ensinar e aprender reformulando também a definição de
sala de aula tradicional.
7 REFERÊNCIAS
CUNHA, M. I. O Bom Professor e sua Prática. 10.ed. Campinas: Papirus, 2000.
FERNANDEZ, Francisco Moreno. El Español en Brasil. In: SEDYCIAS, João (Org). O
Ensino do Espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: Parábola, 2005. p.14-34.
FIORIN, J. L. Considerações em torno do projeto de Lei 1676/99. In: FARACO, C.A.
Estrangeirismos – guerras em torno da língua. 2.ed. São Paulo: Parábola, 2002.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1997
GODENZZI, J. C. Introducción/Diversidad histórica y diálogo intercultural. Perspectiva
latinoamericana. Tinkui Boletín de Investigación y Debate, Universidad de Montre al, n.1,
Invierno 2005, p.9. Disponível em: Acesso em:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3302998.pdf 02/04/2017.
GOETTENAUER, E.; BARROS C. Espanhol: Ensino Médio. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. 292 p. (Coleção Explorando o Ensino; v.16)
HENRÍQUEZ UREÑA, P. Observaciones sobre el español en América y otros estudios
filológicos. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras, 1976.
HUMBLÉ, P. R. M. O uso de corpora no ensino de línguas. Alguns exemplos do português e
do espanhol. In: Linguística e ensino: Novas tecnologias. Loni Grimm Cabral e Pedro de
Souza (Eds.). Blumenau: Nova Letra, 2001, p. 157-180.
IRALA, V. “A opcão da variedade de Espanhol por professores em serviço e pré-serviço”
Linguagem & Ensino, Pelotas, v.7, n.2, p.99-120, jul./dez. 2004
LEFFA, V. J. O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 2.ed., Pelotas:
EDUCAT, 2008.
MORENO FERNÁNDEZ, F. ¿Qué español enseñar? Madrid: Arco/Libros S.L., 2007.
MORENO FERNÁNDEZ, F. ¿Qué español enseñar? Madrid: Arco/libros, 2000.
SILVA, B. R. C. V. da; CASTEDO, T. M. de. Ensino do espanhol no Brasil: o caso das
variedades linguísticas. Holos, Ano 24, v.3, 2008. Disponível em: <
263
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/145/164>, acesso em
31/01/17
CONTRIBUIÇÕES DAS PERSPECTIVAS SOCIOLINGUÍSTICA E
SOCIOCOGNITIVISTA PARA O MULTILETRAMENTO
Cláudia Fernandes Benevenute (IFES) [email protected]
Resumo: O presente artigo trata da conceituação dos termos alfabetização e letramento e de suas
aplicações no espaço da educação infantil. Esse esboço se origina por intermédio de uma análise
teórica e bibliográfica com o cotejamento dos postulados de Soares (2002), Kleiman (2008), Tfouni
(1995), Possenti (1994) e Silveira (2009), e as relaciona à prática da leitura no espaço escolar. Por
meio da perspectiva sociolinguística e de implicações sociocognitivas, com a contribuição de
Martelotta (2012), Bortoni-Ricardo (2005) e Cook (2003), alude-se à exploração dos multiletramentos
experienciados no nosso meio grafocêntrico e oportuniza uma reflexão acerca das atribuições de
responsabilidades dessa expansão na área pedagógica.
Palavras-chave: Multiletramento. Sociocognitivismo. Sociolinguística.
Abstract: This article deals with the conceptualization of the terms literacy and letramento and its
applications in the area of early childhood education. This outline originates from a theoretical and
bibliographical analysis with the comparison of the postulates of Soares (2002), Kleiman (2008),
Tfouni (1995), Possenti (1994) and Silveira (2009), and relates them to the practice of reading in the
formal school. From the sociolinguistic perspective and the sociocognitive implications, with the
contribution of Martelotta (2012), Bortoni-Ricardo (2005) and Cook (2003), it alludes to the
exploration of multiletramentos experienced in our grafocentric environment and allows a reflection
on the attributions of responsibilities of this expansion in the pedagogical area.
Keywords: Multiletramento. Sociocognitivism. Sociolinguistics.
1 INTRODUÇÃO
Neste texto os processos de alfabetização e de letramento são analisados, bem a
dicotomia que suas aplicações práticas abarcam nos espaços da educação infantil, face às
discussões acerca da prática social dos atos de leitura e escrita no nosso cotidiano. Tal
delineamento se dá por meio de um recorte teórico e bibliográfico, com o cotejamento dos
postulados de Soares (2002), Kleiman (2008), Tfouni (1995), Possenti (1994) e Silveira
(2009) que amplificam suas caracterizações, ao mesmo tempo em que as relacionam ao
conceito e à utilização da leitura e da escrita no ambiente escolar integralizador.
Da mesma maneira, por intermédio de um viés sociolinguístico e implicações da
linguística cognitiva, assumindo as concepções de Martelotta (2012), Bortoni-Ricardo (2005)
e Cook (2003), propõe o reconhecimento e o exame dos multiletramentos que se configuram
264
em nossa sociedade grafocêntrica e propicia uma reflexão acerca das atribuições de
responsabilidades desse seguimento na área pedagógica tanto nos espaços formais quanto
informais de educação.
Em seguida, apresenta-se a contribuição da perspectiva dos cognitivistas, que
agregaram às proposições sociolinguísticas e cunharam a tríade linguagem – pensamento –
experiência como elemento chave para que o fenômeno linguístico aconteça, assume-se a
relativização dos fatores sociais que envolvem o processo comunicativo nas modalidades oral
e escrita, ancoradas nas rotinas linguísticas e nas molduras comunicativas para desempenhar
comportamentos consensuais esperados nas interações sociais.
2 ALFABETIZAR OU LETRAR?
No contexto da educação infantil, depara-se, com frequência, com os termos
“alfabetização” e “letramento”, e suas respectivas teorias, métodos e abordagens no que tange
ao processo de desenvolvimento da leitura e da escrita.
Da análise de seu próprio texto intitulado “As muitas facetas da alfabetização”, Magda
Soares, quase vinte anos depois, decide considerar e reinventar o termo “alfabetizar” não para
desestruturá-lo ou cunhar um outro para melhor se adequar nesta nova década, mas para
alinhá-lo às propostas pedagógicas metodológicas inovadoras e mutantes do tempo. Dessa
forma, ao comparar aquele termo com o novo, e com o qual ela confronta “letramento”, a
autora aponta para uma investigação mais profunda sobre um elemento já apresentado e
questionado por ela mesma, quando tratava da questão das múltiplas facetas da alfabetização,
ou seja, apenas o termo ainda não era reconhecido oficialmente, mas sua constituição, bem
como suas especificidades eram amplamente ponderadas.
Assim, faz-se necessário o devido esclarecimento acerca do conceito dos vocábulos
“alfabetização” e “letramento” para que tais pressupostos aqui apresentados sejam
amplamente compreendidos. O termo “alfabetização” aparece no dicionário Dicio como “ação
de alfabetizar”, a “difusão do ensino primário, restrita ao aprendizado da leitura e escrita
rudimentar”. E quando a palavra “rudimentar” é considerada em todas as suas acepções,
observa-se que ela adquire uma característica extremamente reveladora, pois evidencia-se seu
aspecto primitivo, elementar, resumido e desprovido de refinamento na denominação da
palavra cuja significação se pretende aqui explorar. Como contraponto, o verbete
“letramento” aparece no dicionário Priberam como sendo o conjunto de conhecimentos
adquiridos na escola e, nessa acepção, essa definição emparelha-se com o termo
265
“alfabetização”; todavia, uma segunda acepção aponta-o como a capacidade de ler e de
escrever ou de interpretar o que se escreve.
Soares (2002, p.2), por sua vez, vai além dessa conceituação, ampliando esse
fenômeno e conceitua o termo letramento como “[...] o estado ou condição de indivíduos ou
de grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de
leitura e de escrita, participam competentemente de eventos de letramento”.
Essa definição vai ao encontro da acepção apresentada pelo dicionário Houaiss (2001)
que o define “como um conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes
tipos de material escrito”. Manifestamente, o que se vê não é uma completa dessemelhança,
mas uma extensão, uma complementação e, até mesmo, uma integralização de significação e
abrangência.
Esse processo de mudança na nomenclatura dos termos deu-se de maneira gradual e
ganhava proporções mais abrangentes à medida que uma década transcorria. Na década de
1940, era considerado alfabetizado o cidadão que declarava saber reconhecer (ler) e escrever
seu próprio nome; já a partir de 1950, essa concepção foi ampliada e era tido como
alfabetizado aquele que tinha a capacidade de, além de ler e escrever o nome, escrever um
bilhete, ou seja, ter a possibilidade de expressar-se minimamente, pela escrita, em um
contexto sociointeracional. Dessa década em diante, surgiu e ganhou notoriedade a concepção
do alfabetizado funcional, a saber, aquele que, munido de uma instrução formal de
escolaridade – considerando o tempo que despendera na educação – era capaz de expressar-se
em sua língua materna com mais habilidade e engajar-se numa prática social.
Assim, a definição do termo “alfabetização” se amplia, aproximando-se da concepção
de “letramento” a qual concebemos correntemente. Ou seja, um ser alfabetizado era aquele ser
capaz de ler e escrever, e o letrado era aquele preparado para fazer uso dessas habilidades, isto
é, apoderar-se dessas capacidades e exercê-las social e culturalmente.
Observava-se que, por mais que o aluno soubesse ler e escrever, ele não tinha
competência para inserir-se no mundo do trabalho, por exemplo, por meio de uma prática de
leitura social, uma vez que ele não possuía essa competência desenvolvida. Para a construção
dessa prática, preconiza-se o trabalho com os gêneros textuais e as funções da linguagem,
objetos de investigação da sociolinguística. Tais competências foram trabalhadas
posteriormente, após a evidência de uma falha nos exercícios comunicativos nos quais uma
variação situacional da linguagem – como efeito de amostragem aqui - estava em destaque.
266
Isso implica dizer que, apenas depois que essa constatação fora feita, é que surgiram as
manifestações em prol da elaboração de uma atividade social da leitura, na qual todos os
elementos da comunicação eram considerados: enunciador, interlocutor, canal, código,
mensagem e situação comunicacional.
Essa preocupação legitimou-se tanto na modalidade escrita quanto na oral, uma vez
que a comunicação envolve os enunciados escritos ou pronunciados. E, na perspectiva da
sociolinguística educacional, Bortoni-Ricardo (2005, p. 32) aponta que “[...] para operar de
uma maneira aceitável, um membro de uma comunidade de fala tem de aprender o que dizer e
como dizê-lo apropriadamente, a qualquer interlocutor e em quaisquer circunstâncias”.
É importante salientar aqui que a criança a partir dos seis anos de idade não inaugurará
seu processo de entrada no mundo da escrita, mas uma vez que ela já está inserida em uma
sociedade grafocêntrica, centrada de livros etc., como afirma Magda Soares, ou seja, o
momento de continuação desse movimento é que deverá ser desenvolvido sistematicamente
no ambiente escolar. Decorre daí a importância da verificação do nível de apropriação do
processo de leitura que esse alfabetizando possui para, posteriormente, trabalhar de forma
consciente as competências e habilidades referentes ao desenvolvimento linguístico nessa
etapa do processo ensino aprendizagem.
Ainda sobre as acepções do alfabetizar e do letrar, Tfouni (1995) e Soares (1998),
apresentam diferentes considerações sobre eles. Sobre o primeiro, Tfouni (apud Silveira,
2009, p. 75) esclarece que ele se refere
À aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura,
escrita e as chamadas práticas de linguagem. Considera que o termo está
relacionado à aquisição da escrita por meio do processo de escolarização e
pode ser entendida de duas formas: ou como um processo de aquisição
individual de habilidades requeridas para a leitura e escrita, ou como um
processo de representação de objetos diversos, de naturezas diferentes
(SILVEIRA, 2009, p. 75).
Diferentemente, Soares (1998) classifica como sujeito alfabetizado aquele que
aprendeu a ler a escrever, mas não adquiriu o estado ou as características do indivíduo que
domina as atividades funcionais e sociais da escrita.
Considerando esses apontamentos, Silveira (2009) questiona a definição acima
proposta e reflete sobre essas afirmações:
Se partíssemos do pressuposto de que um sujeito para ser considerado
letrado precisaria ser no mínimo alfabetizado, baseado na definição de
Soares (1998), ou seja, que ele saiba ler e escrever, poderíamos afirmar que
267
pessoas que não dominam essa prática de leitura são chamados de
analfabetos, são considerados iletrados (SILVEIRA, 2009, p. 74).
Silveira (2009) baseia suas reflexões nos postulados de Tfouni (2005) que afirma que
não pode haver o termo “iletrado” como antônimo de “letrado”, uma vez que não há, em
nossa sociedade, grafocêntrica e interacionista, indivíduos que não possuam algum grau de
letramento. Por essa razão, ela sugere o termo “graus de letramento” e apresenta argumentos
que indicam a presença de sujeitos analfabetos, ou seja, que não dominam os sistemas de
codificação e de decodificação do sistema linguístico, mas pelo fato de estarem inseridos em
um meio sociocultural e em contato constante com pessoas alfabetizadas e familiarizadas com
a prática social da escrita, exercem tanto a leitura quanto a escrita por processos mediados.
Isso quer dizer que eles participam das atividades sociais nas quais as práticas do
letramento estão implicadas quando outros indivíduos leem para eles algo que lhes interessa
ou, da mesma forma, exercem o papel de escrevedores para registrar algo que lhes é
solicitado.
Essa condição se aplica tanto para jovens e adultos em processo de alfabetização
quanto para crianças em idade pré-escolar ou nos anos iniciais de escolarização. Apesar de
não dominarem o sistema alfabético, têm conhecimento de características de contextos de
letramento e se apropriam deles por intermédio de outras pessoas. Mais especificamente, em
relação às crianças, esse fato pode ser percebido quando folheiam livros intencionalmente,
fingem lê-los, ouvem histórias, recontam-nas, inventam anedotas para entreter os pais, os
colegas ou os professores, e quando fingem escrever algo ou quando é outrem que registra um
enunciado para elas.
Tfouni (2005), então, de maneira semelhante a Soares (1995), atribui o surgimento do
termo letramento à necessidade decorrente da limitação que a prática da alfabetização
encerrava. Uma falha nesse exercício é a ausência da consideração acerca da prática social
que a linguagem preconiza.
É decorrente desse contexto, então, como já dito anteriormente, que Soares propõe e
conceitua o termo letramento e considera os aspectos sociais, funcionais e interativos que
envolvem o sistema linguístico capazes de fazer com que o sujeito se insira e que atue com
consciência crítica e propriedade no seu meio social, assumindo e exercendo seu papel social.
3 LEITURA E LETRAMENTO
Nessa relação dialética entre alfabetizar ou letrar, na educação formal, qual o papel
que a leitura exerce na educação infantil? Ora, se pensarmos no confrontamento conceitual e
268
ideológico proposto inicialmente, sobretudo nas diversas formas de alfabetizar (apresentadas
por Cynara Menezes, em sua coluna Sinapse, da folha UOL, na qual retrata as diferenças
entre os métodos de alfabetização), deparamo-nos com uma questão complicada que é a
utilização da leitura no espaço escolar.
Para conceituarmos leitura, articularemos as ideias de Nunes (2000) de que a leitura
deve ser entendida como processo e não como produto, com as de Kleiman (2004) que afirma
que o leitor deve ser ativo para obter a compreensão do texto uma vez que este último “não
traz tudo pronto para o leitor de modo passivo”, necessitando, assim, interagir com o
enunciado na tentativa de buscar um entendimento.
Considerando tal característica, a pergunta que emerge aqui é: como a leitura é
concebida nessas séries iniciais da educação básica uma vez que se assume que o educando
ainda não dispõe dos artifícios necessários para a realização plena do exercício da leitura?
Assume-se que ele, até então, é capaz de decodificar sílabas e, numa escala mais ampliada,
palavras, até que se chegue ao nível (desejado) das orações propriamente ditas.
Concomitantemente a esses processos anteriores (pelo menos é o que se é esperado do
leitor), é a atribuição de sentidos ao que se está sendo lido. Entretanto, a pergunta que surge
aqui é: se o aprendiz / letrando ainda não consegue realizar esse processo, quem o faz para ele
nesse ambiente formal de educação? Ora, o professor, o educador, o alfabetizador – e outras
denominações afins ou não que não nos cabe esmiuçar aqui.
De posse dessa assertiva, tem-se outra indagação: quem escolhe os textos que são lidos
para essas crianças? O educador? Guiado pelo livro didático? Sob qual perspectiva?
Assumindo a postura de que criança deve ler livros destinados a crianças, porque isso desperta
o interesse do leitor, uma vez que eles foram concebidos com objetivos específicos e claros
que respeitam a faixa etária e os interesses que os envolvem?
Há uma corrente que justifica e legitima esse uso com base nesse argumento, guiado
por especialistas que corroboram a proposição de que existem livros adequados e mais
apropriados a certos leitores, determinados por questões etárias. Numa concepção biológica,
leva-se em conta a idade cronológica e, como isso, o desenvolvimento físico, emocional e
interacional da criança, estipulando e indicando certos livros com a denominação de
“literatura infantil”. E que se insere sob o título de literatura infantil não se é muitas vezes
questionado, debatido, analisado. É simplesmente acatado e absorvido.
Entretanto, contestando essa classificação e alinhamento está o linguista Sírio Possenti
(1994) que, ao instituir as pragas da leitura, sobretudo a que se refere à imagem que os adultos
269
e os especialistas têm das crianças, afirma que, em geral, os livros infantis não são tão ricos
quanto ao repertório que as crianças já possuem e a forma como se apresentam também é
desinteressante. Recebem o desprezo do público pelo fato de apresentarem linguagem
repetitiva e supostamente clara e simplificada.
4 RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES E AS MÚLTIPLAS FACETAS DO
LETRAMENTO
O conceito, a materialização e as caracterizações de gêneros textuais precisam ser
apresentados antes mesmo de a criança adentrar a educação formal a partir dos seis anos.
Como já mencionado, vivemos em um meio grafocêntrico; entretanto, o que ainda se observa
em relação a alguns pais e cuidadores é o despreparo no que tange ao domínio e às técnicas
para se explorar coerentemente os diferentes tipos de textos presentes no cotidiano da criança.
Dessa feita, vale ressaltar que toda criança traz consigo informações e conhecimentos
significativos para a escola. Ilude-se aquele educador que julga que começará um trabalho
com seu educando partindo de nenhuma base trazida por este. Ao contrário, toda a
experiência vivenciada e trazida por esses alunos (tão novinhos que sejam) é extremamente
enriquecedora e fortalecedora para as bases formais que serão desenvolvidas futuramente.
Assim, não se pode subestimar, de maneira alguma, o conhecimento empírico adquirido por
esses alunos na sua convivência familiar.
Nessa perspectiva, contribui a fundamentação cognitivista cujos proponentes
enfatizam a noção de conhecimento de base em relação ao qual o conceito é compreendido.
Martelotta e Palomanes (2012, p. 184) sustentam que: “A linguagem é um instrumento
cognitivo que tem como função organizar e fixar a experiência humana. Desse modo, os
significados só podem ser descritos com bases nessas experiências, assim como no conjunto
de conhecimentos delas provenientes.
Nesse pressuposto, esclarece-nos o educador Paulo Freire, por meio de indicações
precisas, de que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos e que o papel da educação é
fornecer passagens de um conhecimento ingênuo para a tomada da consciência crítica. Além
disso, pontua o fato de o diálogo ser o meio pelo qual a relação entre o que foi vivido e o que
foi percebido pela criança de forma crítica seja estabelecida.
Do mesmo modo, no processo de aquisição da leitura formal e crítica no ambiente
escolar, o educador deve sempre elucidar para seus alunos o fato de que ler está
270
intrinsecamente relacionado a um objetivo e que, por isso, a atividade da leitura não se
constitui como um momento constantemente uniforme e repetitivo. Deve sempre enfatizar o
fato de que há diversos tipos de leitura e, consequentemente, razões, momentos e objetivos.
Como nos afirmam Albuquerque et al. (2009), lemos tendo em vista diversos
objetivos, quais sejam, buscar informações, estudar, apreciar uma composição estética etc, e o
educando em processo de aquisição do código escrito precisa conhecer as diferentes
finalidades da leitura e utilizá-las consciente e eficazmente. Paralelamente a esse repertório,
para se desenvolver a formação do pensamento e da leitura críticos, segundo os mesmos
autores, há de haver o trabalho sistemático com os níveis de compreensão leitora, e o
professor deve sempre iniciar do nível literal (entender o conteúdo aparente), evoluir para o
nível interpretativo (realizar inferências) e alcançar o nível crítico (perceber a intenção do
autor e dialogar ativamente com o texto).
Esses autores enfatizam, também, a necessidade de o professor constituir-se e
representar-se como um ser leitor, constante e motivador para que esse processo se alinhe e
possa se desenvolver adequadamente.
Ainda sobre o desenvolvimento da competência linguística, se tomarmos por essência
que qualquer enunciado dotado de sentido constitui-se um texto, verificaríamos que quaisquer
objetos e situações, contextualizados, são passíveis de serem utilizados para análise textual
elaborada. Dessa forma, ao “ler” uma fotografia – quer seja digital, quer seja impressa – uma
paisagem, uma escultura, uma cena, um objeto, poder-se-ia criar condições de interpretação
verbalizada e escrituração dessa análise e transformá-los em textos verbais escritos.
Já no ambiente escolar, essa transposição e ligação entre diferentes tipos de linguagem
(verbal e não-verbal) pode ocorrer de maneira mais sistêmica e tecnicista, se práticas
pedagógicas integradoras forem aplicadas pelos educadores.
Indissociável ao exercício da leitura está evidente aqui a adequada correlação da
interpretação textual, ou seja, não se trata única e exclusivamente de decifração de elementos
gráficos e/ou de silabificação numa escala frasal, trata-se de uma leitura cujos sentidos sejam
apreendidos. De posse dessa conceituação, à medida que o professor introduzir formalmente
os textos de que dispõe, a saber, tabela, gráfico de barras, gráfico de setores e gráfico de
segmentos para desenvolver conceitos matemáticos, deve, também, explorar os aspectos
gráficos constituintes daquela tipologia textual, diferenciando-o dos demais e evidenciando os
objetivos com os quais ele foi escrito, os interlocutores e as condições de produção. Dessa
271
feita, precisará trabalhar leitura e interpretação para que o aluno possa depreender o raciocínio
e as operações, bem como os cálculos os quais deverá efetuar adequadamente.
Vale, também, salientar que uma das queixas dos professores de matemática é o
despreparo do aluno em relação à interpretação de um problema. Em alguns casos, não falta
ao aluno conhecimento específico para efetuar uma operação numérica, por exemplo, mas o
correto raciocínio em relação ao cálculo propriamente dito. Ou seja, se a operação fosse
tomada isoladamente, esse aluno, possivelmente, saberia desenvolvê-la. Entretanto, como há
um contexto engendrado e uma situação pré-concebida a serem interpretados para que deles
se desdobrem a correta análise e o cálculo apurado, alguns educandos acabam se atrapalhando
e não realizam uma atenta interpretação, apresentando, consequentemente, equívocos na
contabilidade.
Como se pode verificar, a concepção do termo letramento, por sua vez, não se esgota
pura e simplesmente na área do ensino de línguas, ela vai mais adiante e atinge, também, as
ciências exatas, a matemática, mais precisamente. Nesse domínio, ganha forma e toma
proporções de maior amplitude assim que se é cunhado o termo letramento matemático.
Machado (2003, p. 135) considera os sistemas notacionais da língua, relacionando-os
com as operações necessárias à prática da matemática e apresenta o conceito de letramento
matemático, destacando a percepção da Matemática “[...] na escrita convencionada com
notabilidade para ser estudada, compreendida e construída com a aptidão desenvolvida para a
sua leitura e para a sua escrita”.
No entanto, pelo fato de Gonçalves (2010) atribuir à leitura e à escrita o suporte para
que estruturas mais complexas de pensamento e formas diversificadas de raciocínios lógicos
se construam, ele resgata uma premissa para a ocorrência do letramento, a saber, a alteridade
e a interação social, apontada por Soares (2001, p. 23), que “mantêm com os outros e com o
mundo que os cerca, formas de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas que
lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou condição de inserção em uma
sociedade letrada”.
Dessa feita, sob o prisma da sociolinguística, Gonçalves (2010) pondera e amplia a
conceituação de letramento matemático de modo a relativizar os fatores sociais concernentes
à vida cotidiana e a outras esferas da vida social e realçam as práticas sociais que envolvem o
processo comunicativo nas modalidades oral e escrita.
Conscientes do papel que a linguagem exerce na vida do ser humano, a saber,
mediadora e propiciadora da construção de sentidos norteadores de apreensão e de reprodução
272
do conhecimento por meio da sistematização de seus códigos, faz-se necessário que o
professor de qualquer disciplina fomente e explore os significados e sentidos presentes nos
textos com os quais trabalha e que, por meio deles, trabalhe o raciocínio, a dedução e a
compreensão.
Essa percepção, entretanto, vai se distanciando e se perdendo à medida que os alunos
progridem na escolarização formal, já que muitos professores se valem da crença de que
apenas o professor de língua portuguesa é o principal agente e responsável pelo ensino do
vernáculo.
4.1. ATRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS
No tocante ao letramento digital no espaço formal de educação, por exemplo, há quem
diga que a apresentação, a demonstração e a responsabilidade se devam tão somente ao
professor de informática; entretanto, se repensarmos nosso parecer acerca das modalidades
textuais e multi modalidades de gêneros textuais, verificaríamos que, pelo fato de as rotinas
linguísticas serem culturalmente específicas e integrarem nossa prática social na alteridade
dos discursos cotidianos, todos os interlocutores, especialmente, os docentes - cientes da
competência comunicativa (competência postulada por Hymes, 1980) – deveriam exercê-la
convenientemente.
A competência supracitada implica o conhecimento de que todo falante deve ter a
percepção do conteúdo de sua produção (seja ela fala ou escrita) e o modo como vai processá-
la, ou seja, deve-se relativizar o que será dito, a quem, como e em quaisquer circunstâncias.
Para isso, além do domínio tácito do código comum, deve-se, também, possuir a habilidade de
usá-lo.
Nesse contexto, retomando os apontamentos de Soares (1998, p.47) e considerando a
existência dos multiletramentos, atenhamo-nos à distinção e ao princípio por ela postulados de
que alfabetizar e letrar são operações diferenciadas, porém não inseparáveis. Segundo ela, “o
ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas
sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo,
alfabetizado e letrado”.
Outrossim, quando consideramos as práticas sociais da escrita, verificamos que ela
atravessa a existência do ser humano, uma vez que ela se apresenta desde o nascimento até a
morte, ou seja, precisa-se da escrita para tudo: para indicar que alguém nasceu, que recebeu a
273
vacinação necessária, que concluiu uma etapa na vida acadêmica e, até mesmo, para a
comprovação de que alguém expirou - tudo isso por meio de registros específicos que
determinam local, data, razão etc. Em conformidade com essa assertiva e com tantos outros
exemplos de que vivemos em uma sociedade grafocêntrica, não há como negar a onipresença
do exercício da escrita em nossa vida. E, por essa razão, o domínio de tal uso constitui-se
elemento essencial para o exercício da cidadania.
5 CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA E DO
SOCIOCOGNITIVISMO PARA AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS
O termo “sociolinguística” surgiu nos Estados Unidos na década de 1950, mas foi
apenas na década de 1960 que ela se desenvolve como corrente com os estudos de Labov. Por
meio de seus estudos, ele revela, então, que existe uma sistemática covariação entre a
estrutura linguística e a estrutura social. E vai além, postulando, tal qual Saussure, que a
linguística é uma ciência do social, ou seja, ela é uma ramificação da linguística cuja ênfase
encontra-se nas variáveis de natureza extralinguística. Essas variáveis englobam, por
exemplo, gênero (masculino e feminino) e idade (criança, adulto, idoso ou uma escala de
idade).
São os sociolinguistas, então, que, por meio de metodologia específica, vão dar conta
de coletar os enunciados produzidos em um determinado contexto e de analisar as variáveis
relacionadas aos falantes pertencentes a uma situação comunicativa específica, e observar o
gênero a que o falante pertence, a faixa etária, o nível social e o grau de formalidade
implicados no contexto comunicativo. Para os sociolinguistas, todos esses fatores determinam
as escolhas linguísticas das quais os interlocutores lançarão mão no exercício interacional.
A pesquisa sociolinguística, em uma perspectiva variacionista, estabelece três tipos de
variação linguística, a saber, a variação regional, a social e a de registro. É a partir dessa base
teórica, portanto, que Hymmes postula o conceito de competência comunicativa.
Esse termo envolve os diferentes conhecimentos que o falante deve dominar para que
possa ser considerado fluente em uma determinada língua. Ele postula que, além do
conhecimento gramatical propriamente dito, o falante também deve ter domínio de quatro
aspectos: possibilidade, viabilidade, adequação e comprovação. Dentre esses aspectos que,
segundo ele, constituem-se de fundamental importância para que um falante transite
274
competentemente no universo da linguagem, aquele que considera e evidencia o componente
social e, portanto, interacional da língua, que é o aspecto “adequação”.
É por meio dessa vertente que o emissor leva em consideração as condições de
produção, uma vez que o contexto situacional e o receptor são tidos como variáveis essenciais
na enunciação dentro de uma situação comunicativa. Decorre daí a relevância da identificação
de uma circunstância como formal ou informal e todas as características peculiares a essas
situações que o falante precisa considerar ao comportar-se, levando em conta o papel que
desempenhará nessa interação, bem como optar pelas escolhas semânticas, lexicais e
sintáticas.
Não apenas a sociolinguística contribuiu positiva e efetivamente para essas
transformações e reformulações no campo social e interacional da linguística, como é o caso
de Hymes, um icônico sociolinguista, mas também os linguistas George Lakoff e Charles
Fillmore que, numa oposição deliberada aos postulados da teoria gerativista de Chomsky,
pontuam a reflexão da estrutura semântica das línguas, propondo um novo enfoque para o
estudo da linguagem.
Contrariando a concepção gerativista de que os enunciados são construídos por um
sistema de regras puramente formais que, posteriormente, são providos de significado, eles
apresentam um contraponto e propõem uma reflexão acerca do papel que a semântica exerce
na construção das locuções.
Por conseguinte, os linguistas que seguem essa tendência denominam-se não mais
sociolinguistas, mas cognitivistas. São chamados assim porque consideram “os processos de
pensamento subjacentes à utilização de estruturas linguísticas e sua adequação aos contextos
reais nos quais essas estruturas são construídas.
É importante salientar que os cognitivistas não rejeitam as proposições
sociolinguísticas, mas agregam a ela uma perspectiva cognitiva, ou seja, determinam a tríade
linguagem – pensamento – experiência como elemento chave para que o fenômeno linguístico
aconteça, ou seja, a intercorrência desses processos é vital e indissociável. Ademais, pelo fato
de essa corrente associar os fenômenos referentes à interação social na prática comunicativa,
seus adeptos incluíram aí o termo “sócio” e passam a ser designados “sociocognitivistas”.
Segundo Martelotta e Palomanes (2012, p. 179): “[...] Esse termo enfatiza a importância do
contexto nos processos de significação e o aspecto social da cognição humana. Mais do que
isso, focaliza a linguagem como uma forma de ação [...]”, para nos enquadrarmos nos
diversos papéis sociais que desempenhamos cotidianamente.
275
Nessa acepção, divergem veementemente da tradição gerativista, uma vez que
admitem que não existem significados prontos segundo a abordagem cognitivista, mas
recursos para a construção dos sentidos baseados nos dados contextuais e dinâmicos. Segundo
Martelotta e Palomanes (2012, p. 179), “[...] os significados não são elementos mentais únicos
e estáveis, mas resultam de processos complexos de integração entre diferentes domínios do
conhecimento”.
Para que a construção do significado seja possível, os usuários da língua constituem-se
como peças centrais nesse processo. Além disso, compreendem as molduras comunicativas
para desempenhar um comportamento consensual esperado na interação social.
Ademais, como contribuição da psicologia, Lev Vygotsky figura como o proponente
da ideia de que a aprendizagem deriva das relações sociais e do desenvolvimento cultural,
enfatizando o próprio potencial do educando e o poder da mediação no processo de ensino-
aprendizagem.
O processo interacional e dialógico que o educador deverá explorar e lançar mão para
ajudar os discentes no processo de significação e de passagem do conhecimento empírico para
o formal é essencial, pois é a partir dessa provisão que se desencadeará a construção dos
conhecimentos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa breve análise teórica e de recortes bibliográficos, não se pretende
esgotar a discussão acerca da conceituação dos termos alfabetização e letramento, de seus
amplos usos no campo da educação básica, tampouco das concepções dos multiletramentos e
de suas atribuições de responsabilidades na área pedagógica.
Destaca-se a necessidade de, além de dominarmos os conceitos, as regras e os
processos de codificação e decodificação textuais, ou seja, de sermos “alfabetizados”,
saibamos nos apropriar desses conhecimentos e empregá-los em consonância com as rotinas
linguísticas, expressão cunhada por Bortoni-Ricardo (2005), nas diversas convenções
interacionais. Assim, aclara-se que a responsabilidade na construção do letramento do aluno
urge ser compartilhada por todos os agentes envolvidos no processo de ensino aprendizagem,
uma vez que todos são participantes e elementos relevantes na busca da aquisição do
conhecimento e não apenas o professor de Língua Portuguesa.
276
É importante compreender que os cognitivistas somam às proposições dos
sociolinguísticas e apresentam a indissociação do tripé (Linguagem – Pensamento –
Experiência) na constituição do fenômeno linguístico. Dessa forma, os educadores devem
sempre levar em consideração as experiências prévias dos educandos, uma vez que serão elas
os pilares nos quais estes buscarão sustentação no processo de construção de sentidos,
alicerçados pela mediação nos processos sociointeracionais dos quais participam como
sujeitos autênticos.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, A.; MAIA, I., RODRIGUEZ, J.; FREIRE, Y. Meta do Saber:
Letramento na Alfabetização de Jovens e Adultos. Fortaleza: IMEPH, 2009.
BORTONI-RICARDO, S. M. Nos cheguemu na escola, e agora? Parábola, 2005.
COOK, Guy. Applied Linguistics. Oxford University Press, 2003.
FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São
Paulo: Autores Associados, 1989.
GONÇALVES, H. A. O conceito de letramento matemático: algumas aproximações. UFSJ.
Disponível em: <http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/04/artigo-2a14.pdf>. Acesso em
01/10/15.
KLEIMAN, A. Os estudos de letramento e a formação o professor de língua materna.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ld/v8n3/05.pdf. Acesso em 03/09/2015.
LEITÃO, S. Argumentação e Desenvolvimento do Pensamento Reflexivo. Psicologia:
Reflexão e Crítica. Recife: UFPE, 20 (3), 465-462. Disponível em: <WWW.scielo.br/prc>.
Acesso em 07/10/15.
MACHADO. A. P. Do significado da escrita da matemática na prática de ensinar e no
processo de aprendizagem a partir do discurso de professores. Tese de Doutorado em
Educação Matemática – Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Rio Claro: Universidade
Estadual Paulista, 2003.
MARTELOTTA, M. E.; PALOMANES, R. Manual de Linguística. In: Linguística
Cognitiva, 2012, p. 177-192.
MENEZES, C. Conheça as diferenças entre os métodos de alfabetização. São Paulo. Folha
de S. Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u642.shtml.
Acesso em: 12/09/15.
POSSENTI, Sírio. Pragas da leitura. Série Idéias n.13. São Paulo: FDE, 1994. p. 27-33.
SILVEIRA, A. P. Fundamentos da alfabetização. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
________. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. In: Educação e
Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, dez 2002.
TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.
LETRAMENTOS E ETNOGRAFIA: A SITUAÇÃO ESCOLAR EM UMA
COMUNIDADE QUILOMBOLA EM PARACATU-MG
Luiz Henrique Gomes Silva (UnB)
277
RESUMO: Neste trabalho, apresentamos algumas informações sobre a situação de uma escola em
uma comunidade quilombola em Paracatu-MG, e as possibilidades de Letramento e Etnografia de
ensino nessas Comunidades. Parte das informações foi obtida no trabalho de mestrado intitulado
“Identidades na Comunidade Quilombola São Domingos e Representações da Mineradora Kinross:
Tradição x Modernidade” (Gomes, 2013), desenvolvida na Universidade de Brasília. Os principais
autores em que este artigo foi embasado são Street (2007), Kleiman (1995) e Costa (2000). O
objetivo central deste artigo, de cunho qualitativo foi trabalhar a importância do Letramento e da
Etnografia na aquisição do conhecimento de integrantes de comunidade, assim como mostrar a
realidade de uma escola que compõe a comunidade São Domingos. Como resultados das análises,
identificamos que seguindo um padrão de dificuldades do ensino formal no Brasil, as comunidades
também passam por restrições sejam estruturais (falta de um ambiente para a aprendizagem), mas
também por falta de profissionais e alunos que justifiquem o funcionamento de escolas que já existem
no local. Outra situação que surgiu na pesquisa foi que os profissionais que ali trabalhavam, por não
pertencer à comunidade, não possuíam o envolvimento e conhecimento sobre a comunidade de
maneira que pudesse desenvolver um trabalho utilizando a etnografia e todo o conhecimento que esses
alunos traziam do contexto em que viviam.
Palavras-chave: Letramentos. Etnografia. Comunidade Quilombola.
ABSTRACT: In this work, we present some information about the situation of a school in a
quilombola community in Paracatu-MG, and the possibilities of Teaching and Ethnography teaching
in these Communities. Some of the information was obtained in the master's work titled "Identities in
the Marron Community São Domingos and Representations of the Kinross Mining company:
Tradition x Modernity" (Gomes, 2013), developed at the University of Brasilia. The main authors on
which this article was based are Street (2007), Kleiman (1995) and Costa (2000). The main objective
of this article was to study the importance of Literature and Ethnography in the acquisition of the
knowledge of community members, as well as to show the reality of a school that makes up the São
Domingos community. As a result of the analyzes, we identified that, following a pattern of formal
education difficulties in Brazil, communities also face structural constraints (lack of an environment
for learning), but also because of the lack of professionals and students that justify the functioning of
schools which already exist on site. Another situation that arose in the research was that the
professionals who worked there, because they did not belong to the community, did not have the
involvement and knowledge about the community in a way that could develop a work using the
ethnography and all the knowledge that these students brought from the context in who lived.
Keywords: Literacies. Ethnography. Maroon Community.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho surgiu a partir de uma demanda na dissertação de Mestrado
apresentada na Universidade de Brasília, em 2014, pois ao pesquisar sobre as Comunidades
Quilombolas na região noroeste do estado de Minas Gerais, deparei-me com várias situações
de perda de identidades e representações em algumas Comunidades Quilombolas. Todavia, ao
identificar a comunidade mais organizada e de maior expressão na região – que seria o foco
da minha pesquisa – a informação de que a escola que atendia essa comunidade não
278
funcionava desde 2008 deixou-me inquieto, o que me levou a pesquisar um pouco mais essa
situação.
Já no doutorado e cursando disciplinas de Letramento e também realizando leituras
sobre Etnografia, propus investigar essa situação e entender quais os motivos que levaram o
fechamento da escola, através de conversas com líderes da comunidade, sob a perspectiva da
pesquisa qualitativa.
Diante de tal situação, propus uma reflexão sobre o letramento, a etnografia e as
possibilidades de se trabalhar em um contexto riquíssimo, mas que se não aproveitado, pode
levar a discursos que não colaboram para a perpetuação identitária local, colaborando para a
fragmentação cultural da comunidade e até para o fechamento de uma instituição escolar.
Este trabalho possui o intuito de contribuir com estudos já desenvolvidos com as
Comunidades Quilombolas e também permitir uma reflexão sobre a importância da utilização
da Etnografia no Letramento de alunos que são de comunidades.
1 O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DO BRASIL
O desenvolvimento de habilidades e competências educacionais, pessoais e também
profissionais faz parte dos requisitos almejados em um contexto educacional. Dessa maneira,
pensamos ser a educação o grande protagonista na formação de indivíduos críticos e de uma
sociedade emancipada.
Numa sociedade do conhecimento, envolvidas pelas tecnologias e todas as
possibilidades de promoção e divulgação, as pessoas necessitam apropriar de conhecimentos
que lhes permitam resolver problemas, ser criativo e administrar as informações numa
sociedade semiotizada e com tecnologias cada vez mais avançadas.
Diante do exposto, um conceito deve estar claro tanto na visão dos indivíduos que
aprendem quanto dos profissionais que ensinam: o Letramento. Apesar da diversidade de
conceitos que abarcam essa nomenclatura, duas concepções são vislumbradas por Kleiman
(1995); o modelo autônomo, que referenda o ensino em massa, traçando um “caminho” para o
desenvolvimento da aprendizagem, e o modelo ideológico, que desenvolve o letramento
associando-o às práticas culturais e às estruturas de poder. Baseado nesses dois conceitos, esta
última atende melhor a realidade de emancipação e autonomia que se quer alcançar com o
indivíduo que exerça sua cidadania.
Há ainda outros autores que ressignificam o termo letramento, como Tarapanoff
(2004, p. 3) o qual reitera que “o objetivo da alfabetização em informação é criar aprendizes
279
ao longo da vida, pessoas capazes de encontrar, avaliar e usar a informação eficazmente para
resolver problemas ou tomar decisões”. Já Scribner e Cole (1981 apud KLEIMAN, 1995, p.
19) escrevem que “podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais
que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos”.
Nas palavras de Street (2007), as práticas de letramento são sempre práticas associadas
com questões ideológicas e de poder. Em outras palavras, o modelo ideológico
[...] reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e os
usos das práticas de letramento estão relacionados com contextos culturais
específicos; e que essas práticas estão sempre associadas com as relações de
poder e ideologias: não são simplesmente tecnologias neutras. (STREET,
2007, p. 466).
Isto posto, Costa (2000) comunga do pensamento Street, dizendo que o modelo
ideológico de letramento leva em consideração a determinação tanto do social quanto do
cultural nas práticas de letramento da sociedade, cujos significados da escrita adquiridos por
um determinado segmento social estão ligados às instituições ou aos contextos situacionais
gerados.
Ainda segundo Street (1993), há dois conceitos de Letramento bastante relevantes, que
são evento de letramento e prática de letramento. Quando ocorrem encontros interacionais em
que o desenvolvimento da escrita é o foco, relacionamos essa situação com o evento de
letramento. Um exemplo claro é quando se trabalha com atividades rotineiras, como a escrita
de um bilhete, ou a contação de uma história para a criança dormir, ou seja, atividades que
envolvem a escrita de alguma maneira. Já a prática de letramento deve ser entendida como um
conceito mais amplo, tanto relacionada à leitura quanto ao uso da escrita, referindo-se às
ações dos indivíduos como também aos seus conceitos e crenças por ele desenvolvidas.
Assim, percebemos que ao se investigar as práticas de letramento não como desvincular do
conceito de eventos de letramento. Nesses processos de usos da escrita estão interligados
crenças, valores e discursos sobre a escrita e a conjuntura onde essas situações são
desenvolvidas.
No Brasil os conceitos de alfabetização e de Letramento são bastante discutidos e
estudados com o intuito de se obter estratégias de ensino que melhorem as competências de
escrita e leitura dos estudantes. Todavia, o que se percebe diante de dados coletados através
de diagnósticos realizados pelo Ministério da Educação – MEC (2015) é que os estudantes
280
brasileiros, em relação a outros países – tanto considerados de primeiro mundo como de
terceiro mundo – estão muito aquém em termos de letramento.
De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) -
Programme for International Student Assessment -, da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), dados apresentados pela pesquisa mostram que o
desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de leitura foi de 407 pontos,
valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros da OCDE (525).
Os 10% dos estudantes brasileiros com pior desempenho em leitura no PISA 2015 obtiveram
nota média igual a 279, e os 10% de melhor desempenho, 539.
Apesar dos esforços feitos pelas instituições escolares e pelos profissionais que a
compõem, verifica-se que ainda faltam subsídios que proporcione um ensino de qualidade que
promova autonomia, de forma que os alunos sejam formados cidadãos críticos e protagonistas
de suas histórias.
2 A IMPORTÂNCIA DA ETNOGRAFIA PARA OS LETRAMENTOS EM
COMUNIDADES
Diferente do que muitos pensam, a etnografia - nas palavras de Magnani (2002) - não
se confunde nem se reduz apenas a uma técnica; pode usar ou servir-se de várias, conforme as
circunstâncias de cada pesquisa; ela é antes um modo de acercamento e apreensão do que um
conjunto de procedimentos. Ela também consiste num longo tempo vivendo entre os
“nativos” (rurais, urbanos, modernos ou tradicionais), todavia atualmente essa vivência não
vem acontecendo com frequência em vários tipos de pesquisas que dizem ser “etnográficas”.
Uma crítica trazida por Street (2014) é que embora a antropologia tenha trazido um
dos maiores estímulos para os estudos do letramento (a etnografia), voltados a descrições
culturalmente sensíveis do letramento na prática, alguns relatos clássicos sobre letramento em
sociedades tradicionais foram descritos na perspectiva do modelo “autônomo” e, dessa
maneira, tendem a reproduzir explicações tecnicistas e aculturais do letramento. Ou seja, não
aproveitam todo o potencial de cargas culturais e ideológicas que poderiam aproveitar para
uma pesquisa ou ensino, dependendo do que estiver trabalhando.
A etnografia revela e estuda as crenças, os costumes e as tradições de uma sociedade e
ou comunidade, que são transmitidas de geração em geração e que permitem a continuidade
de um sistema social ou de determinada cultura.
281
O conceito de Comunidade está ligado a um agrupamento de pessoas que vivem
dentro de uma mesma área geográfica, urbana ou rural, vinculadas por interesses comuns e
que participam das condições gerais de vida. Esse termo ainda usado para denominar uma
forma de associação muito íntima, um grupo altamente integrado em que os membros
encontram-se ligados uns aos outros por laços de simpatia. Assim, podemos concluir que
qualquer grupo pode constituir uma comunidade, por exemplo, comunidades que vivem
submetidas à mesma crença ideológica.
A importância de se levar a etnografia em consideração é que o profissional não fica à
margem da realidade que estuda ou trabalha, ele realmente se envolve na vida da comunidade,
observando suas características tanto essenciais quanto acidentais. Com esse propósito, o
pesquisador / profissional participa da vida cotidiana das pessoas por certo período de tempo,
“[...] observando o que acontece, escutando o que é dito, fazendo perguntas – na verdade,
coletando qualquer dado que esteja disponível para esclarecer as questões com as quais ele se
ocupa” (HAMMERSLEY E ATKINSON, 1995, p.1 apud FLICK, 2009, 214). Essa conduta é
o que permite ao etnógrafo compreender as práticas desenvolvidas na comunidade e poder
explorá-las em sala de aula, fortalecendo toda a bagagem cultural que os alunos possuem.
Como visto na seção anterior, mas agora na visão de Soares (1998), letramento pode
ser concebido como a ação de aprender e ensinar através de práticas de leitura e escrita. Nesse
sentido, o desenvolvimento do letramento deve englobar atividades diversas de maneira que o
aluno experiencie momentos diversificados na aprendizagem.
Vale salientar que um profissional reflexivo e que domina a arte do ensino-
aprendizagem deve desenvolver um trabalho em que alfabetize letrando, pois é um processo
em que o ideal é que ocorra concomitantemente e, apesar de serem processos distintos, são
indissociáveis, ou seja, ambos ocorrem simultaneamente. Uma das maneiras de permitir tal
acontecimento é trabalhar com o conhecimento prévio e cultural do aluno, em que as
atividades desenvolvidas e as práticas de alfabetização primem pelas experiências trazidas
pelas crianças para que o conceito seja formalizado posteriormente.
Quando as crianças chegam à escola, elas trazem consigo conhecimentos pragmáticos,
linguísticos, referenciais e textuais, pelo acesso que já obtiveram a diferentes gêneros textuais.
O que ocorre é o desconhecimento, muitas vezes não completamente, do código da escrita
alfabética. Caso tenham a oportunidade de começar a descobrir esse código por meio de
procedimentos que orientem no estabelecimento de relações entre o que já conhecem e o que
estão aprendendo, fatalmente tudo ficará mais fácil, uma vez que terão a oportunidade de
282
relacionar as ações de linguagem que habitualmente realizam com ações concretas de leitura e
escrita.
Pelo fato de muitas comunidades ainda não possuírem o grande acervo de informações
e tecnologias que permeiam a sociedade urbana, o processo de alfabetização e letramento lá
desenvolvido pode ficar descontextualizado de suas realidades e é justamente esta
sensibilidade que o professor deve possuir para que um trabalho diferenciado e mais acertivo
possa ocorrer com os alunos dessas comunidades.
É certo que os conhecimentos trabalhados devem ultrapassar as fronteiras físicas e
espaciais das comunidades. Todavia, o que se defende é que através da etnografia, do
conhecimento da realidade cultural e social desse povo, possa-se trabalhar para o
conhecimento formal seja adquirido, disseminado e utilizado a seu favor para garantir a
cidadania proposta na constituição federal.
O governo, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs-, já orienta que no
processo de ensino-aprendizagem da escrita, seja priorizada abordagens que sejam centradas
na produção e recepção de gêneros textuais, de maneira que faça sentido para o aluno, uma
vez que utilizará os conhecimentos prévios trazidos de casa.
3 REALIDADE ESCOLAR EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM
PARACATU
Em Minas Gerais, são quatrocentos e trinta e cinco comunidades quilombolas,
algumas identificadas e outras em processo de identificação, conforme informação divulgada
em 2007 pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES, com base em seu
Projeto Quilombo Gerais. Dessas comunidades, quatorze estão no noroeste do estado, sendo
que cinco delas no município de Paracatu. São elas: Cercado, comunidade dos Amaros,
Machadinho, Pontal e São Domingos.
Apesar de haver cinco comunidades quilombolas registradas, várias estão muito
fragmentadas e até perderam seu território. Dito isto, analisaremos a situação escolar da
comunidade melhor preservada tanto material quanto imaterialmente, que é a comunidade
quilombola São Domingos.
Por séculos ocorreu certo silêncio a respeito do legado histórico e cultural dos povos
africanos a partir do reconhecimento de comunidades que abrigam os negros remanescentes
dos quilombos. Em se tratando da questão educacional dos remanescentes de escravizados, o
283
decreto n.º 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas os escravos
não fossem aceitos, além disso, para que a instrução ocorresse para adultos negros dependeria
da disponibilidade de professores. Já o decreto n.º 7.031-A, de 6 de setembro de 1878,
estabeleceu diversas manobras para impedir o acesso da população escrava à escola, tais
como o ensino ser permitido apenas no período noturno (BRASIL, 1957).
Somente a partir da Constituição Federal de 1988 que desenrola o primeiro documento
oficial a romper com esse silêncio e atribuir a tais comunidades um papel proativo,
estabelecido no artigo 68, reconhecendo como quilombolas aqueles que ocupem suas terras e
que lhes sejam emitidos os títulos de propriedade. A partir daí, com seus territórios
demarcados e com muita luta e resistência, as comunidades começam a possuir um pouco
mais de direitos, inclusive educacionais.
Baseado em pesquisas e entrevistas com moradores da comunidade quilombola São
Domingos, fiquei sabendo da existência de uma Escola Municipal denominada Severiano
Silva Neiva, fruto de muita luta de moradores. Todavia, a escola não funciona desde o ano de
2008.
A criação dessa instituição de ensino ocorreu através da lei municipal n.º 1.021/1981,
que em princípio ocorria na sacristia da igreja local. Após cobranças e reivindicações, em
1984 a escola ganhou sede própria, sendo construída em frente à igreja da comunidade.
Quando construída, a escola possuía duas salas de aula, uma cozinha e banheiros. As aulas
eram desenvolvidas nas duas salas, que eram multisseriadas, e as funcionárias que a
compunham eram apenas duas professoras e uma cantineira.
O último ano letivo em que houve aulas na escola foi em 2008. A justificativa para a
desativação da instituição foi a falta de alunos que justificasse deixá-la funcionando, segundo
informações de líderes da comunidade. Os vinte e um alunos não eram suficientes para
manter a escola na comunidade e também havia certa insatisfação por parte dos pais de alguns
alunos, uma vez que falavam que as salas multisseriadas não atendiam as expectativas do
alunado, principalmente do ensino médio, o que foi mais um fator para a demandada de
alunos a outras escolas mais próximas e ou centrais.
Outro fator relevante constatado era que as profissionais que ali atuavam não faziam
parte da comunidade, o que muitas vezes não gerava envolvimento das profissionais com as
questões da comunidade.
Inclusive, esse é um dos fatores a que se refere a etnografia, pois profissionais que não
são do local e não possuem envolvimento com a comunidade, dificilmente trabalharão os
284
valores locais, suas culturas, crenças e ideologias. O que poderá trazer uma defasagem nos
letramentos ideológicos e sociais que os alunos poderiam desenvolver, mas não é explorado e
trabalhado com eles.
CONCLUSÃO
Como perpetuar as histórias, os valores, as culturas materiais e imateriais se grande
parte das comunidades quilombolas estão perdendo suas identidades?
Como vimos anteriormente, a instituição escolar é fundamental na formalização do
ensino de maneira que o letramento e a etnografia possam atingir seu ápice e permitir que os
indivíduos se tornem cidadãos conscientes de seus deveres e direitos, permitindo que sejam
protagonistas de suas histórias.
Em se tratando de comunidades quilombolas, outros elementos se fazem necessários
para a perpetuação de suas crenças, valores e culturas. A etnografia escolar é uma
possibilidade tanto para a alfabetização quanto para que o aluno enxergue no estudo formal
algo prático e com sentido, uma vez que vivencia várias situações na comunidade em que
reside. Dessa forma, muitos estudos e atividades desenvolvidas saem do plano da abstração e
passam a fazer mais sentidos ao alunado.
Em Paracatu, muitas das comunidades quilombolas não possuem escolas, e no caso da
comunidade São Domingos, apesar de a instituição existir, não é utilizada pela falta de alunos,
o que prejudica – de certa forma – uma excelente oportunidade de se trabalhar as questões
específicas da comunidade, através da etnografia, e perpetuar as identidades dos moradores e
de sua posteridade.
Atualmente há um projeto de reativação da escola, todavia ainda não foi efetivada, o
que ainda não permitirá que conhecimentos advindos da comunidade, assim como seus
valores e crenças sejam exploradas e trabalhadas da maneira como deveria ser, garantindo a
disseminação da cultura quilombola e as possibilidades de perpetuarem suas ideologias e
histórias.
Espero que este trabalho seja fonte de inspiração para novas pesquisas sobre
Letramento e Etnografia em Comunidades Quilombolas e contribua para a disseminação de se
refletir sobre a importância de agregar os conhecimentos trazidos pelos alunos de
comunidades ao processo ensino-aprendizagem e que todas as culturas possam ser
preservadas e resguardadas através de um ensino mais contextualizado.
285
REFERÊNCIAS
COSTA, S. R. Interação e Letramento escolar: uma (re)leitura à luz vygotskiana e
bakhtiniana. Juiz de Fora: EDUFJF/MUSA, 2000.
GOMES, Luiz Henrique. Identidades na Comunidade Quilombola São Domingos e
Representações da mineradora Kinross: Tradição X Modernidade. Dissertação (Mestrado)
– UnB. Brasília, 2013. 177 p.
286
FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre. Artmed, 2009.
KLEIMAN, Angela B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a
prática social da escrita. São Paulo: Mercado de Letras, 1995.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. “De perto e de dentro: notas para uma etnografia
urbana”. Revista Brasileira de Ciências Sociais v.17, N.49, São Paulo, junho 2002.
MEC. Brasil no Pisa 2015. Disponível em
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_fi
nal_baixa.pdf. Acesso em: 03 jul2018.
TARAPANOFF, Kira. Inteligência social e inteligência competitiva. Encontros Bibli,
Florianópolis, n. esp., 1. sem. 2004. Disponível em: http://www.encontros-bibli.ufsc.br.
Acesso em: 30 jul. 2018.
STREET, Brian. Perspectivas interculturais sobre o letramento. Revista de Filologia
Linguística Portuguesa da Universidade de São Paulo. n. 8, 2007.
__________. The New Literay Studies. In: STREET, Brian (Org.). Cross-cultural
approaches to literacy. Cambridge: Cambridge University, 1993.
DO BANDEIRANTISMO AO ABANDONO URBANO:
Paisagens Linguísticas (De)Coloniais De Goiânia
Karla Alves de Araújo França Castanheira (UFG)
Resumo
Este trabalho tem como foco discutir alguns elementos presentes na paisagem linguística do centro
de Goiânia, a partir, principalmente, das considerações de Blommaert (2010, 2013) acerca das
paisagens linguísticas; de Canagarajah (2013), sobre práticas linguísticas, e de Mignolo (2003), sobre
a colonialidade. Assim, nos propomos a pensar as inscrições linguísticas do centro de Goiânia como
práticas que semiotizam os espaços e “sincronizam” historicidades, a partir da ‘opção decolonial’,
mostrando como a diferença colonial se torna visível e espacial por meio delas, com o objetivo de
mostrar que essas práticas não são apenas ‘localizadas’, mas que constroem sentido a partir de sua
espacialização e para a espacialização que querem construir.
Palavras-chave: Paisagens Linguísticas. (De)Colonialidade. Goiânia.
287
Abstract
This paper focus on discussing some of the elements of the Goiânia's linguistics landscape. The
discussion is based on Blommaert's considerations (2010, 2013) on linguistics landscapes,
Canagarajah's considerations (2013) on language practices and Mignolo's considerations (2003) on
coloniality. We propose to think the written inscriptions found in Goiânia as practices that semiotize
spaces and sincronize historicities, by “the decolonial option”, showing that this practices are not just
“localized language practices”, they make sense from and for the spatialization, being part of the
construction of this spatialization.
Key-words: Linguistics landscapes. (De)coloniality. Goiânia.
Dizem as paredes/3
Em Montevidéu, no bairro Braco Oriental: Estamos aqui sentados, vendo
como matam os nossos sonhos. E, no cais na frente do porto de Buceo, em
Montevidéu: Bagre velho: não se pode viver com medo a vida inteira. Em letras
vermelhas, ao longo de um quarteirão inteiro da avenida Cólon, em Quito:
E se nos juntarmos para dar um chute nesta grande bolha cinzenta?
Eduardo Galeano, “o Livro dos Abraços”
1. INTRODUÇÃO
Uma parte da sociolinguística contemporânea tem se voltado para o estudo dos efeitos
linguísticos da globalização e como esses efeitos desestabilizam pressupostos cristalizados em teorias
linguísticas ‘clássicas’, inclusive a própria ideia de língua, e seus métodos e ferramentas de análise.
Surgem, assim, novas propostas conceituais e novas ferramentas teóricas e analíticas para dar conta
tanto dos fenômenos emergentes da globalização como da reformulação dos pressupostos
linguísticos diante deles.
288
É diante dessa nova perspectiva que Blommaert (2013) propõe o estudo das “paisagens
linguísticas”, como uma forma de fornecer “uma visão fortemente delineada de como o espaço é
semiotizado e como isso semiotiza o que acontece em sua órbita” (p. 23). No prefácio ao livro
“Ethnograghy, Superdiversity and Linguistic Landscapes”, Pennycook, Morgan e Kabota afirmam que
a “língua é parte do ambiente físico”, sendo a análise das paisagens linguísticas uma análise da
espacialidade da linguagem. Retomando Scollon e Scollon, eles afirmam que o estudo dessas
paisagens é “uma visão interrogativa dos múltiplos sistemas semióticos que, juntos, formam os
sentidos do que chamamos de lugar” (BLOMMAERT, 2012, p. IX-X). Isso faz com que “o espaço ele
mesmo seja a preocupação e o objeto central” (BLOMMAERT, 2012, p. 3), pois paisagens linguísticas
são “indexicalizadoras de padrões sociais, culturais e políticos”, se tornando “um diagnóstico de
estruturas sociais, políticas e culturais inscritas na paisagem linguística” (BLOMMAERT, 2012, p. 3).
Neste trabalho, partiremos desta proposta teórico-metodológica das paisagens linguísticas,
discutindo as especificidades de se aplicá-la nas “margens da globalização”, para, considerando
alguns dos signos encontrados no centro de Goiânia-GO, discuti-los, tanto no sentido de sua
produção como signo espacial, da sua produção de sentido; quanto acerca das discussões teórico-
analíticas sobre processos de semiotização do espaço e práticas linguísticas na contemporaneidade.
2. O ESTUDO DAS PAISAGENS LINGUÍSTICAS
Sob essa perspectiva, a língua não é entendida como uma entidade abstrata, diretamente
vinculada a um povo e/ou a um território, processo ideológico pelo qual “a língua foi retirada dos
cenários social e material no qual funciona, no completo contexto ecológico, para produzir sentido”.
Assim, língua é considerada aqui como “recursos móveis, híbridos e heterogêneos que se combinam
com outros recursos semióticos para fazer sentido no contexto” (CANAGARAJAH, 2013, p. 23).
Consideramos aqui, assim, as práticas linguísticas como a mobilização de recursos semióticos
em geral – não apenas estritamente ‘linguísticos’ – pois são as práticas de construção de sentido,
envolvendo todas as estratégias disponíveis, disponibilizadas e mobilizadas para isso. É a partir
dessas práticas que os espaços são semiotizados. Essa semiotização do espaço “torna o espaço um
habitat social, cultural e político, no qual pessoas ‘habilitadas’ co-constroem e ordenam
perpetuamente a ordem semioticamente inscrita naquele espaço” (BLOMMAERT, 2013, p. 16);
289
fazendo com que o espaço público possa ser visto como parte de um sistema sociolinguístico, ou
melhor, de um sistema de sistemas, sempre em constante mudança.
O estudo das paisagens linguísticas é “o estudo detalhado de situados signos-no-espaço-
público, destinado a identificar a fina fábrica de sua estrutura e função em constante interação com
várias camadas de contexto” (BLOMMAERT, 2013, p.14), pois “enquanto o signo eles mesmos têm
um sentido latente, seu sentido só se torna um fato real, social e semiótico quando localizado em um
espaço particular.” (p.32). Esses signos são sempre objetos multimodais, mais que estritamente
linguísticos (BLOMMAERT, 2013, p. 41) e essa localização ela mesma semiotiza o espaço, dando
significados, demarcando-os, enchendo-os de códigos de conduta e de expectativas.
Para tanto, é preciso considerar a historicidade desses signos, pois a “historicidade cria
reconhecimento, fundamentando atribuições indexicais”, considerando a sincronização que esses
signos efetuam quando surgem, ao envolver, “em um único conjunto de significados”, “diferentes
camadas históricas de sentido”, pois “qualquer ato de comunicação é um momento em que
sincronizamos materiais que carregam diferentes indexicalidades históricas, um efeito da
policentricidade intrínseca que caracteriza os sistemas sociolinguísticos” (BLOMMAERT, 2013, p. 11-
12).
É preciso considerar, porém, que Blommaert coloca que “os estudos sobre as paisagens
linguísticas são, sobretudo, devotados à visibilidade pública do fenômeno multilíngue em cidade
bi/trilíngues. *...+ em cidades altamente globalizadas e internacionais (p. 40)”, mas, como argumenta
Wang et al. (2014, p. 23), em relação às análises dos processos de globalização e de suas implicações
sociolinguísticas, não há razão para excluir as “margens” dessas análises e, acrescentamos, menos
ainda, das análises de paisagens sociolinguísticas, que, consideramos aqui, como uma metodologia
que pode ser aplicada para se analisar a semiotização do espaço pelas pessoas em todos os lugares,
em todas as suas práticas linguísticas espaciais e especializadas, pois
foi-se gradualmente percebendo que as novas ferramentas do trabalho com
superdiversidade poderiam também ser aplicadas em fenômenos mais antigos e
comuns no campo da linguagem, comunicação e identidade, e que a nova
fenomenologia da superdiversidade sociolinguística poderia servir também como um
alerta para se olhar através de todo o campo de estudos para renovadas e mais
afinadas análises (WANG et al., 2014, P. 26).
Além disso, consideramos aqui que “o que nós temos são novas teorias, não novas práticas”
(CANAGARAJAH, 2013, p. 33), pois o atual estágio da globalização tem potencializado e visibilizado
práticas linguísticas que foram ‘ocultadas’ dos discursos teóricos e ideológicos sobre a língua, e não
criado essas novas práticas. Além disso, diferentemente de autores como Blommaert (2010), para
290
quem a globalização é um processo que se inicia no fim do século XVIII – início do século XIX
(globalização geopolítica) e que atualmente desenvolve uma etapa desse projeto (a globalização
geocultural) iniciada com o fim da Guerra Fria; consideramos aqui que, como afirma, Mignolo (2003),
o fim da Guerra Fria é “um momento no qual uma nova forma de colonialismo, um colonialismo
global, continua reproduzindo a diferença colonial em escala mundial, embora sem localizar-se em
um determinado estado-nação” (MIGNOLO, 2003, p. 10), sendo a atualização do projeto
colonial/moderno, que se inicia com a invasão “das Américas”.
Assim, a “globalização” é um projeto, uma etapa de um projeto maior, o projeto
colonial/moderno, que “mudou várias vezes de mãos e de nomes, mas as vezes e os nomes não
estão enterrados no passado” (MIGNOLO, 2003, p. 46). Todos os projetos – a missão cristã, a missão
civilizadora, e os projetos do desenvolvimentismo – existem ao mesmo tempo, se sobrepondo e não
se substituindo. Assim, a globalização, sendo o atual projeto, convive concomitantemente com os
anteriores. Na paisagem linguística de Goiânia, uma cidade ela mesma construída para e pelo projeto
colonial/moderno, em sua missão civilizadora integracionista, as marcas, as ações e a presença das
diferentes etapas do projeto coexistem e não podem ser desconsideradas, pois são elementos da
história ‘sincronizados’ na comunicação espacial, nas práticas de semiotização do espaço que é, ele
mesmo, fruto desse projeto.
3. A PAISAGEM LINGUÍSTICA DO CENTRO DE GOIÂNIA
No centro de Goiânia, no encontro da avenida Goiás com a avenida Anhanguera (e seus
nomes são signos da construção ideológica que cercou sua construção), na “praça do bandeirante”,
encontra-se um monumento, o “Monumento ao Bandeirante”, uma escultura em bronze, de três
metros e meio de altura, representando Bartolomeu Bueno da Silva, o “Anhanguera” 9. Um homem,
armado, se impondo sobre a paisagem, sobre o território e sobre as pessoas que ali circulam. Ele é
signo do poder estatal, símbolo dos discursos oficiais da ‘dominação do sertão’ que marcou a história
de Goiás, do bandeirantismo à construção da cidade.
9 Dados oficiais da prefeitura de Goiânia, disponíveis em
https://www.goiania.go.gov.br/html/principal/goiania/monumentos/bandeirante.shtml, acessado pela última vez
em 31 de agosto de 2017.
291
Ele marca a presença de uma história – a oficial – oponentemente, no cruzamento mais
movimentado do centro da cidade. É um símbolo não só do poder, mas da dominação dos homens
paulistas - não é à toa que o centro do poder de São Paulo se chama “Palácio dos Bandeirantes” –,
pelas trilhas do ouro, atrás das riquezas da terra ‘indomada’, a despeito de sua população. Ele é
também o símbolo da retomada do poder estatal sobre o território de Goiás, abandonado quando
finadas as ‘riquezas’, e, por isso, está de frente para o “Palácio das Esmeraldas” – o centro do poder
administrativo do estado de Goiás, a consolidação da ‘dominação do espaço’, agora, oficialmente
transformado em território.
A avenida Goiás é, pelo viés do seu planejamento na década de 1930, a avenida que liga a
história “vencedora” do território: a empreitada bandeirante à “chegada da modernidade”, a
superação da “história”, ela mesma, já que marcada pelo estigma da decadência10. Nesse mesmo
cenário, hoje, aos pés da estátua, em suas quatro esquinas, encontram-se homens de várias idades,
com coletes amarelos escritos em letras grandes “compra-se ouro”.
Essa imagem do centro “sincroniza” a história. Os discursos “sobre” o espaço encontram os
discursos no espaço e se ressignificam nesse processo. Se comprar ouro, com os mesmos coletes
amarelos, é uma atividade que se encontra em vários centros urbanos do Brasil, apenas quando
espacializados e localizados em Goiânia, ao pé da estátua do bandeirante e os discursos que a
colocaram ali, esses signos possuem a possibilidade da significação irônica e icônica aqui
apresentada. Só quando considerados no cenário em que atuam e em relação às histórias locais que
os (in)formam, também semiotizadas nesse mesmo espaço, os signos
completam/alcançam/constroem seus sentidos, ao mesmo tempo em que têm esses significados
modificados por esse cenário e suas histórias locais.
Além disso, não podemos desconsiderar como isso também é uma relação de poder. Os
monumentos estatais são signos da história que se quer contar, são a construção e sempre
‘reatualização’ da memória pelo viés da ‘versão oficial’ da história que os constroem e os sustentam,
pois são inscrições da disputa de poder – e disputa pelo próprio espaço – no espaço público. Como
afirma Blommaert,
10 Goiânia é construída como parte da Marcha para o Oeste do governo Vargas, dentro do processo de
„integração nacional‟, quando as tecnologias de transporte – o trem – passam a permitir maior mobilidade no
território nacional. O período entre queda abrupta da mineração, em 1780 até a construção de Goiânia, em 1937,
é declarado, nas narrativas oficiais sobre Goiás, muito baseadas nas crônicas dos viajantes, como o “período da
decadência”. Como afirma Paulo Bertran, “Haja Decadência!” (BERTRAN, 2006).
292
o espaço público [...] é [...] um espaço compartilhado sobre o qual múltiplas pessoas
e grupos irão tentar adquirir autoridade e controle, se não for sobre todo o espaço,
então ao menos sobre partes dele. Ele é um objeto institucionalmente regulado (e
normalmente possuído) por autoridades oficiais cujo papel será muito
frequentemente evidente nas restrições que eles impõem sobre o uso do espaço [...]
comunicação no espaço público, consequentemente, é comunicação em um campo
de poder. (BLOMMAERT, 2013, p. 40)
3.1. JINGXIANG
É precisamente essa disputa de poder, essa comunicação que é feita para adquirir autoridade
e controle sobre o espaço que também encontramos a poucos metros da estátua do bandeirante e
dos compradores de ouro. Entre a praça e o Grande Hotel – símbolo da art decó que ‘influenciou’ a
arquitetura da cidade, a construção que Levi-Strauss chamou de “bastião da civilização” irônico, “o
contrário de Goiás”, a 80 anos – está um outro “signo da modernidade”, agora na fase em que é
chamada de “globalização”, que não a prometida ou esperada, que não a construída pelos
monumentos oficiais. Entre o bandeirante e o “paralelepípedo de concreto”, os signos de um dos
estágios do projeto modernidade/colonialidade, um comércio ocupa praticamente toda a fachada do
trajeto.
A loja existe há oito anos e se chama JingXiang, o que, de acordo com seus funcionários,
significa “rei do comércio” – eles informaram ainda que é muito frequente pessoas entrando para
293
perguntar o nome da loja e o seu significado. Enquanto falava com um dos funcionários, uma mulher
na porta falava ao telefone: “na frente da loja da China... sei lá como chama ... a da China ué!”.
A primeira questão a pontuar aqui é que, apesar das práticas linguísticas serem compostas
pelos reportórios dos praticantes, pelos recursos mobilizados por eles, sendo compostas por signos
disponíveis, isso não quer dizer que as ideologias linguísticas devem ser desconsideradas, pois elas
fazem parte desses recursos e, portanto, da construção de sentido pretendida. Mesmo que, dentro
dessa perspectiva, as práticas linguísticas não se distingam em mono/bilíngues, quando elas são
práticas percebidas como tais, essa percepção e as ideologias que as embasam (in)formam essas
práticas, sendo fatores relevantes para a sua produção e, portanto, para a semiotização do espaço.
Os signos inscritos na fachada da loja são percebidos como “extraordinários”, nos termos de
Blommaert (2013, p.62), aqueles, que não sendo comuns, são percebidos como “desviantes” do que
se espera encontrar na “paisagem linguística” cotidiana e essa extraordinariedade se dá,
exatamente, pela percepção de ‘outra língua’, uma ‘língua desconhecida’, que não fez parte da
formação dos repertórios da maioria dos habitantes da cidade. Em outras palavras, são recursos com
os quais o contato é percebido como novo, como desconhecido.
Eles são identificados como ‘chinês” e a loja não é chamada pelo seu nome em chinês, é a
“loja da China”. Essa indexicalização na “China”, junto das cores da fachada – vermelho e dourado
são também índices ‘de chinês’ – se torna ainda mais forte porque, abaixo da escrita chinesa, que
remete ao que Blommaert (2010, p. 29-30) chama de “signos emblemáticos”, que funcionam como
símbolos, mas sem ‘função estritamente linguística’ - há a transcrição do nome para o alfabeto latino
– JingXiang – mas não sua tradução (‘rei do comércio’). Ao mesmo tempo, a fachada faz uso de
práticas linguísticas locais, de recursos locais para anunciar seus produtos – “utilidades e bazar”.
Assim, o uso do ‘chinês’ não é uma questão de “limitar sua audiência”, de restringir o
entendimento da comunicação apenas aos integrantes da comunidade chinesa. Os signos cuja
função é de recrutamento (BLOMMAERT, 2013, p. 54), como são as fachadas e os anúncio de
produtos, são reconhecidos como locais e podem ser encontrados em várias fachadas ao longo da
avenida. Como coloca Blommaert (2013, P. 61), “fachadas, como regra, são feitas para recrutar,
atrair e informar, não para provocar ou ameaçar as pessoas”, mas também é aqui utilizada para
anunciar a presença e ‘demarcar’ o espaço.
Esse não é apenas um processo de indexicalização “na China”, ele mostra a atitude linguística
do proprietário e a ‘força’ de sua comunidade. A fachada com os inscritos em chinês é uma
demarcação de propriedade – chinesa, de um chinês – mas também uma imposição na paisagem
294
linguística, que evidencia a presença da comunidade chinesa, evidencia a postura linguística dessa
comunidade e a coloca no campo de poder sobre o espaço em que se inscreve. É também uma
questão de legitimidade e voz da presença da comunidade (BLOMMAERT, 2013, p. 61). As ideologias
linguísticas que informam essa ‘nacionalidade’ e as percepções que ela ‘molda’ possuem uma função
e um efeito nos processos de produção semiótica, atuando sobre/no espaço, já que remetem
também à historicidade, às trajetórias pessoais e comunitárias, às relações de poder presentes nesta
produção e trazem consigo essas ideologias. Esta é a loja “da China”.
Um dos pontos que a fazem chamar atenção é o fato de chegar já com poder e capital o
suficiente para se instalar no comércio e se impor “em chinês”. Em uma cidade formada
essencialmente por imigrações – afinal, uma cidade planejada com 80 anos de existência é toda
migrante – principalmente em prol de uma “vida melhor”, “uma vida diferente”, um “abandono do
passado” - justificativa ideológica para sua própria construção inclusive11 - entre vários outros fatores
que remontam à própria constituição da população e da história da região12, não é comum
encontrarmos grupos étnico-linguísticos diferenciados –seja pela força econômica, seja pelo motivo
da imigração, seja pela forma de constituição da comunidade, entre vários outros fatores sócio
históricos e políticos – com esse tipo de visibilidade e de postura sociolinguística e identitária nos
centros de poder políticos e econômicos da cidade13.
A segunda coisa a pontuar é porque isso é um signo mais representativo do atual estágio da
globalização que a modernidade representada pelos monumentos estatais. A diáspora chinesa se
apresenta como um movimento do atual estágio da globalização, com a abertura comercial da China
iniciada na década de 1970 e suas muitas implicações econômicas e políticas. Entendemos aqui que a
presença desta fachada e dos signos que ela mobiliza assim como o sentido que ela constrói é uma
11 Sobre a ideologia que cercou a construção de Goiânia e seus processos históricos ver “Caminhos de Goiás: da
construção da decadência aos limites da modernidade”, de Nasr Chaul.
12 Sobre a formação da população goiana – mesmo que com muitos problemas e ressalvas – ver “história de
Goiás (1722-1972)”, de Luís Palacin e Maria Augusta de Santana Moraes.
13 Duas ressalvas são necessárias aqui: a primeira é o fato de haver um grande fluxo migratório para Goiás de
grupos subalternizados, como haitianos e sul-latino-americanos, que são invisibilizados nesses centros de poder
– ao menos na paisagem linguística, que é o foco desse trabalho. A segunda é que uma grande e já tradicional
migração árabe para a região, iniciada inclusive muito antes da construção da capital, mas cujo processo de
espacialização e as posturas linguísticas são muito diferentes e, pela trajetória histórica de migração dessas
pessoas, além das muitas especificidades envolvidas, muitos dos signos que elas trazem já foram „normalizados”
e não são entendidos como extraordinários – além do fato de que, apesar de muitos desses imigrantes serem hoje
grupos poderosos economicamente na cidade, a postura performativa linguístico-identitária desse grupo é muito
diferente, principalmente na paisagem linguísica.
295
especificidade da própria diáspora chinesa e das políticas econômicas e linguísticas que a (in)formam.
Fachadas chinesas podem ser encontradas por todo o mundo e têm se tornado parte da paisagem
urbana “global”.
É preciso considerar que, como informa Mignolo (2015), a China está, e sempre esteve
dentro da geopolítica do sistema mundial colonial/moderno, situada pela diferença imperial, “uma
diferença que reconhece e respeita aspectos de igualdade e outros de diferença”; enquanto o Brasil
e, dentro do Brasil, Goiás, está situado na diferença colonial, “baseada na inferioridade” (p.9). Essa
diferença é relevante porque é dentro da diferença imperial que o projeto “muda de mãos, muda de
nomes” – como foi o caso de Portugal, Espanha e Itália quando relegados à ‘nações menores’ pela
dominação da Inglaterra, França e Alemanha – e a China tem retornado à esfera mundial (MIGNOLO,
p. 23-24), tem respondido à diferença imperial, apropriando-se do capitalismo e de suas estratégias e
mecanismos14 (MIGNOLO, 2015, p. 304 – 305), constituindo-se hoje como um ‘terceiro centro
capitalista”, disputando o poder com a Europa e os EUA. Diante do atual sistema mundial, a China
(juntamente ao Japão) não podem fazer isso sem rearticular a lógica da colonialidade, que inclui os
recursos naturais da América Latina (MIGNOLO, 2015, p. 307-308).
Assim, a presença de uma fachada ‘em chinês’ no centro de Goiânia, de acordo com a
proposta analítica de Blommaert (2010), é um signo e uma prática comunicativa que remete às mais
altas escalas, é também a presença das mudanças que ocorrem nos grandes centros de poder do
sistema-mundo, um índice das mudanças que estão ocorrendo na ordem global, em um processo de
‘reajuste’ do sistema mundial colonial/moderno.
3.2 STAR’S CHIC
14 Como afirma Mignolo: “NO se trata en este caso de colonización capitalista de China, sino de autoafirmación
china adaptando el capitalismo a su modo.” (MIGNOLO, 2015, p.304 -305).
296
Um pouco adiante da loja JingXiang, do outro lado do Grande Hotel, uma outra loja, já
tradicional na cidade se encontra. Star’s Chic é uma loja de calçados que, nos anos 90, ficou muito
conhecida no estado de Goiás por basear sua estratégia de marketing em propagandas humorísticas
normalmente relacionadas a histórias locais. Seu proprietário é goianiense, não imigrante. Mesmo
que o nome da loja seja percebido como não fazendo parte do que se considera ‘português’, ele não
é um signo “extraordinário”, nem remonta a questões acerca da ‘origem’ de seu proprietário, como o
nome JingXiang. O fato de ‘não ser português’, assim, não é signo de uma questão identitária ou
migratória.
Assim, é preciso considerar que, enquanto a presença de uma loja chinesa marca a presença
de um grupo étnico na região e no centro de poder da cidade, se encontrando nas escalas mais altas
de indexicalidade, pois translocais, a presença de termos entendidos como ‘de outra língua’ nesta
fachada não remetem a esse mesmo movimento. Ela é considerada ‘comum’, tanto pelo tempo de
existência da loja, que possui mais de 25 anos15, quanto pelo fato de que os recursos mobilizados por
ela não são ‘estranhos’ aos habitantes nem são recentes na paisagem linguística nem no repertório
das pessoas.
O uso do termo star’s não é só emblemático, não só “tem ares de inglês” – apesar de
também ter em si esse emblema -, como tem uma significação ideológica dos bens de prestígio
vendidos, tais como fama, ideologicamente desde a ‘tomada de poder econômico global’ pelos EUA,
além de remeter à marca de calçados – produto vendido na loja. Star era – e é – um termo que,
mesmo percebido como ‘outra língua’, sempre indexicalizando o que se chama inglês e toda a
construção ideológica que isso envolve, faz parte do repertório das pessoas a partir da colonialidade,
e passa, assim, a ser um recurso à disposição das pessoas, ao mesmo tempo em que é “imposto” a
15 é preciso considerar que uma das marcas de calçado mais conhecidas nessa época se chama all star.
297
elas. O fato de esse recurso não perder, ao longo do tempo, a percepção de ‘estrangeiro’ é algo que
envolve inclusive o fato de que ‘ter ares de inglês’ faz parte do próprio processo de construção de
sentido, ‘sincronizando’ questões como o fato de que “ser inglês” é um bem de prestígio – o que não
é um recurso semiótico menor – e remetendo a escalas maiores de indexicalização, mesmo que
sendo localmente semiotizado.
A presença do inglês (star’s), assim, não pode ser explicada pelo atual estágio da
globalização, e sim pela presença maciça do inglês, em produtos e meios de comunicação,
principalmente na América Latina, desde que os EUA se alçam como império mundial, com o fim da
Segunda Guerra. A América Latina era – e ainda o é – o principal mercado consumidor da produção
cultural/material/tecnológica estadunidense. Se hoje o inglês é a ‘língua internacional’, sendo
autoalçado a ‘língua universal’, o processo que o levou a isso se inicia com uma imposição maciça do
inglês, por meio de produtos culturais e de consumo e várias outras políticas linguísticas,
principalmente na América Latina16. Esse processo, porém, em suas etapas anteriores, se dava por
meios de comunicação muito distintos das tecnologias comunicacionais do atual estágio da
globalização, pois eram unilaterais. Como afirma Canagarajah (2013), sobre esta etapa ‘modernista’
da globalização:
A conexão translocal que os discursos da globalização modernista promovem são
unilaterais, segregadores e hierárquicos. Isso foi motivado por uma crença de
superioridade das comunidades da Europa Ocidental (o centro) e seu poder de
integrar comunidades menos poderosas. [...] era esperado que conhecimento,
valores e tecnologia viajassem do centro para a periferia. (2013, p. 25).
Assim, se as práticas translíngues têm ganhado visibilidade agora, é que elas têm chegado ao
centro, pois, nas práticas linguísticas de países colonizados, sempre houve negociações de sentido e
uso dos mais variados recursos disponíveis para eles, inclusive das “línguas” coloniais impostas. O
que o atual estágio da globalização faz é que esses práticas se tornem visíveis àqueles que se
encontram/se encontravam nos centros de poder mundial, é permitir que elas ‘pulem escalas’, se
tornando translocais, pois nos níveis escalares mais locais, mesmo sendo essa ‘integração mundial’
apenas unilateral e assimilatória, as práticas locais sempre foram ‘translíngues’, mesmo em grupos
16 Estamos considerando aqui que o fato de que as tecnologias de comunicação atuais só se tornaram
minimamente acessíveis – pois elas ainda não o são – no Brasil no final da década de 1990, sendo, portanto,
nesse período que se iniciam as modificações tecnológicas e comunicacionais do atual estágio da globalização.
298
considerados tradicionalmente como ‘monolíngues’ (CANAGARAJAH, 2013)17, pois a própria
imposição de “línguas”, que são modificadas de acordo com as “mudança de mãos” dos projetos
globais, faz com que essas ‘línguas’ se tornem recursos disponíveis às pessoas, para que elas as usem
de acordo com seus interesses e propósitos na construção do sentido nas práticas comunicativas.
O fato do termo star’s fazer um jogo fonético com o verbo ‘estar’, esse pertencente
ao que se conhece como português, coloca, “no mesmo signo”, um componente local, que alcançar
seu sentido apenas para quem tem também esse recurso em seu repertório. Para alguém que não o
possui, como se pressupõe que sejam os “falantes” das línguas hegemônicas, os ocupantes (e
construtores) dos “centros do mundo”, que propunham a assimilação unilateral da periferia, essa
produção de sentido não é alcançada. Ela é a mobilização de um recurso global para uma produção
local. Isso demonstra um uso criativo do recurso, não previsto, em prol da caraterística humorística
construída ao redor da loja, que joga com as possibilidades de sentido para se marcar como nome18.
3.3 “EU EXISTO”
17 Como afirma Canagarajah, “a distinção é de grau e não de tipo” (2013, p. 08). É preciso considerar o fato de
que, mesmo o monolinguismo sendo uma construção teórica que deriva das ideologias de língua, isso não
significa que contextos e grupos sociais tradicionalmente descritos como „bilíngues‟ tenham experiências,
vivências e práticas linguísticas muito distintas dos grupos tradicionalmente considerados monolíngues.
Experiências essas que incluem processos sócio-históricos de opressão e de apagamento, quando não de
extermínio, sustentados, inclusive, por um processo histórico de indexicalização de suas práticas linguísticas, que
não devem ser desconsiderados.
18 É preciso pontuar também como o termo “chic” é passível de discussão. Sendo um termo originalmente
entendido como “francês”, ele significa em sua latência exatamente o que remonta, quando se pensa em seu
papel emblemático de “ares de francês”: requinte. O fato de que esse termo poder ser considerado um
“empréstimo”, já consolidado no sistema do português, com todas os problemas teóricos que essas „categorias‟
levantam – inclusive o fato de que, “pertencer” ou não a terminada “língua” é uma questão ideológica que
informa a percepção, e não uma questão de sistema, que, por fim, nos coloca, como coloca Canagarajah, “todos
translíngues” -, permite muitas discussões analíticas que não foram incluídas nos limites desse trabalho, por uma
questão de espaço.
299
Um pouco mais acima, ainda caminhando em direção ao „Palácio das Esmeraldas” no
„raio de visão‟ do bandeirante, do outro lado da rua, encontra-se uma construção abandonada
– na verdade embargada pela prefeitura há muitos anos – que tem se tornado um mural de
signos menos comerciais, mas que são tão comuns quanto eles nas paisagens linguísticas
urbanas. O prédio é coberto por “lambes”19 e inscrições que se sobrepõem, com os escritos
“eu existo”. Normalmente, „lambes‟, como os grafittis, que também se encontram na fachada
da obra, são vinculados ao que se chama “cultura marginal urbana” e figuram no que
Blommaert (2013, p. 54) chama de “signos de declaração pública”.
Se a presença da escrita chinesa, do nome JingXiang é uma ‘declaração de existência’ da
comunidade chinesa na região, se é uma demarcação dela em meio às disputas de poder, a
declaração de existência explícita e semiotizada nas paredes de uma construção abandonada de 11
andares, ao fim do trajeto, a duas quadras do centro administrativo do estado, é uma declaração de
existência muito distinta da anterior. A visibilidade que aqui se ‘exige’ não é de uma comunidade
construída por um estado-nação, nem um indicador de mudanças ou da (re)ordenação dos projetos
globais, é, ao contrário, a construção semiótica e a espacialização linguística dos ‘excluídos’ desses
projetos.
A própria forma de inscrição no espaço, como nos informa Blommaert (2013), é indicadora
das intenções e do processo de semiotização desse espaço. A presença de uma fachada comercial
produzida industrialmente é claramente mais financeiramente dispendiosa que outra produzida por
folhas de papel A4, em forma de “lambe”. Elas por si só indicam formas de existir na paisagem – e na
19 “Lambes” são pôsteres artísticos de variados tamanhos, „colados‟ em paredes e construções variadas em
centros urbanos.
300
sociedade de modo geral - muito distintas. Enquanto a imigração chinesa se impõe sobre o espaço,
se reafirma como chineses, cobrir um prédio abandonado de “lambes” em que se lê “eu existo”
reafirma a existência do abandono, do apagamento dos que não fazem parte do projeto de
globalização, pois não é mais ‘uma construção abandonada’, ao se tornar ‘linguística’, o espaço é
ressemiotizado: ao afirmar sua existência, há um produtor, há uma pessoa – ou um grupo de pessoas
– que conclama e afirma a própria existência, a partir da existência da construção, e a sua condição
de abandono a partir da semiotização do abandono e do esquecimento do espaço.
Ao mesmo tempo em que o lambe é fruto da urbanização e, portanto, um (sub)produto da
globalização – pois a globalização elege a cidade como lócus -, ele também, surge como outras
formas categorizadas como ‘marginais’ de inscrição no espaço, tais como os grafittis. Nesse caso, ele
demarcar sobre o espaço, que em si mesmo é um signo, pois é um prédio de 11 andares, ‘em
construção’, uma construção abandonada, que marca a paisagem linguística há anos. É a repetição
dos lambes, nesse contexto, que permite afirmar que, o abandono ‘espacial’ é ressignificado, via
lambe, para um abandono estatal e social, para um processo de invisibilização social, demarcando na
paisagem a existência dos que não são privilegiados pelo projeto global, em suas várias etapas e
instâncias. É uma reafirmação das histórias – e das trajetórias e das pessoas que as carregam que as
construíram – que se quis apagar, dizimar, assimilar.
Enquanto o abandono de construções, os prédios muito altos, os signos do que hoje se
conhecem como “a cultura urbana marginal”, são todos elementos eles mesmos representativos dos
processos de urbanização impostos pelo projeto moderno/colonial, a ressemiotização do abandono
retoma também uma história local, dos ‘desalojados’ – quando não exterminados – pelo processo
que se inicia, neste ‘território’ pelo bandeirantismo, é apagado e indesejado pelo projeto
integracionista modernizador e pela chegada e presença dos processos ‘globais’ na cidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As leituras aqui apresentadas são, elas também, leituras feitas, como em toda prática
linguística – pois a leitura também é uma de suas formas –, a partir de certas historicidades, e não
outras, e incluem a trajetória pessoal e as informações – que também são recursos – disponíveis que
essa trajetória ‘agregou’ ao repertório de quem lê. Elas são uma das leituras possíveis, entre muitas
301
outras possibilidades, que, somadas, formam e informam o espaço semiotizado, assim como formam
e informam as práticas linguísticas cotidianas, nas suas mais variadas formas e esferas.
A partir das análise de algumas das inscrições linguísticas encontradas no centro de Goiânia,
é possível perceber como se dá a semiotização do espaço e os processos que ela engendrada, como a
história se ‘materializa’ no espaço, se ressignificando ela mesma. Em um curto espaço físico - a
distância entre a “Praça do Bandeirante” e o “prédio abandonado” é de 600 metros -, se encontram
várias historicidades, várias trajetórias, várias significações, ‘sincronizadas’ tanto no espaço tanto
quanto na produção de cada uma das inscrições dela. Se pode perceber as variadas construções
ideológicas que se ‘materializam’ neste espaço e os momentos históricos que elas (in)formavam,
desde o discurso oficial de construção da cidade, às atuais etapas do projeto mundial
colonial/moderno, com a presença de suas etapas anteriores, assim como dos ‘excluídos’ do projeto,
que também agem sobre o espaço, semiotizando-o. As histórias locais e globais ‘surgem’ nos
processos de significação do espaço, modificando-o, atualizando-se. A diferença colonial, como em
todos os âmbitos, se faz presente também no processo de semiotização do espaço.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BERTRAN, Paulo. A memória consúltil e a goianidade. In: Revista UFG. Goiânia: Junho 2006. Ano VIII.
n°1. p. 62-67.
BLOMMAERT, Jan. The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press,
2010.
BLOMMAERT, Jan. Chronicles of complexity: Ethnography, superdiversity, and linguistic landscapes.
Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters, 2013.
CANAGARAJAH, Suresh. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations. New
York: Routledge, 2013.
CHAUL, Nasr. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade.
3ª. Goiânia: editora UFG, 2010.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. Eric Nepomuceno.9ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2002.
302
LEVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Trad. Rosa Freire de Aguiar. São Paulo: Companhia das letras,
1996.
MIGNOLO, Walter. Histórias Locais, Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e
pensamento liminar. Trad. Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
MIGNOLO, Walter D. Trayectorias de re-existencia: ensayos en torno a la
colonialidad/decolonialidad del saber, el sentir y el crer. Bogotá: Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, 2015.
MORAES, Maria Agusuta de Santanna; PALACÍN, Luis. História de Goiás (1722-1972). Goiânia:
Editora da UFG, 1995.
WANG, Xuan; et al. Globalization in the margins: toward a reevalution of language and mobility. In:
Applied Linguistics Review, 5 (1). 2014. p. 23-44
303
ANÁLISE DA METODOLOGIA DE ESTUDOS GEOLINGUÍSTICOS DA
REGIÃO NORTE DO BRASIL
Bryana Connie Linda Lopes Batista (UFAM)
Resumo: Esta pesquisa, de cunho bibliográfico e quantitativo, adota os pressupostos teóricos da
Dialetologia e da Geolinguística (CHAMBERS, TRUDGILL, 1994; CARDOSO, 2010). Os
objetivos que norteiam este trabalho são dois: identificar e analisar os principais meios de
registro de informações e ferramentas para elaboração de cartas linguísticas encontradas nos
estudos geolinguísticos realizados na região norte do Brasil. A presente análise se faz necessária
para verificar o que se tem utilizado até o momento e apreciar a colaboração da tecnologia para
o desenvolvimento dos estudos dialetais. O trabalho apresenta a análise de 19 pesquisas e revela
que 41% delas utilizaram o gravador digital para o registro das informações e 18% adotaram o
Programa Computacional Mapeamento de Variação Linguística (MVL), seguido do uso do
Software CorelDRAW (17%) para elaboração das cartas linguísticas. Além disso, observou-se a
ausência de descrição do tipo de gravador (14%) e da ferramenta utilizada para elaboração das
cartas linguísticas (13%).
Palavras-chave: Região Norte. Metodologia. Geolinguística
Abstract: This research, of a bibliographic and quantitative nature, adopts the theoretical
assumptions of dialecology and geolinguistics (CHAMBERS, TRUDGILL, 1994; CARDOSO,
2010). The objectives that guide this work are two: to identify and analyze the main means of
recording information and tools for the elaboration of linguistic charts found in the geolinguistic
studies carried out in the northern region of Brazil. The present analysis is necessary to verify
what has been used up to now and to appreciate the collaboration of the technology for the
development of dialectal studies. The study presents the analysis of 19 surveys and reveals that
41% of them used the digital recorder to record information and 18% adopted the
Computational Linguistic Variation Mapping Program (MVL), followed by the use of
CorelDRAW Software (17%) for elaboration of linguistic charts. In addition, the absence of a
description of the type of tape recorder (14%) and the tool used for the preparation of the
language cards (13%) was observed.
Keywords: North region. Methodology. Geolinguistics
INTRODUÇÃO
Os recursos tecnológicos têm avançado e colaborado para as diversas áreas
científicas, inclusive a Linguística, que conta com esses instrumentos nas suas
perspectivas teórico-metodológicas. Um dos exemplos disso são os estudos dialetais que
procuram aprimorar suas técnicas de registro de informações e visualização de dados,
conforme o avanço da tecnologia. A partir dessa perspectiva, é possível contar com
gravadores digitais, aparelhos celulares, computadores, programas e softwares que
304
permitam maior compreensão das diversidades linguísticas encontradas no Brasil e no
mundo.
No intuito de traçar a trajetória dos instrumentos utilizados nos estudos
geolinguísticos e seu avanço tecnológico, esta pesquisa possui como objetivos
identificar e analisar os principais meios de registro de informações e ferramentas para
elaboração de cartas linguísticas utilizadas nos estudos geolinguísticos realizados na
região norte do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil é divido em cinco regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul.
Os estados que compõem a região norte são sete: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima,
Amapá, Pará e Tocantins. A seguir, uma breve passagem pela Geolinguística, pelo
registro das informações, cartografia dos dados, metodologia, análise dos dados e
considerações finais.
1 GEOLINGUÍSTICA
No primeiro momento, a Dialetologia teve interesse na relação língua-espaço,
entretanto, devido ao avanço da Sociolinguística, isto é, a relação de língua-sociedade,
passou a ter novas dimensões e alcançou um caráter pluridimensional (CARDOSO,
2010; THUN, 2000). Sendo assim, o objetivo em caracterizar espaços conforme sua
distribuição dialetal abarcou novas variáveis que pudessem explicar de maneira mais
ampla a variação linguística, pois, desde o início, a Dialetologia e a Sociolinguística
reconheceram a existência de uma heterogeneidade linguística (CARDOSO, 2010).
Os estudos geolinguísticos são concebidos no século XIX com dois marcos
principais: o primeiro realizado por Georg Wenker, que levantou dados sobre a
realidade linguística alemã, permitindo a intercomparação de dados, e da recolha
sistemática, de Jules Gilliéron, para a elaboração do Atlas Linguistique de la France,
publicado de 1902 a 1910. De acordo com Cardoso (2010, p.44), a obra de Gilliéron
―teve o mérito de marcar o início da aplicação do método da geografia linguística com o
rigor científico‖.
No Brasil, os estudos dialetais iniciaram com a contribuição de Domingos
Borges de Barros, visconde de Pedra Branca, ao Atlas Ethnographique du Globe, de
Adrien Balbi, em 1826. Desta forma, ele fez um breve estudo que diferenciava o
português falado no Brasil e em Portugal, no nível lexical e semântico. Somente a partir
de meados do século XX que a Dialetologia passou se consolidar no Brasil, por meio da
305
concretização de atlas regionais e do desejo em produzir um atlas linguístico nacional,
através da metodologia da geolinguística.
A geografia linguística, conhecida por geolinguística, é ―o método por
excelência da dialetologia e vai se incumbir de recolher de forma sistemática o
testemunho das diferentes realidades dialetais refletidas nos espaços considerados‖
(CARDOSO, 2010, p.46). Atualmente, a perspectiva diatópica dos primeiros estudos
dialetais vem sido acompanhada da perspectiva social, que contempla a idade, o gênero,
a escolaridade, entre outros fatores extralinguísticos.
Portanto, a geografia linguística é ―um conjunto de métodos para recopilar de un
modo sistemático los testimonios de las diferencias dialectales‖ (CHAMBERS;
TRUDGILL, 1994, p.45). Desta forma, a aplicação do método fundamenta-se em um
tripé básico: rede de pontos, os informantes e os questionários, conforme a perspectiva
adotada (CARDOSO, 2010).
2 REGISTRO DAS INFORMAÇÕES
Nas primeiras pesquisas, observamos o registro dos dados feito de duas formas:
no trabalho de Wenker, por meio do preenchimento de um questionário enviado aos
professores alemães, para que pudessem passar as frases em alemão para o dialeto local.
Já no atlas produzido por Gilliéron apresenta-se uma pesquisa in loco, realizada por
Edmond Edmont, o único inquiridor que percorreu 639 localidades, durante 4 anos.
Após a aplicação de um questionário de palavras isoladas e algumas frases, as respostas
eram transcritas imediatamente.
A esse respeito, Brandão (1991, p.37) declara que
A maioria dos atlas linguísticos registra formas que foram transcritas,
foneticamente, pelo documentador em cadernos de respostas, no
momento mesmo da entrevista. No entanto, hoje, quando se conta com
gravadores portáteis, bastante sensíveis e confiáveis, convém registrar
a fala dos informantes em fitas magnetofônicas. As vantagens desse
procedimento são óbvias: evita-se o registro impressionista, subjetivo,
ditado, muitas vezes, pelo cansaço do documentador.
Dessa forma, é possível ver a colaboração dos recursos tecnológicos para as
pesquisas dialetais, já que em 1960, por exemplo, não havia possibilidades de gravar
entrevistas, exatamente porque não existiam gravadores portáteis para esse tipo de uso.
Entretanto, atualmente, dispõe-se de vários modelos e aparelhos, desde os que utilizam
fitas cassetes até os que usam mini-disc ou os MP e IPod, de diferentes gerações
(CARDOSO, 2010). Portanto, os avanços tecnológicos têm colaborado com a produção
306
de diversos tipos de gravadores que proporcionam agilidade e segurança no momento
das entrevistas.
3 CARTOGRAFIA DOS DADOS
A cartografia dos dados é o passo posterior ao inquérito e organização do
material, e pode ser apresentada de diversas formas. Quanto ao espaço geográfico, os
atlas linguísticos podem ser regionais, nacionais, de grupo linguístico e continentais.
Quanto aos resultados cartografados, podemos encontrar os atlas de primeira geração,
que contemplam a distribuição diatópica; os atlas de segunda geração, que ―ao mesmo
tempo em que fornecem os dados espacialmente distribuídos, detêm-se na análise de
fenômenos registrados‖ (CARDOSO, 2010, p.78) e encontramos os atlas de terceira
geração, o qual trata
[...] da introdução dos dados ―vivos‖, isto é, da possibilidade de
audição e captação das falas referidas e documentadas pela
cartografia. São os denominados ―atlas parlants‖. Diferenciados
programas vêm permitindo a execução desse tipo de apresentação de
dados. Nessa linha, e para dar exemplo entre nós, temos o Atlas
Linguístico sonoro do Pará (Razky, 2004) (CARDOSO, p.78, 2010).
Além disso, devido o cruzamento dos dados diatópicos e sociais, foi necessário
rever as maneiras de expor esses resultados obtidos pela Dialetologia Pluridimensional.
Cardoso (2010, p.64) afirma que ―a moderna cartografia tende, pois descobrir caminhos
que permitam não só apresentar os dados coletados, mas a interpretá-los. Diante disso, é
necessário que haja cartas que permitam ver os fenômenos linguísticos de uma forma
mais clara, e neste caso, o uso das ferramentas modernas é fundamental.
4 METODOLOGIA
Esta pesquisa é de abordagem quantitativa, realizada a partir de um
levantamento bibliográfico das pesquisas geolinguísticas realizadas na região norte e
publicadas em forma de dissertações, teses ou artigos científicos, em plataforma digital
ou impressa.
Foram utilizados como fontes de pesquisa os catálogos online das bibliotecas e
os repositórios com produções científicas das universidades de cada estado da região
norte, disponíveis na plataforma digital. Além disso, foram encontrados artigos online
que descreviam o tipo de gravador e a ferramenta computacional utilizada para a
elaboração das cartas linguísticas das pesquisas encontradas.
307
Os critérios de seleção dos trabalhos para análise foram dois: descrever, na
metodologia, o aparelho utilizado na gravação das informações e/ou o instrumento
utilizado para a elaboração das cartas linguísticas e ser uma pesquisa com dados
autorais, realizada em um dos estados da região norte, sobre os aspectos linguísticos
dessa região, isto é, não poderia ser uma análise dos dados de outro projeto, como o
Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, por exemplo.
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados desta pesquisa estão disponíveis na forma de tabela e gráficos
produzidos no Excel 2010. Portanto, após o levantamento bibliográfico realizado, foram
encontradas 19 pesquisas de cunho geolinguístico/geossociolinguístico, distribuídas na
tabela 1, a seguir:
Tabela 1 - Pesquisas geolinguísticas/geossociolinguísticas da região norte
1 Atlas Linguístico de Rondônia – AliRO
2 Atlas Linguístico Sonoro do Pará – ALISPA
3 Atlas Linguístico dos Falares do Alto Rio Negro – ALFARiN
4 Atlas dos Falares do Baixo Amazonas – AFBAM
5 Atlas Etnolinguístico do Acre – ALAC
6 Atlas Linguístico do Amapá – ALAP
7 Atlas Linguístico do Amazonas – UFAM
8 Atlas Geossociolinguístico do Pará – ALiPA
9 Atlas linguístico topodinâmico e topoestático do estado do
Tocantins (ALiTTETO)
10 Variação Lexical e Fonética na Ilha do Marajó
11 Variação Lexical em Seis Municípios da Mesorregião Sudeste Paraense
12 O falar do "caboco" paraense: um estudo sobre o léxico nos municípios de Santarém,
Oriximiná e Juruti (Baixo-Amazonas/PA)
13 A realização das variantes palatais / ʎ / e /ɲ/ nos municípios de Itapiranga e Silves
(Parte do médio Amazonas)
14 Um perfil lexical do português falado em Comunidades Quilombolas em Barreirinha
(AM): Um estudo dialetológico/ volume II
15 A realização fonética do /s/ pós-vocálico nos municípios de Boca do Acre, Lábrea e
Tapauá
16 Variação Lexical nos dados do projeto Atlas Geossociolinguístico do Amapá
17 Estudo Geossociolinguístico da Variação Lexical na Zona Rural do Estado do Pará
308
Fonte: própria (2017)
Diante disso, o primeiro aspecto a ser analisado são os tipos de gravadores
utilizados nas pesquisas, distribuídos no gráfico 1, a seguir:
Gráfico 1 – Tipos de gravadores
Fonte: própria (2017)
De acordo com o gráfico acima, observa-se que o Gravador digital possui adesão
de 41% dos trabalhos publicados, seguido de 23% do uso de gravador de fita cassete,
9% de uso do aparelho celular, 5% do gravador analógico e 4% do aparelho MiniDisc e
gravador analógico. Além disso, muitas pesquisas não descreveram o tipo de gravador
utilizado, representando 14% do gráfico.
O resultado acima é resultado do avanço tecnológico, já que o gravador de fita
cassete é um dispositivo criado pela Philips, em 1963, mas substituído pelos gravadores
digitais portáteis, que permitem maior velocidade, agilidade, duração e melhor
armazenamento de dados, através do computador. Apesar de parecerem arcaicos
18 Aspectos dialetais do português da região norte do Brasil: Um estudo sobre as vogais
pretônicas e sobre o léxico no Baixo Amazonas (PA) e no Médio Solimões (AM)
19 Atlas Geossociolinguístico Quilombola do Nordeste do Pará (AGQUINPA)
309
atualmente, diante de tanta tecnologia disponível no mercado, é necessário esclarecer
que os primeiros gravadores de voz foram revolucionários para a sua época.
Vale salientar que no início da aplicação do método da geolinguística, o registro
das informações fornecidas por meio dos questionários era manual e a tecnologia
proporcionou agilidade tanto na coleta quanto no armazenamento de dados, como foi
observado em alguns trabalhos selecionados. No entanto, é sugerido ao inquiridor que
utilize dois gravadores, para evitar problemas na hora da entrevista.
Quanto à cartografia dos dados, observam-se os tipos de ferramentas utilizadas
nas pesquisas realizadas na região norte no gráfico 2 a seguir:
Gráfico 2- Tipos de instrumentos para elaboração de cartas linguísticas
Fonte: própria (2017)
De acordo com o gráfico acima, entre as pesquisas selecionadas, 18% utiliza o
Programa Computacional Mapeamento de Variação Linguístico, desenvolvido para a
elaboração do Atlas Linguístico do Amazonas (2004) e utilizado nos outros atlas
desenvolvidos no Amazonas, sob orientação da Professora Dra. Maria Luiza de
Carvalho Cruz-Cardoso.
Além deste programa, o gráfico mostra que 17% dos trabalhos utilizaram o
software CorelDRAW, o qual permite edição de imagens, gráficos, fotos e sites, por
310
meio de um suporte computacional. O gráfico também apresenta 9% dos trabalhos que
utilizaram Adobe Photoshop, que é um editor de fotos, imagens, ilustrações 3D, entre
outros e o Software ArcGIS 10, que trabalha com a criação de mapas, edição,
visualização e análise geográfica. Apenas 4% dos trabalhos utilizaram o QGIS 2.6
Brighton, que é um software aberto de Sistema de Informações Geográficas (GIS)
amplamente utilizado no mundo inteiro.
Além dos programas e softwares destacados acima, observa-se o uso dos
aplicativos disponíveis no pacote do Microsoft Office, como o Excel (9%), PowerPoint
(4%) e Word (4%) e o software Paint (4%), incluso no sistema operacional Windows,
que também é utilizado para criação e edição de imagens. Por fim, apresenta-se 13% de
―não encontrado‖, que representam os trabalhos que não descreveram a ferramenta
utilizada para elaboração das cartas linguísticas da sua referida pesquisa.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto, foi possível apreciar a disponibilidade dos recursos
tecnológicos e sua contribuição para o desenvolvimento dos estudos dialetais. Os
resultados apontam para estudos que têm buscado ferramentas atuais, tanto de registro
de informações quanto de elaboração de cartas linguísticas. Uma das dificuldades
enfrentadas foi encontrar a descrição desses instrumentos na metodologia, ou até
mesmo, a publicação desses resultados. Observa-se a citação dos trabalhos em outras
pesquisas, mas não é possível encontrá-los na plataforma digital e/ou impressa, fato este
que pode evidenciar uma gama maior de pesquisas a serem averiguadas.
Outros trabalhos encontrados, de cunho geolinguístico, realizados na região,
eram análises de dados do Atlas Linguístico do Brasil – ALiB e por isso foram
descartados, pois esta pesquisa tinha por objetivo buscar as ferramentas que estavam
sendo usadas nas pesquisas da região norte, a fim de se obter um panorama dos recursos
utilizados atualmente. Portanto, ainda há muito a ser avaliado não só na região Norte,
mas em todo o país, para que os dados possam ser consultados por todos, nos diversos
meios proporcionados pela tecnologia.
REFERÊNCIAS
BRANDÃO, Silvia Figueiredo. A geografia linguística no Brasil. São Paulo: Editora
Ática, 1991.
311
BRASIL, IBGE. Mapas regionais. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/cartas-e-mapas/mapas-
regionais/10861-mapas-regionais.html?=&t=downloads>. Acesso 19 de novembro de
2017.
CARDOSO, Suzana. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola
Editorial, 2010.
CHAMBERS, Jack; TRUDGILL, Peter. La dialectología. Traducción: Carmen Marán
González. Madrid: Visor Libros, 1994.
THUN, Harald. Introduction à la table ronde, in: CONGRÈS INTERNATIONAL DE
LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE RAMANES, 22, 1998, Bruxelas. Actes…,
vol. 3. Vivacité et diversité de la variation linguistique. Tübingen: Niemeyer, 2000, p.
407-409.
LÍNGUAS EM CONTATO: A INFLUÊNCIA DA LÍNGUA ESPANHOLA NA
FORMAÇÃO DO LÉXICO DO PORTUGUÊS FALADO EM TABATINGA-AM
Dayane Lima Viana (UFAM)
Herbert Luiz Braga Ferreira (UFAM)
RESUMO: Ao fazer fronteira com a cidade de Letícia – Colômbia e Santa Rosa Peru,a cidade
de Tabatinga possui a incontestável característica pluriétnica, onde o contato linguístico é uma
consequência inevitável e previsível. Assim, as relações existentes no espaço de fronteira
sãocondicionadas por um conjunto de correlações que atuam como ferramentas da variação
linguísticaque, a primor, modificam o vernáculo do falante de Tabatinga.
É nessa perspectiva que a sociolinguística e a dialetologia abrem o campo de observação e
análise pois, as variações ocorrem por um conjunto de fenômenos não estritamente linguísticos,
mas também extralinguísticos.Para efetivação desta pesquisa, usar-se-á os procedimentos
metodológicos da geolingüística pluridimensional, pois esta,contempla as diferenças espaciais
concomitante as variáveis sociaispor meio do recorte sincrônico de cunho horizontal. Através
dos mapas linguísticos que o método propiciapretende-se demonstrar as peculiaridades
linguísticasadvindas do processo de influência com língua espanhola privilegiando a categoria
lexical, que certamente faz surgir a diversidade e heterogeneidade linguística na região.
Palavras-Chave:Línguas em contato. Léxico.Variação
ABSTRACT: When bordering the city of Letícia - Colombia and Santa Rosa Peru, the city of
Tabatinga has the indisputable pluriethnic feature, where the linguistic contact is an inevitable
and predictable consequence. Thus, the relations existing in the border space are conditioned by
a set of correlations that act as tools of linguistic variation that, first, modify the vernacular of
the Tabatinga speaker. It is from this perspective that sociolinguistics and dialecology open the
field of observation and analysis because, the variations occur by a set of phenomena not strictly
linguistic, but also extralinguistic. In order to carry out this research, the methodological
312
procedures of multidimensional geolinguisticswill be used, since this one contemplates the
spatial differences concomitant to the social variables through the synchronous horizontal cut.
Through the linguistic maps that the method provides, it is intended to demonstrate the
linguistic peculiarities arising from the process of influence with Spanish language privileging
the lexical category, which certainly gives rise to linguistic diversity and heterogeneity in the
region.
Keywords: Languages in contact. Influence.Variation.
INTRODUÇÃO
O Brasil estabelece fronteira com 10 países da América do Sul, possuindo,
portanto, 23.086 Km de extensão de fronteira, das quais 15.719 são fronteiras terrestres.
Nesse sentido, surge a seguinte pergunta - quais consequências o fenômeno de contato
produz nas línguas?
Sabemos que as consequências são muitas, pois o contato entre línguas resulta
em diversos fenômenos passíveis de estudos. Esta pesquisa abordará as variações
lexicais observadas no português falado pela população de Tabatinga, que podem estar
ocorrendo pelo contato com a língua espanhola.
Tabatingaé uma cidade do extremo Oeste do Amazonas, está distante 1.105
quilômetros de Manaus (em linha reta) e 1.607 quilômetros (em via fluvial), possuindo
índice demográfico de 63. 635 habitantes de acordo com a estimativa do IBGE 2017.
É uma cidade que faz divisa com a Colômbia e o Peru, e por sua situação
geográfica é conhecida como a cidade das tríplices fronteiras, e de acordo com Oliveira
(2006), é justamente estapeculiaridade espacial que confere a Tabatinga um alto índice
de movimentação migratória, desenvolvendo-se a partir da concentração de imigrantes
colombianos e peruanos, resultando no contato diretodo português com a língua
espanhola.
A interação entre as línguas que emanam desse contexto são advindas
pelosestreitos laços sociais e culturais que a tríplice apresenta. Apesar da pouca
extensão territorial, há o alto fluxo de pessoas que entrecruzam a fronteira brasileirae
como consequênciabrindam a cidade com um multifacetado cenário linguístico,
ondecoexistema diversidade de línguas como o árabe, o espanhol colombiano e
peruano, a língua indígena da tribo Tikuna e o português, demonstrando que as
fronteiras físicas não limitam as fronteiras linguísticas.
313
Muitas pesquisas dedicam-se a estudar os impactos do contato entre línguas, e a
concepção de influência é bastante difundida, pois em cenários singulares como este
podem conduzir o falante a desenvolver a competêncialinguística em ambas línguas e
assim criar pressões para o uso de determinados traços do dialeto de contato.
Com tal conjuntura vivenciada em Tabatinga, entende-se que os fatores
extralinguísticos, podem estar determinando no falar tabatinguense, isto, por meio das
práticas sócio interacionais que resultam no surgimento de formashíbridas.
Até o presente momento, não há pesquisas publicadas na perspectiva sócio-
dialetológica, instaurando, portanto, o ineditismo de estudo do fenômeno de contato do
português com a língua espanhola na cidade de Tabatinga.
Diante do exposto, é possível perceber de imediato as variadas possibilidades de
estudos que o contexto fornece, nesse sentido, a relevância deste trabalho está no fato de
ser a primeira pesquisa a investigar as consequências do contato Português - Espanhol
com o objetivo de analisar como a conjuntura social da tríplice fronteira tem contribuído
para a variação linguística, demonstrando, sobretudo,como os léxicos hispânicos
permeiam no repertório verbal dos falantes de Tabatinga através das particularidades
linguísticas.
Também foram traçados os objetivos específicos que elencaremos a seguir:
Mapear as variáveis linguísticas e sociais de modo
pluridimensional.
Analisar a frequência da utilização dos léxicos hispânicos falado
em Tabatinga.
Elaborar mapas linguísticos a fim de demonstrar o processo de
influência
1.PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: LÍNGUAS EM CONTATO
No Brasil, o estudo de línguas em contato é um tema relativamente novo. Mas
nos últimos anos muitas pesquisas têm se dedicado a discutir situações de contato,
principalmente em contexto de fronteira, onde o bilinguismo, imigração,
transculturalismo e outros fatores imprimem modificação a língua.
De acordo com Gorovitz(2012, p.75) a definição do fenômeno do contato de
línguas ―refere-se usualmente à situação humana e social em que um indivíduo ou um
314
grupo de indivíduos são levados a fazer uso de duas ou mais línguas ou a entrar em
contato com uma ou mais línguas distintas da sua‖.
No tocante aos estudos linguísticos a primeira vez que se fez menção ao termo,
foi no início do século XIX quando Humboldt (1883, apudGorovitz, 2012) propôs uma
abordagem histórica para descrever a influência de uma língua sobre a outra. Em 1648,
John Amos Coménius (2005) construiu as primeiras hipóteses seguindo a perspectiva
sócio-históricas na tentativa de descrever os fundamentos de variação e mudança das
línguas imergidas nesta realidade.
Foi então que Uriel Weinreich, em 1953, na obra ―Languages in contact”, que
os estudos linguísticos ocupam-se do fenômeno com maior profundidade, na visão de
Weinreich, os falantes que experimentam outras línguas podem fazer a alternância de
código durante o processamento verbal, ―e ele de fato considerava que as línguas
estavam em contato quando eram utilizadas alternadamente pela mesma pessoa‖.
(CALVET, 2002, p. 28)
Com o surgimento da Sociolinguística, em 1960, as consequências do contato
entre as línguas foram privilegiados por Fishman (1965) e Labov (1966). Segundo os
moldes sociolinguísticos os aspectos sociais configuram os atos da fala, imprimindo
suas marcas e contornos, nesse sentido, a linguagem identifica o falante.
Diante de tais considerações, passou-se a adotar a estratificação social como um
instrumento para a variação das línguas, isto é, a partir da perspectiva sociolinguística,
os estudos do contato linguísticos, são norteados prioritariamente pelos vínculos
advindos das relações que ambas sociedades mantêm e ―o resultado dos contatos é um
dos primeiros objetos de estudo da sociolinguística‖. (CALVET, 2002, p. 27)
Ao estudar o contato do português com o espanhol no sul do Brasil, Espiga
(2006) relata que a história do contato linguístico está ligada as disputas históricas entre
portugueses e espanhóis pelo espaço do Rio Prata e da Banda do Oriente. Segundo ele
―trata-se de um contato permeado de rivalidades antigas e cunhado, nos tempos da
colônia, a ferro e fogo‖.
Nos vaivéns das fronteiras e dos tratados, os limites definidos
resultaram de um processo histórico marcado por sucessivos litígios
entre hispânico e lusitanos pela posse da terra, das riquezas naturais e
dos recursos estratégicos da banda Oriental e, ainda, pelo controle
comercial da região do Prata. As peculiaridades do processo de
formação e fronteira configuram e determinam, em grande parte, a
variabilidade do grau de contato entre português e o espanhol, em toda
sua extensão. (ESPIGA, 2006, p.264)
315
Ainda segundo ele, não se pode pensar o fenômeno de contato entre línguas
somente na esfera linguística, pois ele incide também no escopo cultural, onde suas
marcas projetam mudanças nas línguas, como confirmaTrindade et al (1995):
O português que se fala no extremo meridional do Brasil é,
assim um continuum linguístico permeado, em várias dimensões, pelo
espanhol que historicamente lhe faz contato. Geograficamente, tal
continuum linguístico distribui-se ao longo das fronteiras políticas do
Rio Grande do Sul com os países do Prata, tendo sido, por isso,
denominado no âmbito de alguns estudos como PGF – Português
Gaúcho de Fronteira.
O lado oposto da linha de fronteira foi o objeto de estudo de Elizaicín (1987)
intitulado ―Nos falemo brasileiro‖, a pesquisa ocupou-se no contato do português com o
espanhol nas regiões norte e nordeste do Uruguai. O objetivo do estudo foi verificar a
influência da língua portuguesa no contexto hispânico, e constatou-se que grande parte
da população uruguaia tinham o português como língua materna, esses dialetos foram
chamados de DPU – Dialetos Portugueses do Uruguai, deixando claro que as línguas de
ambos os lados da fronteira são influenciadas pelo contato linguístico que a fronteira
apresenta.
Outra relevante pesquisa é o estudo de Margotti (2004) que em sua tese de
doutorado estudou a difusão sócio-geográfica do português em contato com o italiano
na região sul do Brasil. Segundo ele, ―a região Sul caracteriza-se do ponto de vista
linguístico, como uma área sui generis”, uma vez que os aspectos históricos e
geográficos contribuem para a diversidade linguística da região. Ele destaca três
principais fatores que a marca, a primeira, é a sua disposição geopolítica, a segunda, são
as disputas territoriais por espanhóis e portugueses, e por último, a imigração europeia
principalmente de italianos e alemães.
Seu estudo foi embasado aos moldes da dialetologia pluridimensional, método
que conforme o autor contempla a variação linguística em diferentes dimensões, cujas
análises dos dados foram consideradas tanto nos eixos horizontal (diatópica) quanto no
eixo vertical (sociolinguística), utilizando o parâmetro metodológico, Margotti (idem)
demonstrou o grau de difusão por meio dos mapas geolingüísticos, onde as ocorrências
linguísticas, foram pontuadas de acordo com os critérios geográficos e sociais.
Dentre vários resultados que o estudo de Margotti (2004) demonstrou, alguns
merecem destaque. No tocante ao contato do português com o italiano, ficou
316
comprovado que a faixa etária jovem são mais receptivos a difusão das variações do
português, enquanto os mais velhos mantêm as variantes ítalo.
Ao inverso disso, ficou demonstrado também que falantes luso-brasileiros
utilizam-se em determinados contextos de características do português marcado pelo
contato com o italiano, apontando que também ocorre a difusão reversa do italianona
língua portuguesa.
De acordo com Borstel (2000), (2003), (2004) e (2006) no que concerne a
interação de línguas em contato elas permeiam-se de modo natural, e logo são
manifestas como linguagem cultural que integram o discurso dos que ali estão
envolvidos, revelando a heterogeneidade e dinamismo inerente às línguas, mesmo
quando dispostas em culturas distintas.
E ao desenvolver estudo das situações enunciativas de alternância de códigos
em línguas de fronteira, Borstel (2011) analisou o uso de codeSwitching (alternância de
código) português-espanhol na cidade de Guaíra-Paraná, cidade que também faz
fronteira com o Paraguai.
Os recursos linguísticos provenientes do contato, são destacados por ela como
‗hibridismo linguístico‘ que de acordo com Bakhtin (2002, p.156 apudBorstel, 2011,
p.316) quando dois códigos linguísticos são utilizados, pode originar ―uma hibridação
involuntário e inconsciente (...)uma modalidade mais importante da existência histórica
e das transformações das linguagens‖.
Dessa forma, em regiões de comunidade de falas interétnicas e
ou de fronteiras geográficas, as línguas se transformam história e
culturalmente na memória dos usuários imigrantes e seus
descendentes, por meio de uma hibridação de mistura de línguas,
empréstimos, transferências gramaticais, lexicais e alternância de
código de mais de uma língua, sendo que essa hibridação coexiste no
cenário de variações linguísticas da língua nacional, com outras
línguas de fronteiras em várias regiões brasileiras (…) (BORSTEL,
2011)
Paulino Vandresen, outro grande estudioso do fenômeno do contato entre
línguas no Brasil, ocupou-se em estudar as comunidades Teuto-brasileira, mais
especificamente nas cidades de Rio Fortuna e Vale do Tubarão, ambas cidades de Santa
Catarina. O autor inicia seu trabalho destacando que ―muitas são as razões para falantes
de diferentes línguas viverem uma situação de contato‖, e na região sul os motivos de
contato se deu por questões políticas e econômicas.
317
Em conformidade com Vandresen (idem), foi exatamente esta conjuntura que
possibilitou o contato entre as línguas alemã e o português, e como resultado fez surgir
o bilinguismo ―em diferentes graus e competência‖. Para ele, quando o falante tem sob
sua disposição dois códigos linguísticos, o falante baseia-se em três critérios, na função
da língua, atitude linguística do falante e as políticas linguísticas que foram implantadas
nas instituições de ensino, tais critérios definem as funções das línguas envolvidas nesse
processo.
Ao citar Silva-Corvalán (1989), Garcia (2011,p. 228) afirma que ―duas línguas
estão em contato quando são usadas pelos mesmos indivíduos, ou seja, quando existe
uma situação bilíngue ou multilíngue que constituem o lócus de contato‖. Nesses
contextos, constitui-se uma área favorável às mudanças linguística, tornando-se propício
para empréstimos, transferências, influências que demarcam as línguas.
Considerando a atuação dos aspectos sociais, admite-se ainda que existem
cadeias de fatores sociais que operam nas línguas durante o ato discursivo, nesse
sentido, as variações resultantes são vistas como uma ―heterogeneidade ordenada‖.
Semino e Escobar (2011) aprofundaram estudos na fronteira Uruguai-Brasil sob
o título ―Las interferências enla fronteira Uruguay-Brasil: Unestudio de caso sobre
lasrestricciones‖. As autoras tem como hipótese inicial que o contato do português com
o espanhol fronteriço atuam como códigos linguísticos que se fundem no mesmo
contexto geográfico, fazendo surgir portanto, as interferências.
Em seu trabalho elas comprovaram que não há restrições para a ocorrência de
interferências linguísticas na fronteira Uruguai - Brasil, a pesquisa está embasada no
livro – Espaňol y Portugués: Desenredando laslenguas: Guia para professores y
alumnosbrasileňos (SEMINO, 2007).
A mistura linguística do espanhol e português fica comprovada em várias
categorias, a mistura dos dois códigos no nível gramatical morfológico, está
representada nos exemplos a seguir: a) ―Éldice que es porque la gente de antes entiende,
sabe como é ele‖, b) Claro, y ele, ele toma el mate como mate, pero (…). Na conclusão
do estudo, elas destacam que o português uruguaio (DPU) possui diferenças do
português padrão, nos níveis lexical, gramatical, morfossintático e fonológico e
postulam que pode ser pela distância que Rivera tem dos centros urbanos brasileiros,
outra possibilidade é a atuação da interferência das duas línguas, já que se sabe que:
A língua nativa é originalmente portuguesa, e deve-se ter em
conta que a mistura de línguas originada por tal situação gerou formas
318
muito híbridas e caracterizou o nosso conhecido ‗portunhol‘. (…) por
essa razão, houve muitos empréstimos, mudanças de código,
expressões rurais, misturas de morfemas que geram neologismo e
fazem do DPU algo tipicamente fronteiriço. (SEMINO E ESCOBAR,
2011, p. 347)
Analisando o cenário dos estudos de contato, alinhamo-nos a constatação de
Gorovitz(2012) que afirma que:
Chega-se paulatinamente à constatação de que as
comunidades linguísticas em que as dinâmicas de língua se atualizam,
além de gerarem formas inusitadas de mudança e de evolução, não são
absolutamente homogêneas. São espaços sociolinguísticos de contatos
em que, seja qual for a natureza da interação e da situação discursiva,
a produção se inscreve em uma organização discursiva que a marca, a
sanciona e a determina. Não há língua sem discurso e não há discurso
sem referência histórica e social, sem constrangimentos e sem normas;
ou seja, toda produção é espacializada, coagida e condicionada pela
sanção coletiva, que não tem objetividade.
Nesse sentido, entende-se que as fronteiras físicas não limitam as fronteiras
linguísticas, pois o contato entre as línguas é uma consequência inevitável. E através das
marcas e contornos imprimem novas configurações as diversas redes comunicativas,
que certamente contribui na constituição de um cenário heterogêneo e diversificado,
Mollica (2004). O costumamos chamar de contato entre línguas é na verdade entre
falantes. Longe de ser neutro, esse contato é sempre marcado pelas atitudes,
sentimentos, e julgamentos de valor que os falantes desenvolvem entre si e em relação
as línguas que falam. Em consequência é entendido como ―línguas em conflito‖
(HAMEL,1988; HELLER,1996 e 2003, apud Mello, 2011).
Portanto, de acordo com os pressupostos apresentados deixa-nosclaro que as
línguas podem influenciar-se mutuamente, e com o passar dotempo refletem variação e
mudanças, que seguramente fazsurgir novas formas lexicais.
De acordo com Sousa & Albuquerque (2012) os processos de influência entre
línguas são notados desde a chegada de Anchieta, sendo um tema explorado desde o
século XVIII em vários lugares do mundo, com pesquisas voltadas a entender como as
línguas influenciam uma as outras. A respeito da influência entre línguas por questões
de contato Thun (1999: 41) afirma que ―é preciso documentar não somente a
coexistência de língua e variedade, mas também as mútuas influências que exercem
umas sobre as outras‖ e se tratando do contato português/ espanhol Antenhofen (2008)
319
acredita ―que o português fronteiriço dever ser considerado os seus diversos níveis de
influências‖.
2.A SOCIOLINGUÍSTICA E A DIALETOLOGIA COMO CIÊNCIA DA
VARIAÇÃO: LÍNGUAS EM CONTATO
Diferenciando-se apenas no tratamento dos fenômenos estudados, a dialetologia
e a sociolinguística são ciências que estudam o processo da variação em seus diversos
níveis, dialetologia abarca as variações espaciais, e a sociolinguística ocupa-se nas
relações sociais.
Quando as línguas em contato passam a conviver no mesmo contexto social, as
relações comunicativas são desencadeadas por diversos fatores externos à língua, de
caráter social, comercial e cultural. É nesta perspectiva sociológica que os termos
linguagem e sociedade são intrinsecamente evocados por Benveniste (apud Alkmin,
2012 p. 28) ―que é dentro da, e pela língua que indivíduos e sociedade se determinam
mutuamente‖.
A determinação mútua proposta por Benveniste (1963) recai também sobre os
fenômenos de contato, uma vez que a realidade entre fronteiras linguísticas não são
limitadas, e abrem portas as configurações sociais que por consequência variam os atos
da fala.
Com isso, podemos considerar que a realidade vivenciada pelos falantes,
determinam o surgimento de fenômenos em variação, por meio da mistura de línguas, a
respeito disso, Espiga (2006) enuncia: ―há comunidades e passos de fronteira que
conhecem e partilham, a ambos os lados da linha, a mesma geografia, história e cultura
local, descritas e vivenciadas em português e espanhol ou em dialeto próprio, misto das
duas línguas‖.
A consideração dos fatos sociais como fator determinante a língua também é
defendido por ÈmileLittre (1983 apudOgliori 2006) quando esclarece que os: ―estudos
sobre situações vivenciadas entre línguas coexistentes, consideram como postulado
básico a afirmação de que a história das línguas, ou mesmo da língua, associa-se
intimamente a história social do povo que a fala‖.
A dialetologia também debruça seus estudos nesse cenário, pois de acordo com
Chambers e Trudgill, 1998, p.19) a dialetologia ocupa-se em estudar os dialetos, cujo
objetivo é identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma língua
diversifica (CARDOSO, 2010).
320
É importante aqui salientar que a diversidade linguísticaocorre por um conjunto
de fenômenos não estritamente linguísticos, mas também, extralinguísticos que somados
formam um conjunto de correlações que atuam diretamente nas línguas, Bright
(apud,Alkmim, 2012 p.30) enuncia (i) a identidade social do emissor ou falante, (ii)
identidade social do receptor ou ouvinte, (iii) e o contexto social‖ como fatores que
promovema variação linguística. Para ela, a Sociolinguística tem o papel fundamental
de demonstrar a covariação sistemática das variações linguísticas e sociais, isto é,
relacionar os fatos linguísticos em uma comunidade às diferentes estruturas sociais
dentro da mesma sociedade.
Diante do exposto, não se pode negar a eficácia dos dois campos teóricos, que
juntas, prescindem maior produtividade aos resultados de pesquisa. Os aportes teóricos
da sociolinguística objetivam estudar a diversificação e as covariações por meio de
fatores de ordem social, a dialetologia por sua vez ―é um ramo dos estudos linguísticos
que tem por tarefa identificar, descrever e situar os diferentes níveis da fala, conforme a
sua distribuição espacial (...)‖ CARDOSO (2010, p 1), em síntese, é a ciência dos
estudos linguísticos que se ocupa na variação do falante em seus diferentes contextos.
Logo, o contexto social em que duas ou mais línguas convivem lado a lado, pode
resultar em modificações dialetais, com relação a isso Calvet (2002, p. 34). Explica:
Quando um indivíduo se confronta com duas línguas que
utiliza vez ououtra, pode ocorrer que elas se misturem em seu discurso
e que eleproduza enunciados ¨bilíngues¨. Aqui não se trata mais de
interferência,mas podemos dizer de colagem, de passagem em um
ponto do discursode uma língua a outra, chamada de mistura de
línguas.
Consoante a afirmativa de Calvet, quando há o ―confronto‖ entre línguas, podem
ocorrer fenômenos de colagem, passagem e até mesmo de mistura entre elasque
promovem a variação. No livro Falares Crioulos: Línguas em Contato, Tarallo (1987)
afirma que em situações de contato entre as línguas é comum que aconteçam dois
fenômenos característicos nas línguas envolvidas:
[...] (i) elas podem viver simplesmente em contato, uma na
vizinhança da outra lado a lado, mantendo-se integralmente
independente e resguardando, portanto, seus limites e fronteiras
individuais ou; (ii) que elas possam se misturar, se confundir, se
cruzar, se mestiçar, se baralhar, enfim, se mesclar.
321
Nesta visão, as inovações linguísticas podem ser geradas pelo convívio frequente
com o dialeto estrangeiro, que ao incorporar-se ao falar regional, resultamem fusões
linguísticas por meio de peculiaridades que inovam o repertório verbal dos que ali
pertencem. Alckmin (2001, p. 41) enfatiza que a variação linguística, não ocorrem no
vácuo, mas no contexto das relações sociais estabelecidas pela estrutura sociopolíticas
de cada comunidade de forma ―lenta e gradual‖. Ao citar Faraco (1998), Coan (2006)
advoga que as transformações da língua não são direta e abrupta em substituição de um
elemento a outro, tudo se inicia com uma envolvente concorrência, o que leva o falante
a operar com ―regras variáveis‖ por um―padrão sistemático‖.
Segundo Fisham (apud, ALKMIN, 2001, p. 40) os membros de qualquer
comunidade adquirem as competências comunicativas de forma lenta e
inconscientemente. Deste modo, as línguas em contato, podem ser influenciadas em
diversas categorias, já que segundo Bagno (2000) ―somos muito mais do que meros
―usuários‖ da língua...‖ e como usuário permiti-nos modificar as várias formas
linguísticas a disposição.
Labov (apud MONTEIRO LEMOS, 2000) ressalta devemos atribuir as variantes
linguísticas, a sistemas diferenciados, pois o caráter heterogêneo das línguas possibilita
as numerosas oscilações, contradições e alterações durante o processo discursivo.
Em virtude da amplitude que a variação linguística alcança adota-se nesta
pesquisa duas vertentes investigativas, a dialetologia, e a sociolinguística, embora
tenham um mesmo objeto de estudo, distinguem-se em suas perspectivas, uma vez que a
dialetologia, considera os elementos externos, contudo, sua ocupação a priori é
demonstrar as diferenças espaciais, a sociolinguística por seu turno, focaliza as
estruturas sociais para respaldá-las como agentes da variação. Nesse sentido, Corvalan
(1988 apud Cardoso, 2010) enfatiza que a ―sociolinguística e a dialetologia se tem
considerado até certo ponto sinônimas, uma vez que ambas estudam a língua falada‖, é
bem verdade que a fronteira entre as duas ciências é difícil de ser demarcado como
apontam Ferreira e Cardoso (1994, p.19)
Na verdade, definir objetivo e metas de vários ramos de
estudo da ciência da linguagem (…) é sempre muito difícil porque são
fluídos e poucos nítidos esses limites, mais fluídos e pouco nítido
quando se fala de dialetologia e sociolinguística que têm – ambas-
como objetivo maior o estudo da diversidade da língua dentro de uma
perspectiva sincrônica e concretizada nos atos da fala.
322
3.FUNDAMENTAÇÃO METODOLOGICA
Para efetivação desta pesquisa, será utilizado o método da
geolinguísticapluridimensinal, método por excelência da Dialetologia. A
geolinguísticaparte do princípio de que o percurso metodológico deve ser construído por
meio de uma visão diatópica com a correlação dos fenômenos sociais. A geolinguística
considera que as alternâncias de uso da língua são influenciadas por fatores espaciais,
além disso, julga a atuação dos fatos sociais no processo de diversificação linguística.
Nesse sentido, entende-se que a dialetologia e a sociolinguística são áreas
demasiadamente traçáveis no percurso de pesquisa, como advogam Brandão e Moraes
(Apud Cardoso, 2010, p.49) ―Já se tornou corrente a afirmativa de que o destino da
dialetologia horizontal depende da sua capacidade de assimilação dos princípios
metodológicos da sociolinguística‖.
Diante do exposto, as variáveis sociais: idade, gênero, classe social, escolaridade
e as características gerais de cunho sociocultural, ―tornam-se elementos de investigação
na busca da identificação de áreas geográficas do ponto de vista dialetal‖ Cardoso
(2010, p.25).
A presente pesquisa ocupa-se em descrever as variações decorrentes do processo
da influência da língua espanhola nos falantes da cidade de Tabatinga, salientando
sobretudo, as variações lexicais, que podem estar ocorrendo devida à estrita
proximidade com o território colombiano e peruano, uma vez que o contato linguístico é
inevitável e, portanto, um importante potencializador nas mudanças das línguas.
A escolha do método da geolinguística, justifica-se pela amplitude
pluridimensional que ele compreende, em razão de contemplaras diferenças espaciais
concomitantemente as variáveis sociais, através do recorte sincrônico de cunho
horizontal. O levantamento do corpus através do questionário semântico-lexical,
contribuirá para a elaboração dos mapas linguísticos que tem por objetivo situar as
variações lexicais de acordo com a localidade e a estratificação social das ocorrências
linguísticas encontradas. Dessa forma, ―o falante é visto como o ser geograficamente
situado, mas socialmente comprometido em múltiplas direções‖. CARDOSO (2010,
p.63)
Com o objetivo de selecionar os pontos de inquéritos onde serão realizadas as
entrevistas, foi realizado um levantamento preliminar dos dados da cidade de Tabatinga,
323
de modo com que os aspectos históricos, socioeconômicos e geográficos, foram levados
em consideração.
Outro fator observado no processo de seleção dos pontos, foi a proposta de
Brandão (1991, p.28) e Margotti (2004) que aconselham observar entre outros fatores, o
histórico da área, a posição da localidade na região, as áreas de diferentes dimensões e o
fluxo de pessoas.
Com isso, a pesquisa privilegiou seis zonas de Tabatinga, que compreendem os
bairros: Comara, Santa Rosa, Vila Paraíso, São Francisco, Comunicações e Dom Pedro
I. Por questão de estratégia, estas localidades foram selecionadas, uma vez que, se
considerou a proximidade e distanciamento dos bairros com a fronteira colombiana,
para que assim, fosse possível analisar os pontos e as variáveis sociais sob maior
influência do dialeto hispânico, isto irá possibilitar na verificação dos continuum
dialetais, por meio da irradiação do espanhol nas zonas próximas e distantes, para que
assim possamos verificar a referência e os graus de influência léxica na comunidade de
fala de Tabatinga.
A coleta de dados estará fundamentada na combinação de duas técnicas sugerida
por Brandão (1991, p. 34), trata-se portanto da coleta mista, que consiste na aplicação
do questionário semântico lexical (QSL) e de narrativas de experiência pessoal.
O questionário (QSL) será composto por perguntas de acordo com os campos
semânticos (meio físico, fenômeno da natureza, meio biótico (fauna e flora), meio
antrópico (homem e suas atividades de produção), vestimentas e denominadores chulos,
o caráter da elaboração das perguntas será de acordo com as peculiaridades vocabulares
inerente à fala da comunidade.
As perguntas serão feitas de modo indireto, definido por Chambers; Trudgill,
(1994, p 46,48), exemplo: ―Como se chama o lugar pequeno com balcão, onde se
costuma ir beber‖ as possibilidades de respostas podem ser (bodega, bar, boteco)
CARDOSO (2010, p. 97).Esse tipo de questionário tem se demonstrado muito eficiente,
pois demonstra as diferentes formas para um mesmo designativo, o que assegura com
que o entrevistado revele suas respostas de modo espontâneo, revelando os léxicos
comumente utilizados por ele em seu contexto real de uso.
O critério de seleção dos informantes, foi baseado de acordo com Ferreira e
Cardoso (apud, Cardoso, p. 93) no qual o processo de seleção deve observar com
precisão de local de nascimento do informante, naturalidade dos pais e cônjuge, idade,
período de permanência no lócus e o grau de escolaridade.
324
Com isso, a variação diageracional (idade), diagenérica (gênero) e diastrática
(grau de escolaridade e classe social), diatópica (ponto geográfico), dialingual
(monolíngues e bilíngues) nortearão o controle das variáveis. Serão selecionados 6
informante por ponto de inquérito, (3 homens e 3 mulheres), totalizando 36
informantesque juntos comporão o corpus que posteriormente permitirá a confecção dos
mapas linguístico na qual será possível demonstrar as ocorrências linguísticas para
assim descrever como língua espanhola influência o léxico do falar tabatinguense.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda em andamento, a presente pesquisa não dispõe de resultados em
definitivo, por ser um estudo inédito na cidade de Tabatinga, as descobertas contribuirão
parao estudo de contato entre línguas, e simultaneamente será possível demonstrar como
o contato com o espanhol tem implementado o vernáculo tabatinguense.
O que sabemos de início é que os aspectos sociais e culturais atuam diretamente
por meio das relações existente no contexto fronteira, que em princípio configuram o
cenário linguístico. E de acordo com Suarez (2013) é justamente a
característicatranscultural que realçam o contexto cosmopolita e dinâmico da cidade de
Tabatinga, uma vez que o fluxo humano e a troca de material cultural simbólico que a
tríplice apresenta fomentam a variação linguística.
Nesse sentido, ao partir do princípio de que todas as línguas estão em constantes
transformações admite-se também que o ―sistema [linguístico] é dinâmico por essência,
consistindo num organismo vivo‖ Guisan (2009:19), e que―todo sistema linguístico
encontra-se permanentemente sujeito à pressão de duas forças que atuam no sentido da
variedade e da unidade‖. (MOLLICA, 2004:12)
REFERÊNCIAS
ALKMIM, Tânia Maria (2001). Sociolinguística. In: MUSSALIM, F. e BENTES, A. C.
(orgs.) Introdução à lingüística. V.1. 2.ed. São Paulo: Cortez
ANTENHOFEN, Cleo V. Os contatos linguísticos na arrealização do português falado
no sul do Brasil. In ELIZAINCÍN, Adolfo & ESPIGA, Jorge (Org.). Espanol y
Portugués: Fronteiras e Contatos. Pelotas. UCPEL, 2008, p. 129-164.
BRANDÃO,Silva Figueiredo. A geografia lingüísticano Brasil – São Paulo: Ática S.A,
1991.
325
BORSTEL,Clarice Von. A Interface língua e identidade alemã no Brasil. In:
VANDRESEN, Paulino. (Org.). Variação, mudança e contato linguístico no Português
da região Sul. – Pelotas: Ed: EDUCAT, 2006. p. 281-302.
CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica/ Louis-Jean Calvet;
tradução Marcos Marciolino – São Paulo: Parábola, 2002.
CARDOSO,Suzana Alice. Geolínguística tradição e modernidade – São Paulo:
Parábola,2010
CHAMBERS,J; TRUDGILL,P. La Dialetologia;Tradução Carmen Morán Gonzales,
Eugênio Bustos Gisbert, Francisca Aliac – Madrid: Muriel,1994.
COAN, Marluce. Tempos Variáveis: Os mais que perfeitos simples e composto e
perfeito simples em variação e mudança do século XVI ao século XX. In:
VANDRESEN, Paulino. (Org.). Variação, mudança e contato linguístico no Português
da região Sul. – Pelotas: Ed: EDUCAT, 2006. p. 77-98
ELIZAINCÍN, A.;BEHARES, L.; BARRIOS, G. Nos falemo brasileiro. Dialectos
portugueses em Uruguay. Montevideo, Amersur, 1987.
ESPIGA, Jorge. O contato do Português com o espanhol da região sul do Brasil.
In.VANDRESEN, Paulino. (Org.). Variação, mudança e contato linguístico no
Português da região Sul. – Pelotas: Ed: EDUCAT, 2006. p.261- 279.
FERREIRA, Carlota; Cardoso, Suzana. A dialetologia no Brasil. São Paulo: Contexto,
1994a.
GARCIA, Neiva Mara Zanin. Estudo linguístico-etnográfico em comunidade
paranaense de imigrantes ucranianos: Do passado ao presente. In. SILVA, Sidney de
Souza. (Org). Línguas em Contato: Cenários de bilinguismo no Brasil.- Campinas: Ed:
Pontes, 2011. p. 225-254.
GUISAN, Pierre. Língua: A ambiguidade do conceito. In. BARRETO, M. M.G.S&
SALGADO. A. C. P. (Orgs). Sociolinguística no Brasil: Uma contribuição dos estudos
sobre línguas em/ de contato. – Rio de Janeiro : 7 Letras, 2009. P.17-28.
MARGOTTI, FELÍCIO Wesling. Difusão-sócio geográficodo português em contato
com o italiano no sul do Brasil.Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul,2004.
MELLO, Heloísa Augusta Brito de. Atitudes linguísticas em uma comunidade Bilíngue
do sudoeste goiano. In. SILVA, Sidney de Souza. (Org). Línguas em Contato: Cenários
de bilinguismo no Brasil.- Campinas: Ed: Pontes, 2011. P. 141-177.
MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luíza (Orgs). Introdução à
Sociolinguística: o tratamento da variação. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2004.
MONTEIRO, José Lemos, 1944- Para compreender Labov. Petrópolis, RJ: vozes,
2000.
MUSSALIN, F.; BENTES,A. (Orgs). Introdução a Linguística: domínio e fronteiras.
Vol. 1. São Paulo: Cortez, 2001.
OGLIARI, Marlene Maria. Línguas Minoritárias e situações bilíngues decorrentes:
considerações sociolinguísticas. In. VANDRESEN, Paulino. (Org.). Variação, mudança
e contato linguístico no Português da região Sul. – Pelotas: Ed: EDUCAT, 2006. p. 303-
323.
SEMINO & ESCOBAR, Maria Josefina Israel; Patrícia Mussi. Las interferências en la
frontera Uruguay-Brasil: Un estudio de caso sobre las restricciones .In. In. SILVA,
Sidney de Souza. (Org). Línguas em Contato: Cenários de bilinguismo no Brasil.-
Campinas: Ed: Pontes, 2011. p. 335-350.
SOUZA& ALBUQUERQUE, Jane Guimarães; Francisco Edviges. Glossário bilíngue
Krahô/Português: Uma contribuucão para o fortalecimento da língua Krahô.
In:ALBUQUERQUE, Francisco Edviges& ALMEIDA, Severina Alves de. Educacão
326
Escolar indígena e diversidade cultural. – Goiânia: Ed. América, 2012. 369, p.: 22
cm.____..
VANDRESEN, Paulino. Org.2. Variação Línguística, mudança e contato lingüístico no
português da região Sul. Pelotas: EDUCAT,2006
TARRALO, Fernando; ALKMIN, Tânia. Falares Crioulos. Línguas em Contato. São
Paulo : Ática, 1987.
THUN, H. La pluridimensionalidad del Atlas Diatópico e Diastrático del Uruguay
(ADDU), 1999.
INTERNET
Gorovitz, S. A tradução como contato de línguas, Universidade de Brasília, disponível
em periódicos.unb.br/ acesso em 23/10/2017.
Oliveira, M. M. ―A mobilidade humana na tríplice fronteira: Peru, Brasil e Colômbia,
disponível em http://www.scielo.br/ acesso em 09/11.2017.
Suarez. Á. G. ―Tabatinga (Br) e Letícia Col): Duas cidades Gêmeas, disponível em
http://www.aebr.eu/files/publications/, acesso em 09/12/2017.
DEFICIENTE AUDITIVO OU SURDO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Sílvia Cleide Piquiá dos Santos (UFMA)
Ilza Galvão Cutrim (UFMA)
Resumo:Este trabalho tem como foco discutir diferenças entre os modos de subjetivação de
pessoas com perda auditiva.O objetivo émostrarqueas diferenças entre o sujeito com deficiência
auditiva e surdo podem estar relacionadas com concepções filosóficas, médicas, políticas,
culturais.Os discursos sobre a surdez foram constituídos ao longo da história e resultaram em
diferentes formas de identificação dos sujeitos com perdas auditivas. Essas diferenças no modo
de subjetivação às vezes causam conflitos culturais em relação à maneira de se identificar um
sujeito surdo e um sujeito com deficiência auditiva. Qual a diferença entre Surdo e deficiente
auditivo? Há problema em não fazer diferença? Essa e outras perguntas motivaram a discussão
neste trabalho. As diferenças dos sujeitos devem ser consideradas de acordo com suas
especificidades e o contexto discursivo, político, cultural e social.
PALAVRAS-CHAVES: Subjetivação. Surdez.Diferença.
Abstract:This work aims to discuss differences between the modes of subjectivation of people
with hearing loss. The objective is to show that the differences between the hearing impaired
and deaf subjects may be related to philosophical, medical, political, cultural conceptions. The
discourses on deafness were constituted throughout history and resulted in different forms of
identification of subjects with hearing loss. These differences in the mode of subjectivation
sometimes cause cultural conflicts in relation to the way of identifying a deaf subject and a
hearing impaired subject. What is the difference between deaf and hearing impaired? Is it a
problem not to make a difference? This and other questions motivated discussion in this paper.
The differences of the subjects should be considered according to their specificities and the
discursive, political, cultural and social context. KEYWORDS: Subjectivation. Deafness. Difference.
327
INTRODUÇÃO
Para Silva (2015), ―a identidade e a diferença estão em uma relação estreita de
dependência. A forma afirmativa como expressamos a identidade tende a esconder essa
relação.‖ Para o autor, a identidade e a diferença são produzidas por variados sentidos e
atos linguísticos que resultam numa identidade que a define como diferente de outra.
Não podem ser definidas fora de um contexto cultural e social, pois a linguagem é
definida como sistema de significação compostos por sistemas discursivos e simbólicos
que o estruturam.
A pessoa com surdez nem sempre tem um ambiente favorável de comunicação:
falta domínio da língua de sinais, não há oralização, faltam intérpretes de libras, entre
outras coisas. É preciso considerar as diferenças entre os sujeitos com perda auditiva
para compreender os modos de subjetivação e respeitar a escolha de identificação social
e cultural de cada um deles.
Neste trabalho discutimos sobre os modos de subjetivação dos sujeitos com
perda auditiva e surdez a partir do uso das nomenclaturas deficiente auditivo e surdo.
Existe uma nomenclatura correta? Existe diferença entre deficiente auditivo e surdo?
Existe uma única forma de proceder a essa identificação?Como devemos chamar as
pessoas com perda parcial da audição? Esses questionamentosdirecionam nossa
discussãono sentido de observar algumas mudanças discursivas na concepção de surdez.
Este artigo apresenta, inicialmente, uma discussão sobre políticas de inclusão no
Brasil para sujeitos com surdez desde meados do século XIX e as mudanças discursivas
nos documentos legais a respeito do modo de subjetivação dos sujeitos com surdez. O
segundo tópico discute as diferenças culturais relacionadas à concepção clinico-
patológica e a socioantropológica que atravessam o discurso sobre a surdez, produzindo
conflitos na forma de identificação dos sujeitos com perda auditiva. Por último,discute
duas formas diferentes de identificação dos sujeitos com surdez: deficiente auditivo e
surdo; e, apresenta algumas diferenças culturais e linguísticas que envolvem a forma de
subjetivação do sujeito surdo.
1. POLÍTICAS DE INCLUSÃO PARA SUJEITOS COM SURDEZ
No Brasil, a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES em
1857 foi um acontecimento relevante para as mudanças discursivas acerca do sujeito
surdo e para o processo de construção de sua identidade. Depois surgiram outras
328
políticas públicas de inclusão de deficientes, como a Lei 10.098/2000, que prevê a
formação e atuação de intérprete para possibilitar acessibilidade e informação às
pessoas com perdas auditivas até a criação da Lei 10.436/2002,conhecida como Lei de
Libras, que reconhece a Libras como língua oficial da comunidade surda. Essa lei
etornou-se um marco na trajetória da construção da cultura e identidade surda.Conforme
seu entendimento:
Artigo 1º
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.(BRASIL, 2002)
A oficialização da Língua de Sinais Brasileira – Libras, como forma de
comunicação, foi extremamente relevante na criação de políticas educacionais e
linguísticas para atender a demanda dos surdos. A inclusão da disciplina Libras nos
cursos de licenciaturas, educação especial e fonoaudiologia possibilitou mudanças
significativas para a educação dos surdos como também mais acessibilidade
comunicativa. Entretanto, está expresso na lei,em seu art. 4º - parágrafo único, que a
Libras ―não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa‖. A partir da
Lei, passou-se a utilizar com mais frequência também o termo pessoa surda.
Antes da lei de Libras, o Decreto 3.298/99regulamentava a Lei no 7.853, de 24
de outubro de 1989, que dispunha sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.Neste documento, o conceito utilizado analisa apenas as
limitações das pessoas. O Art. 3º, do mencionado Decreto, considera deficiência como:
Art. 3
o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou
durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação
ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações,
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar
329
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
(BRASIL, 1999)
É possível observar a deficiência sendo considerada em perspectivas
psicológica, fisiológica, anatômica.
Em seu Art. 4º, o Decreto nº 3.298/99, ao considerar pessoa portadora de
deficiência, a coloca em uma categoria, que é deficiência auditiva:
I – [...]
II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades
auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve;
b) de 41 a 55 db – surdez moderada;
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada;
d) de 71 a 90 db – surdez severa;
e) acima de 91 db – surdez profunda; e
f) anacusia. (BRASIL, 1999)
Esse olhar é baseado na concepção clinico-patológica, que vê a surdez como
deficiência, e a trata como doença que precisa ser reparada. Essa concepção propõe o
uso de aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear, acompanhado
de treinamento auditivo intensivo (PEREIRA et al, 2011).
Entretanto, os movimentos sociais de surdos lutaram por políticas de inclusão
que fossem fundamentadas na concepção socioantropológica, a fim de que a surdez
fosse compreendida como uma diferença, e que a pessoa surda seja reconhecida como
alguém que faz parte de uma comunidade minoritária com língua e cultura próprias
(PEREIRA et al, 2011). Os movimentos lutaram para o reconhecimento da língua de
sinais e da comunidade surda. Essa luta se concretizou na Lei nº 10.436/2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.Entretanto,
a regulamentação só ocorreu com a criação do Decretonº 5.626/2005, que revogouo art.
4º do Decreto 3.298/99, que determinou um novo olhar sobre as pessoas com perda
auditiva e surdez.
Art. 2
o Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela
que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por
meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.
PARÁGRAFO ÚNICO. Considera-se deficiência auditiva a perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
330
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz
e 3.000Hz. (BRASIL, 2005)
Com isso, é possível perceber que houve uma evolução em relação ao conceito
político de surdez ao longo da história e que interferiu e interfere no olhar sobre o
sujeito com perda auditiva. Essas mudanças refletiram em aspectos culturais, sociais,
educacionais e políticos sobre a identidade do sujeito surdo. Então, surgem os
questionamentos sobre o que é certo em relação à surdez. Mas iremos verificar que não
existe uma única resposta certa. A resposta dependerá do lugar em que esse sujeito se
encontra e dos acontecimentos que o envolvem.
2. DIFERENÇAS CULTURAIS
Falar sobre surdez é ultrapassar o discurso da patologia para ocupar um lugar
nos estudos da cultura, das ciências sociais, da linguística e da educação, como um
objeto de interesse por pesquisadores diversos, não só militantes. O discurso deve
adentrar por questões de expressões culturais, diferenças de identidade, lutas sociais,
efetivações de direitos que promovem novos olhares sobre a surdez.
As diferenças linguísticas e culturais existentes entre as pessoas que nasceram
surdas e as que perderam a audição total ou parcial após o período de aquisição da
linguagem fazemcom que os sujeitos se identifiquem como diferentes ou se vejam
diferentes. Esses sujeitos podem ser identificar de formas diferentes por se constituírem
em ambientes culturais e linguísticos distintos, ou por influências políticas e sociais.
Para Hall (2012), a identidade é definida historicamente e não biologicamente.
O discurso sobre a surdez está permeado por concepções clínico-patológica e
socioantropológica. O uso da língua de sinais pelo surdo representa um ponto de vista
da concepção socioantropológica que valoriza os elementos: crença, costumes,
comportamentos e língua comopertencente àcultura por refletir a forma de organização
de um grupo e de referência de um povo (PEREIRA et al, 2011). Seguindo essa
concepção, Perlin (2004) afirma que há identidades surdas que representam uma grau de
receptividade cultural e de consciência política e corporal em relação a sensação de
invalidez, de inclusão entre os deficientes e desvalorização social assumida pelo sujeito.
Para Strobel (2008), a cultura surda representa a expressão de valores, crença e
comportamentos transmitidos pelas gerações passadas de surdos e pelas comunidades
surdas. O estudo sobre cultura surdano Brasil temevoluído bastante desde o
reconhecimento da Língua de Sinais pela Lei nº 10436/02.
331
No livro As imagens do outro sobre a cultura surda, Strobel (2008) explica a
diferença entre comunidade surda e povo surdo. As comunidades surdas são
compreendidas pela participação de sujeitos surdos e ouvintes – membros de família,
intérpretes, professores, amigos entre outros – que compartilham interesses comuns em
um determinado lugar.Povo surdo são os sujeitos surdos ―que estão ligados por uma
origem, por um código de formação visual, independente do grau de evolução
linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços‖
(STROBEL, 2008, p. 31).
Ao afirmamos que os surdos brasileiros são membros de uma cultura
surda não significa que todas as pessoas surdas no mundo
compartilhem a mesma cultura simplesmente porque elas não ouvem.
Os surdos brasileiros são membros da cultura surda brasileira da
mesma forma que os surdos americanos são membros da cultura surda
norte-americana. Esses grupos usam línguas de sinais diferentes,
compatilham experiências diferentes e possuem diferentes
experiências de vida. (KARNOPP, 2006, p.99)
A deficiência auditiva,para o paradigma clínico,pode serqualquer distúrbio no
processo de audição que pode ocasionar problemas no desenvolvimento da linguagem
(BEVILACQUA, 1998). A deficiência no período pré-língualpode ser chamado de
hipoacusia se acontecer quando o sujeitopor motivo de alguma patologia nasceu surdo
ou ainda bebê adquiriu alguma doença que causou a perda auditiva, mas em que o
sujeito não teve contato suficiente com a linguagem oral para aprendera falar ou
entender a fala (BEVILACQUA, 1998). Essas pessoas não têm memória auditiva e
geralmente não se consideram como deficientes.Elasnão podem ouvir, mas sabem que
podem fazer qualquer outra coisa que outras pessoas fazem. Se consideram normais, ou
seja, não há necessidade de "consertar" seus ouvidos. Eles não se identificam pela falta
da audição ou pelo grau que ouvem, mas pelo uso da língua de sinais. Essas pessoas se
consideram como "culturalmente" surdas, na medida em que falam Língua de Sinais
Brasileira,Libras.A perda de audição não é um problema para eles. Surdo é quem eles
são.
As comunidades surdas buscam se integrar por meio de atividades culturais,
políticas, educacionais e de lazer sempre interagindo em língua de sinais em todos os
momentos e ambientes. As famílias que possuem pais e filhos surdos costumam se
comunicar predominantemente em Libras, por ser considerada sua língua materna. A
criança surda que cresce utilizando a língua de sinais no ambiente familiar tem valores
culturais da comunidade surda mais arraigado.
332
Já a surdez pós-lingual, com a maioria das pessoas,acontece com a perda de
audição após a aquisição da linguagem oral. A diminuição da audição pode ser causada
por algum efeito colateral de medicamentos, trauma, infecção ou uma
doença(BEVILACQUA, 1998).
As pessoas com surdez pós-lingual sabem conversar e se comunicar na língua
oral, alguns sujeitos se subjetivamcomo ouvintes, e continuam imersas no ―mundo
auditivo‖, mesmo com uma perda auditiva leve ou profunda. Alguns se subjetivam
comodeficientes auditivospornão aceitarem a surdez e se identificarem com o ―mundo
auditivo‖,ou seja, utilizam meios diversospara minimizar sua dificuldade de
audição:leitura labial, audição residual, próteses auditivas, implantes cocleares,
dispositivos auxiliares e outras tecnologias.O sujeito que utiliza um dos meios citados e
não utiliza a língua de sinais constrói sua identidade de forma diferente do sujeito que
utiliza um dos meios e ainda sinaliza. Esse sujeito se vê diferente da forma como é visto
pela comunidade surda, mesmo que faça uso da língua de sinais. O uso de aparelhos ou
implantes não elimina completamente suas limitações de audições. Esse sujeito é visto
de forma diferente e se sente diferente. Ele vive em conflito constante com sua
identidade, pois não se considera surdo, nem deficiente, nem ouvinte.
3. IDENTIDADE E DIFERENÇA: DEFICIENTE AUDITIVO OU SURDO?
Existem diferenças conceituais e não apenas terminológicas entre deficiente
auditivo e surdo. Segundo Santana (2007), as normas sociais estabeleceram mudanças
entre os dois termos. No passado, a surdez era considerada uma doençaincurável. Na
atualidade, é considerada como uma diferença em que ―os termos deficiente auditivo e
surdo ou Surdo são termos ideologicamente marcados‖.
Na perspectiva do Decreto nº 5.626/05, um dispositivo legal que produz um
discurso político de inclusão social, a deficiência auditiva é considerada ―a perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz‖(art. 2º, parágrafo
único).O sujeito pode ter perda parcial ou total de audição. De acordocom o Decreto mº
5.626/05, art. 2º, surdo é “pessoa surda que por ter perda auditiva, compreende e
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura
principalmente pelo uso da Libras‖. Já o termo Surdo é utilizado para definir a pessoa
pertencente à Comunidade Surda, e que usa a língua de sinais para se comunicar. Para
333
Strobel (2008), ―os sujeitos surdos que têm acesso à língua de sinais e participação da
comunidade surda tem maior segurança, autoestima e identidade sadia‖.
Entretanto,não são suficientes as afirmações para decidir qual o melhor termo a
ser utilizado. Há vários discursos que permeiam o discurso sobre surdez, então é
necessário considerar os acontecimentos discursivos e os dispositivos legais e culturais
para perceber as regularidades discursivas nas dispersões dos enunciados. Para Foucault
(2012), dois enunciados distintos podem ser permeados de discursos semelhantes que
permitem uma regularidade discursiva.
Para discutir sobre o modo de objetivação o qual se identifica os sujeitoscom
perda auditiva precisamos escolher a concepção teórica para basear nossos estudos e a
construção da identidade e da cultura dos sujeitos. Segundo Hall (2014), há três
concepções diferentes de identidade que precisam se observadas e analisadas para se
escolher qual seguir. A primeira é do sujeito iluminista, totalmente centrado, unificado,
dotado de razão, de consciência e de ação que não se alteram do início da vida até o fim
de sua existência. A segunda é do sujeito sociológico e dialético, pois o sujeito é
―formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais e as identidades
que esses mundos oferecem.‖ A terceira o sujeito pós-moderno que não tem uma
identidade fixa, essencial ou permanente, sendo formada e transformada continuamente
pelos sistemas culturais.Dentre as concepções apresentadas iremos escolher a terceira
por se adequar melhor ao momento e aos acontecimentos.
Segundo Bauman (2005), as identidades são flutuantes por serem conflituosas e
negociáveis. As diferenças existentes sempre podem ser explicadas, escondidas e, às
vezes, ostentadas, oferecidas ou barganhas. Esse deslocamento pode acontecer total ou
parcialmente dependendo do lugar ou das experiências das pessoas envolvidas. Essa
afirmação condiz com a realidade dos sujeitos com perda auditiva, pois muitos deles
possuem conflitos internos e externos causados pela falta da audição. Isso acontece por
vários motivos: familiares, culturais, sociais e políticos que se misturam e não possuem
um consenso.
As formas de se identificar de uma pessoa varia ao longo da história por causa
das mudanças culturais e sociais que vão surgindo. Somos seres dinâmicos que nos
transformamos e adaptamos de acordo com as necessidades físicas, psicológicas, sociais
e culturais. Para Bauman (2005), as pessoas buscam alcançar uma identidade
atualmente, porém acham uma tarefa intimidadora e impossível por serem produzidas
infinitamente. A identidade surge como a exposição a uma comunidade que busca ideia
334
para manter-se unida dentro de um mundo de diversidade e policultura. As decisões que
os indivíduos tomam podem determinar ou interferir no seu próprio pertencimento ou
identidade, pois não há solidez e não são garantidos por toda vida, podem ser
negociáveis e revogáveis.
Cada pessoa vive em muitos lugares diferentes e participa de campos sociais que
exercem influências direta ou indiretamente em seus comportamentos. Cada um faz as
escolhas do que considera mais adequado por ter autonomia. Segundo Hall, não somos a
mesma pessoa sempre, pois dependendo do lugar e do momento temos papéis sociais
diferentes e precisando interagir e nos posicionar de forma diferente.
Com base nisso,Woodward (2014) afirma que não somos literalmente a mesma
pessoa em todas as situações, pois nos posicionamos diferentemente para expectativas e
restrições sociais diferentes. Em cada situação nos representamos diante do outro de
forma diferente porque dependendo do contexto nos posicionamos diferente. Além
disso, também nos dão uma posição de acordo com o campo social que estamos
atuando. A autora ainda afirma que as identidades são fabricadas pela marcação da
diferença que ocorre por meio de sistemas simbólicos de representação e de exclusão
social. A identidade não é o oposto da diferença, e sim, depende dela. As diferenças
existentes nas relações sociais acontecem de forma simbólica e social por meio de
sistemas classificatórios para dividir a população de acordo com características de pelo
menos dois grupos opostos: nós e eles (por exemplo: sérvios e croatas); eu/outro.
Não existe uma única identidade em que todos se encaixam, nem a pessoa vive a
vida toda com uma identidade. As diferenças existem e precisam ser respeitadas.
Segundo Hall (2014), o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa.
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o
sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é
automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se
politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma
mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política
de diferença. (HALL, p.16, 2014)
A pessoa com surdez se vê de uma forma enquanto os outros a vê de uma forma
diferente, tudo depende se faz uso da língua de sinais ou não, ou se utilizam algum meio
para diminuir a limitação de audição. Perlin (1998) procura demonstrar sua visão acerca
da identidade, afirmando que o sujeito surdo constrói sua identidade com fragmentos de
múltiplas identidades ao seu redor. Um sujeito surdo que participa de uma comunidade
335
surda tem características pertencentes a este grupo, mas também empresta fragmentos
da identidade ouvinte que constitui novas visões. Os surdos constroem suas identidades
continuamente e de forma diversificada como membros de um grupo cultural.
Perlin (1998) afirma que a identidade surda muda de sujeito para sujeito porque
não há uma única identidade de surdos, baseando-se na concepção de identidade
cultural de Hall (2014). Ela classifica as identidades surdas diante do olhar e dos
fragmentos das diferenças existentes entre os surdos. Estas identidades se constituem de
diferentes aspectos históricos e sociais, da transitoriedade dos discursos representados e
representantes de sujeitos que possibilitam diferentes formas de identificação das
identidades.
Perlin (1998) criou as categorias de identidade surda para mostrar que o sujeito é
fragmento de múltiplas culturas. As categorias servem para identificar num dado
momento quem é esse sujeito, não para definir quem é essa pessoa. Entretanto, existem
questões que precisam ser respondidas a esse respeito. Todo surdo precisa se encaixar
em uma das categorias definidas pela autora? Se o sujeito é fragmentado ele precisa ser
classificado em uma categoria? Se o sujeito não se identificar com nenhuma das
categorias ele não é surdo?
O Surdotem uma cultura própria, construída ao longo da história e das relações
sociais e políticas. A cultura surda sofreu influência da ouvinte, mas tem suas próprias
características. Segundo Strobel (2008),
A cultura surda se refere a comportamentos, valores, regras e crenças,
que permeiam e "preenchem" nas comunidades surdas. Dentre os
artefatos principais da cultura surda estão as experiências visuais e as
lingüísticas que são essenciais para o povo surdo. A cultura surda
também pode incluir a história dos surdos, as piadas em língua de
sinais e expressões faciais/corporais, a literatura surda, a arte surda, a
pedagogia surda e outros. (Entrevista publicada em novembro de 2008
no site da Revista Virtual de Cultura Surda e Diversidade).
A construção da cultura acontece por meio da interação das pessoas de um grupo
ou comunidade com o uso da língua de sinais. Segundo Gesser (2009), a língua de
sinais é natural e evoluiu como parte cultural do povo surdo. A língua não é mímica,
possui estrutura e gramática própria. Para a autora, utilizar os termos mudo, surdo-mudo
e deficiente auditivo imprimem preconceito, sendo consideradas formas ofensivas ou
pejorativas. O discurso sobre a surdez tem diferenças dependendo do espaço de
discussão. Dentro do contexto de cultura surda o conceito de povo surdo é relevante
para se compreender quem é a pessoa surda. SegundoStrobel (2008),
336
O povo surdo – os parentes, amigos, intérpretes, professores de surdos
-, reconhecer a existência da cultura surda não é fácil, porque no seu
pensamento habitual acolhem o conceito unitário da cultura e, ao
aceitarem a cultura surda, eles têm de mudar as suas visões usuais
para reconhecerem a existência de várias culturas, de compreenderem
os diferentes espaços obtidos pelos povos diferentes. Mas não se trata
somente de reconhecerem a diferença cultural do povo surdo, e sim,
além disso, de perceberem a cultura surda através do reconhecimento
de suas diferentes identidades, suas histórias, suas subjetividades, suas
línguas, valorização de suas formas de viver e de se relacionar.
(Entrevista concedida em 3 de março de 2008 ao blog Vendo Vozes)
O problema da surdez pode ser visto como patológico ou sociocultural. A
identificação do sujeito é variável e depende da construção discursiva do sujeito e dos
enunciados que o atravessam. Para Gesser (2009), quando surdos e ouvintes veem a
surdez como diferença, usam e valorizam a língua de sinais assumem uma postura
positiva diante da surdez.Porém, quando a surdez é construída na perspectiva da falta da
audição, anormalidade que diverge do padrão, abre espaço para o estigma e o
preconceitosocial. Antigamente o discurso do preconceito era muito forte e reforçava o
pensamento de discriminação pelo déficit da audição, mas atualmente a surdez com as
mudanças políticas e sociais ocorridas vem sendo pensada e discutida pelo prisma
cultural.
4. BREVES CONSIDERAÇÕES
As identidades,por serem fragmentadas e não fixas, podem mudar ao longo do
tempo por causa dos sistemas culturais e políticos que possibilitam experiências e
promovem a construção de novas identidades a partir da inserção em novos papeis
sociais. As mudanças sociais e históricas produzem novas formas de identificação que
promovem questionamentos sociais sobre quem somos. Na complexidade da vida
moderna nossas experiências nos tornam um ser fragmentado que assume diferentes
identidades, causando conflitos e tensões em nossas vidas pessoais. Cada identidade tem
um jeito e acaba interferindo na outra.
Este trabalho apresentou uma breve discussão sobrediferenças entre deficiente
auditivo e Surdo na perspectiva médica, cultural, política e social. Apesar das diferenças
existem semelhanças e o sujeito se identifica de acordo com o lugar que lhe é mais
relevante. Verificamos que não existe o certo, tudo é relativo, pois depende da forma de
olhar do eu e do outro. Para isso, devem se considerar sempre as diferenças linguísticas
e culturais.
337
REFERÊNCIAS
BAUMAN, Zygmund. Identidade: entrevista a Benetto Vecchi. Tradução Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BEVILACQUA, M.C. Implante coclear multicanal: uma alternativa na habilitação de
crianças surdas. Tese de Livre Docência (curso de Fonaudiologia), Universidade de São
Paulo, Bauru, 1998.
BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de
24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.
_______. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais – Libras e dá outras providências.
________.Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436,
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art.
18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2012. Trad. Luiz Felipe Baeta.
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 12 ed. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2014.
PEREIRA, Maria Cristina (Org.). Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo:
Pearson, 2011.
PERLIN, Gladis. Histórias de vida surda: identidade em questão. Dissertação (Mestrado
em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre. 1998.
STROBEL, Karin.(2008). Entrevista concedida ao blog Vendo Vozes. Pesquisado em:
http://blogvendovozes.blogspot.com.br/2008/03/entrevista-exclusiva-karin-strobel.html
STROBEL, Karin.Entrevista concedida a Revista Virtual de Cultura Surda e
Diversidade. Pesquisado em: http://www.editora-arara-
azul.com.br/revista/03/perfil.php, 3 ed. (2008).
SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguisticas.
São Paulo: Plexus, 2007.
338
SILVA, Tomaz T(Org); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 12 ed. Petropólis-RJ, 2014.
UMA PETIÇÃO SURDA PELO RECONHECIMENTO DA LÍNGUA DE SINAIS
NOS ESTADOS UNIDOS
Alexandre Guedes Pereira Xavier (UFF)
Resumo: O estudo das línguas de minorias impulsionou a constituição e o desenvolvimento do
campo das Políticas Linguísticas. Com abordagem inicialmente centrada no papel do Estado e
dos linguistas na fabricação de consensos, o campo passou a atentar mais aos modos pelos quais
as relações sociais internas e externas às comunidades linguísticas atuam politicamente sobre a
língua. A pesquisa sobre políticas linguísticas para pessoas surdas, por exemplo, destaca que o
acesso à informação e ao debate de ideias, dependente do status das línguas de sinais, atua sobre
as condições de cidadania dessas pessoas. Assim, estudar embates dessa minoria linguística pela
mudança de status de sua língua mostra-se relevante para dimensionar a sua cidadania. Nessa
perspectiva, o presente trabalho focaliza o processo pelo qual, entre 2012 e 2013, nos Estados
Unidos, uma ativista surda angariou, nacionalmente, apoiadores a sua petição pelo
reconhecimento oficial da Língua de Sinais Americana e interagiu publicamente com o
Governo. Para entender como e com quais sentidos deu-se tal postulação, trabalhou-se com os
conceitos de Desentendimento e Esfera Pública, de Jacques Rancière (1996; 2014) e de
Minorização (ARACIL, 1983; CALAFORRA, 2003), segundo uma perspectiva Glotopolítica
(GUESPIN & MARCELLESI, 1986; ARNOUX, 2016), e com os objetivos de: discutir
antecedentes históricos da demanda; contrastar a legislação nacional com dispositivos de
Direitos Humanos; analisar criticamente a petição surda e a resposta do Estado. Evidenciou-se
uma disputa de sentidos sobre o objeto de discussão – a Língua de Sinais Americana – e sobre
os próprios demandantes, o que sugere a importância de estudos aprofundados sobre o
significado político da questão linguística na esfera pública.
Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Língua de Sinais. Reconhecimento.
Abstract: The study of minority languages has fostered the constitution and development of the
field of Language Policy and Planning. Its approach was initially centered on the role of the
State and of linguistics in the making of consensus, that field started to focus the ways through
which social relations – internal and external to language communities – act politically upon
language. The research on language policies for deaf people, for example, emphasizes that the
access to information and to the debate of ideas – which depends on the status of sign languages
– acts upon the conditions of citizenship of those people. Therefore, studying struggles of that
linguistic minority for the change of status of its language seems to be relevant in order to
dimension its citizenship. Within this scope, this work focus on the process through which ,
between 2012 and 1013, in the United States, a deaf woman, activist, has gathered a nationwide
support to her petition and publicly interacted with the Government. In order to understand how
and with what meanings such demand has happened, we have worked with the concepts of
Disagreement and Public Sphere, by Jacques Rancière (1996; 2014) and Minorization
(ARACIL, 1983; CALAFORRA, 2003), according to a Glotopolitical perspective (GUESPIN &
MARCELLESI, 1986; ARNOUX, 2016), and aiming at: discussing historical precedents of the
demand; contrasting national legislation and Human Rights; making a critical analysis of the
deaf petition as well as of the State response. It has become evident that there‘s a dispute over
meanings about the subject at stake – American Sign Language – and about the very petitioners,
339
what suggests the importance of deeper study about the political meaning of the language issue
in the public sphere.
Keywords: Language Policies. Sign Language. Recognition.
INTRODUÇÃO
O estudo das línguas de minorias impulsionou a constituição e o
desenvolvimento do campo das políticas linguísticas (CALVET, 1995), mas as
considerações de Guespin & Marcellesi de que, quando uma língua se torna questão
pública, “le caractère démocratique des décisions n‟est pas vraiment assuré” e de que
“ils serait important que tous puissent forger leurs représentations langagières‖ (1986,
p. 5) permanecem atuais para comunidades linguísticas surdas mundo afora. Pesquisa
realizada com 93 países participantes, pela World Federation of the Deaf (WFD),
avaliou que as condições de acesso à informação para o debate e a livre expressão de
ideias no exercício da cidadania dependem do status das línguas de sinais em cada
nação, e que, na maioria dos países: “Equal citizenship seems to be a „paper status‟, not
a status Deaf people experience in practice‖. (HAUALAND & ALLEN, 2009)
O presente artigo trata de um pleito por mudança no status de uma língua de
sinais, ou seja, pela mudança de sua posição em relação às demais (EDWARDS, 1996),
compreendida como um dos campos para a deliberação e a ação de Políticas
Linguísticas. Pensando a língua como construto social e político (GUESPIN &
MARCELLESI, 1986) e a Glotopolítica como ―el estudio de las intervenciones en el
espacio del lenguaje‖, que podem concorrer ―para la reproducción o la transformación
de las sociedades‖ (ARNOUX, 2016), tomamos por objeto de análise a postulação de
reconhecimento oficial da Língua de Sinais Americana (ASL, em inglês) apresentada
em 2012 ao Governo dos Estados Unidos, por uma ativista surda, e a resposta da Casa
Branca, emitida em 2013.
Assim, para saber de que forma e com quais sentidos se deu a postulação surda
de reconhecimento da ASL nos Estados Unidos, discutiremos os antecedentes histórico-
políticos da demanda surda pela ASL, nos EUA, a legislação existente naquele país e as
possíveis implicações da CDPD para a postulação em tela. Em seguida, analisaremos
criticamente a petição surda e a resposta governamental. Espera-se contribuir para
dimensionar o que está em jogo e em que medida os enunciados da Convenção podem
se converter em cidadania efetiva para integrantes dessa minoria linguística. O presente
340
artigo é balizado na articulação dos conceitos de desentendimento e esfera pública, do
filósofo político Jacques Rancière (1996; 2014). Exceto onde indicado, as traduções
foram feitas pelo autor.
1. ASL NOS EUA: ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOS DA
DEMANDA
As línguas de sinais e seus dialetos são criações de comunidades surdas: um
sistema linguístico transmitido entre gerações de pessoas surdas que possui as mesmas
propriedades que quaisquer línguas faladas (GOLDIN-MEADON, 1993: p. 64-80). Não
derivam das línguas orais ou dos gestos utilizados por pessoas ouvintes como auxiliares
da fala. São complexas, capazes de enunciar a realidade e o pensamento abstrato em
incontáveis possibilidades combinatórias. Mas foi longo o caminho até que os sinais das
comunidades surdas fossem reconhecidos como línguas, assim como tem sido longo o
caminho de luta da comunidade surda dos EUA por sua língua de sinais.
Nos Estados Unidos, em 1817, foi criada pelo educador Thomas H. Gallaudet e
pelo professor surdo francês Laurent Clerc uma das primeiras escolas para surdos das
Américas, a Hartford Asylum for the Education and Instruction of the Deaf and Dumb,
logo rebatizada American School for the Deaf. Supõe-se que a língua de sinais dos
surdos franceses – trazida por Clerc e impulsionada a partir dessa escola – exerceu um
papel de unificação em relação aos sinais usados anteriormente pelos surdos norte-
americanos. Em 1855, antes da Guerra Civil, um egresso surdo dessa escola, John J.
Flournoy, postulou ao Congresso a criação, no Oeste americano, de um Estado para os
surdos, onde poderiam ser cidadãos sem as restrições do mundo ouvinte e onde a
comunicação e o ensino se dariam pela língua de sinais. (GANNON et alii, 1981).
Dois anos depois, criou-se nova escola, a Columbia Institution for the
Instruction of the Deaf and Dumb, em Washington, dirigida por um dos filhos de T.H.
Gallaudet, Edward M. Gallaudet. Em 1864, a escola foi autorizada a conferir graus
acadêmicos. Em 1880, uma disputa política teve lugar em um congresso sobre a
educação de surdos que reuniu especialistas de diferentes países em Milão, Itália.
Dentre eles, E.M. Gallaudet, da Columbia, defendendo o uso dos sinais, e o cientista
Alexander Graham Bell, defendendo o método oral, que venceria a disputa. O
Congresso conclamou países e instituições à abolição dos sinais na educação de surdos
341
(KINSEY, 1880). No mesmo ano, os surdos norte-americanos fundaram a National
Association of the Deaf (NAD), de defesa de direitos.
Graham Bell, adepto do eugenismo, apresentou em 1883, à National Academy of
Sciences, um relato de pesquisa intitulado Memoir upon the formation of a deaf variety
of the human race, em que advertia contra a formação de casais surdos, considerada
capaz de gerar uma nova variedade humana nos Estados Unidos e no mundo. Para
impedir a aproximação de pessoas surdas, ele defendia, no texto, o fechamento das
escolas de surdos e a proibição do uso de sinais. (BELL, 1883). Em 1884, o cientista
postulou medidas similares ao Congresso estadunidense (NYT, 1884). Em 1890,
tornou-se o primeiro presidente da American Institution to Promote the Teaching of
Speech to the Deaf, criada em 1887.
Nesse ano, na Columbia, o jovem surdo George W. Veditz, graduado em
Educação, concluiu o Mestrado. Em 1904, ele tornou-se presidente da NAD, e nela, em
1913, realizou o filme Preservation of the Sign Language, possivelmente o primeiro
filme-manifesto de uma minoria linguística por sua própria língua e em sua própria
língua1.
Em 1955, no Gallaudet College (denominação da Columbia Institution a partir
de 1954), ingressou um jovem professor de língua inglesa e literatura, William J.
Stokoe, Jr. Interessado no uso de sinais que observara entre os alunos, Stokoe resolveu
empreender uma pesquisa, publicando os resultados em um periódico antropológico, em
1960. Assim, pela primeira vez, a expressão língua de sinais adentrava o âmbito da
Linguística, uma vez que, com base em estudo metódico, era declarado o estatuto de
língua ao sistema criado e utilizado pelas comunidades surdas. Aqui, a abertura e a
conclusão desse texto:
The primary purpose of this paper is to bring within the purview of
linguistics a virtually unknown language, the sign language of the
American deaf. (STOKOE, Jr: 1960, p. 3)
(…) the work so far accomplished seems to us to substantiate the
claim that the communicative activity of persons using this language
is truly linguistic and susceptible of micro-linguistic analysis of the
most rigorous kind. (STOKOE, Jr: 1960, p. 33)
1 Com respeito a Veditz, há informações disponíveis em: https://www.gallaudet.edu/about/history-and-
traditions/george-veditz . O filme Preservation of the Sign Language, com legendas em inglês, está
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XS2c07HCdyo . Acesso em 3 de setembro de 2017.
342
Uma década depois do artigo de Stokoe, o Gallaudet College se tornava o centro
irradiador de um novo campo do conhecimento, os chamados Deaf Studies (Estudos
Surdos), que desde 1971 vêm se disseminando no meio acadêmico, com uma
perspectiva pós-colonialista e de desconstrução (BAUMAN, 2008). Os Estudos Surdos
têm formulado novos conceitos para elaborar criticamente a condição surda no seio de
uma sociedade que – em apropriação, pelo campo, de um termo cunhado pelo filósofo
francês Jacques Derrida (1997) – seria regida pelo fonocentrismo (DERRIDA, 1997).
São conceitos compreendidos na ―cultura surda‖ (―deaf culture‖) – o conjunto de
crenças, valores e práticas partilhados pelas pessoas surdas em seus próprios termos.
Alguns termos cunhados para definir aspectos da experiência surda são: ―ouvintismo‖
(―audism‖) – a noção de que se é superior com base em sua capacidade de ouvir ou se
comportar como alguém que ouve (HUMPHRIES, 1977); ―comunidade surda‖ (―deaf
community‖) – os indivíduos surdos e com deficiência auditiva que partilham uma
língua comum, assim como experiências e valores comuns, compreendendo também o
modo comum pelo qual interagem entre si e com ouvintes (PADDEN; BAKER, 1978);
―etnicidade surda‖ (―deaf ethnicity‖) e ―surdidade‖ (―deafhood‖) – o processo de luta
por parte da criança surda, da família surda ou do adulto surdo de explicar a si mesmo e
aos outros seu lugar no mundo (LADD, 2003; LADD & LANE, 2013) e, finalmente,
―mundo surdo‖ (―deaf world‖) – a cultura partilhada pela minoria linguística cuja língua
é a língua de sinais (LANE et alii, 2011).
Os trabalhos de Stokoe entre as décadas de 1960 e 1980 – incluindo a criação do
Dictionary of American Sign Language (1965), fruto da colaboração com dois colegas
professores surdos de Gallaudet, Dorothy Casterline e Carl Croneberg – seriam de
grande importância para o surgimento e desenvolvimento dos Estudos Surdos, assim
como seu pioneirismo na criação, em Gallaudet, nos anos 1970, de um Laboratório de
Pesquisa Linguística e do periódico acadêmico Sign Language Studies (BAKER &
BATTISON, 1980). Stokoe lecionou em Gallaudet até se aposentar, em 1984. Dois anos
depois, a instituição tornou-se Universidade. Em 1988, estudantes surdos ali se
rebelaram por uma semana, demandando – e conquistando – a deposição da Reitora
escolhida, ouvinte, e sua substituição por um Reitor surdo, no movimento Reitor Surdo
Já! (Deaf President Now!).
Assim, nos anos 80 do século XX, cem anos depois do banimento de Milão e da
prevalência de métodos oralistas na maioria dos países, as línguas de sinais começavam
a voltar à cena na educação de surdos, nos Estados Unidos e no restante do mundo.
343
2. LEGISLAÇÃO EXISTENTE E IMPLICAÇÕES DA CDPD PARA A ASL
Os direitos humanos linguísticos (SKUTNABB-KANGAS, 2000) são
usualmente invocados para se tratar de comunidades linguísticas minoritárias
(MURRAY, 2015). No entanto, escolhemos abordar a condição das comunidades surdas
a partir do conceito de minorização, criado pelo linguista catalão Lluís Aracil (1983).
Em conferência, o linguista Guillem Calaforra (2003) o retomou, para postular que uma
comunidade linguística é minorizada quando se apresentam, entre outras, as seguintes
características:
1. Normas de uso social restrictivas en relación a la lengua propia
—es decir, que dicha lengua no puede usarse en determinados ámbitos
de uso—, frente a las normas de uso expansivas características de la
lengua dominante.
2. Bilinguización unilateral de los miembros de dicha comunidad,
esto es: los hablantes de la lengua minorizada tienen en su repertorio
la lengua propia y la dominante, mientras que los hablantes de esta
última tienden a ser monolingües.
3. Como consecuencia de la situación anterior, la comunidad
lingüística minorizada se convierte en un subconjunto de la
dominante. Los miembros
de la comunidad minorizada tienden a presentarse como parte de la
comunidad dominante, y así son percibidos por el resto del mundo.
Julgamos que a comunidade surda, historicamente, tem sido minorizada em
termos de imposição, em todo o mundo, das línguas nacionais na modalidade oral; de
restrição do uso e das condições de transmissão das línguas de sinais, uma vez que 95%
das crianças surdas congênitas nascem de casais ouvintes, sem que haja, na maioria dos
países, políticas linguísticas familiares concernentes (HAUALAND & ALLEN, 2009);
usual bilinguismo de surdos e monolinguismo de ouvintes.
Nos Estados Unidos, a principal legislação vigente com respeito às pessoas
surdas é a Lei das Pessoas com Deficiência (Americans with Disabilities Act),
promulgada pelo Congresso em 1990 e emendada em 2008, com vigência a partir de
20092. O documento anuncia medidas que visam ―eliminar a discriminação contra
indivíduos com deficiências‖. Não obstante, no texto vigente somente se lê a palavra
―Deaf‖ (surdo) uma vez, mas para caracterizar um equipamento, o Telecommunications
2 Textos original e emendado da ―Lei das Pessoas com Deficiência‖ dos Estados Unidos disponíveis,
respectivamente, em: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-Pg327.pdf e
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-110s3406enr/pdf/BILLS-110s3406enr.pdf Acesso em 3 de
setembro de 2017.
344
Device for the Deaf (TDD), espécie de aparelho telefônico com teclado acoplado, para
digitação de mensagens por usuários surdos.
A surdez e a pessoa surda são subsumidas nas categorias ―hearing impairment‖
(deficiência auditiva) e ―hearing-impaired‖ (deficiente auditivo) e o único trecho em
que podemos entrever a condição do surdo que usa língua de sinais aparece na Seção 3,
que traz as definições do dispositivo, particularmente quanto a ―auxiliary aids and
services‖ (―recursos auxiliares e serviços‖), que incluem: ―qualified interpreters or other
effective methods of making aurally delivered materials available to individuals with
hearing impairments‖ (―intérpretes qualificados ou outros métodos efetivos para tornar
materiais apresentados de modo aural disponíveis para indivíduos com deficiências
auditivas‖).
O advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(CDPD), aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas realizada em 30/03/2007,
em Nova York, EUA, faria com que, pela primeira vez na história, as comunidades
linguísticas surdas, virtualmente presentes em todo o mundo, com mais de 136 línguas
de sinais nativas documentadas (LEWIS, 2016), passassem a ter um balizamento no
Sistema Internacional de Direitos Humanos para seus direitos linguísticos. Vigente
desde 2008, até abril de 2017 o documento contava com 160 Estados signatários e 173
Estados-Partes (172 Estados mais a União Europeia), dos 193 Estados que integram a
ONU.
Pelas razões apresentadas a seguir, a CDPD – de cuja elaboração tomou parte a
World Deaf Federation, à qual a NAD é filiada – pode ser tomada como balizamento
para a análise que se propõe. Os Estados Unidos firmaram o instrumento em 2009 e a
matéria encontra-se em tramitação no Congresso daquele país – no ano de 2012, quando
foi apresentada a demanda surda em tela, o texto da CDPD esteve a apenas seis votos de
ser referendado.
1. Asserção na diretriz de promoção dos direitos linguísticos das pessoas surdas:
a. a facilitação do aprendizado da língua de sinais e a promoção da
identidade linguística da comunidade surda;
b. a garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças
cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e
meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes
que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social;
c. aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais;
d. reconhecer e promover o uso de línguas de sinais;
345
e. [garantir que] as pessoas com deficiência farão jus, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, a que sua identidade cultural
e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as
línguas de sinais e a cultura surda. (BRASIL, 2009)
2. Efeito vinculante no plano internacional, podendo impulsionar políticas públicas;
3. Ênfase à participação de pessoas com deficiência ―na vida política e pública‖:
a. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para
aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de
decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados Partes
realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com
deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas
organizações representativas;
b. Os Estados-Partes garantirão às pessoas com deficiência
direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condições de
igualdade com as demais pessoas, e deverão:
1. Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar
efetiva e plenamente na vida política e pública, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, diretamente ou por
meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o
direito e a oportunidade de votarem e serem votadas (...)
2. Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com
deficiência possam participar efetiva e plenamente na condução
das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, e encorajar sua
participação nas questões públicas (...) (BRASIL, 2009).
Nos Estados Unidos, a Língua de Sinais Americana (ASL) não tem
reconhecimento jurídico nacional tampouco políticas nacionais de fomento. No site do
National Council of State Supervisors for Languages (NCSSFL), um questionário
aplicado a 33 estados mostra que todos reconhecem a língua de sinais como ―world
language‖ (―língua mundial‖), mas somente 24 deles incluem a Língua Americana de
Sinais entre os requisitos de certificação para professores3. Nacionalmente, a ASL é
bastante disseminada, sendo considerada em algumas estimativas (LANE et alii, 1996) a
sexta língua mais usada no país. Internacionalmente, é a língua principal de
comunidades surdas em países da África, das Américas e da Ásia, e língua franca das
pessoas surdas em todo o mundo (LEWIS, 2016).
No meio acadêmico estadunidense, ela tem conquistado espaço como disciplina,
na categoria ―foreign language‖ (―língua estrangeira‖), o que é defendido pelo
pesquisador ligado à causa surda Sherman Wilcox: “ASL is, in every sense of the
word,a foreign language. ASL students are also encouraged to view the world through
3 Disponível em: http://ncssfl.org/view-state-report/ Acesso em 4 de setembro de 2017.
346
the eyes of a different culture”. (―A ASL é, em todo sentido da palavra, uma língua
estrangeira. Os estudantes de ASL também são encorajados a ver o mundo através dos
olhos de uma cultura diferente‖ (WILCOX et alii, 1991). Em levantamento informal
atualizado em março de 20174, o linguista Sherman Wilcox, da University of New
Mexico, traz a informação de que, nos EUA, 191 instituições de ensino superior aceitam
a ASL como língua estrangeira para cumprimento de requisitos curriculares por alunos
de graduação.
3. A DEMANDA SURDA NA PLATAFORMA WE THE PEOPLE
Barack Obama foi eleito em 2008 o 44º presidente dos Estados Unidos,
exercendo dois mandatos e sendo o primeiro afrodescendente a presidir a nação. Em seu
discurso inaugural5, pronunciado no momento de sua posse, em 20 de janeiro de 2009,
ele repetiu as palavras ―We, the people‖ (―Nós, o povo‖), que abrem a Constituição do
país, cinco vezes, a propósito dos ideais de igualdade econômica, proteção social,
construção do futuro, paz e não discriminação. Conjugado a esse uso, destaca-se o
emprego, por duas vezes, ao final do pronunciamento, de uma expressão que julgamos
estar associada à primeira: ―You and I, as citizens‖ (―Vocês e eu, como cidadãos‖), que
sustenta a ideia de governo e povo poderem se tornar um só poder, pelo exercício da
cidadania:
You and I, as citizens, have the power to set this country's course.
You and I, as citizens, have the obligation to shape the debates of our
time – not only with the votes we cast, but with the voices we lift in
defense of our most ancient values and enduring ideals.
(Vocês e eu, como cidadãos, temos o poder de determinar o rumo
deste país.
Vocês e eu, como cidadãos, temos a obrigação de moldar os debates
do nosso tempo – não apenas com os votos que lançamos, mas com as
vozes que levantamos em defesa de nossos mais antigos valores e
ideais duradouros).
Em setembro de 2011, o governo Obama lançou a We the People, plataforma
digital que passava a integrar o sítio eletrônico da Casa Branca, com o propósito de
possibilitar aos cidadãos o peticionamento direto ao Estado, ficando as respostas ao
4 Disponível em: http://www.unm.edu/~wilcox/UNM/univlist.html Acesso em 4 de setembro de 2017.
5 Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2013/jan/21/barack-obama-2013-inaugural-address
Acesso em 4 de setembro de 2017.
347
encargo de especialistas em políticas públicas (―policy analysts‖). Para ser apreciada,
uma petição deveria ter, no lançamento da proposta, 5.000 assinaturas. Em seguida,
ainda em 2011, esse requisito subiu para 25.000 assinaturas, passando em definitivo, a
partir do início de 2013, a 100.000 assinaturas. Com a eleição de Donald Trump para a
Presidência dos Estados Unidos, em novembro de 2016, as coisas mudaram: Trump
mandou arquivar as petições em andamento, o que as fez desaparecer do sistema. Em 19
de dezembro de 2017, sua administração informou à agência de notícias Associated
Press o fechamento da plataforma e a criação de uma nova, que supostamente
economizaria 1 milhão de dólares anuais aos contribuintes.
A participação surda na plataforma We the People deu-se quando, em novembro
de 2012, Emily Signinghands (nome ficício) ali registrou uma petição. Em entrevista6
concedida à jornalista Gail Rosenblum, do jornal Star Tribune, de Minneapolis, estado
de Minnesota, Emily – que, quando criança, foi submetida por seus pais ouvintes a
tentativas de oralização e era desestimulada a usar sinais – conta como aos poucos se
integrou à comunidade surda e de como foi levada à iniciativa: ―This isn‘t about me―
(―Não é uma questão pessoa minha‖), disse ela. ―I just happened to hit on something the
community needs‖ (―Eu apenas topei com algo de que a comunidade precisa‖). De fato,
Emily, ao registrar a petição, tinha que obter 25.000 mil assinaturas em um mês, e, no
final do prazo, alcançara mais de 37.000 mil em todo o País.
A seguir, analisaremos a petição e a resposta da Casa Branca, de 2013:
6 Disponível em: http://www.startribune.com/rosenblum-sign-language-supporter-awaits-white-house-
response/187821791/ Acesso em 4 de setembro de 2017.
The Obama Administration to officially recognize American Sign Language as a community
language and a language of instruction in schools.
For more than a hundred years, American Sign Language (ASL) has been persecuted as a "lesser"
language. It is a homegrown and complete language that has survived efforts to wipe it out.
Yet today, ASL is still considered "foreign" and not given the respect and protection it needs.
Many states have passed laws allowing credit for ASL classes as a foreign language but they have
stopped short of recognizing its benefits as a language of instruction in schools, despite studies proving its
benefits for students.
Official federal recognition will finally give ASL the "welcome home" it needs.
À Administração Obama para reconhecer oficialmente a Língua de Sinais Americana como uma
língua de comunidade e uma língua de instrução em escolas.
Por mais de cem anos, a Língua de Sinais Americana (ASL) tem sido perseguida como uma
língua ―menor‖. Trata-se de uma língua nativa e completa que sobreviveu a esforços para destruí-la.
Ainda hoje, ASL é considerada ―estrangeira‖ e não lhe é dado o respeito e a proteção de que
necessita. Muitos estados aprovaram leis permitindo a obtenção de créditos por aulas de ASL como uma
língua estrangeira, mas deixaram de reconhecer seus benefícios como uma língua de instrução em escolas,
apesar de estudos provarem seus benefícios para estudantes.
O reconhecimento oficial federal finalmente dará à ASL o ―bem-vinda a casa‖ de que ela precisa.
348
O primeiro dado a chamar a atenção é o fato de que Emily não usa a palavra
surda (ou surdo) para se apresentar ou para indicar potenciais beneficiários da medida.
O efeito de sentido é este: não se trata da postulação de uma minoria para si mesma,
mas da postulação de uma cidadã como nós em favor de uma língua nativa e importante
para nosso país. Com isso, potencialmente, amplia-se o interesse acerca da petição e o
número de signatários.
O segundo dado diz respeito ao confronto de duas perspectivas, visando fundamentar o
posicionamento dos potenciais signatários:
PRÓ-ASL ANTI-ASL
origem nobre (nativa);
integridade (completa);
nacionalidade (americana);
dignidade (respeito e proteção);
qualidade (traz benefícios);
perspectiva de reciprocidade
(reconhecimento);
respaldo (estudos)
mesquinhez (fazer da ASL uma língua
menor, estrangeira);
deslealdade (perseguição);
risco à vida (destruição);
individualismo (obtenção de créditos em
disciplinas);
irresponsabilidade (não adotar medida
comprovadamente boa)
O terceiro dado é metafórico: a ASL é nossa, nasceu conosco, é de nossa pátria comum,
existe para o bem comum. Diminuída, perseguida, banida à condição de estrangeira, a ASL é
figurativamente uma filha expulsa de casa como ilegítima, a quem se deveria dar respeito,
proteção, e a quem se deve agora reconhecer – com o selo oficial da legitimidade – e receber de
volta em casa, com boas-vindas.
Response of The White House
There Shouldn’t Be Any Stigma About American Sign Language
Thank you for your petition regarding promoting American Sign Language (ASL). ASL is
vital for many individuals who are deaf or hard of hearing. We agree that is an important aspect of
American culture and that it facilitates communication among our citizens.
We reinforce its importance in numerous federal laws, regulations, and policies. For
example, the Americans with Disabilities Act and the Rehabilitation Act prohibit discrimination
against individuals with disabilities, including those who are deaf or hard of hearing. These
statutes require businesses and other organizations to provide auxiliary aids and services,
including language services, when those aids and services are necessary to ensure effective
349
Resposta da Casa Branca
Não deveria haver qualquer estigma acerca da Língua de Sinais Americana
Agradecemos por sua petição concernente à promoção da Língua Americana de Sinais
(ASL). A ASL é vital para muitos indivíduos que são surdos ou deficientes auditivos.
Concordamos que é um importante aspecto da cultura americana e que facilita a comunicação
entre nossos cidadãos.
Reforçamos sua importância em numerosas leis, regulamentações e políticas. Por
exemplo, A Lei dos Americanos com Deficiências e a Lei de Reabilitação proíbem
discriminação contra indivíduos com deficiências, incluindo aqueles que são surdos ou
350
A resposta do governo dos Estados Unidos, diferentemente da petição surda,
escolhe nomear os sujeitos aos quais se dirige sua argumentação ao tratar da ASL:
surdos e deficientes auditivos. Mas, ao fazê-lo, apaga a comunidade linguística surda de
diferentes maneiras.
351
Primeiro: as pessoas surdas, em lugar de um coletivo com uma identidade
linguística e cultural, são subsumidas num ―aglomerado‖ heterogêneo, junto com
cidadãos que não têm necessariamente vínculo com a cultura surda.
Segundo: ao lidar com tal ―grupo‖, a fala da Casa Branca não se dirige a um
coletivo – como poderia ser o caso, por exemplo, de um coletivo heterogêneo como ―os
profissionais da educação‖ –, mas a ―muitos indivíduos‖, o que compromete em
definitivo o estatuto político da interlocução, colocado no campo do interesse
fragmentado, particular.
Terceiro: situar a ASL como ―aspecto da cultura americana‖ que ―facilita a
comunicação entre nossos cidadãos‖ (grifo nosso), destitui o lugar de fala das pessoas
surdas por sua singularidade cultural e linguística e sugere ser a ASL mero traço da
nacionalidade.
Quarto: novamente se tem uma subsunção dos potenciais interlocutores políticos
num aglomerado heterogêneo – os 54 milhões de americanos que vivem com alguma
deficiência.
A sequência do argumento governamental desfila leis, regulamentos, políticas e
outros dispositivos existentes que não respondem a uma demanda expressa da petição:
reconhecimento linguístico e políticas educacionais. Isso implicaria perceber a
singularidade de uma língua vinculada a uma cultura própria que busca afirmar-se no
seio da sociedade. O governo, ao contrário disso, apenas se empenha em afirmar que
está amparado em dispositivos legais adequados e é capaz de adotar medidas e investir
adequadamente para lidar com indivíduos com necessidades particulares de recursos
auxiliares, apoios, serviços suplementares, profissionais especializados, educação
especial, vinculados a uma deficiência. E não se dispõe a fazer acontecer, mas a dizer
que a lei não proíbe.
Em suma, a perspectiva da petição é da universalidade e reciprocidade das
diferenças no seio da política, da cidadania, enquanto a da Casa Branca é da focalização
e da medida compensatória do que falta a indivíduos que se equivalem por não existir
politicamente.
4. CONCLUSÃO
352
A discussão dos antecedentes histórico-políticos do pleito em tela e das
implicações jurídico-legais do tema deixa claro que se apresenta uma situação regida
por uma estrutura de desentendimento:
a discussão de um argumento remete ao litígio acerca do objeto da
discussão e da própria condição daqueles que o constituem como
objeto‖. (RANCIÈRE, 1996: p. 13)
As perspectivas sobre a ASL e sobre os sujeitos que se apresentam na esfera
pública para discuti-la são diferentes, conflitivas, porque existe conflito intrínseco na
relação do estado americano não só com a diferença linguística, mas com a ideia de
esfera pública.
Segundo Rancière (2014, p. 75), é preciso ―reafirmar o pertencimento dessa
esfera pública incessantemente privatizada a todos e a qualquer um‖, algo que a petição
em tela intenta a Casa Branca recusa, como restou demonstrado. Mais do que isso, em
sua resposta pretensamente política, a Casa Branca subscreve a privatização da esfera
pública, ao tratar um pleito político como condizente com medidas focalizadas de
atendimento a necessidades fragmentadas de indivíduos definidos por algo que lhes
falta.
A análise empreendida sugere a necessidade de aprofundarmos a compreensão
dos processos políticos de luta por reconhecimento e políticas linguísticas pelas
comunidades minorizadas em todo o mundo, sublinhando-se a relevância de se
dimensionar o grau em que se está efetivamente lidando com a língua como questão
política e de cidadania.
Em 1922, o autor norte-americano Walter Lippmann, recordado por Zigmunt
Bauman, ironizava a ideia de participação popular na política, cunhando a famosa frase
segundo a qual:
o cidadão privado passou hoje a sentir-se como um espectador surdo
na última fila: ele é obrigado a concentrar-se no mistério que está se
passando, mas não consegue ficar acordado. (BAUMAN; MAURO,
2016)
A petição surda aponta um caminho para cidadania das minorias linguísticas:
sair do lugar designado, na plateia, e subir ao palco, para a onde se dá a ação.
REFERÊNCIAS
353
ARACIL, L. V. (1983) ―Sobre la situació minoritària‖. In: Dir la realitat. Barcelona:
Edicions dels Països Catalans, págs. 171-206.
ARNOUX, E. de N. La perspectiva glotopolítica en el estudio de los instrumentos
lingüísticos: aspectos teóricos y metodológicos. Matraga, Rio de Janeiro, v.23, n.38, p.
18-42, jan/jun. 2016.
BAKER, C.; BATTISON, R. Sign language and the Deaf community: essays in honor
of William Stokoe. Silver Spring: Md, National Association of the Deaf, 1980.
BAUMAN, H-DIRKSEN L. Open your eyes: deaf studies talking. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2008.
BAUMAN, Z.; MAURO, E. Babel: entre a incerteza e a esperança. Tradução: Renato
Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.
BELL, A. G. Memoir upon the formation of a deaf variety of the human race. New
Haven, National Academy of Sciences, 1883.
CALAFORRA, G. Lengua y poder en las situaciones de minorización lingüística. In:
Europa Como Espacio Cultural: Entre Integración y Derecho a la Diferencia, 2003,
Colònia, Germania. Anais eletrônicos. Colònia, Universidad de Colònia, 1996.
Ponència. Disponível em: <http://www.uv.es/~calaforr/CursColonia.pdf> Acesso em:
24 jul. 2017.
CALVET, L-J. As políticas linguísticas. Tradução: Isabel de Oliveira Duarte, Jonas
Tenfen e Marcos Bagno. Prefácio: Gilvan Müller de Oliveira. São Paulo: Parábola
Editorial: IPOL, 2007.
DERRIDA, J. Of grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak.
Baltimore: John Hopkins University Press, 1997 (1967).
EDWARDS, J. "Language, Prestige, and Stigma," in Contact Linguistics. Ed. Hans
Goebel. New York: de Gruyter, 1996.
GANNON, J.; BUTLER, J.; GILBERT, L-J. (1981). Deaf heritage: A narrative history
of Deaf Americans. National Association of the Deaf. p. 73.
GOLDIN-MEADOW, S. ―When does gesture becomes language? A study of gesture
used as a primary communication system by deaf children of hearing parents‖. In:
GIBSON, K.R; INGOLD, T. Tools, language and cognition in human evolution.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993. (pp. 63-85)
GUESPIN, L.; MARCELLESI, J-B. 1986. Pour la glottopolitique. In: Langages, 21ᵉ
année, n°83, 1986. Glottopolitique, sous la direction de Jean-Baptiste Marcellesi. p. 5-
34.
354
HAUALAND, H.; ALLEN, C. (editors) Deaf people and human rights – report for the
World Federation of the Deaf and for the Swedish National Association of the Deaf.
Helsinki: WFD, 2009.
HUMPHRIES, T. Communicating across cultures (deaf-hearing) and language
learning. Doctoral dissertation. Cincinnati, OH: Union Institute and University,1977,
p.12
KINSEY, A. A. Report of the proceedings of the International Congress on the
Education of the Deaf, held at Milan, September 6th
-11th
, 1880. London, Allen & Co,
1880.
LADD, P. Deaf culture: in search of deafhood. Clevedon, U.K. Multilingual Matters,
2003.
LADD, P.; LANE, H. Deaf ethnicity, deafhood, and their relationship. Washington,
Sign Language Studies, Vol 13, no. 4. Summer 2013.
LANE, H.; BAHAN, B.; HOFFMEISTER, R. A journey into the deaf world. San
Diego: DawnSignPress, 1996.
KLIMA, E. & BELLUGI, U. The signs of language. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1979.
LEWIS, M. P., G. F. SIMONS, and C. D. FENNIG (eds.). 2016. Ethnologue:
Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.
NEW YORK TIMES. A deaf-mute community: Professor Bell suggests legislation
by Congress. New York, NYT, December 31, 1884.
PADDEN, C. (1980). The Deaf Community and the Culture of Deaf People. In Sign
language and the deaf community: Essays in Honor of William C. Stokoe, ed. C.
Baker & R. Battison, 89-103. National Association of the Deaf.
PADDEN, C.; BAKER, C. American Sign Language: a look at its history, structure
and community. T.J. Publishers, 1979.
RANCIÈRE, J. O desentendimento: política e filosofía. Tradução de Ângela Leite
Lopes. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
_________________. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.
STOKOE, Jr., W. Sign language structure: an outline of the visual communication
systems of the American deaf. Journal of Deaf Studies and Deaf Education vol. 10 no. 1
- Oxford University Press 2005. [Originally published as Studies in Linguistics,
Occasional Papers 8 (1960), by the Department of Anthropology and Linguistics,
University of Buffalo, Buffalo 14, New York. Reprinted by permission of the
Departments of Linguistics and Anthropology, University of Buffalo].
355
UN - UNITED NATIONS ORGANIZATION. Convention on the Rights of People
with Disabilities 2007. In: <
www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf > Acesso em 24 de
outubro de 2016.
US GOVERNMENT. We the People. In: < https://petitions.whitehouse.gov/ > Acesso
em 24 de outubro de 2016.
WILCOX, S. & WILCOX, P. Learning to see: American sign language as a second
language. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES NA MACRO E
MICROESTRUTURA DE DICIONÁRIOS DE LIBRAS
Érika Lourrane Leôncio Lima (UFPI)
Resumo
O objetivo deste trabalho é investigar as continuidades e descontinuidades na macro e
microestrutura do Dicionário Ilustrado de Libras da Brandão (2011), o Dicionário
Enciclopédico Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais - Novo Deit-Libras (2012) e o
Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a Libras em suas mãos (2017). As discussões e
análises fundamentaram-se, principalmente, em Haensch (1982), Biderman (1994) e Welker
(2004). Os dicionários analisados foram publicados nos últimos dez anos, são bilíngues e/ou
trilíngues (as informações da terceira língua não foram consideradas nas análises),
semasiológicos e gerais. Neste estudo, verificamos que as informações mais recorrentes, entre
as obras, foram a ilustração da definição, a ilustração do sinal e a descrição da execução do
mesmo. O registro fotográfico do sinal em frações de tempo foi o recurso menos valorizado e
empregado em apenas uma das três obras analisadas.
Palavras-chave: Lexicografia; Macroestrutura; Microestrutura; Dicionários de Libras.
Abstract
The aim of this paper is to investigate the continuities and descontinuities in macro and micro
structure of the Dicionário Ilustrado de Libras da Brandão (2011), the Dicionário
Enciclopédico Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais - Novo Deit-Libras (2012), and the
Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a Libras em suas mãos (2017). The discutions and
analyzes were based, mainly, in Haensch (1982), Biderman (1994) and Welker (2004). The
analyzed dictionaries were published in the last ten years, are bilingual and/or trilingual (the
informations from the third language were not considered in the analyzes), semasiological, and
general. In this study, we found that the most recurrent informations, among the works, were the
ilustration of the definition, the ilustration of the signal and the description of the execution of
the signal. The photographic recording of the signal in fractions of time was the less valued
resource, and it was employed in just one of the three analyzed works.
Key-words: Lexicography; Macro Structure; Micro Structure; Dictionary of Libras.
INTRODUÇÃO
356
Apesar do Icnographia dos Signaes dos Surdos-Mudos de Flausino Gama
(2010 [1875]) ser a primeira produção lexicográfica da Libras, publicada no Brasil no
ano de 1875, a Lexicografia da língua de sinais brasileira ainda é recente e começa a dar
os seus primeiros passos enquanto Ciência. Ao todo são quase vinte décadas de
produções genuinamente lexicográfica.
Considerando o tempo de produções e que atualmente dispomos de três
dicionários gerais de Libras, buscamos investigar quais elementos permanecem e quais
foram incorporados à macro e microestrutura do Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilíngue de Língua Brasileira de Sinais (Novo Deit-Libras) publicado em 2012, do
Dicionário Ilustrado de Libras da Brandão de 2011, representado pelo acrônimo DIL, e
o recém-publicado em 2017, o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a Libras em
suas mãos (DLSB).
Ao analisar dicionários, o metalexicógrafo precisa lembrar que a macro e
microestrutura de um dicionário revelam muito sobre a comunidade linguística para a
qual foi produzido como também sobre o próprio lexicógrafo. Estas estruturas refletem
escolhas que atendarão ou não, em alguma medida, as necessidades do consulente.
Na seção 2 iremos conceituar e caracterizar a macro e microestrutura do
dicionário. Na seção 3 trazemos um breve resgate histórico das obras de cunho
lexicográfico da Libras junto as suas características mais gerais. Ao final, nas discuções,
na seção 4, analisaremos as duas principais unidades (macro e microestrutura)
constitutivas do corpus da pesquisa, destacando o que mudou e o que permanece até os
dias atuais.
O estudo não irá considerar os equivalentes em inglês do Novo Deit-Libras e
do DLSB porque os autores se referem ao mesmo como um subdicionário Português-
Inglês (CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURÍCIO, 2012) e o nosso interesse recai,
apenas, sobre o dicionário bilíngue Português-Libras ou vice-versa.
1 A macro e microestrutura de dicionários de língua
Os dicionários são produtos da atividade lexicográfica que possuem em sua
organização interna duas estruturas essenciais que o constituem, a macro e
microestrutura. Cunhadas por Rey-Debove (1984), a primeira corresponde ao corpo
vocabular da obra e se organiza verticalmente, contendo os verbetes arrolados seja em
ordem alfabética (semasiológico) e outros, ou por campo semântico (onomasiológico).
357
Haensch (1982), ao contrário de autores como, Rey-Debove (1984), Biderman (1994),
Borba e Miranda (2012), e Welker (2004), defende que a macroestrutura não é
simplesmente constituída por um conjunto de entradas lidas verticalmente, mas
corresponde a estrutura geral do dicionário compreendida não só pela nomenclatura,
mas também pela parte introdutória, metodológica, prefácio, lista de abreviações,
anexos e outras informações inseridas ao final do material.
Alguns autores divergem dessa denominação de Haensch (1982). Hartmann e
James (1998), Zavaglia (2012), por exemplo, consideram que o termo mais adequado,
atualmente utilizado para denominar todo o conteúdo do dicionário, incluindo todos os
elementos externos à nomenclatura, é megaestrutura.
Zavaglia (2012), quando se refere à atividade metodológica de compor
dicionários, avisa que, ao elaborar a macroestrutura de uma obra lexicográfica, devem
ser consideras algumas questões, como: ―(i) o arranjo das entradas, (ii) a extensão da
nomenclatura, (iii) a origem da nomenclatura e (iv) a seleção dos lemas‖ (ZAVAGLIA,
2012, p. 243).
Miranda (2003) apresenta como parâmetro metodológico para dicionários
semasiológicos duas dimensões complementares: a macroestrutura quantitativa e a
qualitativa. A primeira diz respeito à densidade macroestrutural, ou seja, o número de
verbetes que um dicionário possui e que irão definir a tipologia da obra; a segunda
corresponde a critérios para não arrolar unidades lexicais quaisquer. Existem muitos
problemas em torno desses tipos de critérios, por isso, pelo pouco espaço deste artigo,
não iremos adentrar nestas discussões.
Ao definir microestrutura, Haensch (1982) diz que esse elemento corresponde à
organização interna dos verbetes. No verbete tudo gira em torno do item lexical na
forma canônica. Essa parte do dicionário é a unidade autônoma e mínima da obra já
que, em seu interior, contém informações particulares e restritas a um único lema. Tais
informações encontram-se ordenadas após a entrada, conforme esclarece de Rey-
Debove (1984).
As principais decisões a serem tomadas para a estruturação da microestrutura
dizem respeito aos tipos de palavras, extensão da nomenclatura e informações sobre a
unidade lexical. Ao avaliar esse tipo de informação em um dicionário, o pesquisador
deve extrair, inicialmente, de que tipo lexicográfico trata-se a obra e quem é o seu
público-alvo.
358
Haensch (1982), Vigner (1983), Alvar Ezquerra (1988), Biderman (1994),
estabeleceram diferentes critérios para classificação de obras lexicográficas, por isso
convém ao leitor, profundar o assunto e conhecer as diferentes características para cada
tipo e modalidade de dicionário. A função do dicionário varia em função do consulente,
objetivos linguísticos e sociais. A definição, por exemplo, dependendo da obra, será a
informação central do verbete. Ela é muito valorizada em dicionários monolíngues e
semibilíngues, em contrapartida, não é tão comum encontrá-la em glossários ou em
alguns dicionários multilíngues.
Além da definição, outras informações podem ser acrescidas a microestrutura
como:
[...] a etimologia, a pronúncia e a ortografia, a categoria gramatical e o
número, as restrições de uso [...], os sinônimos e antônimos, as combinações
lexicais em que aparece, os aspectos sintáticos relevantes [...] as
irregularidades morfológicas [...], e, por suposto, as definições das diversas
acepções, com seus exemplos de uso (ESCRIBANO, 2003, p. 105. Tradução
nossa).
A estas informações, Zavaglia (2012) acrescenta a acentuação, expressões
idiomáticas, provérbios, parônimos, informações semânticas sobre metáfora,
informações sobre remissivas e, a depender do dicionário, inclui, também, ilustração,
gráficos e símbolos.
Quanto aos dicionários bilíngues, Haensch (1982) afirma que, na organização
desse tipo de obra, há, igualmente, informações que constam nos monolíngues como a
―a lematização, subdivisão de entradas, o tratamento da polissemia e da homonímia, as
indicações fonéticas, ortográficas, gramaticais, assim como as ocorrências de uso‖ (p.
516, tradução nossa). Nesse tipo de trabalho, esse autor considera que deve haver clara
atenção às indicações fonéticas na língua de partida, às indicações ortográficas tanto na
língua de origem como de destino e às indicações gramaticais da L2 do usuário.
Um recurso essencial para distinguir estes diversos tipos de informações são os
recursos ou marcações gráficas. Elas possuem um papel importante porque organizam o
conteúdo da microestrutura, projetando ao material uma leitura clara, fácil e funcional.
Escribano (2003) destaca que esses recursos podem vir representados por diferentes
fontes de letras combinadas com diferentes tamanhos, marcação do lema em negrito e
com letra em tamanho maior, ou em azul ou outra cor, a critério do lexicógrafo. O uso
de abreviaturas, signos ortográficos como vírgula, asteriscos, parênteses e colchetes são
também recursos de grande utilidade em obras lexicográficas.
359
Nos dicionários de Língua de Sinais, além das informações que
tradicionalmente aparecem nos orais, há o registro, por exemplo, do Sing Writing
(Escrita de Sinais), da Datilologia ou Soletração Digital, uma ou mais ilustrações para a
definição, além da representação pictórica ou fotográfica do sinal.
O que nos cabe informar no momento é que tanto em dicionários de línguas orais
como de sinais, a macro e a microestrutura são elementos indispensáveis que funcionam
como o corpo essencial da obra, logo, devem ser organizadas com rigor científico e
padronização.
2 Os dicionários de Libras no tempo
O dicionário presta às Línguas de Sinais–LS uma importante função: registrar o
léxico ao longo do tempo e não permitir que a mesma se perca, ou seja, apagada da
memória coletiva e história de uma comunidade linguística. Ele representa, nas palavras
de Lara (1992, p. 20 apud Biderman, 1997, p. 164), uma das ―mais importantes
instituições simbólicas‖ da sociedade.
Um breve resgate sobre as primeiras produções lexicográficas da Língua
Brasileira de Sinais no Brasil demonstra que tais obras não se tratavam de dicionários
de língua, mas de listas de sinais que tinha como principal objetivo descrever o sinal
para que os ouvintes pudessem aprender a se comunicar com os surdos.
As primeiras obras, geralmente, eram prescritivas, descritivas, organizadas por
campo semântico e em ordem alfabética, pictóricas, sem informações sobre a definição
e abonação dos lemas. No Brasil, a primeira obra que registrou os sinais da Libras com
fins educacionais e para a disseminação da língua entre a comunidade surda e escolar
foi o Icnographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, produzido e publicado por Flausino
da Gama em 1875 com apoio do INES, na gestão de Tobias Leite (GAMA, [1875]
2011).
Iconografia, etimologicamente vem do grego “eykon”, imagem, e “grafia”,
descrição escrita, ou seja, escrita da imagem. A representação do mundo por meio da
imagem está ligada, conforme Amaral (2018), ao ensino. Na Idade Média, a imagem era
utilizada para ensinar a história cristã aos pobres e iletrados. Esse tipo de produção
tratava-se de ―uma literatura laicorun, um tipo de substituto do texto escrito‖ (p.1).
O livro Icnographia dos Signaes dos Surdos-Mudos (Iconografia dos Sinais
dos Surdos-Mudos), além de imagens e símbolos contém a descrição verbal dos sinais,
360
sem nenhuma outra espécie de informação e nem mesmo definição. O conteúdo deste
livro é dividido em capítulos ordenados por campos semânticos com sinais enumerados
por estampas7. Cada estampa é formada pela icnografia do sinal, seguida, na página
imediatamente posterior, da descrição verbal do sinal.
O glossário, Linguagem das Mãos de Eugênio Oates (1969), foi a segunda obra
de referência. Esse material foi subdividido em quinze capítulos por classe gramatical e
campos semânticos. Nos dois primeiros capítulos, ele arrola verbos, substantivos,
adjetivos, além de outros e, nos demais capítulos, as cores, homem e família, animais e
outros, logo, o glossário é semasiológico na dimensão externa e onomasiológico na
dimensão interna.
Ou seja, os capítulos se estruturam por campo semântico e os verbetes por
ordenação alfabética. Cada mudança fonológica do sinal também recebe um sistema de
organização com números e letra(s) do alfabeto da LP (geralmente as letras A, B e C,
variando de acordo com o sinal-entrada). Comparado à primeira lista lexicográfica
(Iconografia dos sinais dos surdos-mudos), o glossário de Eugênio Oates já
representava um grande avanço às produções desta natureza e, inclusive, já era possível
equipará-lo a obras de outros países, principalmente as norte-americanas, de ondem
Oates sofreu maior influência.
Do período dos primeiros glossários para cá, a Lexicografia da LSB obteve um
salto significativo em suas produções. Tanto na metodologia, como nos formatos
(impresso ou digital), nas funções e tipos de informações. Meras listas, glosas ou
simples vocabulários cederam lugar a legítimos dicionários de língua com número e
grau de informações que variam de acordo com os dicionaristas.
São três as obras desse tipo aqui no Brasil: o Dicionário Ilustrado de Libras –
doravante DIL, de autoria de Flávia Brandão (2011), o Dicionário Enciclopédico
Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira de Sinais ou Novo Deit – Libras (2012) e o
Dicionário de Língua de Sinais do Brasil: a Libras em suas mãos – abreviado pela sigla
DLSB (2017). É sobre elas que iremos falar agora, apresentando os resultados
encontrados na pesquisa.
3 Continuidades e descontinuidades entre os dicionários
7Tipo de impressão de gravura produzida pela litografia (técnica de impressão de gravuras) (SOFIATO;
REILY, 2014).
361
O DIL, o Novo Deit-Libras e o DLSB possuem em comum na macroestrutura uma
característica importante, todos são semasiológicos e em ordem alfabética. As unidades
lexicais selecionadas para compor o vocabulário destes variam entre uma média de 10 a
22 tipos de palavras aproximadamente. O DIL é o que lematiza a menor variedade de
tipos de palavras. Além disso, ele não inclui palavras chulas, provérbios e acrônimos,
assim como unidades lexicais homônimas. No quadro 1 é possível acompanhar e
comparar a nomenclatura das três publicações e verificar algumas das escolhas de cada
dicionarista.
Quadro 1: Nomenclatura dos dicionários pesquisados
DIL Nomes compostos separados ou não por hífen – nomes no
diminutivo – afixos – pronomes – nomes derivados – expressão
popular – estrangeirismos, polissemia – conjunções – gíria –
remissiva. NOVO-DEIT LIBRAS Nomes de organização (sigla) – marcas registradas – gíria – nome
composto – fraseologismo – siglas – frases (arranjo de
palavras/sinais para formar um sentido) - fraseologismo –
estrangeirismo – polissemia – nomes derivados – nomes próprios
para pessoas, lugares, entidades – tecnoletos – diminutivo –
expressão obscena – expressão figurada – pronomes – numeral –
interjeição, locução. DLSB Nomes de organização – marcas registradas – gíria – nome
composto – fraseologismo – siglas – frases (arranjo de
palavras/sinais para formar um sentido) – fraseologismo-
estrangeirismo – expressão popular – nomes derivados – nomes
próprios para pessoas, lugares, entidades – tecnoletos – diminutivo
– expressão obscena – expressão figurada – pronomes – numeral –
interjeição - locução. Fonte: Própria da pesquisa
Apesar de serem obras diferentes, o DLSB utiliza o mesmo corpora do Novo-Deit
Libras por isso, ambos possuem a mesma variedade de tipos de palavras. Número bem
superior ao do DIL. Um dos motivos para isto pode ser a dimensão da nomenclatura.
Enquanto o DIL possui apenas 3212 sinais, distribuídos em um único volume, o Novo
Deit-Libras têm 10296 sinais, divididos em dois volumes e o DLSB em três. Não se
sabe ao certo quantos sinais, palavras em português e em inglês contam nesse
dicionário8.
Considerando que o verbete é a unidade autônoma que se organiza no interior do
corpo do dicionário, ―formado pelo lema (V. TEMA III-I), que é a unidade léxica
tratada, e pelas informações oferecidas acerca desta unidade‖ (GUERRA, 2003, p. 105
8 Informação obtida oralmente em conversa direta e oral com uma das autoras do dicionário, Antonielle
Cantarelli Martins, no ano 2018.1.
362
tradução nossa), os dicionários analisados trazem, de modo geral, informações quanto à
forma, ao significado e ao uso.
Algumas informações constam nas três obras, porém outras são exclusivamente
de apenas uma das três, como a remissiva ao glossário listado na margem inferior da
página do verbete e a sequência fotográfica da ilustração dos sinais do DIL. Entre a
segunda e a terceira obra, algumas informações foram revisadas, ampliadas ou
modificadas, favorecendo a descontinuidade da tradição de uma série de dicionários de
Capovilla et al e sua equipe. Por exemplo, a ampliação de equivalentes do português de
um para cinco, a diminuição de cinco ilustrações do significado para quatro e a inclusão
da morfologia e da iconicidade no interior da descrição etimológica do sinal, antes
dissociadas e independentes da etimologia.
Considerando que a microestrutura dos dicionários da LS possuem informações
que diferem em grande medida dos dicionários de línguas orais, não iremos descrever os
elementos tradicionais (cabeça do verbete, equivalente, acepção e pós-comentário) do
verbete. No quadro 2, para fins de didatismo, fracionamos o verbete em três partes
menores: a) lema; b) equivalente da entrada e c) pós-equivalente.
Quadro 2: Microestrutura do DLI, Novo Deit – Libras, DILSB
OBRA ENTRADA EQUIVALENTE PÓS-EQUIVALENTE
DIL Lema em Libras
- Equivalente em LP 1. Sequência fotográfica da execução do sinal;
2. Ilustração representativa da definição;
3. Polissemia;
4. Remissiva (sistema ortográfico) de palavras com o mesmo sinal
e que constam no rodapé da página;
5. Descrição fonológica do sinal;
6. Uma acepção;
7. Marca de uso para sinal igual.
NOVO
DEIT-
LIBRAS
Lema em LP - Equivalente em Libras.
1. Distinção de gênero;
2. Uma a cinco ilustrações do significado do sinal;
3. Uma ilustração da forma do sinal;
4. Escrita em Sign Writing;
5. Soletração digital;
6. Marcas de uso para variação diatópica (de até 12 estados);
7. Marcas de uso para variação diastrática;
8. Polissemia;
10. Marca de uso para empréstimo linguístico;
11. Marca de abreviatura para classificador;
12. Signo ortográfico para indicação de marca registrada;
13. Classificação gramatical da palavra em Português;
14. Etimologia;
15. Iconicidade;
16. Uma ou mais acepções (com ou sem definição enciclopédica);
363
17. Um exemplo de uso para cada acepção;
18. Descrição do sinal em nível fonológico (sematosema) e
morfológico (morfemas moleculares).
DLSB Lema em LP
Equivalente em Libras
1. Distinção de gênero;
2. Uma a quatro ilustrações do significado;
3. Uma ilustração da forma do sinal;
4. Escrita em Sign Writing;
5. -Soletração digital (uso da fonte de Capovilla-Raphael);
6. Um a cinco equivalentes em Português;
7. Marcas de uso para variação diatópica (das 26 unidades
federativas e do distrito federal);
8. Marcas de uso para variação diastrática;
9. Polissemia;
10. Marca de uso para empréstimo linguístico;
11. Marca de abreviatura para classificador;
12. Signo ortográfico para indicação de marca registrada;
13. -Classificação gramatical;
14. Etimologia (morfologia e iconicidade);
15. Classificador;
16. Uma ou mais acepções (com ou sem definição enciclopédica);
17. Um exemplo de uso para cada acepção;
18. Descrição da composição fonológica (sematosêmica) do sinal
entre parênteses;
19. Indicação da composição morfológica (morfêmica-fomicular)
do sinal.
Fonte: Própria da pesquisa
As marcas de uso foram alguns dos recursos mais valorizados nos últimos
anos. De acordo com Hausmann (1977 apud WELKER, 2004), a metalexicografia
propõe onze marcas de uso que têm a função de rotular informações da língua.
Conforme Welker (2004), elas podem ser diacrônicas, diatópicas, diaintegrativas,
diamediais, diastráticas, diafásicas, diatextuais, diatécnicas, diafrequentes,
diaevaluativas e dianormativas. Das obras apresentadas, nenhuma utiliza marcas de uso
diacrônica, dianormativa, diastrática, diatextuais e diafrequente. Dentre os três
dicionários, a inclusão de marcas de uso retrata uma evolução entre o DIL e os demais,
considerando que o primeiro não possuía nenhuma espécie de marca de uso.
Um recurso que aparece no DIL e não consta nos demais são os signos
ortográficos. Esse recurso muito empregado nos dicionários e que contribui para a
economia de espaço e padronização dos verbetes é um benefício apenas deste
dicionário. Os signos numéricos, contrariamente, aparecem apenas nos outros dois
dicionários e a eles são empregadas às mesmas funções: padronizar, organizar e
economizar espaço na obra.
364
As abreviaturas que convencionalmente são utilizadas em obras lexicográficas não
são utilizadas no DIL e pouco se recorre a elas nos outros dois, apenas para mencionar a
classificação gramatical e apontar o classificador do sinal (quando houver). Atualmente
os autores preferem usar o nome por extenso como alguns dicionários recentes. Sobre
essa nova prática, Escribano (2003, p. 116, tradução nossa) afirma que ―muitas vezes,
algumas destas abreviaturas não eram interpretadas corretamente e a informação se
perdia‖.
Recursos como estes são funcionais e tendem a facilitar as buscas do aprendiz e
seu correto aprendizado, no entanto sublinhamos que escolhas como estas estão sob os
interesses do dicionarista já que não há normativa para a elaboração de dicionários,
apenas orientações a critério do autor e sua equipe, quando houver.
Considerações Finais
O objetivo desde trabalho foi investigar as continuidades e descontinuidades na
macro e microestrutura entre o DIL, o Novo Deit-Libras e o DLSB. Estas obras,
produzidas num intervalo de seis anos, são, até o momento, as principais referências de
dicionários de Libras impresso.
Esta pesquisa verificou, mediante a análise e comparação das obras, que as
principais mudanças ocorreram entre o DIL e o Novo Deit-Libras. Apesar do DLSB se
destituir da série de edições do Novo Deit-Libras e se apontar como uma nova obra, sem
caráter enciclopédico, pouca ou quase nenhuma mudança foi sentida entre estes dois. A
principal mudança foi a ampliação da quantidade de volumes, passando de dois para três
volumes.
Já entre o DIL e o Novo Deit-Libras registramos a variedade de tipos de palavras,
informações semânticas e marcações ortográficas. A classificação gramatical do sinal
ou palavra-entrada é comum em dicionários monolíngues, porém não é sempre
frequente em dicionários bilíngues ou semibilíngues. O DIL, por exemplo, optou por
não trazer este tipo de informação ao contrário do segundo e do terceiro dicionário.
A microestrutura foi o que mais variou entre esses dicionários. Informações
semânticas, sintáticas, definição enciclopédica, etimológica (morfológica e icnográfica)
foram os principais acréscimos aos últimos dicionários, principalmente ao último.
365
Outros acréscimos essenciais a uma obra lexicográfica são as marcas de uso,
remissivas, marcações numéricas e ortográficas. Essas foram suprimidas, aprimoradas
ou reformuladas entre os dicionários, conforme constam nas análises.
A ilustração dos sinais em imagens pictóricas, o uso de setas e o desdobramento
da execução do sinal em duas ou mais ilustrações eram comuns nas produções
lexicográficas no período Pré-Congresso de Milão (Congresso Mundial de Professores
Surdos ocorrido na Itália). Após o Congresso, Oates (1969) e Flávia Brandão (2011)
trouxeram um novo tipo de ilustração para o sinal, a imagem fotográfica. Além de
serem mais fidedignas à realidade, as imagens foram fragmentadas em sequências
temporais menores, disponibilizando ao consulente o triplo de imagens de partes sinais.
Esse recurso parece facilitar a identificação dos parâmetros que se alteram ao longo da
execução do sinal, favorecendo a autonomia do usuário e, além disso, serve como
excelente aliado ao consulente surdo que não tem fluência na LP.
Para a Lexicografia da Libras, o DIL, o Novo Deit-Libras e o DLSB são apenas o
início de um longo percurso a ser trilhado na área. Reconhecemos que esta pesquisa
necessita continuar e que outros estudos necessitam ser iniciados para que possam
subsidiar a produção de novos dicionários. Além disto, defendemos que as futuras obras
lexicográficas sejam elaboradas por equipes de falantes da língua de partida e de
destino, bem como, por genuínos lexicógrafos que conheçam bem a língua e que sejam,
preferencialmente, participantes da comunidade surda.
É indiscutível o valor de cada um dos dicionários analisados. Cada um, de modo
particular, oferece grandes contribuições à lexicografia da Libras, bem como à
comunidade científica, acadêmica e à própria comunidade surda, que passa a dispor do
registro impresso e de amplo acervo da Língua de Sinais das comunidades urbanas do
Brasil.
Referências
AMARAL, Clínio de Oliveira. A imagem como um poder: estudo sobre a iconografia
do Infante D. Fernando de Portugal. Disponível em: <
http://www.seer.ufrgs.br/aedos/article/viewFile/22307/13115> Acesso em: 28/jul. 2018.
BIDERMAN, M. T. C. A nomenclatura de um dicionário de língua. Anais de
Seminários do GEL, São Paulo: v.1, n.23, 26-42, 1994.
366
______. O dicionário como norma na sociedade. In: 1º Encontro Nacional do GT de
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, 1998, Rio de Janeiro. Anais do 1º Encontro
Nacional do GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia. Recife: Editora
Universitária UFPE, v. 1, p. 161-180, 1997.
BRANDÃO, Flávia. Dicionário Ilustrado de Libras: Língua Brasileira de Sinais. São
Paulo: Global, 2011.
BORBA, Laura Campos de; MIRANDA, Fêlix Valentín Buguenõ. Análise de cinco
dicionários semasiológicos de língua espanhola: a correlação entre o Front Matter e a
Macro e a Microestrutura. v.9. n. 14. Santa Catarina: Extensio UFSC, 2012.
MIRANDA, F. B. Balanço e perspectivas da lexicografia. Cadernos de tradução, n.
32, p.15-37, 2003.
CAPOVILLA, Fernando César; et al. Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a
Libras em suas mãos. São Paulo: Edusp, 2017.
CAPOVILLA, F. C; RAPHAEL, W. D; MAURÍCIO, A. C. L. Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue: Novo Deit-Libras: língua de sinais brasileira. v.1,
2. ed. rev. ampl. São Paulo: Edusp, Inep, CNPq, Capes: Obeduc, 2012.
ESCRIBANO, Cecílio Garriga. La microestructura del dicionário: las informaciones
lexicográficas. In: GUERRA, A. M. M. (coord.) Lexicografía española. Barcelona:
Editorial Ariel S.A., 2003.
GAMA, F. J da. Iconographia dos signaes dos surdos-mudos. (série histórica do
Instituto Nacional de Educação de Surdos). Rio de Janeiro: INES, [1875] 2011.
GUERRA, A. M. M. (coord.) Lexicografía española. Barcelona: Editorial Ariel S.A.,
2003.
HAENSCH, G. et al. La lexicografía. Madrid: Editorial Gredos, 1982.
HARTMANN, R. R. K.; JAMES, G. Dictionary of Lexicography. Londres:
Routledge.
OATES, E. Linguagem das mãos. Rio de Janeiro: Gráfica Editôra Livro AS, 1969.
367
REY-DEBOVE, J. Léxico e dicionário. (Trad. de Clóvis Barleta de Morais). Alfa. São
Paulo: v.28, p. 45-69, 1984.
SOFIATO, C. G; REILY, L. Dicionarização da língua brasileira de sinais: estudo
comparativo icnográfico e lexical. Vol. 40, n. 01 São Paulo: Educação e Pesquisa, 2014. Sternberg, M. L. A. American sign language dictionary. New York – NY:
HarperPerennial,1998.
______. American sign language concise dictionary. New York – NY:
HarperPerennial,1994.
STUMPF, Marianne Rossi. Escrita de Sinais. Florianópolis – SC: UFSC, 2008.
VELOSO, Éden; MAIA, Valdeci. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. Curitiba
– PR: Editora MãoSinais, 2009.
WELKER, Herbert Andreas. Dicionários: Uma pequena introdução à lexicografia. 2.
ed. Brasília: Thesaurus, 2004.
ZAVAGLIA, C. Metodologia em ciências da linguagem: Lexicografia. In:
GONÇALVES, A. V.; GÓIS, M. L. S. (org.). Ciências da linguagem: o fazer
científico. vol. 1. Campinas: Mercado de Letras, p. 231-266, 2012.
LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: A CONSTRUÇÃO DE UM
SIMULACRO
Luciano Taveira de Azevedo (IFAL)
Resumo: No presente artigo, analisamos a coleção didática para o Ensino Médio, Português
Linguagens, organizada por William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A partir das
368
reflexões propostas por Bakhtin (2006),Certeau (1998) e Coracini (2005) acerca de texto, leitura
e compreensão, lançamos um olhar sobre o material didático a fim de entendermos como os
autores efetivam - em atividades de leitura e compreensão - uma perspectiva discursiva de
leitura ao qual dizem estar filiados e sobre a qual construíram os objetos de ensino,
notadamente, as atividades de leitura. Para atingir os objetivos pretendidos, optamos por uma
metodologia qualitativa denominada Análise de Conteúdo.
Palavras-chave: leitura, compreensão, livro didático, funcionamento discursivo
Abstract: In this article, we analyze the didactic collection which aims at High School
Teaching of the Portuguese Language, organized by William Roberto Cereja and
TherezaCocharMagalhães. By taking into account the reflections by Bakhtin (2006),Certeau
(1998) and Coracini (2005) upon text, reading and comprehension, we dicided to appraise the
pedagogic material in order to understand how authors are able to come up with – in reading
and comprehension tasks – a discursive reading perspective they are affiliated with, upon which
they have built their teaching objectives, notably, aimed at reading tasks. In order to achive our
aims, we chose a qualitive method called Content Analysis.
Keywords: reading, comprehension, textbook, discursive operation
1 INTRODUÇÃO
Embora muito se tenha escrito e dito sobre questões concernentes à leitura -
sobretudo, a leitura realizada no ambiente escolar -, as pesquisas acadêmicas mais
recentes desenvolvidas no campo da Linguística Aplicada demonstram que as questões
que envolvem a leitura em suas diversas práticas e modalidades ainda continuam sendo
o tema na ordem do dia. Isso pode ser comprovado em trabalhos como os de Zozzoli
(2002; 2008), Antunes (2003), Voese (2004), Coracini (2005), Zilberman e Rosing
(2009), entre outros. Essa reincidência de publicações, que têm como objeto a leitura em
suas diferentes práticas, aponta para o fato de que a questão da leitura se apresenta como
um objeto complexo (SIGNORINI, 2004) e multifacetado. Dito dessa forma, temos que
a leitura, por ser constitutivamente heterogênea, mobiliza diferentes olhares teóricos que
procuram dar conta das diversas facetas que constituem o plano de sua realização.
Apoiados nas reflexões teóricas desenvolvidas por Bakhtin (2006), Certeau
(1998),Orlandi (1996, 1999, 2001) e mediados por questões de pesquisa, a saber: a) as
atividades de leitura propostas no livro didático de português (doravante, LDP)
encontram-se em consonância com aquilo que o(s) autor(es) afirma(m) no Manual do
Professor (doravante, MP) e com a teoria adotadas e b) em se tratando de um LDP cujas
bases teóricas encontram-se filiadas à Análise do Discurso, como as atividades de
leitura e compreensão estão organizadas a fim de permitir a leitura da discursividade?,
desenvolvemos uma reflexão analítico-crítica das atividades de leitura propostas na obra
369
seriada Português: linguagensdos autores William Roberto Cereja e Thereza C.
Magalhães.
2 REVISITANDO CONCEPÇÕES DE LEITURA
2.1 A PERSPECTIVA ESTRUTURALISTA
A concepção de língua como sistema que pode ser definido pelas relações de
equivalência ou oposição que um elemento do sistema estabelece com os demais
(SAUSSURE, 2004) vai caracterizar os estudos da linguagem que se desenvolvem sob o
signo do pensamento estruturalista. De acordo com esse pensamento, ―a língua é vista
como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo
regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um
receptor‖ (Travaglia, 2006, p. 22). O estudo da língua em suas relações internas é tido
como suficiente para a compreensão do fenômeno linguístico, de modo que elementos
como os sujeitos implicados no processo de comunicação, o lugar social da interação
verbal e a situação mediata e imediata em que se dá a enunciação ficam de fora dos
estudos da língua como sistema linguístico que é ―percebido como um fato objetivo
externo à consciência individual e independente desta. A língua opõe-se ao indivíduo
enquanto norma indestrutível, peremptória, que o indivíduo só pode aceitar como tal‖
(Neder apudTravaglia, 2006, p. 22).
Nessa concepção de língua como código, o texto é resultado da codificação de
um emissor a ser decodificado por um receptor e a leitura ―é uma atividade que exige do
leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma vez que ´tudo está dito no dito´‖ (Koch;
Elias, 2006, p.10). As relações que texto e leitura entretêm com as condições sócio-
históricas de sua produção são apagadas e as determinações que se estabelecem entre
leitor-texto-autor não são pertinentes, pois, nessa perspectiva, ―pode-se falar em des-
cobrir ou des-vendar o sentido (tirar as cobertas ou as vendas), ou melhor, pode-se
afirmar que o significado se encontra depositado para sempre nas palavras ou nos signos
(...)‖ (Coracini, 2005:20). Assim, o texto é um fim em si mesmo e a leitura encontra sua
plena realização no reconhecimento das palavras, da estrutura e do sentido dado pelo
texto. Destacamos uma atividade retirada da seção As Ideias do Texto do livroum livro
didático Estudos de Língua Portuguesaque ilustra bem a proposta de leitura nessa
perspectiva:
371
Nesse exemplo, as perguntas elaboradas orientam o aluno-leitor no sentido de
identificar uma determinada informação no texto e transcrevê-la para o caderno. Essa
atividade enquadra-se no modelo estruturalista de ensino de leitura, uma vez que a
interpretação do texto compreende uma atividade que se resume a identificar no texto
sentidos que não são construídos nas relações que o texto estabelece com os sujeitos e a
situação, mas se encontram explicitamente no próprio texto. Nessa perspectiva teórica,
os sentidos estão dados na materialidade linguística e ao leitor cabe apenas o papel de
decodificador desses sentidos que se esgotam no próprio texto.
2.2 A PERSPECTIVA INTERACIONISTA
A concepção interacionista entende a língua como sistema de normas e produto
da interação entre os sujeitos em determinados contextos sociais. Desse modo, o texto
não constitui apenas uma estrutura que pode ser desmembrada em partes menores que
são submetidas à análises empíricas. Nessa perspectiva, o texto é visto em seus aspectos
formais e sociointerativos, ou seja, enquanto organização textual dos aspectos
372
fonológicos e morfossintáticos e ―conjunto de práticas sociais e cognitivas
historicamente situadas‖ (Marcuschi, 2008, p. 61).
A relação que o texto estabelece, de acordo com essa concepção, com o leitor e
o autor são constitutivas dos sentidos produzidos, uma vez que o leitor, sujeito ativo do
processo de leitura, atribui sentidos ao texto lido e estabelece uma relação - mediada
pelo texto - com o autor. Se o autor atribui sentidos ao texto que produz, o leitor
também o faz a partir do lugar social que produz a leitura. Em suma, a interação entre
leitor-texto-autor e os contextos em que se dá o processo enunciativo é constitutiva dos
sentidos atribuídos a um texto, de modo que essa relação é determinante para a
compreensão que não é identificação e reprodução de sentidos, mas construção e
atividade que os sujeitos realizam sobre os sentidos. Assim,
No caso da interação, como o próprio nome indica, a leitura constitui um
processo cognitivo que coloca o leitor em frente do autor do texto ou da obra,
seja ela de que natureza for, autor que deixaria marcas, pistas de sua autoria,
de suas intenções, determinantes para o(s) sentido(s) possível(eis) e com o
qual o leitor inter-agiria para construir esse(s) sentido(s) (CORACINI, 2005,
p. 21).
Esse modelo também teve suas repercussões na estruturação dos documentos
oficiais do governo brasileiro sobre o ensino de Português e na produção dos LDPs.
Desse modo, afastando-se de uma concepção formalista e estrutural da língua e
aproximando-se de uma perspectiva interacionista, os autores de LDPs reformularam os
objetos de ensino-aprendizagem e as propostas de ensino de leitura, produção textual e
gramática. No exemplo abaixo, apresentamos um exercício de leitura que aponta para
essa tentativa dos autores de encaminharem as propostas de ensino de leitura na direção
de uma perspectiva interacionista da língua.
Exemplo 0.2
373
(Português: linguagens, 2002)
Nesse exemplo, os autores do LDPfazem referência ao contexto a fim de
trabalhar o sentido do pronome demonstrativo este. É interessante notar que o contexto
referido é aquele imediato à situação comunicativa, característico desse tipo de
abordagem teórica. Numa perspectiva estruturalista, o contexto seria, certamente,
dispensável, e o sentido do pronome seria trabalhado no nível da frase e de seu arranjo
morfossintático. A abordagem interacionista inclui a situação de produção dos
enunciados e os interlocutores envolvidos no processo de comunicação e faz avançar os
estudos da linguagem em direção a uma abordagem mais ampla da produção de sentidos
e que podemos chamar de discursiva.
2.3 A PERSPECTIVA DISCURSIVA
A construção de uma concepção de leitura que se situe numa perspectiva
discursiva passa pelo entendimento do texto enquanto um nó de relações estabelecido
com outros textos, com os sujeitos e as condições de produção que o engendraram.
Esses aspectos são fundamentais para que possamos falar do funcionamento discursivo
do texto, uma vez que o trajeto que um texto percorre durante o processo de sua
produção não se restringe aos arranjos formais que o constituem nem a sua estrutura
empírica que compreende começo, meio e fim. Um texto e seu(s) sentido(s) é(são)
definido(s), fundamentalmente, em relação aos interlocutores, às condições de produção
e aos outros textos que permeiam suas margens. Entendemos que o sentido de um texto
não se encontra estritamente ligado às palavras ou a sua organização sintática, mas é
produzido no fluxo da comunicação discursiva, na relação contraditória que se
estabelece entre sujeitos historicamente situados e nas redes de sentido que se
constituem a cada formulação e acontecimento enunciativo. Dessa relação que passa
pela historicidade dos sujeitos e dos textos, resulta a possibilidade de deslizamento do
sentido institucionalmente posto e atrelado às palavras para o sentido possível. Para
Ferreira (1998, p. 208),
374
A leitura é um processo de desvelamento e de construção de sentidos por um
sujeito determinado, circunscrito a determinadas condições sócio-históricas.
Portanto, por sua própria natureza e especificidade constitutiva, a leitura
tende a ser múltipla, a ser plural, a ser ambígua. Mas não será nunca
―qualquer uma‖.
A concepção de leitura como produzida, ou seja, relacionada às condições de
produção do texto e da leitura, aos sujeitos e às relações dialógicas, desloca a prática
leitora de uma atividade de mera decodificação do texto para uma leitura que parte do
pressuposto de que antes de procurar saber o que o autor do texto diz é necessário saber
como ele diz o que diz.
Exemplo 0.3
(Português: linguagens, 2005, p.121-122)
375
Esse exemplo foi retirado do livro do EM Português: linguagens e se encontra na
seção ―Semântica e Interação‖ que vem logo após o Capítulo 10 denominado―Texto e
discurso – intertexto e interdiscurso‖ na Unidade I. Há uma intenção notória, na
atividade apresentada, dos autores em trazer para a leitura do anúncio publicitário
aspectos que remetem a reflexão leitora àquilo que se situa fora do texto, ou seja,
aspectos da discursividade. Isso pode ser melhor identificado nas perguntas 2, 4 e 5 em
que os autores procuram relacionar elementos extratextuais e a construção de sentidos
supostamente pretendida pelo anunciante. Apesar de elementos discursivos mais
amplos, como o contexto sócio-histórico e as relações dialógicas, não terem sido
considerados nesse recorte da atividade que apresentamos, é possível identificar nesse
exemplo indícios de uma tentativa de tratamento da discursividade no trabalho com
leitura e compreensão de textos do cotidiano.
De acordo com o exposto, podemos afirmar que, atualmente, essas três
perspectivas teóricas – estruturalista, interacionista e discursiva – encontram-se na base
dos trabalhos didático-pedagógicos de leitura desenvolvidos em sala de aula. Na maioria
das vezes, a perspectiva adotada pelo professor para abordar e desenvolver atividades de
leitura é aquela previamente assumida pelo(s) autor(es) do livro didático. Desse modo, o
LDP orienta práticas de leitura, bem como estabelece um modo de agir que afeta a
autonomia do professor no que diz respeito à organização e encaminhamento de
atividades desvinculadas das ―receitas‖ propostas nos didáticos.
O que temos concluído após visitarmos algunsLDPsdurante o desenvolvimento
deste trabalho é que os autores têm oscilado entre essas perspectivas,
indiscriminadamente, e sem justificativas plausíveis. Mesmo naquelas obras em que os
autores assumem explicitamente uma determinada perspectiva teórica, é possível
detectar atividades que trazem uma configuração que poderíamos julgar pertencendo a
uma outra perspectiva que não aquela adotada pelos autores. Na verdade, a
heterogeneidade teórica presente nos livros didáticos pode se apresentar como positiva,
quando esses ―casamentos teóricos‖ são bem realizados, ou negativa, quando os autores
não conseguem articular satisfatoriamente essas diferentes perspectivas e produzem um
material de qualidade teórico-metodológica duvidosa que não contribui efetivamente
para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos.
A filiação do LDPa uma ou a mais de uma dessas perspectivas teóricas determina
substancialmente o conteúdo e a configuração do exercício de compreensão, ou seja, sua
natureza.
376
A concepção teórica de língua que lastreia o trabalho com leitura, produção e
gramática na coleção didática Português: linguagens tem seus fundamentos na
perspectiva sociointeracionista de aprendizagem e na abordagem enunciativa da
linguagem. O sociointeracionismovygotskyano e a concepção de enunciado pensada por
Bakhtin e Bakhtin/Voloshinov lastreiam a proposta de ensino-aprendizagem de língua
portuguesa e seus desdobramentos na obra. Além das perspectivas traçadas por
Vygotsky, Bakhtin e Voloshinov, os autores recorrem a conhecimentos produzidos em
diferentes linhas teóricas dentro da Linguística, como Linguística Textual, Pragmática,
Semântica, Estilística e Análise do Discurso.
Em textos apresentados em congressos e que foram publicados, posteriormente,
no MP da coleção do Ensino Médio, Cereja (MP, 2005) propõe um ensino de gramática,
leitura e produção textual que seja significativo porque passa pelos aspectos
sociodiscursivos que constituem os sentidos produzidos por um texto. Ao criticar o
conceito de gramática no texto vigente nas escolas, diz que a concepção desse conceito,
tal como é praticado nas escolas, afasta-se daquele que a Linguística Textual toma por
objeto e o texto, nessa perspectiva, raramente é tomado como unidade de sentido e,
menos ainda, como discurso (MP, 2005).
Embora os autores afirmem, em vários momentos do texto do MP, estarem
ancorados numa perspectiva enunciativo-discursiva que fundamenta a organização e
elaboração das atividades que conduzem o ensino dos diferentes usos da língua, ainda é
possível encontrar atividades de cunho bastante tradicional, sobretudo, nas seções de
estudo de gramática. Outro aspecto relevante para essas considerações acerca da filiação
teórica estabelecida pelos autores é a falta de definição e aprofundamento acerca da
linha de Análise do Discurso que seguem. Quando o termo ―análise do discurso‖
aparece nos textos dos autores, em nenhum deles há, explicitamente, a linha teórica da
Análise do Discurso na qual filiam sua concepção de língua, texto e discurso. No
decorrer dos textos que compõem o MP da coleção didática, a imprecisão recobre os
termos ―Análise do Discurso‖ e ―discurso‖. Esse último, quando superficialmente
definido, encontra-se mais próximo de uma análise pragmática da língua em uso do que
dos aspectos sócio-históricos amplos que constituem os sentidos produzidos por um
texto. Ao dizer isso, não afirmamos que os aspectos pragmáticos de produção de
sentidos não sejam discursivos e não mereçam ser considerados numa análise do
discurso. Nossa crítica se encaminha no sentido de que a Análise do Discurso propõe
uma abordagem mais ampla dos processos históricos de produção de sentido e, desse
377
modo, extrapola as condições pragmáticas (os sujeitos e a situação imediata) de
produção dos discursos.
Na busca de encontrar um lugar que, a um tempo, permita que a obra transite
pelas diferentes linhas teóricas da Linguística e da Análise do Discurso e corresponda às
expectativas dos avaliadores do PNLEM, os autores da obra didática acabam
produzindo imprecisão e confusão teórica, uso inadequado de conceitos, incoerência
entre o que afirmam no MP e as atividades propostas para o ensino de língua, leitura e
produção textual. Essa tentativa de conciliação das diferentes perspectivas teóricas é
assim descrita pelos autores no site da coleção:
Todo o trabalho parte de textos e se volta para o texto, procurando conciliar
as gramáticas prescritiva e descritiva com as gramáticas reflexiva e de uso.
Para isso, faz uso de ensino sistematizado das várias tendências existentes
hoje no campo da Lingüística do Texto e da Análise do Discurso, além de
recuperar estudos da Semântica e da Estilística.
O texto não é tomado como mero pretexto para uma prática tradicional de
gramática da frase, mas é o ponto de partida para a construção de conceitos e
para exercícios. Além disso, há duas seções completamente inovadoras: A
(categoria gramatical) na construção do texto — em que se verifica a
importância daquele assunto gramatical estudado na estruturação do texto e
na construção de seu sentido — e Linguagem e interação, em que se trabalha
de forma mais direta a Semântica, aspectos da Pragmática e da Análise do
Discurso. (Disponível em http://pl.editorasaraiva.com.br/)
Apesar de afirmarem que o texto não é tomado como pretexto para a análise dos
aspectos formais da língua, é comum encontrarmos atividades que seguem o modelo
tradicional de ensino de língua, como no seguinte exemplo:
Exemplo 0.4
(Português: linguagens. Livro 3, p.53)
As críticas apresentadas pelos autores no MP acerca do ensino tradicional de
língua quando afirmam que, ―se antes frases descontextualizadas serviam de objeto para
a teoria e para os exercícios de análise, hoje, equivocadamente, apresentam-se textos,
dos quais são retirados fragmentos para uma abordagem linguística que não vai além do
378
horizonte da frase‖ (MP, 2005, p.19), parecem ignoradas na operacionalização do
ensino de gramática relacionado ao texto, como podemos verificar no exemplo 0.9. Ao
dizer isso, não intencionamos apenas trazer à tona os limites apresentados pela obra
didática no que diz respeito ao tratamento dado ao ensino de língua materna, mas lançar
luz sobre as discrepâncias existentes entre a proposta teórica na qual os autores afirmam
estar apoiados e a efetivação dessas propostas em atividades que envolvem o estudo da
língua em suas diferentes realizações sociais.
Ainda tributário de uma concepção cristalizada de livro didático que tende a
apresentar o desenvolvimento dos conteúdos curriculares e funcionando, em sua
organização interna, mais como um livro de atividades que expõe, desenvolve, fixa e
avalia o aprendizado (BATISTA, 2003, p. 47), a coleção Português: linguagens se
caracteriza mais por uma metodologia de ensino em nada devendo aos manuais
tradicionais de ensino de língua.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seção conclusiva de um artigo sempre carrega a impressão enganosa de que a
hipótese ou as perguntas norteadoras foram respondidas de uma vez por todas.
Desvinculado de um paradigma cartesiano que, no interior de sua prática de pesquisa,
busca respostas absolutas e definitivas, nosso trabalho apresenta-se como um ―olhar‖,
entre outros, para o objeto livro didático de Língua Portuguesa. Esse ―olhar‖ não tem a
pretensão de esgotar, nem mesmo dentro da perspectiva teórica adotada, todas as
possibilidades de análise e interpretação a que esse intricado objeto se presta. Desse
modo, a conclusão, neste trabalho, não equivale a uma resposta pronta e única às
questões anteriormente estabelecidas. Dentro de uma perspectiva responsiva como a
formulada por Bakhtin (2006), podemos dizer que este trabalho se configura como uma
resposta a enunciados já produzidos sobre o LDP e, a um tempo, abre caminho para
respostas futuras. É assim que vemos e entendemos nossa contribuição às discussões
que se desenvolvem no campo da Linguística Aplicada acerca dos materiais didáticos.
A título de conclusão, percebeu-se que aspectos discursivos figuram no
enunciado das questões com o objetivo de levar o aluno-leitor a inferir determinados
sentidos e, raras vezes, para fazê-lo refletir sobre o funcionamento discursivo do texto.
Ao apontar esse procedimento como negativo, não queremos dar a entender que
perguntas que solicitam do aluno a identificação de determinados elementos textuais ou
379
o levam a inferir sentidos possíveis para um texto sejam perguntas desnecessárias ao
processo de compreensão. A bem da verdade, o que queremos apontar é que, uma vez
que a Análise do Discurso propõe, em seu programa teórico, a compreensão de como o
texto funciona discursivamente e não a consideração de determinados elementos
extratextuais com a finalidade de inferir sentidos, as perguntas deveriam encaminhar a
reflexão do aluno-leitor para o entendimento desse funcionamento. Isso o LDP não faz.
Desse modo, a teoria adotada pelos autores não é usada efetivamente no LDP e figura
apenas como pretexto para a aprovação desse material nos processos de avaliação do
Governo Federal .
Em todas as questões analisadas, percebemos uma forte tendência por parte dos
autores em reiterar uma prática de leitura aos moldes da perspectiva estruturalista,
embora expressem assumir uma perspectiva sociointeracionista e afirmem buscar na
Análise do Discurso contribuições teóricas para o trabalho com o ensino de língua
materna. Isso, a nosso ver, acentua os problemas já apresentados em pesquisas que
tiveram início na década de 60, uma vez que, se antes, nós tínhamos livros que não
assumiam claramente uma perspectiva teórica e apresentavam, explicitamente, uma
concepção de língua e texto dentro dos parâmetros estruturalistas, hoje, temos livros que
simulam uma recusa ao método estruturalista de ensino, embora permaneçam
fortemente ligados a essa tendência teórica.
A pressão político-ideológica exercida pelos programas de avaliação do livro
didático tem levado os autores a assumirem as perspectivas teóricas fixadas por esses
programas em suas diretrizes e guias e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais sem a
utilização de critérios que garantam a adaptação didático-pedagógica das teorias
adotadas e sua aplicação às atividades que visam o ensino-aprendizagem de leitura. Isso
ficou evidente em nossas análises e, se por um lado, os resultados apresentados refletem
a falta de critério pedagógico e conhecimento teórico na aplicação de uma determinada
teoria, por outro lado, apontam para a fragilidade da prática avaliativa do PNLEM.
Embora não caiba uma discussão mais acurada sobre os limites do PNLEM neste
trabalho, queremos fazer algumas considerações sobre uma lacuna evidenciada na
relação entre o parecer do Catálogo do PNLEM/2009 sobre a coleção analisada e a
realidade das atividades encontradas.
Na análise da coleção Português: linguagens, constante do Catálogo,
encontramos uma avaliação positiva acerca da atualização bibliográfica e adequada
utilização do arcabouço teórico adotado pelos autores. Em nossa análise, obtivemos
380
resultados que ensejaram numa avaliação diversa daquela feita pelo programa no que
diz respeito ao uso e aplicação pedagógica de conceitos teóricos relativos à Análise do
Discurso. De um modo geral, deparamo-nos com uma utilização superficial, quando não
errônea, desses conceitos. A simplificação da teoria leva a incoerências que ficam
evidentes, p. ex., no uso indiscriminado de conceitos como intertextualidade,
interdiscursividade e dialogismo em que um é tomado pelo outro como se se tratasse do
mesmo conceito e não tivessem peculiaridades que os distinguem.
Essa discrepância entre o parecer apresentado no Catálogo do MEC e o que
realmente se faz na operacionalização da(s) teoria(s) adotada(s) é indicativo de um
procedimento avaliativo que considera apenas o uso de terminologias correntes na
academia no interior da obra em detrimento da verificação do uso efetivo e coerente dos
conceitos teóricos em atividades de leitura, produção textual e gramática no LDP.
Ao apresentar essas críticas ao LDP e ao PNLEM, não assumimos uma postura
radical que nega veementemente qualquer avanço feito na proposta de ensino de língua
materna em materiais didáticos e nos instrumentos de avaliação construídos pelo
Estado. Concordamos com Marcuschi (2008, p. 53), quando diz que
Hoje a cena já está bastante mudada em relação às últimas gerações de
manuais didáticos, tendo em vista o processo de avaliação por parte do MEC
no Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD). Já se cuida
mais da presença de uma maior diversidade de gêneros, de um tratamento
mais claro da compreensão. Mas é evidente, (...), que nem tudo ainda é como
se gostaria que fosse.
Ao que nos parece, a partir da realidade analisada, o percurso a caminho de um
material didático de qualidade ainda se mostra longo. Desse modo, este ―olhar‖ sobre o
LDP tem a finalidade de intervir nesse processo no sentido de permitir reflexões sobre a
suposta qualidade dos livros recomendados pelo MEC e, simultaneamente, ensejar
propostas para um ensino de leitura que não se reduza à identificação daquilo que o
autor quis dizer ou de itens formais, mas possibilite a compreensão do funcionamento
discursivo do texto numa atividade que permita passar de um nível parafrástico a um
nível polissêmico de leitura.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial,
2003.
381
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2006.
BATISTA, A. A. G. A avaliação dos livros didáticos: para entender o Programa
Nacional do Livro Didático. In: ROJO, R; BATISTA, A. A (Orgs.). Livro didático de
língua portuguesa, letramento e cultura da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2003.
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português: linguagens. v 1, 2 e 3. 5 ed. São
Paulo: Atual Editora, 2005
________. Português: linguagens. 8ª série. 2 ed. São Paulo: Atual, 2002
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes,
1998.
CORACINI, M. J. R. F. Concepções de leitura na (Pós-)Modernidade. In:
CARVALHO, R. C.; LIMA, P. Leitura: múltiplos olhares. Campinas, SP: Mercado de
Letras; São João da Boa Vista, SP: Unifeob, 2005.
FERREIRA, M. C. L.Nas trilhas do discurso: a propósito de leitura, sentido e
interpretação. In: A leitura e os leitores. ORLANDI, EniPuccineli (Org.). São Paulo:
Pontes, 1998, p. 201-208.
KOCH, I.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto,
2006.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2008.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 26. ed. São Paulo: Cultrix,
2004.
SIGNORINI, Inês. “Repensando a questão da língua legítima na sociedade
democrática”. In: Luiz Paulo Moita Lopes (Orgs.). Novos modos de teorizar e fazer
Linguística Aplicada, 2004.
TRAVAGLIA, C. L. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática.
11. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
ZILBERMAN, R.; RÖSING, T. M. K. Escola e leitura: velha crise, novas alternativas.
São Paulo: Global Editora, 2009.
ZOZZOLI, R (Org.). Ler e produzir: discurso, texto, e formação do sujeito
leitor/produtor. Maceió: Edufal, 2002.
EPILINGUISMO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA
PARA REFLEXÃO
Regina Célia Peccini Fonseca Silva (IFES)
Etelvo Ramos Filho (IFES)
Resumo: Este trabalho apresenta a proposta de metodologia epilinguística, através da Teoria
das Operações Enunciativas, como uma forma de auxiliar o professor de Língua Portuguesa no
ensino da gramática, considerando a importância no aprendizado da língua como fator social e
instrumento de reflexão, tanto na escrita, produção textual, quanto na leitura crítica de textos
literários, como estratégia para a formação de leitores autônomos e críticos. Apontamos os
teóricos Antoine Culioli (1973), Geraldi (2015), Franchi (1991), Romero (2011) e Travaglia
(2006) que nos ajudam a compreender e elaborar questões reflexivas no intuito de facilitar a
aprendizagem de alunos da educação básica, contribuindo, pois, para uma educação de
qualidade. As atividades apresentadas resultaram em boa prática reflexiva no estudo dos verbos,
sem trabalhar com conceitos abstratos e memorizados.
382
Palavras chave: Epilinguística. Língua Portuguesa. Reflexão.
Abstract: This paper presents the proposal of an epilinguistic methodology, through the Theory
of Enunciative Operations, as a way of assisting the Portuguese Language teacher in grammar
teaching, considering the importance of learning the language as a social factor and instrument
of reflection, both in writing, textual production, as well as in the critical reading of literary
texts, as a strategy for the formation of autonomous and critical readers. We point out the
theorists Antoine Culioli (1973), Geraldi (2015), Franchi (1991), Romero (2011) and Travaglia
(2006) who help us to understand and elaborate reflexive questions in order to facilitate the
learning of students of basic education, contributing , therefore, for a quality education. The
activities presented resulted in good reflective practice in the study of verbs, without working
with abstract and memorized concepts.
Keywords: Epilingualism. Portuguese language. Reflection.
INTRODUÇÃO
O ensino da língua portuguesa suscitou diversos posicionamentos ao longo das
últimas décadas do século XX. Muitas das considerações partiram de conceituações de
termos referentes à linguagem, língua, gramática, aprendizagem e ensino, entre outros
relacionados a estatemática. Estudar e ou ensinar a língua materna passou a ser uma
questão dualista que envolviaa prática tradicional (gramática normativa) ou a prática
que considerava o uso da língua.
Neste artigo abordaremos a prática que considera o estudo ou ensino da
linguagem por meio do seu uso, a partir da epilinguística, a qual possui o viés da
reflexão do sentido da linguagem usada. Nesta perspectiva, vemos que a palavra, seu
enunciador e seu interlocutor são fundamentais para a compreensão do universo de uso
da linguagem.
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada
tanto pelofato de que procede de alguém, como pelo fato de que se
dirige para alguém.Ela constitui justamente o produto da interação do
locutor e do ouvinte. Todapalavra serve de expressão a um em relação
a outro. (BAKHTIN apudGERALDI, 1984, p. 41).
Assim, desenvolvemos este artigo a partir de documentos que tratam do ensino
da língua portuguesa aos falantes nativos e que apresentam, como veremos,
considerações metodológicas que abordam, ainda timidamente, a teoria epilinguística.
Iniciamos com breve explicação do termo ―epilinguismo‖ e analisamos sua presença nas
diretrizes curriculares nacionais e no documente de base das escolas da rede estadual e
383
em seguida refletimos sobre o ensino de língua portuguesa com atividades
epilinguísticas, algumas relacionadas a verbos como objeto de estudo gramatical.
Como documento básico nacional temos a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, sob a Lei Federal nº 9394 de 20/12/96, do Ministério da Educação
que direcionou questionamentos e propostas de trabalho para o ensino da língua
portuguesa (LP). Tomemos por base a nota explicativa do documento de Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) quando em referência ao Ensino
Fundamental:
As atuais diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
são as constantes da Resolução CNE/CBE nº 2/1998, fundamentada
no Parecer CNE/CBE nº 4/1998, que estão em processo de revisão e
atualização, face à experiência acumulada e às alterações na legislação
que incidiram sobre essa etapa da Educação Básica
(DCNED,2013,p.37).
No documento citado acima, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 3/2005
foi ampliado de 08 para 09 anos o tempo de estudo no ensino fundamental, com duas
fases distintas, com características próprias, chamadas de ―anos iniciais‖ (com cinco
anos de duração) e ―anos finais‖ (com quatro anos de duração).
O documento propõe ainda na política de formação docente para o Ensino
Fundamental que seja dada atenção à curiosidade própria da idade escolar deste ensino
(...) as ciências devem, necessária e obrigatoriamente, estar
associadas, antes de qualquer tentativa, à discussão de técnicas, de
materiais, de métodos para uma aula dinâmica; é preciso,
indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no saber de
que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que faz
perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer. (Freire,
1996:96, apud DCNEB, 2013).
1 EPILINGUISMO
Este termo surge a partir da Teoria das Operações Enunciativas, desenvolvidas
por Antoine Culioli, um importante linguista francês contemporâneo, considerado “pai
da epilinguística”. Sua finalidade é o estudo da atividade de idioma apreendido através
da diversidade de línguas, textos e situações. Seu trabalho abre perspectivas e interesses
para pesquisas na língua e para as ciências humanas. Culioli (1973) desenvolve um
argumento que revela sua abordagem cientifica como pesquisador em linguística e a sua
determinação de não separar sintaxe da linguagem, semântica, lógica, retórica,
gramática ou até mesmo aspectos antropológicos.
384
A teoria culiolianadialoga com a sociolinguística, psicolinguística e outras
ciências que estudam a mente, o cognitivo. É uma teoria de fundamento e articula língua
com gramática. Ela conceitua linguagem como operações realizadas na enunciação e
que se apresentam sob três formas operativas: por regulação (acontece na mente do
enunciador), referenciação e representação (quando fala e ou escreve).Nesta teoria todo
enunciado é ambíguo e “uma das bases das operações da linguagem é um jogo
parafrástico."
Em um estudo sobre a teoria de Antoine Culioli e o posicionamento de Carlos
Franchi, a pesquisadora Márcia Romero destaca um excerto de Culioli no trabalho de
Franchi (1991), o qual considero relevante para este nosso trabalho:
a atividade linguística supõe ela mesma esse retorno sobre si mesma,
umaprogressiva atividade epilinguística: como ―atividade
metalinguística inconsciente‖ (Culioli 1968), de modo a estabelecer
uma relação entre os esquemas de ação verbal interiorizados pelo
sujeito e sua realização em cada ato do discurso; como atividade
seletiva e consciente, na medida em que reflete sobre o processo
mesmo de organização e estruturação verbal... (idem, p.66).
(ROMERO, 2011, p. 160)
Alguns linguistas brasileiros veem o epilinguismo como uma forma de
oportunizar ao alunoa reflexão do sentido da linguagem que ele usa. Podemos citar
Carlos Franchi (1991), Travaglia (2006) e Geraldi (2015), entre outros, como
importantes estudiosos da língua portuguesa na atualidade, os quais abordaremos neste
trabalho.
2O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E OS DOCUMENTOS OFICIAIS
O documento de Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 2013,
citado na introdução deste trabalho, propõe na política de formação docente para o
Ensino Fundamental que nós professores trabalhemos com a perspectiva da curiosidade
natural do ser humano
(...) as ciências devem, necessária e obrigatoriamente, estar
associadas, antes de qualquer tentativa, à discussão de técnicas, de
materiais, de métodos para uma aula dinâmica; é preciso,
indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no saber de
que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que faz
perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer (Freire,
1996:96, apud DCNEB, 2013).
385
Este é nosso objetivo ao apresentarmos as propostas da Teoria das Operações
Enunciativas –a partir deste ponto apenas TOE. A importância de trabalharmos com a
curiosidade do aluno é despertar nele o desejo para o aprendizado como algo que o faça
refletir e que o desafie em suas habilidades. Daí a importância da utilização da TOE
propostas no epilinguismo, por Culioli, como veremos no transcurso deste trabalho.
Conforme estudo realizado o ensino da língua deve servir para o
“desenvolvimento da competência comunicativa” (Joaquim Fonseca, apud
Marcushi,2008), bem como melhorar a atuação de uso do falante. Assim sendo, caberá à
escola considerar as condições de uso da língua, tanto no aspecto da escrita como no
aspecto oral, pois um influencia no outro. Desta forma, a escola deverá ensinar os usos
da língua e as diferentes formas de comunicação escrita e oral (MARCUSHI, 2008).
Na Base Nacional Curricular (daqui em diante apenas BNC), em reformulação,
alinguagem é concebida como ação e interação no mundo e como processo de
construção de sentidos; daí o uso do termo ―linguagens‖ em referência à área que é
formada pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e
Educação Físicaas quais devem
garantir o domínio da escrita, que envolve a alfabetização, entendida
como compreensão do sistema de escrita alfabético-ortográfico, e o
domínio progressivo das convenções da escrita para ler e produzir
textos em diferentes situações de comunicação (BNC, 2015, p.29).
Os objetivos gerais de aprendizagem de Língua Portuguesa, propostos no BNC,
sãoorganizados em cinco eixos que se relacionam entre a prática e conhecimentos de
linguagem, quais sejam: apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e de
tecnologias da escrita, oralidade, leitura, escrita e análise linguística. Importante
ressaltar que as especificações para o ensino de língua portuguesa no BNC não estão
relacionados diretamente com aspectos morfossintáticos de classificação gramatical.
2.1 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E O EPILINGUISMO
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 9394 de
20/12/96, o Ministério da Educação direcionou também os parâmetros mínimos para
qualidade na Educação Básica. A partir de 1998 chegaram às escolas os documentos
conhecidos como PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), os quais apresentavam
386
diretrizes para o ensino das disciplinas que constavam no Currículo Básico do Ensino
Fundamental.
Tais Parâmetros, com o objetivo de padronizar o ensino no país apresentando
práticas de organização de conteúdos, também apresentavam uma proposta de ensino da
língua diferente do ensino específico de gramática da língua praticado por muitos
professores da língua portuguesa nas últimas décadas. Segundo o documento
O ensino de Língua Portuguesa, pelo que se pode observar em suas
práticas habituais, tende a tratar essa fala da e sobre a linguagem como
se fosse um conteúdo em si, não como um meio para melhorar a
qualidade da produção linguística. É o caso, por exemplo, da
gramática que, ensinada de forma descontextualizada, tornou-se
emblemática de um conteúdo estritamente escolar, do tipo que só
serve para ir bem na prova e passar de ano — uma prática pedagógica
que vai da metalíngua para a língua por meio de exemplificação,
exercícios de reconhecimento e memorização de nomenclatura. Em
função disso, tem-se discutido se há ou não necessidade de ensinar
gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão verdadeira é para
que e como ensiná-la (PCN,1997, p.31).
Pelo exposto acima fica claro que há muito já se observava um ensino da
língua com base na gramática descontextualizada, cujo objetivo maior era a aprovação
(ou reprovação) dos alunos através de provas de conteúdos de memorização
(identificação e classificação) de termos gramaticais. Este documento faz referência ao
epilinguismo como uma prática de reflexão necessária no ensino da língua
Se o objetivo principal do trabalho de análise e reflexão sobre a língua
é imprimir maiorqualidade ao uso da linguagem, as situações didáticas
devem, principalmente nos primeiros ciclos,centrar-se na atividade
epilinguística, na reflexão sobre a língua em situações de produção
einterpretação, como caminho para tomar consciência e aprimorar o
controle sobre a própria produçãolinguística. E, a partir daí, introduzir
progressivamente os elementos para uma análise de
naturezametalinguística. O lugar natural, na sala de aula, para esse
tipo de prática parece ser a reflexãocompartilhada sobre textos reais.
(PCN, p.31)
Apesar do termo em estudo estar presente neste documento, quase duas
décadas se foram e ainda estamos discutindo como ensinar a língua portuguesa em
nossas escolas.
2.2. O CURRÍCULO BÁSICO DA ESCOLA ESTADUAL E O EPILINGUISMO
387
O currículo Básico Comum da Escola Estadual (CBC) publicado em 2009 já propunha a
organização por competências e habilidades, uma educação voltada para a formação
humana. Na parte sobre a área de linguagens, especificamente da Língua Portuguesa,
encontramos
Propõe-se um ensino de Língua Portuguesa sustentado no
desenvolvimento da expressão oral, da expressão escrita e das
habilidades leitora e escritora, considerando o texto o ponto de partida
e de chegada, verdadeiro objeto de estudo da língua, para análise de
seus usos (estudo linguístico e epilinguístico), explorando-lhe os
múltiplos sentidos, analisando-lhe a estrutura gramatical e a
construção de seus sentidos (...) as aulas de português deverão
configurar-se como espaço para o aluno falar, ouvir, ler e escrever
textos em Língua Portuguesa. (CBC, Vol.1, EF, anos finais, 2009,
p.69).
Podemos notar na citação acima que o termo ―epilinguístico‖ se faz presente
também neste documento específico para nossas escolas estaduais, no entanto, não há
uma explicação mais aprofundada sobre como tal se daria no cotidiano do professor.
Falamos muito em formações, mas na prática não há uma condução clara aos
profissionais da rede que mal podem formar-se por conta própria, uma vez que não
somos dispensados atualmente para estudar.
Estando um pouco mais de duas décadas em sala de aula e tendo tido contato
com os documentos referidosao longo deste período, descobri o quanto devo culpar-me
pelo trabalho desenvolvido, nada epilinguístico, mas até então considerado muito
importante; no entanto percebo também o quanto devo culpar o sistema de educação
estadual pela falta de suporte aos seus professores durante muitos anos.
Sempre estive inquieta quanto ao ensino da língua da materna, porém devo
fazer a mea-culpa por ter sido muito gramaticalista. Não elaborava exercícios ou provas
na intenção de reprovar aluno algum, mas sempre havia aqueles que não
―memorizavam‖ os ensinamentos metalinguísticos e ficavam pelo meio do caminho.
Embora reconheçamosnossas falhas, não podemos deixar de refletir sobre a
realidade vivenciada, nestas décadas, quanto ao tempo destinado a estudos e formações.
Não apresentarei justificativas pelo trabalho por vezes ineficiente, no entanto asseguro
que a distribuição de carga horária para planejamento não contemplava (e ainda não
contempla!) espaço para estudo. Na verdade, nem tempo de planejamento era, pois
ficávamos com apenas cinco horas semanais para corrigirmos trabalhos, redações,
provas entre outras atividades, o que não favorecia um bom planejamento e uma boa
formação. Sem contar o espaço físico destinado a estas atividades! Raramente aparecia
388
algum material de estudo e pesquisa; a sala destinada à biblioteca era um lugar de
―amontoar‖ os livros e objetos de pouco uso...
Infelizmente esta realidade não foi modificada em todos os recantos deste país
e creio que ainda não o seja tão cedo. Nossas escolas têm um longo caminho a percorrer
para dar conta de uma educação que considere a formação do profissional como um
momento imprescindível para a melhoria da qualidade educativa de que tanto se
reclama. Começar a mudança oportunizando formação é sinal de interesse verdadeiro
pela educação.
3. A EPILINGUÍSTICA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Para aprofundar o assunto faz-se imperioso abordar o pensamento de
estudiosos da língua portuguesa que, conforme apontara anteriormente, consideram o
aprendizado da língua materna mais relevante quando os próprios aprendizes forem
responsáveis pela construção do seu conhecimento, conquistando autonomia com as
atividades epilinguísticas. (REZENDE.2013).
Para um ensino eficaz da língua portuguesa será necessário ―recuperar no
estudo gramatical a dimensão do uso da linguagem” (FRANCHI, 1991, p.23). A
relação de sentido que construímos no uso da nossa linguagem é o que nos permite uma
verdadeira comunicação dialógica, onde podemos atuar considerando as situações
específicas da linguagem por meio da escrita, do relato, da descrição, argumentação e
outros instrumentos verbais da cultura contemporânea (FRANCHI,1991).
Nossa função como professores de língua portuguesa é conduzir nossos alunos
à diversificação dos recursos expressivos da nossa língua, levando-os a operarem sua
própria linguagem considerando a variedade dos fatos gramaticais. Ao fazerem
hipóteses das operações de linguagens comparando expressões, transformando-as,
experimentando novas formas de construções linguísticas e de novos significados
poderemos dizer que estamos trabalhando de forma epilinguística, segundo Franchi.
Este mesmo autor assim define atividades epilinguísticas:
Trata-se de levar os alunos desde cedo a diversificar os recursos
expressivos com que fala e escreve e a operar sobre sua própria
linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais de sua
língua. É aí que começas uma prática ou a intensificação de uma
prática que começa na aquisição da linguagem, quando a criança se
exercita na construção de objetos linguísticos mais complexos e faz
hipóteses de trabalho relativas à estrutura de sua língua. Chamamos de
atividade epilinguística a essa prática que opera sobre a própria
389
linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos
modos de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem,
investe as formas linguísticas de novas significações (FRANCHI,
1991, p.36).
João Wanderlei Geraldi (1991) defende que para o estudo da linguagem e sua
constituição é preciso pensar a atividade epilinguística a partir das ações que se fazem
sobre e da linguagem; não somente com a linguagem. Ele propõe que a linguagem
permite que os três tipos de ação (sobre, da e com) se concretizam nos recursos
expressivos da linguagem que permitem a reflexividade, pois na aprendizagem da
linguagem há um ato de reflexão sobre ela mesma, é preciso, pois, reconhecer que o
funcionamento da língua materna não se dá a partir da gramática, mas a partir do
sentido de sua enunciação, de seu significado no uso comum da mesma.
Para Geraldi (2006)Muito mais do que descrever, trata-se de usar os recursos
expressivos. Muito mais do que classificar, trata-se de perceber relações de similitude e
diferença.Em um estudo específico sobre atividades epilinguísticas no ensino da língua
materna ele destaca
Podemos caracterizar as atividades epilinguísticas como atividades
que tomando as próprias expressões como objeto, suspendem o
tratamento do tema da conversação ou do texto para refletir sobre os
recursos expressivos postos em funcionamento (GERALDI,2015,
p.60).
3.1. ATIVIDADES VERBAIS EPILINGUÍSTICAS
As atividades propostas a seguir são pequenos ensaios na tarefa de operar
epilinguisticamente com a linguagem e ensinar as concordâncias verbais conformes
situações diferenciadas de tempo e pessoas.
3.1.1 – Reescreva o texto considerando as proposições que se fazem abaixo:
a) Acrescente ao fragmento uma expressão que indique um tempo futuro;
b) Escreva o nome de outra pessoa para acompanhar Jonas e juntos realizarem
as mesmas ações descritas;
c) Na reescrita do fragmento acima, acrescente o que teria Jonas encontrado.
Jonas chegou apressado, pegou a escada que ficava guardada na área e levou-
a até seu quarto. Revirou a parte superior do guarda-roupa, jogou papéis e
pequenas peças de um jogo de dominó no chão e sorriu aliviado quando
encontrou o que procurava.
390
* Para atividade o aluno deverá inserir elementos que podem alterar toda a
forma de conjugação verbal, refletindo sobre o tempo e o número.
3.1.2 – Preencha o trecho abaixo com palavras que podem ser adequadas ao contexto:
*Esta atividade pode ser realizada apenas no intuito de fazer o aluno refletir
sobre o melhor verbo para completar a lacuna e pode ainda, a partir de um
outro comandopropor o uso de apenas um verbo nos espaços onde possuem
verbos compostos.
4CONCLUSÃO
A partir dos estudos realizados para o ensino de língua portuguesa
considerando a linguagem de uso, trabalhando a gramática sem o tradicionalismo de
iniciar os estudos pela gramática normativa e permitir que o aluno falante nativo
aprenda a linguagem formal de forma reflexiva, podemos perceber que muita coisa pode
melhorar no ensino da língua portuguesa.
As reflexões propostas pelos linguistas que estudam há tempos, o que hoje nos
inquieta, é a forma mais tranquila e livre de se trabalhar com nossa língua. A teoria das
operações enunciativas de Culioli pode contribuir e muito com a mudança do quadro
gramaticalista que prevê o estudo pelo estudo, com classificações e memorizações.
Importa, no entanto, que esta seja amplamente compreendida e utilizada por nós quando
de nossos planejamentos.
A metodologia voltada para a reflexividade e para uma aprendizagem
significativa, e criativa como nos propõe Carlos Franchi em Criatividade e Gramática,
permite que as atividades epilinguísticas estimulem a todos os atores do discurso numa
atitude dialógica, o que contribui para uma aprendizagem significativa. A realização das
Sara de Oliveira ____17 anos e há 9 meses _______________como menor aprendiz.
Para ela, a ampliação do tempo de trabalho traz preocupação. ―Tenho certeza que
______ficar mais difícil conseguir um emprego, as empresas geralmente
____________ empregados que estão há mais tempo. E depois de trabalhar por muito
tempo, sem nunca poder __________ ou perder o emprego, ainda
________________uma renda que nem _______ me manter. É difícil‖, lamenta.
(A Gazeta.11/12/16.Economia, p.35)
391
atividades epilinguísticas conduziram o aluno ao aprendizado de forma concreta e com
maior interação.
REFERÊNCIAS
Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Versão inicial (em
desenvolvimento).
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
língua portuguesa. – Brasília. 1997, 144p. Vol. 01 e 02.
Espírito Santo (Estado). Secretaria da Educação. Curriculo Básco Escola Estadual.
Ensino Fundamental: anos finais. Vol 01 - Área de Linguagens e Códigos. Vitoria.
Sedu, 2009.
FRANCHI, Carlos. Criatividade e Gramática. São Paulo(estado) Secretaria de
Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. SP. 1991, 39p.
GERALDI, João Wanderley. Atividades Epilinguísticas no ensino da Língua
Materna. V SIELP - Simpósio Internacional de Língua Portuguesa, Universidade do
Minho, Portugal, 27-29/01/16. Revista de Humanidades e Letras, vol 2, nº 1. Ano 2015,
p. 55-65.
La théorie des operations énonciatives / Antoine Culioli/ sites acessado em 27/11/16.
https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_theorie_des_operations
_enonciatives_antoine_culioli.78831973 : ―Sur quelques contradictions en
linguistique‖ ; in Communications, no20, [Seuil, Paris], pp. 83-91
REZENDE, L. M. A indeterminação da linguagem e o conceito de atividade no
ensino de língua materna. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 40, n. 2, p.707-714.
Disponível em:
<http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/40/el.2011_v2_t20.red6.pdf>.
Acesso em: 20 jun. 2013.
ROMERO, Márcia. Epilinguismo: considerações acerca de sua conceitualização em
Antoine Culioli e Carlos Franchi. ReVel, v.9, nº 16, 2011. (www.revel.inf.br).
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática.
São Paulo: Cortez, 2006.
WAMSER, Camila Arndt e REZENDE, Letícia Marcondes. Atividade epilinguística e
o ensino de língua materna: um exercício com a conjunção mas. Signo [ISSN 1982-
2014]. Santa Cruz do Sul, v. 38, n. 64, p. 2-20, jan./jun. 2013.
ATIVIDADE EPILINGUÍSTICA NA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA A
PARTIR DA LINGUAGEM SINCRÉTICA
Ana Paula Cardoso dos Santos Tavares (IFES)
392
Sandra Mara Mendes da Silva Bassani (IFES)
Resumo: Este artigo tem por finalidade discorrer sobre a importância das atividades
epilinguísticas no processo de aprendizagem do texto escrito, a partir da leitura de textos de
linguagem sincrética. A fim de sustentar nossas reflexões, apresentamos uma atividade de
produção de texto aplicada em duas turmas do 7º ano em uma escola da Rede Municipal de Vila
Velha, ES. Inicialmente, apresentamos os conceitos de epilinguísmo e de linguagem sincrética
e, em seguida, pontuamos a importância do professor como mediador do processo de produção
textual, a partir da perspectiva epilinguística. Para fundamentar as reflexões acerca do
epilinguísmo e da linguagem sincrética, recorremos aos estudos de Carlos Franchi (1991), Stela
Miller (2003), Valdire Pereira da Conceição (2009), Marília Onofre e Márcia Romero (2013),
Lucia Teixeira (2009) e José Luiz Fiorin (2009). Em seguida, descrevemos como foram
realizadas as aulas que antecederam a produção textual e a proposta de produção aplicada em
sala de aula. Por último, analisamos os textos, que foram desenvolvidos em duas versões, a
partir da mesma motivação. Os resultados comprovaram avanços nas produções textuais por
meio da atividade epilinguística e da leitura de textos sincréticos. Desta forma, concluímos que
o aluno precisa refletir sobre os recursos linguísticos que já possui para produzir um texto e, em
seguida, transformá-lo utilizando essa reflexão.
Palavras-chave: Atividade epilinguística. Linguagem sincrética. Produção textual.
Abstract: This article aims to present the importance of epilingualistic activities in the process
of learning how to write a text using syncretic language texts. In order to support our
reflections, we present an activity of text production applied in two classes of the 7th grade in a
school of Vila Velha city, ES. Initially, we present the concepts of epilingualism and syncretic
language. We also point out the importance of the teacher as mediator of the textual production
process from the epilingualistic perspective. In order to base such reflections on epilingualism
and syncretic language, we used the studies of Carlos Franchi (1991), Stela Miller (2003),
Valdire Pereira da Conceição (2009), Marília Onofre and Márcia Romero (2013), Lucia
Teixeira (2009) and José Luiz Fiorin (2009). Next, we describe how the classes that preceded
the textual production and the production proposal applied in the classroom were carried out.
Finally, we analyze the texts, which were developed in two versions from the same motivation.
The results proved that there were upgrades in the textual productions with reference to the
epilingualistic activity and the reading of syncretic texts. In this way, we concluded that the
student needs to reflect on the linguistic resources he already has to produce a text and then
transform it according to this reflection.
Keywords: Epilingualistic activity. Syncretic language. Text production.
INTRODUÇÃO
Esse artigo apresenta uma atividade epilinguística na produção textual escrita e
alguns resultados a partir da leitura de um texto sincrético. Essa atividade foi realizada
em duas turmas do 7º ano do ensino fundamental, em uma escola da Rede Municipal de
Vila Velha, ES, e foi possível perceber que quando há um exercício de reflexão sobre
393
um determinado tema, tendo como suporte a leitura de textos sincréticos, o aluno sente-
se mais seguro e consciente em desenvolver suas ideias.
Onofre e Romero concebem a noção de criatividade na atividade epilinguística
de produção textual de forma distante dos padrões tradicionais que vinculavam a
criatividade à originalidade, mas que se aproxima do:
Diálogo instaurado pelo aluno entre o texto empregado como
motivador para a sua produção e seu texto gerado nessa relação. Há
assim, várias possibilidades criativas que podem ser desencadeadas a
partir desse diálogo, no qual se somam as demais leituras a que o
aluno recorre, como fruto de suas experiências empírico-formais.
Interessa-nos, pois, explorar o modo como o aprendiz opera com essas
relações, paralelamente a outras possibilidades que também podem ser
empregadas, para, então, apontar os pontos que podem ser valorizados
ou desvalorizados em um texto (ONOFRE e ROMERO, 2013, p. 565).
Destacamos também a importância de os alunos saberem o que deverão escrever
e a necessidade de uma sensibilização prévia para o tema. Para essa atividade de
sensibilização e reflexão sobre o tema, escolhemos o texto sincrético, que mistura as
linguagens verbais e não verbais que se manifestam em um único texto.
A partir dessa perspectiva, estruturamos o artigo em seções. Na primeira,
apresentamos os conceitos de epilinguísmo e linguagem sincrética; na segunda, as
características da atividade epilinguística na produção textual e a mediação do
professor. Na terceira, apresentamos a proposta de produção textual que foi
desenvolvida na sala de aula e, por último, alguns resultados.
1 EPILINGUÍSMO E LINGUAGEM SINCRÉTICA
Segundo Miller (2003, p. 1): ―A atividade epilinguística é o exercício da
reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação que se faz sobre ele, a fim de explorá-lo
em suas diferentes possibilidades de realização‖. Dessa forma, a atividade epilinguística
se diferencia tanto da atividade linguística, que está mais voltada para o ato de ler e
escrever, como da atividade metalinguística, que descreve e analisa a linguagem como
um objeto de estudo.
A partir das atividades de produção textual, sejam orais ou escritas, utilizando a
atividade epilinguística, o aluno terá oportunidade de refletir sobre os usos dos recursos
linguísticos que ele domina e assim poderá posicionar-se diante de um texto lido.
Segundo Miller (2003), na perspectiva epilinguística o processo de produção de texto
394
escrito requer um momento de discussão coletiva prévia, leitura e análise de textos do
mesmo tipo que o aluno está escrevendo, além de uma atividade de confrontação entre
os textos lidos e os textos produzidos pelo aluno.
Esses momentos de confrontações e discussões são entremeados com
momentos de escrita e reescrita individuais do texto, num processo de
ação-reflexão-ação que possibilita ao aprendiz, num primeiro
momento, lançar mão de seus conhecimentos prévios para produzir
seu texto; em seguida, pelas leituras, análises e confrontações que faz
dos textos lidos com sua própria produção, em interação com os
demais alunos e com o professor, refletir acerca da adequação de seu
texto à situação de comunicação em que se insere e às exigências
linguísticas próprias do texto que escreve, para fazer nele as alterações
que forem necessárias ao longo do processo e, finalmente, chegar à
escrita definitiva do texto (MILLER, 2003, p. 6).
Consideramos nesse artigo a expressão criativa do texto escrito, visto que a
atividade de produção textual não deve ser apenas uma escrita a partir das
características do gênero exigido, a fim de ser cumprida uma tarefa escolar, mas
proporcionar uma reflexão sobre o que está sendo escrito. Sem um conhecimento prévio
sobre um determinado assunto, possivelmente o aluno terá dificuldade de desenvolver o
texto proposto. Portanto, toda aula de produção de texto exige uma preparação para que
a produção textual ocorra de forma mais segura e criativa.
A criatividade se manifesta pelo modo próprio com que cada um se
coloca em relação a seu tema: nos diferentes pontos de vista e
perspectivas em que representa os eventos ou processos, organiza os
aspectos da realidade que descreve, orienta a argumentação, expressa
as suas atitudes. É a própria experiência pessoal da realidade que o
falante informa num desenho próprio em que ele mesmo controla as
transparências e a opacidade, o que ilumina e o que sombreia, as
máscaras com a que deseja revestir (FRANCHI, 1991, p. 13).
Diante disso, acreditamos que a atividade epilinguística na produção textual
escrita a partir da leitura de textos que apresentem a linguagem sincrética contribua de
forma significativa para o desenvolvimento da produção textual criativa e reflexiva nas
aulas de Língua Portuguesa.
Segundo Fiorin (2009, p.35): ―Os textos sincréticos são aqueles compostos por
diversas linguagens de manifestação e produzidos por uma única enunciação‖. Esses
textos estão presentes massivamente no cotidiano dos alunos, por isso, a necessidade de
compreendê-los de forma crítica e eficiente.
395
Devemos considerar que grande parte dos alunos que frequenta a escola nasceu e
cresceu em meio às novas tecnologias e, dessa forma, utilizam-nas de maneira muito
natural. O vídeo, a música, a imagem estática ou em movimento são elementos diários
de comunicação. Além disso, os outdoors, as propagandas televisivas ou impressas se
sobressaem num misto de linguagens.
Encontramos em Fiorin a defesa de que as semióticas sincréticas constituem um
todo de significação e, portanto, que há um único conteúdo manifestado por diferentes
substâncias da expressão, ou seja, no texto sincrético há uma superposição de conteúdos
que se constituem em um único texto.
Cada conteúdo é um funtivo e o sincretismo é a superposição de todos
os funtivos. A manifestação do sincretismo pode ser idêntica à
manifestação de todos os conteúdos ao mesmo tempo e, por
conseguinte, tem-se uma fusão. Pode ocorrer, no entanto, que certos
conteúdos sejam manifestados por uma determinada linguagem e não
por outra (FIORIN, 2009, p. 35).
Desta forma, quando pensamos na manifestação da linguagem sincrética, não
podemos pensar nos elementos que a compõem de maneira isolada, mas de forma única,
em que o sentido do texto ocorre em meio a essas superposições de linguagens.
Segundo Fiorin (2009, p.38): ―Se houvesse uma enunciação para cada linguagem, o
resultado seria colocar uma linguagem ao lado da outra, sem que houvesse uma
superposição da forma da expressão e, por conseguinte, sem que dela resultasse um
sincretismo‖.
A partir disso, reconhecemos o texto sincrético por sua força enunciativa
coesiva, que junta as materialidades significantes em uma nova linguagem, como, por
exemplo, histórias em quadrinhos, peças teatrais, cinema, novelas, jornais, anúncios
publicitários, campanhas publicitárias, etc.
O sincretismo da forma da expressão é, assim, o estabelecimento de
uma forma de expressão de cada uma das semióticas que entram em
sincretismo, pois os traços particulares de cada uma delas deixam de
ser levados em conta isoladamente e passam a expandir e condensar
efeitos de matéria e de sentido no atrito, sobreposição, contração,
contato entre as materialidades das diferentes linguagens (TEIXEIRA,
2009, p. 59).
2 ATIVIDADE EPILINGUÍSTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL E MEDIAÇÃO
DO PROFESSOR
396
É muito comum ouvirmos dos colegas professores de Língua Portuguesa uma
insistente queixa acerca do desinteresse dos alunos do Ensino Fundamental pela
produção textual. Por outro lado, observamos que durante as aulas a maioria dos
professores apresenta apenas o tema ou outros textos verbais para o início de uma
produção. Com a ausência de um debate coletivo e sem o diálogo com outras linguagens
sobre o assunto a ser desenvolvido, os alunos apresentam cada vez mais dificuldades
para escreverem o texto.
Na atividade epilinguística de produção textual, o professor tem fundamental
importância no processo de debate e reflexão, pois ele é quem irá orientar os alunos
sobre os recursos expressivos da língua e sobre os diferentes sentidos que um texto
verbal ou sincrético oferece. Além disso, na atividade epilinguística é imprescindível o
processo de reescrita, que também será orientada e motivada pelo professor.
É necessário que o professor tenha um comportamento proativo, que
não se limite a levar exercícios prontos, com vistas a uma
interpretação linear, ou seja, aqueles que não estimulam o aluno a
pensar. É preciso que o professor proponha atividades das quais seja
possível a desautomatização da linguagem sem suas variadas formas
de expressão o que redunda na ideia do despertar da criatividade,
sobretudo na produção textual (CONCEIÇÃO, 2009, p. 1041).
Vale ressaltar, que na proposta epilinguística não se pretende excluir o ensino da
gramática, mas apresentá-la de forma mais produtiva e dinâmica. O objetivo que se
pretende alcançar é que o aluno seja capaz de entender a função morfológica e sintática
sem precisar decorar nomenclaturas ou repetir exercícios com frases soltas. Na
epilinguística, usa-se inicialmente a gramática internalizada, e durante o processo de
leitura, reflexão, construção e reconstrução dos textos, o aluno irá ampliando o
repertório linguístico que já possui. O professor, por sua vez, deve dominar os
conhecimentos linguísticos, a fim de planejar atividades, sem necessariamente
apresentar nomenclaturas.
Também cabe ao professor, ao planejar uma aula de produção textual, apresentar
as características do tipo de texto solicitado e expor a importância da leitura de
diferentes textos, a fim de que o aluno tenha informações suficientes para refletir e
escrever sobre o tema proposto. Além disso, o professor deverá promover debates,
ampliando a discussão sobre os diferentes pontos de vista, numa relação dialógica entre
o professor, a turma e os textos.
A utilização da atividade epilinguística na produção textual escrita,
cria uma situação de confronto entre os conhecimentos linguísticos do
397
aluno e os exigidos pela escola/professor, fato esse que requer
discussões coletivas sobre a relevância de determinados aspectos na
reelaboração e/ou releituras de partes do texto, no momento de sua
produção, bem como, a importância do trabalho de leitura e análise de
textos sociais do mesmo tipo que o aluno esteja escrevendo. Esse
momento de trocas verbais coletivas, instrumentaliza o aluno com as
informações necessárias ao controle, adequação linguística e
autonomia na produção textual (CONCEIÇÃO, 2009, p.1043).
3 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL APLICADA
EM SALA DE AULA
A fim de sustentar nossas reflexões, apresentamos uma atividade de produção de
texto aplicada em duas turmas do 7º ano em uma escola da Rede Municipal de Vila
Velha, ES. O objetivo foi desenvolver uma atividade epilinguística na produção textual
escrita a partir da linguagem sincrética. Inicialmente, apresentamos como foram
realizadas as aulas que antecederam a produção textual, em seguida, descreveremos a
proposta de produção aplicada em sala de aula e a análise dos textos.
3.1. RECONHECENDO O TEXTO NARRATIVO
A fim de que a turma reconhecesse as caraterísticas do texto narrativo e ao
mesmo tempo se familiarizasse com o tema da produção textual que seria apresentando,
foi realizada uma leitura coletiva do conto ―Para que ninguém a quisesse‖, de Marina
Colasanti, com alguns verbos em negrito.
Quadro 1: Texto narrativo
Para que ninguém a quisesse
Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e
ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos.
Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda
assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe
os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se
interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse
em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da
mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela.
Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso
uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos.
398
Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela casa
de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
Fonte: COLASANTI, Marina. "Para que ninguém a quisesse". In: Contos de amor rasgados. Rio
de Janeiro: Rocco, 1986. p. 111-2.
Em seguida, foi realizada uma conversa entre os alunos sobre de que maneira
poderíamos analisar e refletir sobre as ações, reações e transformações das personagens
envolvidas. A partir das palavras grifadas no texto, sem apresentar a nomenclatura
verbo, os alunos foram convidados a pensar sobre qual personagem havia executado
essas ações e se a maneira como foram construídas algumas expressões nos ajudaria na
identificação das características das personagens e da relação que existia entre o casal.
O desfecho do texto também foi ressaltado, a fim de que os alunos justificassem, a partir
das experiências que eles já possuíam, se a personagem feminina da história havia
sofrido algum tipo de violência. Na opinião deles, como ela deveria reagir.
Vale ressaltar que nesse momento não foi necessária a identificação das
características do texto narrativo, visto que ao ler o texto de forma coletiva e reflexiva, o
próprio aluno foi reconhecendo, por meio da estrutura do texto apresentado, que tipo de
texto ele estava lendo.
3.2. PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL APLICADA EM SALA DE AULA
Na aula seguinte, os alunos receberam um texto sincrético, que dialogava com o
tema da violência doméstica, que havia sido abordado na aula anterior. O texto utilizado
foi um cartaz de campanha publicitária (Figura 1) produzido pelo Instituto Patrícia
Galvão.
Além do texto verbal, a peça publicitária apresenta uma ilustração de uma
família, que remete ao desenho de uma criança. Os alunos foram convidados a observar
todos os elementos verbais e não verbais presentes no cartaz e a imaginarem diferentes
situações que levariam alguém a desenhar uma família dessa forma.
Figura 1: Peça publicitária
399
Fonte: Centro Sérgio Buarque de Holanda (2016)
Após uma análise coletiva de todos os elementos presentes no texto sincrético,
os alunos foram orientados em relação a produção textual escrita, que deveria ser feita
individualmente. Como a atividade foi realizada em duas turmas de 7º ano, foi
invertida, propositadamente, a ordem da produção da primeira escrita e da segunda
versão em cada turma.
Quadro 2: Proposta da primeira versão do texto, turma 1:
Observe a imagem e escreva um texto narrativo procurando ir além dos fatos
acontecidos. Narre com sensibilidade, pensando nos sentimentos de cada personagem
apresentado na imagem. O narrador deve ser obrigatoriamente, a mãe ou um dos filhos.
Lembre-se de mencionar onde aconteceu o fato e de especificar o tempo. Faça a
apresentação das personagens e, se quiser, dê nome a eles. Se possível, guarde uma surpresa
para o final, de modo que o leitor reflita sobre a situação apresentada. Escreva de forma
simples e direta, procurando proximidade com o leitor, e empregue em seu texto a
variedade padrão informal ou outra, de acordo com as personagens envolvidas. Dê um
título para o seu texto.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)
Na aula seguinte, os alunos foram convidados a lerem seus textos para os
colegas e justificarem a escolha do narrador-personagem. Nesse momento, foi avaliada
a coerência com a proposta solicitada, a clareza das informações e a utilização dos
400
elementos da linguagem sincrética para essa atividade epilinguística de produção
textual.
Quadro 3: Proposta da segunda versão do texto, turma 1:
Após a leitura do texto que você produziu, faça uma segunda versão da história,
porém, o narrador-personagem deverá ser obrigatoriamente o pai. Ou seja, você
deverá refletir sobre o que levou o pai a ser visto como um monstro pela família, quais
foram os possíveis motivos que o fizeram um monstro. O pai estaria arrependido ou
faria tudo novamente? Procure contar o fato de uma forma que envolva o leitor,
despertando nele o interesse pela narração. Se possível, guarde uma surpresa para o
final, de modo que o leitor reflita sobre a situação apresentada. Escreva de forma
simples e direta, procurando proximidade com o leitor, e empregue em seu texto a
variedade padrão informal ou outra, de acordo com as personagens envolvidas. Dê um
título para o seu texto.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)
3.3 PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS
Quadro 4: Primeira versão turma 1: aluno 1
Papai Monstro
Meu nome é Ana, mas meu irmãozinho e a mamãe me chamam de Aninha, e
papai nem fala meu nome, às vezes penso que nem sabe, e tenho 12 anos, assim como
meu irmão gêmeo, Lucas. Sempre que a mamãe se arruma antes de papai chegar, ela
fica cantarolando e olhando fotos do casamento dela. Vi sua feição mudar hoje à noite,
quando papai chegou pálido como um vampiro e os olhos vermelhos igual ao laço do
meu cabelo.
Ele gritou muito com ela, o rosto da mamãe ficou igual ao meu quando peguei
seu batom escondido e ela descobriu. Enquanto o bebê Miguel, chorava no berço, eu e
meu irmão ficamos escondidos embaixo da mesa. Mamãe gritava e se abraçava e fazia
uma cara igual ao meu irmão Lucas, quando ele quebrou o braço. Papai a largou e veio
até nós e nos bateu, (ele fedia) fiquei com muita dor, mas eu não entendia, pois eu não
havia quebrado nenhum prato, fui bem na escola...
Depois de um tempo, vi carros de polícia lá fora, mamãe caída no chão e papai
sendo levado embora igual a um cão.
Hoje estou lendo esta história para o meu pai na prisão, e tentando lhe mostrar as
eternas sequelas que deixou em seus filhos e sua esposa, que se via a paixão queimar em
seus olhos, mas hoje em dia, nem luz há neles, pois estão fechados.
M.N. 7º ano A - 13 anos (menina).
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no texto do aluno M.N. 7º ano A (2017)
Quadro 4: Segunda versão turma 1: aluno 1
Eu fui o monstro
Meu nome é Marcos, tenho 54 anos, mas eu tinha 46 quando a minha história
401
mudou. Há tempos naquela época, eu vinha sentindo muitas enxaquecas, e um dia um
amigo me deu um remédio, que depois descobri ser uma droga maléfica. Eu tinha uma
bela família, e uma esposa tão maravilhosa...
Um dia, depois do horário de serviço acabar, senti grande necessidade de
satisfazer meu vício. E fiz isso, até perder a consciência, não me lembro bem como
cheguei em casa, mas a raiva de tudo em minha vida se apoderou de mim, lembro-me de
ter batido muito na minha esposa, minha linda, amada, maravilhosa mulher ... perdi
minha sanidade, eu estava tendo prazer em fazer aquilo com ela, depois agredi meus
gêmeos de 12 anos, Ana e Lucas, meus amados... e o bebê Miguel gritava lá de cima e
me irritava mais.
Havia muita gritaria, meu cunhado apareceu, depois a polícia, depois não me
lembro. Fui julgado, preso e perdi quem mais amava, Karla.
Minha filha, hoje adulta, é a única que me visita na prisão, e ela me mostrou que
não foi erro ter sido drogado, mas foi erro meu ter permanecido me drogando e ter
deixado eternas cicatrizes físicas e emocionais causadas por mim em minha família.
M.N. 7º ano A - 13 anos (menina).
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no texto do aluno M.N. 7º ano A (2017)
Na segunda turma, a primeira proposta de produção textual orientava para que o
narrador-personagem fosse o pai.
Quadro 5: Primeira versão turma 2: aluno 2
O monstro do passado
Já viram presidiário escritor?! Não né? Mas, não estou conseguindo descansar
nessa madrugada. Ontem foi dia de visita e recebi um desenho do meu filho mais velho,
que não me deixou dormir até agora. Como vim parar aqui? Dá pra explicar pelo
desenho.
Eu tenho uma família linda, formada pela minha mulher, a Rosa, minha filha
Aninha, de 6 anos, o meu filho mais velho Gustavo de 10 e meu caçulinha. Minha
mulher estava grávida de 7 meses quando eu fui preso, o neném tinha até nome, era
Wallace Junior, o mesmo nome que o meu! Não pude ver ele ainda, também não quero
que Rosa traga ele aqui! Quero que eles conheçam um novo pai, diferente daquele que o
Gustavo desenhou, um monstro que ficou no passado, que bebia e agredia a sua esposa,
que destruía a sua família de pouco a pouco.
Hoje há um ano neste lugar tenho noção de quanto fui horrível, me arrependo e
peço perdão a todos vocês meus filhos, e principalmente a você Rosa. Obrigado por não
desistir de mim. Amo vocês!
De: Um novo homem
Para: As razões da minha vida.
C.D – 7º ano B - 14 anos (menina).
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no texto do aluno C.D. 7º ano B (2017)
Nesta segunda proposta de produção textual da segunda turma, o narrador-personagem
deveria ser a mãe ou um dos filhos.
402
Quadro 6: Segunda versão turma 2: aluno 2
Oi meu amor, recebemos a carta que mandou pra gente, quero dizer que hoje
todos nós temos certeza que aquele monstro ficou no passado. Nós acreditamos que
você tenha mudado sim, e que a gente vai ser muito feliz! Tudo o que já passei com
você me fez lutar mais ainda pra fazer a nossa família feliz, eu te desculpo, te perdoo
por tudo, vamos esquecer esse passado, vamos só lembrar dos ensinamentos que ele nos
trouxe, o amor, a união e o respeito! E vamos começar uma nova vida.
Não se preocupe com as crianças, eles estão todos bem... Tô fazendo umas
faxinas pra manter a casa e não deixar faltar o leite e a fralda!
Nunca iremos desistir de você, não te abandonamos jamais! Não te esquecemos!
Contamos os dias pra te ver. Te amamos!
De: Rosa
Para: Wallace
C.D – 7º ano B – 14 anos (menina).
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no texto do aluno C.D. 7º ano B (2017)
3.4 ANÁLISE DOS TEXTOS
A atividade epilinguística na produção textual escrita a partir da linguagem
sincrética foi realizada em duas turmas do 7º ano, num total de 55 alunos, sendo 21
meninos e 34 meninas, entre 12 e 15 anos. O objetivo era que os alunos produzissem
um texto narrativo com diferentes focos. Sem apresentar conceitos de narrador-
personagem ou narrador observador, foi proposto que os alunos escolhessem uma
personagem da imagem para contar a história. Em uma proposta, o olhar deveria ser
obrigatoriamente da mãe ou um dos filhos apresentados no texto sincrético e na outra,
obrigatoriamente, do pai.
Na proposta em que o narrador-personagem deveria ser obrigatoriamente a mãe
ou um dos filhos, a maioria contou a história pelo olhar do menino da imagem, que
apresentava, coincidentemente ou não, a mesma faixa etária do grupo.
Gráfico 1: Escolha do narrador
403
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)
Vale ressaltar que quando o foco narrativo foi a mãe ou um dos filhos, o pai foi
apresentado como um homem violento e sem arrependimento. Entretanto, quando o
narrador-personagem foi o pai, a maioria o retratou como um homem arrependido pelas
suas ações de violência contra a mulher e os filhos.
Gráfico 2: Perfil do pai como narrador-personagem
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)
A partir destes dados, foi possível apresentar para as turmas a importância do
foco narrativo nos textos literários, visto que quando uma personagem assume a
condição de narrador-personagem há uma forte presença de traços subjetivos e
emocionais no desenrolar dos fatos, que devem ser considerados durante a compreensão
e reflexão de um texto.
A partir dessas observações, eles mesmos puderam constatar que, quando o pai
passou a ser o narrador da história, os motivos da violência contra a família foram
67%
18%
15%
Escolha do narrador
Menino
Menina
Mulher
76%
24%
Pai narrador-personagem
Pai arrependido
Pai mau e cruel
404
transferidos para os vícios da bebida, das drogas ou do desemprego; o pai tornou-se
arrependido e disposto a mudar.
Constatamos também que todos os textos, sem exceção, apresentaram pelo
menos um ou vários elementos que foram apresentados no texto sincrético, como o
número de filhos, uma personagem chamada Aninha, a tristeza da família e,
principalmente, a figura do pai, vista como um monstro, ou seja, a motivação do texto
publicitário propiciou uma elaboração criativa e descritiva das personagens, tanto
fisicamente como psicologicamente.
Ao escolher os textos da aluna da turma 1 e da turma 2 nas duas versões para
ilustrar o trabalho, o objetivo foi comparar os dois textos. No primeiro, a aluna mantém
uma coerência de idade e de nomes das personagens e atende a atividade proposta ao
produzir um texto narrativo próximo a um relato de experiência; o texto é claro,
criativo, bem escrito, e ainda traz elementos do texto sincrético para descrever as
personagens, o que comprova a nossa hipótese de que o texto sincrético contribui para a
motivação do texto escrito.
No segundo texto, da aluna da turma 2, ela apresenta um diálogo de amor,
arrependimento e perdão entre os dois textos que ela produziu, o que nos possibilita
inferir que em seu conhecimento de mundo as mulheres agredidas por seus parceiros
tendem a reconciliar-se e reatar o relacionamento em nome dos filhos e do amor. A
aluna utiliza um formato de carta, embora não utilize a estrutura padrão do gênero.
Também foi criativa e coerente com a proposta apresentada, já que a carta também pode
ser classificada como um texto narrativo, utilizou a motivação da linguagem sincrética,
ressaltando a figura do pai monstro, dos dois filhos mais velhos e do bebê, que ainda
usa fraldas. A aluna não utiliza título, como solicitado na proposta, provavelmente
porque escolheu o gênero carta.
Ao produzir duas versões de um texto, motivado por um único texto de
linguagem sincrética, considerando focos narrativos distintos, os alunos tiveram a
oportunidade de refazer o texto, acrescentando também um outro ponto de vista a partir
de um mesmo fato, e mesmo sem usar nomenclaturas para a produção de gêneros
textuais, produziram diferentes textos narrativos, como: conto, crônica, relato de
experiência e carta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
405
A partir da produção textual tendo como referência a atividade epilinguística,
vimos que o aluno precisa refletir sobre os recursos linguísticos que já possui para
produzir um texto e para transformá-lo em função dessa reflexão. Para isso, é
imprescindível que o professor apresente atividades que estimulem a leitura e a
produção de texto de forma criativa e reflexiva.
Nesta atividade, apresentamos a contribuição da linguagem sincrética, visto que
esta linguagem apresenta algumas leituras possíveis em um único texto e, ao explorar
essas novas possibilidades de sentido, o aluno consegue desenvolver com mais
segurança e criatividade seu próprio texto. Nesse processo, a criatividade está mais
relacionada à originalidade do texto desenvolvido, que foi gerado a partir de um diálogo
entre diferentes textos, aluno e professor, além do acréscimo que o aluno trouxe de suas
experiências dentro e fora da escola.
Ressaltamos que na atividade epilinguística é de suma importância o processo de
reescrita, que também deve ser orientada e motivada pelo professor. Ao reescrever o
texto, o aluno poderá verificar a coesão, a coerência, a gramática e a ortografia,
refletindo sobre sua escrita e possibilitando que o leitor o compreenda. Portanto, espera-
se que ao final de uma atividade epilinguística para a produção textual, o aluno tenha
refletido sobre as leituras realizadas e sobre as escritas desenvolvidas, explorando as
diferentes formas de realização do processo de ler e escrever.
REFERÊNCIAS
COLASANTI, Marina. Para que ninguém a quisesse. In: Contos de amor rasgados.
Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
CONCEIÇÃO, Valdirene P. Os meandros da atividade epilinguística na produção de
texto escrito. Cadernos do CNFL. Vol. XIII, nº 04 UFMA, 2009. Disponível em:
<http://www.filologia.org.br/xiiicnlf/XIII_CNLF_04>. Acesso em: 02 de dez. 2016.
FIORIN, José Luiz. Por uma definição das linguagens sincréticas. In: Linguagens na
comunicação: desenvolvimentos de semiótica sincrética (org.). São Paulo: Estação das
letras e cores, 2009.
FRANCHI, Carlos. Criatividade e gramática. São Paulo: SE/CENP, 1991.
MILLER, Stela. O trabalho epilinguístico na produção textual. GT Alfabetização,
leitura e escrita. UNESP, 2003. Disponível em
<https://www.escrevendoofuturo.org.br>. Acesso em: 02 de dez. 2016.
406
ONOFRE, Marília B; ROMERO, Márcia. O exercício de produção textual sob os
princípios a teoria das operações enunciativas. Letrônica. Porto Alegre, v.6 n.2, p.549-
566, jul. dez. 2013.
TEIXEIRA, Lucia. Para uma metodologia de análise de textos verbovisuais. In:
Linguagens na comunicação: desenvolvimentos de semiótica sincrética (org.) São
Paulo: Estação das letras e cores, 2009.
A HISTÓRIA DO CÉSIO: ANÁLISE DE GRAFITE E SUAS RELAÇÕES
DIALÓGICAS
Célia Helena VASCONCELOS – (G/UFG)
E-mail: [email protected]
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (DRA. UFG)
E-mail: [email protected]
Resumo: O presente trabalho tem o propósito de analisar duas imagens fotográficas do
espaço que se localiza na Rua 57 número 68 Setor Central, na cidade de Goiânia, local
onde ocorreu o acidente radioativo com o Césio 137 no ano de 1987. A pesquisa tem
por finalidade compreender os discursos que circulam no ambiente que foi cenário do
acidente com o elemento radioativo, e que hoje reconta a história da tragédia por
intermédio do lugar e do discurso proferido pela imagem grafitada. O estudo busca
ainda mostrar como essa forma de arte se encontra disseminada pelos muros das cidades
e podem narrar fatos históricos vivenciados pela população de uma determinada época.
Neste caso específico, nossa análise buscou refletir e entender fatos importantes que
fazem parte da história da sociedade goianiense e que são recontados por intermédio do
local onde teve início a tragédia há algumas décadas. A pesquisa é desenvolvida tendo
como principal suporte teórico os conceitos da Análise de Discurso de linha francesa.
Para falar de dialogia, polifonia, ideologia buscamos apoio nas ideias de Mikhail
Bakhtin (VOLOCHINOV, 2014) e seus leitores Brait, Fiorin, Orlandi. Para pensar
questões relacionadas à cenografia buscamos apoio nas concepções do pesquisador
Dominique Maingueneau. Nosso objetivo central foi entender o fenômeno dialógico que
o endereço citado instaura com a história e a sociedade por meio do grafite e do próprio
ambiente.
Palavras-chave: Grafite. Césio-137. Cidade de Goiânia.
Abstract
The objective of this work is to analyze the pictures taken at Rua 57, 68, Setor Central,
in Goiânia, where the radioactive Cesium accident occured in 1987. This study seeks to
understand the discourses located in this scene. Another goal was to comprehend how
this art disseminated on the walls of the cities can narrate the historical facts
experienced by the population of a certain time. In light of this, the analysis focused on
understanding facts that is part of Goiania‘s history. The research is based on the French
speech analysis concepts. The ideas of Mikhail Bakhtin (VOLOCHINOV, 2014) and his
readers Brait, Fiorin, Orlandi were used to discuss dialogue, polyphony, ideology.
Dominique Maingueneau concepts were used in order to support the topics related to
scenography. The main goal of this study is to understand the dialogic phenomenon and
407
the context that is installed with history and society through graphite and the
environment itself.
Keywords: Graphite. Cesium-137. City of Goiânia.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nosso trabalho tem como corpus de pesquisa duas fotos. A primeira é uma foto
do local onde ocorreu o acidente com o elemento químico Césio-137. A segunda é de
um grafite que se encontra no ambiente situado à Rua 57 número 68, no Setor Central
da cidade de Goiânia. Esse grafite reconta o acidente radioativo com o elemento
químico Césio 137 de forma linear.
A pesquisa pretende mostrar como o espaço, trinta anos decorridos do acidente,
ainda profere o discurso do fato que se passou no local aos transeuntes. Essa
demonstração se dá por intermédio de marcas características do acidente que foram
deixadas no espaço. As marcas chamam a atenção dos passantes, que muitas vezes vêm
de outras cidades e visitam o endereço. Alguns fatores no ambiente chamam a atenção,
como, por exemplo, o fato de não ter sido feita nenhuma construção no endereço,
permanecendo por mais de três décadas inabitado, com uma grossa camada de concreto
cobrindo a área do solo, com acúmulo de lixo, transmitindo sentimento de abandono,
medo, solidão e esterilidade, tendo os muros como suporte para a exposição de grafites
e pichações. Dentre essas manifestações se encontra nosso objeto de estudo que é uma
imagem que rememora o acidente radioativo e traz, por meio da arte do grafite,
discursos que foram recorrentes na época que ocorreu a tragédia.
Dessa forma, o local conta a história do acidente radioativo com o Césio 137
de forma artística, em uma imagem que foi inserida em uma de suas paredes, mostrando
vozes sociais que ecoam das figuras que foram feitas na localidade.
Nosso estudo se justifica pela busca em compreender a ocorrência da dialogia
instaurada entre o grafite, o ambiente e os fatos históricos do episódio. Em nossa
pesquisa, partimos do pressuposto que a escolha dos elementos construtivos do discurso
que permeia o ambiente não é aleatória. Há uma elaborada escolha de signos para a
criação de enunciados que rememoram o acidente e mobilizam discursos, narrando o
acidente radioativo de maneira linear.
O desejo em realizar o trabalho nasceu da observação do grafite inserido no
espaço aqui discutido e admiração da criatividade e eficácia comunicativa com que ele
reconta o episódio, bem como do anseio em compreender o diálogo do respectivo lugar
408
com a população que transita pela Rua 57. Nesse sentido, concordamos com as palavras
de Bakhtin (Volochínov) (2014, p. 137) quando diz que: ―A significação não está na
palavra nem na alma do falante, assim como também não está na alma do interlocutor.
Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do material de
determinado complexo.‖
Para o desenvolvimento das análises foram realizados estudos históricos
seguidos de pesquisa bibliográfica dos autores relevantes para o desenvolvimento do
estudo. Na sequência buscamos entender a trajetória percorrida pelo grafite que, embora
hoje goze de certo prestígio como arte, já foi muito discriminado no passado.
Finalmente, foram feitas análises da imagem do grafite que dialoga com a história do
Césio-137. O grafite está situado na Rua 57 número 68 Setor Central, na cidade de
Goiânia Goiás, local onde teve início a história do acidente radioativo. Dentro dessa
perspectiva, compactuamos com a ideia de Maingueneu (2008, p. 51), ao afirmar que ―
O conteúdo aparece como inseparável da cenografia que lhe dá suporte‖. Desse modo, a
imagem traz questões ideológicas de um tempo/espaço com uma nova leitura. Assim,
Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete
e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe, fiel, ou
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito à
avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom
etc.). O domínio dos correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-
se também o ideológico (BAKHTIN, 2014, p. 32).
Na pesquisa observa-se que há uma associação discursiva entre o lugar que é
histórico e o grafite que se encontra no muro recontando o acidente com o elemento
radioativo ocorrido no local no ano 1987. Ou seja, o ambiente em conjunto com o
grafite inserido no muro, instaura um diálogo com a história do Césio-137. Neste
contexto, há um dialogismo instaurado entre o lugar, a imagem e a história do incidente.
Assim,
Em uma cenografia associam-se uma figura de enunciador e uma figura
correlata de coenunciadores. Esses dois lugares supõem igualmente uma
cronografia (um momento) e uma topografia (um lugar), das quais pretende
originar-se o discurso (MAINGUENEAU, 2008a, p. 117).
O discurso histórico-social que o espaço carrega não pode ser observado fora de
um contexto cronotópico, no sentido bakhtiniano. No lugar, tempo e espaço são
interligados e inseparáveis no sentido histórico, uma vez que estão associados ao
acidente radioativo de 1987.
409
1.1 O QUE TORNA A NOSSA PESQUISA DIFERENCIADA DAS QUE JÁ
EXISTEM RELACIONADAS AO TEMA
Estudos voltados para a análise de imagens nos muros das cidades são
recorrentes nas academias. Entretanto, os objetivos são diferenciados. Nesse sentido, já
foram elaborados alguns trabalhos de relevância no assunto, dentre eles temos o artigo
Pichações: discursos de resistência conforme Foucault da Dra. Eliane Marquez
Fonseca Fernandes, que embora seja voltado para análise de imagens de grafites feitas
em muros, se diferencia pelo referencial teórico marcado pela teoria de Foucault e o
tema de discussão apresentado.
Há ainda outro trabalho interessante que discute o tema. A dissertação de
Mestrado de Marina de Oliveira Pimentel (2012) que traz uma perspectiva de análise
distinta da que pretendemos apresentar. Nesse trabalho são analisadas imagens de
grafite da cidade de Curitiba, capital do Paraná, a dissertação é intitulada Curitiba em
cores: a prática do grafite e da pichação frente ao marketing urbano da capital
paranaense.
Os trabalhos aqui referidos, embora tenham como propósito a análise de
enunciados transmitidos por imagens inseridas nos muros de metrópoles do Brasil, se
diferenciam da abordagem feita em nossa pesquisa, que pretende mostrar como a
história do acidente com o Césio-137 é contada por meio da linguagem não verbal, ou
seja, o enunciado é feito por uma imagem grafitada no muro. Nessa perspectiva ainda
não foi realizado nenhum trabalho, fazendo de nossa pesquisa algo inovador.
Nosso trabalho reflete sobre uma memória histórica de uma tragédia ocorrida
na capital de Goiás. ―Estamos assim, diante de objetos que aparecem ao mesmo tempo
como integralmente linguísticos e integralmente históricos.‖ (MAINGUENEAU,
2008b, p. 16).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para realização de nosso projeto buscamos apoio nas bases de estudos da
Análise de Discurso de linha francesa. Para tecer nossos argumentos relacionados com
as concepções de enunciados, dialogismo e polifonia, tivemos como principal aporte
teórico Mikhail Bakhtin (Volochinov) (2014).
O pesquisador Mikhail Bakhtin (Volochinov) desenvolveu estudos centrados
na linguagem numa esfera dialógica, refletindo sobre pontos que integram a
410
comunicação entre indivíduos. Dentro de suas pesquisas estão os estudos relacionados
ao atravessamento de vozes e discursos sociais que permeiam os enunciados, tornando o
discurso polifônico. O autor apontou ainda para o fato de o enunciado estar sempre
direcionado ao outro, o diálogo é formado subjetivamente tendo em mente um
interlocutor.
Segundo Fiorin (2006 p. 24), para Bakhtin, ―todo enunciado é dialógico.
Portanto, o dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o princípio
constitutivo do enunciado.‖ Dessa forma, o dialogismo é a maneira pela qual se dá o
funcionamento da linguagem na interação entre indivíduos em contexto real de
comunicação. Sobre essa concepção, observa-se que a construção de um enunciado se
compõe por intermédio de outros, não somente os enunciados que o precedem, mas
ainda levando em conta a resposta do coenunciador. Ou seja, há um diálogo instaurado
com discursos anteriores e posteriores ao enunciado que está em construção. Dessa
maneira:
A enunciação, compreendida como réplica do diálogo social, é a unidade de
base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou
exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não existe fora de
um contexto social, já que cada locutor tem um ―horizonte social. O locutor
pensa e se exprime para um auditório social bem-definido‖ (BAKHTIN,
2014, p. 16).
Para Bakhtin/Volochínov (2014), o dialogismo está vinculado ao contexto
social histórico e cultural, e se direciona sempre a alguém. O locutor sempre objetiva
uma resposta do seu interlocutor. Nesse aspecto, ―Bakhtin considera o dialogismo o
princípio construtivo da linguagem e a condição do sentido do discurso‖. (BARROS,
2001, p. 33)
Para o filósofo, a formação do sujeito se dá por meio da interação social. O
sujeito interage com os discursos que o interpela a partir do momento que chega ao
mundo. Primeiramente o sujeito interage dentro do grupo familiar, em seguida na
escola, trabalho, igreja, etc. Ao permear as várias instâncias sociais o homem se
constitui.
As concepções de Bakhtin se diferenciam dos vários estudos que o antecederam,
pois as perspectivas buscavam compreender a língua por suas unidades mínimas, ou
indo até o entendimento frasal, abordando o tema do ponto de vista cristalizado nas
formas.
Segundo Fiorin (2006, p. 20), para Bakhtin: ―As unidades da língua são os sons,
as palavras e as orações, enquanto os enunciados são as unidades reais de
411
comunicação.‖ Assim, não são as unidades formais da língua que têm aspectos
dialógicos. No entanto, vale ressaltar que Bakhtin não ignorou as unidades formais que
constituem a língua, ele reconhece em seus estudos a importância de se conhecer o
sistema estrutural como as palavras, orações e sons. Entretanto, aponta em seus estudos
que as estruturas linguísticas de maneira estanque não dão conta do funcionamento da
linguagem. Para o russo, os enunciados são as unidades de real interação para efetivar a
comunicação entre sujeitos. O sistema estrutural da língua: fonologia, morfologia e
sintaxe são repetíveis, entretanto, a enunciação não, pois ainda que se utilize a mesma
estrutura empregada em um determinado enunciado ela não se repete, é única. Dessa
maneira:
Cada enunciação, cada ato de criação individual é único e não reiterável, mas
em cada enunciação encontra-se elementos idênticos aos de outras
enunciações no seio de um determinado grupo de locutores. São justamente
estes traços idênticos, que são assim normativos para todas as enunciações –
traços fonéticos, gramaticais e lexicais -, que garantem a unicidade de uma
dada língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma
comunidade (BAKHTIN, 2014, p. 79).
Portanto, suas pesquisas são norteadas numa perspectiva do funcionamento real
da linguagem, por intermédio da interação entre discursos. De acordo com Bakhtin
(2003, p. 319), ―cada enunciado é construído a partir de outro enunciado e somente
Adão, personagem bíblico, produziu enunciados novos, uma vez que, foi o primeiro ser
vivo da espécie humana a habitar a terra.‖ Nesse sentido, a palavra em contexto de uso
parte de um indivíduo em direção aos outros.
A concepção bakhtiniana faz reflexões sobre a língua em contexto de uso, nas
condições reais de enunciação, observando os usuários da língua na interação
comunicativa em um contexto social. Assim sendo, ―a palavra é uma espécie de ponte
lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra
apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do
interlocutor‖ (BAKHTIN, 2014, p. 117).
As escolhas feitas pelo locutor para a elaboração dos enunciados cumprem o
objetivo de tornar a comunicação entre enunciador e enunciatário efetiva. A seleção dos
signos pelo locutor não são feitas aleatoriamente, mas sim pensando no funcionamento
da linguagem e, consequentemente, no interlocutor. Sempre tendo em mente a quem o
texto está destinado. Logo,
O outro é a medida: é no outro que se produz o texto. E o outro não se
inscreve no texto apenas no seu processo de produção de sentido na leitura. O
outro insere-se já na produção, como condição necessária para que o texto
exista. É porque se sabe do outro que um texto acabado não é fechado em si
412
mesmo. Seu sentido, por maior precisão que lhe queira dar seu autor, e ele o
sabe, é já na produção de um sentido construído a dois (GERALDI, 1993, p.
102).
Na perspectiva bakhtiniana, mesmo antes de se produzir um determinado texto,
o enunciador já tem o enunciatário em mente. O enunciado é produzido direcionado ao
outro. Ainda que se encontre no campo mental, há um diálogo pré-estabelecido, uma
vez que o articulista almeja uma resposta do outro. Nessa perspectiva, ―um enunciado se
constitui em relação aos enunciados que o procedem e que os sucedem na cadeia da
comunicação‖ (FIORIN, 2008, p. 32).
Para Bakhtin, ―o texto não é exclusivamente verbal, pois é qualquer conjunto
coerente de signos, seja qual for sua forma de expressão‖ (pictórica, gestual, etc.)
(FIORIN, 2006, p. 52). O enunciado do grafite é efetivado por um conjunto de signos
pictóricos que têm coerência e dialogam com a história, logo permitem perceber o
diálogo instaurado entre ambos.
3 HISTÓRICO DO GRAFITE ATRAVÉS DOS TEMPOS
O grafite como é conhecido atualmente, com traços bem característicos da
modernidade, passou por diversos estágios até chegar ao que conhecemos hoje, gozando
de um certo prestígio como arte.
A arte do grafite nasce integrada ao movimento do hip-hop nos Estados Unidos
na década de 1960. Iniciou-se nas camadas marginalizadas, e era uma prática realizada
por pessoas que viviam à margem da sociedade americana, composta por negros e filhos
de imigrantes, revelando uma divisão de classe social. Em nosso país, o movimento que
trouxe o grafite para as paredes da cidade tem sua gênese no final da década de 1960, e
nasce pela necessidade da expressão de manifesto à política repressora imposta pela
ditadura militar. Nessa década, eram recorrentes frases grafitadas pelos muros da cidade
em repúdio à política vigente na época. As frases tinham um teor de descontentamento
com os governantes e forma de governo adotada naquele momento da história.
Ultimamente, é possível encontrar o grafite disseminado por todo país,
principalmente nas grandes cidades, conquistando adeptos e respeito da população. Vale
ressaltar que essas manifestações estéticas também mudaram suas localidades e sua
representatividade nos grupos sociais que o praticam. Antes era considerada uma arte
marginal e era reclusa às periferias dos grandes centros urbanos. Hoje, pode ser
413
apreciada em variados espaços públicos e privados, tendo como suporte os mais
variados locais como: muros, prédios, pontes, ônibus, estampas de roupas, etc.
No momento atual é recorrente o uso do grafite como arte décor em ambientes
internos e externos. São bastante comuns enunciados escritos dialogando, orientando ou
protestando com os cidadãos que transitam pelas urbes. Antes, a visão associada à arte
era ligada às obras de arte reclusas a galerias e museus. A partir do século XX, acontece
uma reelaboração desse conceito, e o grafite ganha certo respeito como arte.
Atualmente, é possível encontrar imagens grafitadas em grande quantidade pela cidade
e com considerável qualidade estética.
Na atualidade, é possível encontrar obras complexas que exigem do grafiteiro o
domínio de técnicas de pintura e o conhecimento profundo da manipulação de cores e
formas para a execução da obra.
Assim, tem-se conseguido importantes conquistas à prática do grafite, dentre
elas podemos apontar o fato da constituição atualmente garantir o direito de expressar-
se nas ruas das cidades. A ex-presidente do Brasil Dilma Rousself, na data de vinte e
cinco de maio de dois mil e onze sancionou a Lei 12.308/2011 que descriminalizou a
prática cultural urbana de grafites. A Lei dita que a prática do grafite não constitui crime
a partir dessa data, desde que o grafite seja confeccionado com o consentimento do
proprietário do ambiente onde vai ser realizado o trabalho.
4 HISTÓRICO DO ACIDENTE COM CÉSIO-137 NA CIDADE DE GOIÂNIA
No endereço Rua 57 número 68 Setor Central da cidade de Goiânia encontra-se
nosso corpus de pesquisa. Esse endereço era residência de Roberto Santos Alves, que
juntamente com seu companheiro Wagner Mota, em suas buscas por lixo reciclável,
encontrou um aparelho radiológico contendo Césio-137, que se encontrava abandonado
nos escombros do Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) na cidade de Goiânia, local
onde hoje se encontra o Centro de Convenções desta cidade. A dupla removeu o
aparelho do local onde se encontrava sem pedir autorização para os responsáveis pelo
artefato. Após tentar arrebentar o aparelho, os dois jovens o deixaram jogado no quintal
da casa de Roberto contaminando o ambiente. Somente alguns dias depois o aparelho
foi vendido a um depósito de materiais recicláveis (Ferro Velho), que pertencia a Dvair
Alves Ferreira. Nesse lugar, a cápsula que continha Césio foi violada a marretadas, o
414
produto químico radioativo ficou exposto e passou a ser alvo de curiosidade das pessoas
por emitir um brilho cristalino azulado.
Dessa maneira, o elemento químico se espalhou por vários pontos da cidade de
Goiânia, contaminando tudo que entrava em contato direto com o material radioativo
retirado da cápsula protetora, ocasionando o maior acidente radiológico do planeta.
Foram mobilizados integrantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM),
dando início a uma rotina de trabalho sem interrupção, no intuito de amenizar a
catástrofe e resolver os problemas ocasionados pelo elemento químico Césio-137.
O incidente com o elemento químico produziu mais de 13 toneladas de lixo
radioativo, sendo compostas por todos os pertences das pessoas contaminadas,
incluindo animais de estimação que foram sacrificados, animais domésticos, porções de
solo e restos das construções que existiam nos locais contaminados.
O lixo produzido no processo de descontaminação foi acondicionado em
centenas de caixas e tambores e protegidos em contêineres e atualmente se encontram
no depósito criado para abriga-lo na cidade de Abadia de Goiás, cidade situada a
aproximadamente 24 km da cidade de Goiânia.
Nesse mesmo ambiente, que em 1987 esteve envolvido nessa catástrofe, fora
inserida uma imagem de grafite que rememora e narra o incidente com o elemento
radioativo na cidade de Goiânia, tornando-o propício para profícuos estudos tendo como
motivadores os discursos que permeiam o ambiente em discussão.
5 LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE RADIOATIVO EM 1987 NA
CIDADE DE GOIÂNIA
415
Imagem 1 Terreno da antiga residência de Roberto dos Santos Alves- Acervo pessoal 05/jun. 2015.
Rua 57 Nº 68 Setor Central – Goiânia Goiás
A imagem 1 compõe nosso corpus de análise e se encontra no terreno que fora
palco da tragédia que ocorreu no ano de 1987. Mesmo passados mais de trinta anos da
tragédia ocorrida na cidade de Goiânia, esse endereço permanece inabitado e sem
nenhuma construção no local. O espaço hoje é frequentado por moradores de rua que o
utilizam com frequência como dormitório. O solo, embora não faça parte do grafite
exposto no muro, por permanecer da forma como foi deixado em 1987, se soma ao
cenário ilustrativo e colabora na formação discursiva do lugar aliando-se ao discurso
proferido no ambiente.
O lugar se encontra cheio de lixo em decomposição e o pavimento está negro
com algumas fendas onde pode-se observar gramíneas secas. Todo esse composto que é
um fator externo à pintura acaba sendo integrado à cena e dialoga de forma eficaz com o
grafite. Nesse sentido, é como se tivesse sido preparado propositalmente pelo grafiteiro
para compor o cenário enunciativo da imagem ali exibida. Assim,
A escolha da cenografia não é indiferente: o discurso desenvolve-se a partir
de sua cenografia, pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o
legitima. O discurso impõe sua cenografia de algum modo desde o inicio;
mas, de outro lado, é por intermédio de sua própria enunciação que ele
poderá legitimar a cenografia que ele impõe (MAINGUENEAU, 2008a, p.
117).
O lugar onde aconteceu o acidente é hoje a imagem do abandono, esterilidade,
dor, medo, sentimentos que a sociedade deseja esquecer. Ele retrata a tragédia ali
ocorrida pela maneira que se encontra e por ser um espaço histórico.
A imagem que foi grafitada na localidade dialoga com o acidente que ocorreu
no ambiente, e pode ser observada pelos transeuntes. Um fato histórico que o ambiente
e as marcas deixadas pelo incidente rememoram com a imagem, narrando o incidente. O
muro onde o enunciador expõe seu trabalho está entrelaçado com o fato histórico
ocorrido ali, pois foi nesse endereço que se deu o início do rompimento da cápsula que
continha o elemento químico Césio-137. Era ali que vivia Roberto, um dos jovens que
subtraiu o aparelho de radioterapia abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia,
dessa maneira, ―O conteúdo aparece como inseparável da cenografia que lhe dá
suporte‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 51).
5.1 HISTÓRIA DO ACIDENTE COM O CÉSIO-137 CONTADA DE MANEIRA
LINEAR POR INTERMÉDIO DO GRAFITE
416
Imagem 2 Grafite sobre o Césio-137.
Foto registrada dia 05/06/2015. Rua 57 Nº 68 Setor Central – Goiânia Goiás – (Acervo Pessoal)
5.1.1 ANÁLISES DA IMAGEM
Podemos acompanhar o fato histórico ocorrido na cidade de Goiânia por uma
leitura do enunciado pictórico, ou seja, utilizando da linguagem não verbal. Temos em
um primeiro momento o encontro do homem com o artefato radioativo, representado
pela figura que se encontra em primeiro plano na pintura, momento de dúvida e
fascinação pelo material azul com luminosidade desconhecido. A maneira como a figura
está representada dialoga com o primeiro momento da história do acidente, instantes de
deslumbramento e dúvidas em relação ao elemento químico.
Já nesse estágio inicial temos a morte permeando o episódio, que é
representada pela imagem do crânio, signo que remete ao perigo da radioatividade. O
símbolo exala raios vermelhos, numa representatividade do perigo e morte iminente à
população no manuseio e contato com o elemento químico Césio-137.
Em seguida, temos a figura que recupera os agentes envolvidos nos trabalhos
de descontaminação. O perigo não envolvia somente seres humanos, mas também o
meio ambiente, plantas e animais das áreas envolvidas. E, finalmente o que observamos
é a radioatividade disseminada, o caos instaurado e a morte rondando a vida.
Esse retorno histórico é apontado por intermédio da imagem de fontes
tipográficas confusas, embaralhadas, tornando a decodificação do enunciado
dificultado. Dessa maneira, ―Tudo que é ideológico possui um significado e remete a
algo situado fora de si mesmo‖ (BAKHTIN, 2014, p. 31). Em outros termos, tudo que é
ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.
Para a facção da pintura em apreciação foram utilizadas tonalidades de azul
que também são signos. Essa cor foi usada em várias nuances em todo o trabalho. A
escolha do azul como cor predominante para execução do grafite não é aleatória. O
417
locutor do discurso busca no enunciado anterior, ou seja, na realidade histórica da época
do acidente, uma maneira de retomar os enunciados do acidente, trazendo da forma
mais verossímil possível, e o aspecto das nuances azuis rememora discursos que diziam
sobre a luz azulada que o elemento radioativo emitia.
O signo que remete ao contato do homem com o artefato é o principal elemento
da pintura, é ele que mais chama a atenção no grafite. As outras figuras direcionam o
olhar para esse desenho que ocupa o papel central da obra grafitada. Outro fator que nos
chama a atenção é o fato de a figura ter sido elaborada apresentando de forma
indagativa algo que está em sua mão, sugerindo uma dúvida do que seria o encantador
elemento de brilho azulado. Essa figura dialoga com a dúvida, fascinação e curiosidade
que são discursos recorrentes na história do Césio. É esta figura recebe carga maior de
raios, uma vez que representa o indivíduo comum que, sem conhecimento sobre o
elemento radioativo, não pôde se proteger e acabou sendo a principal vítima do acidente
nuclear.
Em segundo plano temos a imagem que lembra os profissionais da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, que trabalharam no acidente radioativo. Um ser todo
coberto por uma vestimenta branca, utilizando máscara de proteção e, no centro de sua
vestimenta, em destaque, vem o símbolo de radioatividade. Com as mãos na cintura, ele
observa a figura que se encontra em primeiro plano, sua postura e seu olhar sugerem
preocupação com a pintura principal do grafite. Nesse sentido, o grafiteiro consegue
expressar ideologias referentes à história do episódio com o Césio-137. Como Bakhtin
(2014, p. 33), pensamos que: ―Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem
uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como
movimento do corpo ou como outra coisa qualquer.‖
A figura do crânio lança raios aos dois personagens, ela pode ser compreendida
como sendo o tema da morte que estava sempre em voga a todos que estiveram
envolvidos no acidente radioativo. Na imagem, os raios mortais vão de encontro às duas
figuras, numa alusão ao perigo que estiveram expostas as pessoas envolvidas direta ou
indiretamente no acidente radioativo, bem como das vidas ceifadas devido ao ocorrido.
Entretanto, para que apreenda o sentido das relações dialógicas instauradas
entre os enunciados da fase do acidente e o grafite, faz-se necessário que enunciador e
enunciatário compartilhem de ideologias sociais referentes à época da tragédia, assim
compreende-se o diálogo instaurado no ambiente entre a história, o local e o grafite.
418
A imagem é composta também por tambores: o primeiro espalha no solo um
líquido azul e o outro se encontra lacrado com aparência de estar em alto teor de
decomposição. Esses dois signos instauram um diálogo que retoma discursos que na
fase do acidente questionavam a seguridade dos recipientes para agasalhar o lixo
radioativo, e dialoga de maneira divergente com as vozes compostas na época por
autoridades que proclamavam a seguridade dos recipientes de acondicionamento dos
restos radioativos. Os recipientes são mostrados em completo estado de putrefação,
jorrando todo o conteúdo para o exterior, logo, infere-se que o grafiteiro aderiu aos
enunciados que representam as ideologias populares, ou seja, ele defende a ideia de que
não existe segurança nos recipientes utilizados para o armazenamento dos dejetos.
Nesse contexto, ele refuta a voz enunciativa das autoridades que teciam argumentos
para convencer a população de que o armazenamento do lixo nos contêineres seria
seguro.
Nesse contexto, depreende-se que o grafiteiro é porta-voz de um discurso que
ecoou há décadas e o grafite dialoga na atualidade com a população que presenciou um
dos maiores acidentes radioativos ocorrido até a atualidade.
O lixo radioativo que fizeram questão de esquecer permanece em Abadia de
Goiás, protegido nos tambores, na realidade não se sabe como se encontra após mais de
três décadas. A única certeza enunciada pelo grafite é que os dejetos continuam
emitindo um alto teor radioativo e ninguém mais ouve falar sobre ele. Existe um
silenciamento que perpassa toda a tragédia.
Os discursos mobilizados pelas imagens comprovam que o indivíduo que
produziu o trabalho de grafitagem compartilha da ideologia da população que viveu o
episódio histórico da cidade de Goiânia, bem como das discussões que envolveram o
acontecimento no ano de 1987. O grafite questiona sobre o perigo de uma nova tragédia
devido a uma má acomodação dos dejetos, uma transposição histórica elaborada por
uma ideologia social compartilhada transcrita pela arte com o grafite. Assim:
O tema ideológico possui sempre um índice de valor social, por certo, todos
estes índices sociais de valor dos temas ideológicos chegam igualmente à
consciência individual que, como sabemos, é toda ideologia. Aí eles se
tornam, de certa forma, índices individuais de valor, na medida em que a
consciência individual os absorve como sendo seus, mas sua fonte não se
encontra na consciência individual (BAKHTIN, 2014, p. 46).
Temos ainda os símbolos de radioatividade posicionados nas extremidades da
imagem, bem como na veste da figura que representa um agente da Comissão Nacional
419
de Energia Nuclear. Esses ícones, símbolos de radioatividade, retratam a catástrofe
nuclear, uma trilogia que contribui para que o observador não tenha dúvida que o tema
ali registrado seja do acidente com o Césio-137 ocorrido no ambiente.
O discurso proferido pelo aglomerado de letras entrelaçadas dialoga com as
toneladas de lixos que foram retirados dos locais onde teve foco de contaminação. Elas
lançam centelhas luminosas que nesse contexto remetem à radiação sendo disseminada.
As letras são pintadas de forma distorcidas. Ato considerado recorrente em
grafites em que o grafiteiro não quer ser identificado. Essa técnica é uma espécie de tag
(assinatura dos grafiteiros) e tem como objetivo que o trabalho seja reconhecido
somente pelo grupo de grafiteiros ao qual o indivíduo faz parte.
Entendemos que o grafiteiro tem um domínio considerável da história ocorrida
no espaço, por ter feito parte da sociedade na fase do acidente ou por ter adquirido
conhecimento do contexto histórico por outros meios. Ao pintar as letras, ele elabora
signos que instauram um diálogo com parte da história que resgata episódios como a
morte das plantas e animais que foram descartados juntamente com o lixo. A árvore é
apresentada sem folhas e com galhos caídos pelo chão, no emaranhado de letras há
traços que lembram a figura de um gato, recordando o extermínio de vários animais.
É importante ressaltar que a interpretação das imagens ou escritas dispersas
pelas cidades de todo o país depende do contexto ao qual o enunciatário pertence, sendo
necessário que se observe fatores como a ideologia compartilhada entre a sociedade ou
grupo social a quem se destina o grafite. Cada enunciado pode gerar diferentes
interpretações, dependendo do contexto e da ideologia de quem aprecia. Nesse sentido,
conforme Bakhtin (2014, p. 38), ―Nenhum signo cultural, quando compreendido e
dotado de um sentido, permanece isolado: torna-se parte da unidade da consciência
verbalmente constituída. A consciência tem o poder de aborda-lo verbalmente‖.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso projeto não teve a intenção de esgotar o assunto discutido em momento
algum, até porque seria inocência de qualquer pesquisa pensar em realiza-lo. O espaço é
um lugar histórico, logo, sempre poderá ser retomado nos mais variados aspectos para
novas reflexões. O recinto onde se encontra o enunciado imagético foi palco do acidente
radioativo que trouxe transtornos à sociedade goianiense, dentre eles a morte e sequelas
físicas de inúmeras pessoas, além de transtornos psicológicos que ainda permanecem
420
acompanhando indivíduos que vivenciaram a tragédia. Hoje, o espaço inabitado serve
de suporte para a exposição do grafite que retoma o tema.
Nesse contexto, o enunciador realiza seu trabalho em um muro da Rua 57
número 68, espaço que por si é enunciativo. O terreno é a imagem do abandono e
esterilidade, adjetivos que o qualificam desde 1987 e que rememoram o acidente
radioativo ocorrido no endereço.
Tendo em vista esses aspectos, nosso trabalho discute a dialogia que se instaura
entre o enunciado imagético do grafite inserido no espaço que aconteceu o acidente com
o Césio-137 e o tempo/espaço/história desse momento trágico. A figura grafitada no
lugar traz aspectos minuciosos da época da tragédia, o que permite ao coenunciador
acompanhar o acontecimento de forma linear por meio das imagens.
REFERÊNICAS
BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo:
Hucitec, 2014.
BAKHTIN, Michail. Estética da criação verbal. São Paulo. Martins Fontes, 2003.
Disponível em:< http://www.sistemas.ufrn.br/shared/verArquivo?idArquivo=1164092&key...> Acesso:
10 jul. 2015.
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria Semiótica do texto. São Paulo, Editora Parma
Ltda, 2001. Disponível em: <http://copyfight.me/Acervo/livros/Diana%2
0Luz%20Pessoa%20de%20Barros%20%20Teoria%20do%20Discurso,%20Fundament
os%20semio%CC%81ticos%20(doc)%20(rev).pdf>. Acesso: 25 jun. 2015.
ENDO, Tatiana Sechler. A pintura rupestre da pré-história e o grafite dos novos
tempos. São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.usp.br/celacc/o
js/index.php/blacc/article/view/215>. Acesso: 02 jul. 2015.
FERNANDES, E. M. Fonseca da. Pichações: discursos de resistência conforme
Foucault. Capa>v. 33, n. 2 (2011). Language and Culture Acta Scientiarum, 2011.
Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciLangCult/art
icle/viewFile/13864/13864>. Acesso: 01 jul. 2015.
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006.
GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
LAZZARIN, L. F. Grafite e o ensino da Arte. Revista Educação e Realidade. Jan/jun;
UFRGS, 2007. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidad
e/article/view/6660>. Acesso: 28 mai. 2014.
421
MAINGUENEAU, Dominique. Cenas da Enunciação. São Paulo: Parábola Editorial.
2008.
MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos Discursos. São Paulo: Parábola Editorial.
2008b.a
PIMENTEL, Marina de Oliveira. Curitiba em Cores: a prática do grafite e da
pichação frente ao marketing urbano da capital paranaense. Coimbra, 2012.
Disponível em: <http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/curitiba-
em-cores-pratica-do-grafite-da-picha%C3%A7%C3%A3o-frente-
ao/id/56152938.html>. Acesso: 21 jun. 2015.
LER OU NÃO LER, EIS A QUESTÃO: UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE
LEITURA EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA
Claudiane Felix de Moura (IFRN)
Resumo: Os teóricos da área de ensino de língua estrangeira (RIVERS, 1981; HARMER, 1998;
BROWN, 1994) são unânimes em defender o aprendizado baseado no desenvolvimento
integrado dos multiletramentos. No entanto, ainda é possível encontrar, nos livros didáticos
atuais, vestígios do passado que privilegiou o ensino da oralidade em detrimento da leitura e da
escrita. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar, com base na abordagem interativa,
até que ponto as propostas de atividades de leitura presentes em três coleções de livros didáticos
de língua inglesa contribuem para a ampliação da competência leitora dos alunos nesse idioma.
A pesquisa foi fundamentada nos estudos que tratam da avaliação de materiais didáticos
(CUNNINGSWORTH, 1995; RICHARDS, 2001; CRAWFORD, 2002; LAJOLO, 1996;
SILVA, 1998) e nas pesquisas sobre a abordagem interativa de leitura (KLEIMAN, 1996;
TERZI, 1995; KOCH, 1996; AEBERSOLD e FIELD, 1997; MARCUSCHI, 2008). A pesquisa
é de caráter descritivo exploratório com o intuito de apresentar um panorama sobre a eficácia
das questões que buscam desenvolver a capacidade de leitura do aluno. As atividades de leitura
foram coletadas nos volumes de nível intermediário das séries New English File e Top Notch e
foram analisadas segundo os critérios previamente definidos com base nas pesquisas sobre a
abordagem interativa de leitura. A partir dos resultados obtidos, constatou-se que as propostas
de atividades de leitura presentes nos livros analisados contribuem apenas parcialmente para o
desenvolvimento da competência leitora dos alunos na língua inglesa.
422
Palavras-chave: Leitura. Língua inglesa. Livro didático.
Abstract: Theorists of the area of foreign language teaching (RIVERS, 1981; Harmer, 1998;
BROWN, 1994) are unanimous in advocating learning based on the integrated development of
multiliteracy. However, it is still possible to find, in current textbooks, vestiges of the past that
privileged the teaching of oral skills to the detriment of reading and writing. This paper aims to
investigate, based on the interactive approach, to which extent the proposed reading activities
present in three series of English language textbooks contribute to the expansion of the reading
competence of the students in that language. The research was based on studies that deal with
the evaluation of textbooks (CUNNINGSWORTH, 1995; RICHARDS, 2001; CRAWFORD,
2002; LAJOLO, 1996; Silva, 1998) and research on the interactive reading approach
(KLEIMAN, 1996; TERZI, 1995; KOCH, 1996; AEBERSOLD e FIELD, 1997; MARCUSCHI,
2008). The research is descriptive exploratory in order to present a panorama about the
effectiveness of the questions that seek to develop the reading ability of the student. Reading
activities were collected in the intermediate level volumes of the New English File and Top
Notch series and were analyzed according to previously defined criteria based on the research
on the interactive reading approach. From the results obtained, it was verified that the proposals
of reading activities present contribute only partially to the development of the reading
competence of the students of the English language.
Keywords: Reading. English Teaching. Texbook.
INTRODUÇÃO
As sociedades em geral possuem uma grande quantidade de gêneros textuais
que servem aos mais diversos propósitos comunicativos. Segundo Marcuschi (2008), as
relações sociais só são possíveis de ocorrer por meio dos gêneros textuais. Desde as
relações mais simplificadas, como uma simples conversa entre amigos, até relações
mais complexas, como julgamentos e congressos científicos, os gêneros textuais são os
mediadores em todos esses processos.
Dessa forma, acredito que o ensino de língua deve estar pautado no ensino
desses gêneros e das relações sociais que eles possibilitam por seu intermédio. Ensinar
uma língua sem abordar todo esse contexto social torna o ensino superficial e limita o
conhecimento do aluno apenas aos elementos linguísticos, que não são os primordiais
no contexto de qualquer comunicação.
Nesse sentido, acredito que numa aula de língua, mais especificamente de
língua inglesa, os alunos precisam entrar em contato com essa diversidade de gêneros
para conhecer suas características e, assim, ampliar suas competências comunicativas na
língua em estudo. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo investigar de que
423
maneira as atividades de leitura em três séries didáticas de língua inglesa exploram as
características dos gêneros de texto que são empregados por estas atividades.
Neste trabalho, inicialmente, apresentaremos os pressupostos teóricos que
guiaram a execução desta pesquisa. Em seguida, mostraremos a metodologia empregada
nas análises e, logo a seguir, os dados serão apresentados e discutidos à luz das teorias
abordadas. Por fim, serão apresentadas as considerações finais que esclarecerão os
leitores acerca das contribuições desta pesquisa para os estudos da área dos gêneros
textuais e também para a formação de professores de língua inglesa.
1. A AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
Esta pesquisa tem como objeto de estudo o livro didático e, segundo aponta
Lajolo (1996), para que um livro seja qualificado como didático, é necessário que ele
apresente algumas características específicas que o diferenciem dos demais.
Inicialmente, a autora aponta a utilização escolar e a sistematicidade como algumas
dessas características, ou seja, ―para ser considerado didático, um livro precisa ser
usado, de forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do
conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina escolar‖ (p. 4).
Dentre os vários motivos que levam à avaliação de livros didáticos está a
necessidade de identificar seus aspectos positivos – para obter o máximo proveito deles
– assim como os negativos – para implementar adaptações e complementações, se for o
caso. Nesse sentido, esta pesquisa pretende avaliar três séries didáticas de língua inglesa
com o objetivo de investigar o tratamento que é dado aos diversos gêneros de texto que
circulam em sociedades falantes desta língua.
No tocante ao ensino de LE, Cunningsworth (1995) menciona uma série de
papéis que os livros didáticos desempenham nesse contexto específico, mostrando que
sua presença em sala de aula é importante tanto para os alunos quanto para os
professores. Para os alunos, o livro didático pode servir como uma fonte de material
para leitura e atividades para o exercício de gramática, vocabulário e pronúncia. Já para
os professores, ele pode funcionar como um apoio para a exposição do conteúdo e
seleção das atividades de ensino e de avaliação.
Aebersold e Field (1997, p. 48) esclarecem que ―materiais autênticos são
retirados diretamente de fontes na L1 e não são modificados de nenhuma maneira antes
de serem utilizados na sala de aula‖. Para Nuttall (1996, p. 177), textos autênticos são
424
―textos escritos para o uso de uma comunidade de língua estrangeira e não para
aprendizes de língua‖. Em contrapartida, os materiais que são, de alguma forma,
modificados, ou totalmente elaborados, de propósito, para o livro, são considerados
materiais não-autênticos.
Para finalizar essa discussão acerca do uso crítico do livro didático, é
importante destacar o alerta que os autores (Silva, 1998; Lajolo, 1996) dirigem aos
docentes quando salientam que essa consciência crítica ―está intimamente relacionada à
questão da formação continuada dos professores dentro de uma política voltada à
melhoria da qualidade de ensino‖ (Silva, 1998, p. 49). Dessa forma, sem uma boa
formação pedagógica, o professor não estará habilitado para julgar a qualidade do
instrumento que utiliza e, assim, seguirá o livro didático fielmente como um guia
infalível da sua prática.
2. A LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Atualmente, os estudos sobre a leitura têm avançado de tal forma que já é
possível descobrir, se não todos, pelo menos uma grande parte dos processos mentais
que ocorrem no momento da leitura. No processo da compreensão, é interessante
perceber que, diante de um aglomerado de símbolos gráficos, o leitor é capaz de
atribuir-lhes um significado e, a partir daí, reconhecer a intenção pretendida pelo autor,
seja ela emocionar, expor, esclarecer, convencer, informar, entre outras.
Aebersold e Field (1997, p. 15) definem a leitura como o processo de
assimilação de significados a partir de símbolos gráficos. As autoras esclarecem ainda
que o desenvolvimento desse processo envolve, necessariamente, a participação de dois
elementos principais: o leitor e o texto. É, portanto, a interação entre o leitor e o texto
que constitui a leitura autêntica.
Koch e Elias (2006) esclarecem que o conhecimento prévio pode ser
classificado em três grandes grupos: o conhecimento linguístico, o enciclopédico e o
interacional. O conhecimento linguístico, que ―abrange o conhecimento gramatical e
lexical‖ (op. cit, p. 40) permite ao leitor reconhecer as pistas linguísticas deixadas pelo
autor. Assim, a partir de seu conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento da
língua, o leitor poderá interpretar de forma significativa as informações visuais
presentes na superfície do texto ou nela implicadas.
425
O segundo tipo de conhecimento, o conhecimento enciclopédico, ―refere-se a
conhecimentos gerais sobre o mundo bem como a conhecimentos alusivos a vivências
pessoais e eventos espacio-temporalmente situados‖ (KOCH; ELIAS, op. cit, p. 42). As
autoras classificam esse tipo de conhecimento como ―uma espécie de thesaurus mental‖
(op. cit. p. 42), pois nele está incluída uma vasta gama de experiências que foram
coletadas ao longo de nossa vida e que têm um papel fundamental no processo de
compreensão da linguagem.
Por fim, o terceiro tipo de conhecimento é o interacional que ―refere-se às
formas de interação por meio da linguagem e engloba os conhecimentos: ilocucional;
comunicacional; metacomunicativo e superestrutural‖ (KOCH; ELIAS, op. cit., p. 45).
O conhecimento ilocucional refere-se às intenções pretendidas pelo autor; o
comunicacional diz respeito à quantidade de informação, à variante linguística e à
adequação do gênero de texto à situação comunicativa; o metacomunicativo refere-se à
maneira pela qual o autor assegura a compreensão do texto e consegue a aceitação
interpretativa por parte do leitor; e, por último, o conhecimento superestrutural, que
envolve o conhecimento sobre gêneros e tipos textuais.
Conforme apresentamos acima, os gêneros textuais são ―tipos relativamente
estáveis de enunciados‖ (BAKHTIN, 2003, p. 162) que são utilizados para materializar
intenções comunicativas em ações verbais. São estruturas que possuem um conteúdo
temático, um estilo e uma construção composicional próprios e possíveis de serem
reconhecidos. Assim, essa estabilidade relativa já antecipa para o leitor algumas
informações sobre o que ele irá encontrar durante a leitura.
Como fica evidente, concebo que o ensino da leitura deve proporcionar ao
aluno o aprendizado de várias estratégias que possam auxiliá-lo nas mais diversas
situações de leitura. Além disso, o ensino deve proporcionar momentos nos quais o
leitor possa ficar livre para escolher as estratégias que mais lhe convierem, pois não
basta que o leitor conheça as estratégias, mas é também necessário que ele tenha
autonomia e consciência na escolha da melhor estratégia para cada situação.
3. METODOLOGIA
426
Esta pesquisa teve como objeto de análise as atividades de leitura presentes
em três séries de livros didáticos de língua inglesa. Para iniciar o processo de seleção
dos livros, decidi escolher séries didáticas representativas de diferentes editoras que
tivessem uma grande abrangência no mercado editorial de livros voltados para o ensino
de idiomas. Elegi como critério para a escolha dos livros selecionar as séries didáticas
mais vendidas para os cursos de idiomas da cidade de Fortaleza. Para obter esta
informação, realizei um levantamento junto às livrarias e, após este levantamento,
obtive os seguintes resultados apresentados no quadro abaixo, que mostra cada série
didática seguida de sua editora:
Série Didática Editora
NEW ENGLISH FILE OXFORD
TOP NOTCH LONGMAN
INTERCHANGE CAMBRIDGE
Quadro 1 – Séries didáticas selecionadas para a análise
Para a realização desta pesquisa, selecionei uma amostragem de cada série
didática, composta por 20 atividades coletadas em três volumes de cada série,
totalizando 60 atividades de leitura. Dentre essas 60 unidades, foram analisadas as
atividades cujo objetivo fosse o desenvolvimento da habilidade leitora. Para isso,
considerei como indicação deste objetivo o título da subseção que antecede cada
atividade. Após uma análise preliminar, percebi o propósito de desenvolver a habilidade
leitora nas subseções intituladas Reading (leitura) nas três séries selecionadas. Depois
de coletadas, as atividades foram analisadas segundo os critérios de análise previamente
definidos.
As atividades de leitura foram analisadas segundo os quatro critérios listados
abaixo. Durante a análise, buscou-se verificar se as atividades de leitura apresentavam
questões que abordassem a:
1. Definição das finalidades das atividades de leitura;
2. Recuperação do contexto de produção do texto;
3. Ativação do conhecimento de mundo;
427
4. Exploração dos recursos linguísticos para a compreensão do texto quanto aos
gêneros textuais.
A análise aconteceu em duas fases. Na primeira, realizei um levantamento para
descobrir se as séries didáticas empregam textos autênticos, simplificados ou elaborados
pelos autores do livro. Ainda nesta primeira fase, realizei um outro levantamento para
identificar quais os gêneros textuais empregados por cada série didática para compor as
atividades de leitura. Em seguida, quantifiquei as ocorrências para descobrir a
frequência de cada gênero. Esta fase foi importante para mostrar uma visão mais ampla
acerca da qualidade dos textos que embasam as atividades de leitura. Na segunda fase,
iniciei a análise mais detalhada das questões a fim de verificar o atendimento aos
critérios estabelecidos na metodologia desta pesquisa. Essa fase buscou investigar até
que ponto as três séries didáticas trabalham de forma interativa as características dos
gêneros dos textos presentes nas atividades de leitura.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Quanto à autenticidade dos textos, a primeira fase da análise revelou que
nenhuma das três séries didáticas possui textos autênticos, segundo a definição de
autenticidade proposta por Aebersold e Field (1997) que foi adotada nesta pesquisa. As
autoras definem textos autênticos como aqueles que são retirados de fontes originais
conforme estão no suporte em que foram publicados, sem adaptações ou simplificações.
Nesse sentido, nenhum dos textos se enquadrou nesta definição, pois todos os textos
analisados são adaptados ou elaborados pelos autores dos livros didáticos.
Quanto a esse aspecto, foi possível constatar, pela informação obtida a partir da
leitura do Manual do Professor, que os textos das séries New English File e Top Notch
são adaptados de fontes originais. Os autores da série Top Notch esclarecem que os
textos foram retirados de fontes autênticas, mas que foram simplificados para que os
alunos não se sentissem frustrados. Os autores lembram ainda que alguns cuidados
foram tomados para que os textos, embora simplificados, pudessem conservar ao
máximo suas características originais:
428
Todas as leituras são baseadas em fontes autênticas.
Quando apropriado, as fontes são identificadas. Para evitar
frustrar os alunos neste nível, tivemos que simplificar um pouco
a linguagem das fontes originais, mas tivemos bastante cuidado
em manter o caráter autêntico do material. (SASLOW;
ASCHER; ROUSE, 2006, p. Txxiii)
Na série New English File, os autores também esclarecem que os textos das
atividades de leitura foram retirados de fontes autênticas, mas que foram adaptados para
se tornarem acessíveis aos alunos. A partir dessa amostra, pode-se perceber que os
autores das duas séries didáticas defendem a adaptação dos textos para torná-los
acessíveis aos alunos. No entanto, o que se observa é que não existe uma gradação de
nível de dificuldade, pois todos os níveis, desde o primeiro até o último, utilizam apenas
textos adaptados ou elaborados. É compreensível que os autores apresentem textos
adaptados ou elaborados para os níveis iniciais com o cuidado de não desencorajar os
alunos, mas esse cuidado não se justifica nos níveis finais, pois nesta fase os alunos já
passaram, pelo menos, dois anos estudando a língua e já possuem conhecimento de
vocabulário e de sintaxe suficientes para lerem textos mais complexos. No entanto, em
nenhum momento do curso, os alunos têm a oportunidade de interagir com textos
autênticos que circulam em uma comunidade falante de língua inglesa.
Quanto à autenticidade dos textos na série Interchange, a análise revelou
informações diferentes das outras duas séries. A primeira é que não existe nenhuma
indicação de fonte nos textos analisados. Além disso, não foi encontrado qualquer
esclarecimento sobre a origem dos textos no Manual do Professor, como nas duas séries
acima apresentadas. Como o autor desta série didática defende a elaboração de textos
para o ensino da leitura (RICHARDS, 2001), é possível concluir que todos os textos da
série Interchange foram elaborados para compor as atividades de leitura.
A série New English File apresenta exemplares dos seguintes gêneros:
reportagem, relato, entrevista, diálogo, carta, diário e anúncio. Tanto para a série
Interchange quanto para a New English File, essa classificação dos gêneros foi realizada
a partir da análise dos textos, pois constatei que as classificações dadas para alguns
gêneros não correspondiam ao gênero apresentado. Por exemplo, a atividade classifica
429
um gênero como reportagem mesmo quando se trata de uma entrevista ou de um
anúncio.
Por fim, a série Top Notch também apresenta exemplares do gênero
reportagem, incluindo também a notícia, o relato, o anúncio, o guia de hotéis, o guia de
viagens e a carta. Nesta série, também foi identificado que a classificação de alguns
gêneros está incorreta e, para realizar o levantamento dos gêneros, também foi
necessário desconsiderar a classificação dada pelas questões.
Dessa forma, para realizar o levantamento dos gêneros que são efetivamente
empregados pelas três séries didáticas analisadas, foi necessário, em alguns casos,
desconsiderar a classificação dada pela atividade para realizar a análise de cada texto
individualmente. Nesse sentido, os textos puderam ser classificados nos seguintes
gêneros: reportagem, depoimento, anúncio, entrevista, guia de comportamento e guia de
preservação do meio ambiente. A tabela 1 apresenta os gêneros textuais e as
quantidades identificadas no corpus da pesquisa.
Gêneros de texto New English File Top Notch Interchange Total
Reportagem 10 13 10 33
Relato 3 1 4
Entrevista 3 1 4
Guia de comportamento 4 4
Anúncio 1 1 2 4
Depoimento 2 2
Notícia 2 2
Carta 1 1 2
Guia de preservação do
meio ambiente
1 1
Diálogo 1 1
Diário 1 1
Guia de hotéis 1 1
Guia de viagem 1 1
Tabela 1 – Levantamento dos gêneros nas três séries didáticas
Nessa tabela, é possível observar que a distribuição dos gêneros não acontece
de forma equilibrada, pois a reportagem está presente em mais da metade das
430
atividades, enquanto há outros gêneros que ocorrem apenas uma vez. Outros gêneros
encontrados são: o guia de comportamento, a entrevista, o relato e o anúncio, que
tiveram quatro ocorrências cada um. O depoimento, a notícia e a carta tiveram duas
ocorrências cada um, enquanto o guia para preservar o meio ambiente, o diálogo, o
diário, o guia de hotéis e o guia de viagens tiveram uma ocorrência apenas. Nesse
sentido, é possível observar que as três séries didáticas exploram mais a sequência
expositiva, através das reportagens, a injuntiva, através dos guias de comportamento e
de preservação do meio ambiente, e a descritiva, através dos anúncios e a narrativa,
através das notícias. Sendo assim, no corpus desta pesquisa não foi encontrado nenhum
texto que pudesse favorecer o estudo da sequência argumentativa.
Após esse levantamento inicial da origem dos textos e da diversidade dos
gêneros empregados por cada atividade, foi possível constatar que as séries didáticas
utilizam somente textos adaptados ou elaborados exclusivamente para a realização das
atividades de leitura. Dessa forma, esses materiais de ensino da língua inglesa não
oferecem aos alunos oportunidades para que eles tenham contato com os gêneros de
textos que normalmente circulam numa comunidade falante desta língua.
Outro aspecto identificado nesta análise inicial foi o fato de que as três séries
didáticas privilegiam a leitura do gênero reportagem. Nesse sentido, apesar do
levantamento ter sido realizado somente no corpus selecionado, o gênero reportagem
está em número de maioria. Sendo assim, ficou constatado que as atividades exploram
mais as sequências expositiva e descritiva, privando o aluno de interagir mais
frequentemente com outras sequências igualmente importantes, como a argumentativa,
a narrativa e a injuntiva. Assim, falta variedade na escolha dos gêneros e o trabalho com
a leitura nestas séries didáticas não permite ao aluno entrar em contato com a
diversidade tipológica dos gêneros.
Além disso, esse levantamento da diversidade dos gêneros mostrou que não foi
encontrado nenhum exemplar de texto literário, o que impede o aluno de entrar em
contato com a literatura dos países de língua inglesa. Conforme a orientação de
Aebersold e Field (1997), a leitura de textos literários é importante numa aula de estudo
de língua para, entre outros motivos, proporcionar ao aluno o contato com a linguagem
simbólica e a representação metafórica do mundo. No entanto, as três séries didáticas
analisadas não oferecem aos alunos essa oportunidade.
431
Na segunda fase da análise, na qual foi observado o atendimento aos critérios
estabelecidos, ficou constatado que as atividades de leitura apresentam vários aspectos
negativos que merecem bastante atenção por parte dos professores que adotem essas três
séries didáticas. Além da ausência de textos autênticos, os gêneros empregados pelas
três séries didáticas são pouco variados, constando a reportagem em 55% das atividades.
Os outros gêneros encontrados (conforme tabela 1, p. 89) possuem uma frequência bem
inferior, e, ainda, outros gêneros bastante comuns em qualquer sociedade, como o aviso,
o manual de instruções, a tirinha de jornal, poderiam ter sido incluídos. Assim, os
alunos não têm a oportunidade de interagir com os mais diversos gêneros e tipos que
são empregados pelas comunidades falantes da língua inglesa.
Com relação aos critérios de análise, a série Top Notch foi a única que
apresentou objetivos coerentes para as atividades de leitura. Essa ausência de definição
de objetivos, nas outras duas séries, deixa implícita a sugestão de que o objetivo da
leitura do texto é apenas o de responder as questões propostas. Segundo é destacado por
Ediger (2006), o objetivo para a leitura é um dos fatores primordiais que determinam a
motivação e o interesse do leitor, além de determinar também as estratégias de leitura
que serão empregadas. Dessa forma, a ausência de objetivos torna a leitura em sala de
aula uma atividade exclusivamente escolar, afastando-a do que é normalmente realizado
em outros domínios sociais, onde, segundo Solé (1998), sempre se parte de um objetivo
inicial determinado.
Quanto à recuperação do contexto de produção do texto, a análise revelou que
as informações apresentadas pelas séries didáticas estão incompletas. A série New
English File apresenta apenas o suporte do texto, como um jornal ou revista, sem
informar o título do suporte, o autor do texto ou a data de sua publicação. Também não
foram encontradas questões para que os alunos pudessem inferir o objetivo do autor ou
o público a quem o texto se destina. A ausência dessas informações contribui mais ainda
para tornar a leitura em sala de aula uma atividade apenas escolar, pois, em contextos
reais, os textos têm autores, datas e circulam em um contexto sociocultural que,
inevitavelmente, influencia tanto a produção quanto a sua recepção. A série Top Notch
apresenta, na grande maioria dos textos, apenas o endereço dos sites de onde foram
retirados; também não há informações acerca de datas e autores.
432
Por fim, a série Interchange não apresentou informação alguma sobre a origem
dos textos, o que me levou a concluir que os textos foram elaborados especificamente
para compor os livros desta série. Esse dado é muito significativo no sentido de mostrar
que, mesmo com a facilidade do acesso a materiais autênticos, ainda se negligencia o
recurso a textos autênticos em todos os níveis de aprendizado. Dessa forma, os alunos
leem textos que os autores consideram como fáceis e acessíveis e que levam a um falso
aprendizado, pois os alunos conseguem ler com facilidade os textos adaptados, mas se
sentirão frustrados ao se depararem com textos mais complexos fora do contexto
escolar.
Nas questões que ativam o conhecimento de mundo dos alunos, foi constatado
que há apenas ativação do conhecimento do vocabulário e do assunto do texto. Não há
ativação de conhecimento acerca dos esquemas referentes ao conhecimento interacional,
como, por exemplo, aqueles relacionados aos gêneros textuais. Conforme Maingueneau
(2006) esclarece, o conhecimento acerca dos gêneros auxilia na compreensão do texto,
sobretudo quando falta conhecimento linguístico ou enciclopédico. Assim, as questões
de ativação de conhecimento prévio são insuficientes nas três séries.
A ausência de questões que explorem as características dos gêneros textuais
denuncia diretamente que falta a visão do texto como um produto sociocultural
resultante das atividades de interação de uma determinada comunidade. Assim, ao se
desprezar as características e as funções dos diversos gêneros, a atividade proposta pode
levar o aluno a uma noção de texto que se esgota como amostra da língua – sobretudo
da sua gramática – que está sendo estudada. Isso pode transformar uma situação de
interação entre dois interlocutores (autor-leitor) numa experiência de mero
reconhecimento de palavras e frases, pois sem a contextualização sociofuncional do
gênero, o texto perde toda a sua caracterização social, restando apenas a função escolar
de servir como instrumento para ensinar questões linguísticas.
Outro critério que não foi atendido pelas séries didáticas refere-se à exploração
dos recursos linguísticos que possam identificar os tipos e os gêneros textuais. Na
verdade, a análise revelou que não há nenhum tipo de exploração destes elementos.
Conforme expus na primeira seção deste capítulo, o único momento no qual as
atividades mencionam algo sobre os gêneros é quando se solicita a leitura; não há, em
outro momento, questões que incentivem o aluno a inferir o tipo ou o gênero dos textos
433
propostos para leitura. Além de alguns gêneros serem classificados de modo incorreto,
nenhuma das séries didáticas analisadas oferece aos alunos a oportunidade de estudar,
de maneira explícita e direcionada, a estrutura dos tipos e dos gêneros apresentados.
A ausência de questões que explorem as características dos diferentes tipos e
gêneros é um aspecto muito negativo, pois se a comunicação oral e escrita está sempre
enquadrada em uma estrutura que é ―relativamente estável‖ (BAKHTIN, 2000) e
possível de ser reconhecida pelos usuários de uma língua, é imprescindível que o estudo
de qualquer língua esteja pautada pelo conhecimento dessas estruturas, que, embora não
sendo fixas, apresentam características recorrentes que auxiliam na identificação de sua
função social e de seu objetivo comunicativo.
A partir desses materiais, é possível supor que a habilidade de leitura não será
desenvolvida de maneira satisfatória, e o aluno poderá sentir-se frustrado por ter
passado três ou quatro anos num curso de inglês e não saber ler com fluência nessa
língua. As consequências para o aprendizado do aluno serão muito negativas, visto que
os livros didáticos levam a uma falsa noção de que basta compreender as palavras para
compreender o texto, sem considerar as informações implícitas e as imagens ou outros
dados contextuais relacionados aos textos. Nessa maneira de ensinar a leitura, os textos
não serão vistos como meios de veiculação de ideias, fatos e opiniões, e, provavelmente,
o aluno não se sentirá motivado a ler por conta própria textos nessa língua.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira grande limitação das três séries didáticas analisadas refere-se à total
ausência de textos autênticos, pois, segundo o que os próprios autores dos livros
informam, todos os textos foram adaptados para tornarem-se acessíveis aos alunos.
Nesse sentido, no decorrer de todo o curso de inglês, o aluno não tem a oportunidade de
interagir com textos que efetivamente circulam numa sociedade falante desta língua.
Outra limitação desses materiais é a pouca diversidade de gêneros textuais, pois o
gênero reportagem predominou em 55% das atividades, o que exclui o trabalho de
exploração de outros gêneros igualmente importantes para o aprendizado da leitura,
inclusive o trabalho com os gêneros literários, visto que nenhuma das três séries
apresenta exemplares de gêneros desse domínio.
434
Nesse sentido, para suprir essas limitações quanto à autenticidade e à pouca
variedade de gêneros, sugiro aos professores a preparação complementar de material a
fim de mostrar aos alunos como a língua inglesa escrita realmente funciona em um
contexto real de uso, sem adaptações ou simplificações. Acredito que a leitura de textos
autênticos deva ser praticada desde o nível básico, a partir de gêneros de menor
complexidade. À medida que os alunos forem passando de nível, a gradação de
complexidade dos gêneros também vai aumentando, até que os alunos sejam capazes de
lerem fluentemente textos dos mais diversos gêneros.
Outra limitação encontrada nas séries New English File e Interchange é a
ausência de definição de objetivos. Nesse caso, o próprio professor pode determinar
objetivos antes da leitura ou deixar que os alunos elejam seus próprios objetivos, visto
que leitores diferentes podem ler o mesmo texto com objetivos diferentes. Inclusive
esses objetivos diferentes também podem ser comentados e explorados para que os
alunos percebam como a leitura é direcionada pelo objetivo do leitor.
As três séries didáticas também trazem limitações quanto à exploração do
contexto de produção do texto, pois os materiais não apresentam as informações
completas sobre autores, datas, entre outras. Nesse caso, considero que esta seja uma
tarefa que cabe exclusivamente aos autores dos livros didáticos, visto que são eles os
que têm acesso aos textos originais e podem informar sobre o contexto de sua produção.
Quanto aos professores, acredito que eles também devem ter o cuidado de informar ao
aluno quando oferecerem material suplementar para a leitura.
Essas constatações nos levam a perceber que os livros didáticos analisados
apresentam uma visão de texto como um produto isolado de seu contexto social, pois
todos os aspectos que ligam o texto a uma determinada comunidade são desprezados
pelos livros. Por exemplo, não há definição de objetivos sociais para a leitura e nem a
identificação do contexto de produção e circulação do texto. Também não há a
exploração das características funcionais e sociais dos gêneros. Além disso, foi visto
que as séries didáticas exploram com baixíssima frequência as informações implícitas e
as imagens, que fazem parte do conhecimento de mundo dos alunos, ou seja, dos
conhecimentos adquiridos fora da sala de aula.
435
Outras limitações detectadas nesta análise referem-se à completa ausência de
questões que explorem as características dos gêneros textuais. Essas limitações são
realmente muito graves para o ensino da leitura, pois a compreensão das características
dos gêneros textuais são necessárias porque auxiliam na compreensão dos objetivos e
das funções dos textos. Nesses casos, o próprio professor poderá elaborar questões que
direcionem a atenção do aluno para os elementos que caracterizam os mais gêneros
textuais que os materiais oferecem. O professor poderá também suprir essa falta de
questões apresentando outros exemplares de gêneros que não constam no livro.
A grave situação descrita nesta pesquisa poderá ser amenizada se os
professores souberem complementar as limitações apresentadas pelas séries analisadas.
Essa participação do professor exige uma boa formação linguística e pedagógica. Dessa
forma, somente o conhecimento teórico poderá auxiliar o professor a suprimir as
limitações desses materiais didáticos.
Espero que este trabalho possa contribuir para ampliar os conhecimentos
acerca do desenvolvimento da habilidade leitora em LE e de como esta habilidade tem
sido explorada pelas séries didáticas. Com esta descrição e avaliação dos materiais
analisados, espero ainda incentivar os professores de língua inglesa a adotarem um
posicionamento crítico frente ao livro didático para complementar os aspectos que as
atividades não exploram ou exploram com pouca frequência. Em suma, o que esta
pesquisa deixou mais evidente foi a necessidade da participação ativa do professor no
planejamento das aulas e no direcionamento das atividades, pelo estudo e pela avaliação
constante do material didático disponível e de sua própria prática de ensino.
REFERÊNCIAS
AEBERSOLD, J. A. & FIELD, M. L. From reader to reading teacher: issues and
strategies for second language classrooms. Nova Iorque: Cambridge University Press,
1997.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3 ed. trad. Paulo Bezerra. São Paulo:
Martins Fontes, 2003, p. 277-326.
BORTOLI, L. H. Leitura: os nós da compreensão. Passo Fundo: UPF, 2002.
CUNNINSWORTH, A. Choosing your coursebook. Oxford:Heinemann, 1995, p.1-18.
436
KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes: Editora da
Universidade Estadual de Campinas, 1993.
____________. Leitura: ensino e pesquisa. 2 ed. Campinas, SP: Pontes, 1996.
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2006.
LAJOLO. M. Livro didático: um (quase) manual de ensino. Em Aberto, Brasília, ano
16, n. 69, jan./mar. 1996, p. 2-9.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São
Paulo: Parábola Editorial, 2008, p. 228-260.
NUTTALL, C. Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Heinemann,
1996.
PORTO, M. Um diálogo entre os gêneros textuais. Curitiba: Aymará, 2009.
RICHARDS, J. C. The role and design of instructional materials. Curriculum
Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001,
p. 251-285.
___________. Criticidade e leitura: ensaios. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998
(Coleção Leituras do Brasil), p. 43-56.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6.ed. trad. Cláudia Schiling, Porto Alegre: ArtMed,
1998, 194p.
TERZI, S. B. A construção da leitura: uma experiência com crianças em meios
iletrados. Campinas, SP: Pontes; Editora da UNICAMP, 1995, 165p.
437
REFLEXÕES SOBRE A ABORDAGEM DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO LIVRO DIDÁTICO E NA PRÁTICA
DOCENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA: POLÍTICAS E IDEOLOGIAS
Alexandra Nunes Santana (UEPG)
Resumo: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual do Paraná (UEPG), que teve como finalidade
analisar a abordagem que a coleção “Português Linguagens”, (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) do Ensino
Fundamental II, aprovada pelo PNLD 2014 confere à variação linguística. Também foi objetivo deste
estudo analisar a prática pedagógica de dois profissionais em relação ao uso do livro didático em sala
de aula e ao tratamento dispensado à variação linguística, uma vez que entendemos que os modos
de tratar a variação no ensino configuram políticas linguísticas efetuadas no/pelo material didático e
no/pelo fazer docente. Para isso, visitamos alguns estudiosos, como Bagno (2013, 2014), Coracini
(1999), Pessoa (2009), e Tilio (2006 e 2013, para o estudo do livro didático de línguas; Ribeiro da Silva
(2013); Tormena (2007) e Schiffman (1996), para subsidiar a reflexão sobre políticas linguísticas;
Woolard (1998) e Milroy (2011), para a reflexão sobre ideologias linguísticas. Em relação à
linguagem, baseio-me, principalmente, nas postulações do Círculo de Bakhtin. Com base na análise
dos livros, nas aulas observadas e na literatura citada neste trabalho, pudemos concluir que a
ideologia da padronização está presente nas salas de aulas e que as políticas linguísticas efetuadas
pelo/a docente levam a valorização da norma-padrão. Por isso, torna-se necessário repensarmos o
que chamamos de português no século XXI (MOITA LOPES, 2013) - consequentemente, os demais
conceitos que contribuam para um tratamento que desconsidere as instáveis relações sociais de
modo que contribua para práticas pedagógicas críticas em relação às políticas linguísticas e
ideologias linguísticas que estão envolvidas no processo de ensino/aprendizagem de línguas.
Palavras-chave: livro didático; ideologias linguísticas; políticas linguísticas.
Abstract: The present work is result of a master's research of the Postgraduate Program in Language
Studies of StateUniversity of PontaGrossa (UEPG), whose purpose was to analyze the approach that
the collection "Portuguese Languages" (CEREJA; MAGALHÃES , 2012) of Elementary School II,
approved by PNLD 2014 confers to the linguistic variation. It was also an objective of this study to
438
analyze the pedagogical practice of two professionals in relation to the use of the textbook in the
classroom and the treatment of linguistic variation, once we understand that the ways of treating the
variation in teaching configure linguistic policies carried out in / by the didactic material and in the /
by doing teacher. For that, we visited some scholars, such as Bagno (2013, 2014), Coracini (1999),
Pessoa (2009), and Tilio (2006 and 2013, for the study of language textbooks, Ribeiro da Silva (2013),
Tormena 2007) and Schiffman (1996), to support the reflection on linguistic policies, Woolard (1998)
and Milroy (2011), for the reflection on linguistic ideologies. In relation to language, we are based
mainly on the postulates of the Bakhtin Circle. Based on the analysis of the books, the classes
observed and the literature cited in this study, we could conclude that the ideology of
standardization is present in the classrooms and that the linguistic policies carried out by the teacher
lead to the valuation of the standard. That’s why it becomes necessary to rethink what we call of
Portuguese in the XXI century (MOITA LOPES, 2013) - consequently, the other concepts that
contribute to a treatment that disregards the unstable social relations in a way that contributes to
pedagogical practices criticisms regarding linguistic policies and linguistic ideologies that are involved
in the process of teaching / learning languages.
Keywords: textbook; linguistic ideologies; language policies.
INTRODUÇÃO
Ser professor/a, mais do que nunca, tem sido uma luta diária para conseguir
proporcionar um ensino de qualidade aos/às alunos/as, principalmente, porque também há
uma enorme cobrança por resultados que tirem o Brasil de índices nada satisfatórios em
avaliações de larga escala (como PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e
ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio), internamente, e também em relação aos outros
países, como Finlândia, Japão e Suécia que apresentam os melhores sistemas de ensino e
lideram o ranking de avaliações internacionais.
No sistema de ensino brasileiro, o livro didático é uma ferramenta muito utilizada,
principalmente, nas escolas públicas, isto é, já faz parte da cultura escolar, que integra os
modos de organização e funcionamento da prática pedagógica das escolas. Porém, para que
esses livros cheguem às escolas é necessário que os professores os escolham. No entanto, não
439
é possível escolher ―qualquer‖ livro, mas sim aqueles que foram aprovados pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD).
É possível observar que há uma certa dependência de muitos/as docentes em relação
ao livro didático (doravante LD), ou seja, ―grande parte dos professores brasileiros o
transformaram no principal ou, até mesmo, o único instrumento a auxiliar o trabalho nas salas
de aula‖ (SILVA, 2012, p. 806) e, na maioria das vezes, isso ocorre devido às condições de
trabalho impostas pelo sistema educacional no Brasil, pois muitos profissionais acumulam
uma carga horária exorbitante para poder conseguir um melhor salário, e nessas condições o
uso do livro didático torna-se ainda mais necessário, uma vez que o/a docente não
disponibiliza de tempo necessário para poder preparar materiais alternativos para suas aulas.
Por isso ―é preciso levar em conta a multiplicidade dos agentes envolvidos em cada uma das
etapas que marca a vida de um livro escolar, desde sua concepção pelo autor até seu descarte
pelo professor‖ (CHOPPIN, 2004, p.553).
Entretanto, é importante deixar claro, que muitos docentes utilizam o livro didático
não somente em função do tempo para preparar esses materiais alternativos, mas porque o
veem como um instrumento de fundamental importância no processo de ensino e
aprendizagem, principalmente para o ensino de línguas. Nesse sentido, o livro é visto não
apenas como fonte de textos, de recursos didáticos, mas também orientador do ensino,
definindo conteúdos, modos de abordá-los e tempos de ensino-aprendizagem. Diante disso, o
livro didático é visto como fundamental para o processo de ensino/aprendizagem, por isso
está presente na maioria das salas de aula.
Refletindo um pouco sobre a função ideológica e cultural do livro didático, é
significativo frisar que, ao escolher um livro didático, o/a professor/a pode estar optando por
uma filosofia de ensino e de certa forma concordando com os conceitos mobilizados pelos
autores do livro didático. Como afirma Tilio (2006, p.18), ―é preciso atentar para o fato de
que tais livros [didáticos] carregam uma riqueza de informações e ideias, produzem discursos,
constroem identidades sociais e difundem componentes culturais‖.
Sendo assim, o presente estudo tem como finalidade analisar a abordagem que a
coleção ―Português Linguagens‖, (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) do Ensino Fundamental
II, aprovada pelo PNLD 2014 confere à variação linguística e também a prática pedagógica de
dois profissionais em relação ao uso do livro didático em sala de aula e ao tratamento
dispensado à variação linguística, uma vez que entendemos que os modos de tratar a variação
440
no ensino configuram políticas linguísticas efetuadas no/pelo material didático e no/pelo fazer
docente.
Por isso, reservamos um espaço para falar sobre ideologia linguística e realizamos um breve
levantamento sobre o conceito de políticas linguísticas. Assim temos o intuito de responder as
seguintes perguntas: Como a coleção “Português Linguagens”, analisada e aprovada pelo MEC no
âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2014), aborda o fenômeno da
heterogeneidade/variação linguística? Que ideologia(s) linguística(s) orienta(m)/está(ao) presente(s)
nessa abordagem e, consequentemente, que ideologia(s) linguística(s) está(ao) presentes nas salas
de aula através do LD, uma vez que este é um dos principais recursos/ferramenta para o ensino de
língua? Qual é o tratamento dado à heterogeneidade/variação linguística em sala de aula pelo/a
professor/a no uso que faz do livro didático? Que ideologia(s) linguística(s) constitui(em) sua prática?
Que políticas linguísticas são (re)produzidas a partir do tratamento da heterogeneidade/variação no
livro didático e na prática pedagógica?
Enfim, este trabalho tem o objetivo de identificar e analisar as ideologias e políticas
linguísticas no ensino de língua portuguesa no que se refere à questão da heterogeneidade/variação
linguística.
1. REVISÃO DA LITERATURA
Ensinar a língua portuguesa em sala de aula não é tarefa fácil. Envolve saberes e práticas
complexos que vão desde as concepções de língua/linguagem, as ideologias linguísticas e passa pelas
definições do quê e do como ensinar. Pensando nessa complexidade, buscamos definições desses
conceitos à luz dos estudos do Círculo de Bakhtin.
Para Bakhtin (2011, p. 261), o conceito de linguagem, está inteiramente relacionado com
“todos os diversos campos da atividade humana”. Esses campos, ou esferas sociais, são todas as
áreas e instituições sócio historicamente construídas em que o processo comunicativo acontece,
como por exemplo, no âmbito político, religioso, científico, publicitário, literário, cotidiano, escolar
etc. Desta maneira,
todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – seja de história
da língua, de gramática normativa, de confecção de toda espécie de dicionário ou
estilística da língua, etc. – opera inevitavelmente com enunciados concretos
(escritos e orais) relacionados a diferentes campos da atividade humana e da
comunicação – anais, tratados, textos de leis, documentos de escritório e outros,
441
diversos gêneros literários, científicos, publicísticos, cartas oficiais e comuns,
réplicas de diálogo cotidiano (em todas as suas diversas modalidades), etc.
(BAKHTIN, 2011, p. 264).
O autor afirma, ainda, que “o caráter e as formas desse uso são tão multiformes quanto os
campos da atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p.261). Percebe-se, então, que dentro de cada um
desses âmbitos há infinitas formas de a linguagem ser constituída e utilizada. Sendo assim, quando se
pensa no ensino da língua portuguesa, que é o foco deste estudo, é importante ter como
pressuposto da prática pedagógica a heterogeneidade da língua.
Bakhtin (2011, p. 261) assinala que “o emprego da língua se efetua em forma de enunciados”
em suas diferentes formas, sejam orais ou escritos, de acordo com a necessidade/finalidade do
processo de interação. Ou seja, como a língua é viva, ela sempre está em movimento, em mudança.
Então, para que haja interação, é necessário que as pessoas que estão interagindo compartilhem o
extraverbal, que dá sustentação ao verbal. Para Bakhtin/Voloshinov, “qualquer que seja o aspecto da
expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em
questão” (2009, p. 116); por isso, no ensino/aprendizagem de língua, torna-se necessário trabalhar
com situações concretas de enunciação para que os/as alunos/as aprendam usar diferentes recursos
linguísticos e apreendam distintos efeitos de sentido que esses usos podem promover, uma vez que
“a enunciação é o produto da interação de (...) indivíduos socialmente organizados”
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 116). Assim, “a situação social mais imediata e o meio social mais
amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da
enunciação” (2009, p. 117). Esta estrutura diz respeito à estrutura composicional e também aos
recursos linguísticos aí utilizados.
Diante disso, é muito importante ressaltar que é fundamental que o/a professor/a tenha
consciência de que, no processo de ensino/aprendizagem de uma língua, está trabalhando com
enunciados, dirigidos a alguém e orientados por um projeto de dizer. Cada enunciado “é um elo real
na cadeia da comunicação discursiva em determinado campo da atividade humana ou da vida”
(BAKHTIN, 2011, p. 288). É claro também que “cada enunciado particular é individual, mas cada
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN,
2011, p. 262, grifos do autor). Isto é, como já mencionado, “a língua passa a integrar a vida através
de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida
entra na língua (BAKHTIN, 2011, p. 265).
442
Ao utilizar livros didáticos, o/a professor/a trabalha com uma fonte repleta e rica de
enunciados, pois em cada livro didático há uma diversidade deles que, por sua vez, remetem a outros
enunciados, pois fazem parte de cadeias enunciativas próprias nas esferas de atividade humana em
que foram gerados e nas quais circulavam antes de integrarem o livro didático.
Para Bakhtin (2011, p. 270), “a língua é deduzida da necessidade do homem de
autoexpressar-se, de objetivar-se”, mas para isso é necessário o outro, isto é, as relações de
alteridade entres os falantes, que geram as cadeias de respostas entre os sujeitos e aos enunciados.
Então, a compreensão do enunciado está relacionada/gera uma ação responsiva do ouvinte, mesmo
que essa compreensão responsiva seja de efeito retardado; cedo ou tarde, “o que foi ouvido e
ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte” (p.
272).
Sendo assim, no processo de ensino/aprendizagem de uma língua, é fundamental trabalhar
com enunciados, ou seja, com as várias manifestações concretas de uso da língua. Essas
manifestações compreendem uma ampla gama de diversidade linguística, uma vez que remete à
diversidade de posições sociais, históricas e ideológicas dos sujeitos e dos grupos. Essa diversidade
linguística é concebida por Bakhtin como diversas línguas sociais: “modos de falar de grupos, jargões
profissionais, as linguagens dos gêneros, as das gerações e das faixas etárias, as linguagens das
tendências e dos partidos, as linguagens das autoridades, as linguagens dos círculos e das modas
passageiras” etc (BAKHTIN, 2015, p. 30). Essas línguas acontecem nos enunciados. As línguas sociais,
sob um certo aspecto/enfoque, podem ser aproximadas da perspectiva sociolinguística de variação
linguística, e, por isso, é primordial dar a devida importância ao tratamento da
heterogeneidade/variação linguística.
O principal papel da escola é de poder contribuir na formação dos/das alunos/as para o
exercício da cidadania, proporcionando ao/à aluno/a, no que diz respeito ao ensino de língua, o
aprendizado dos vários recursos para o seu uso, dentre os quais, é claro, estão as variedades cultas. É
muito importante que o/a estudante tenha domínio dessas variedades para poder usá-las em
momentos da atividade humana nos quais elas se fazem necessárias, o que não significa priorizar
somente o ensino dessas variedades e menosprezar as outras, como se na escola não fosse lugar
destas, não fosse lugar do multilinguismo em língua portuguesa (CAVALCANTI, 2013). O respeito e a
valorização das variedades linguísticas decorrem da compreensão de que elas são utilizadas na
comunicação entre pessoas de várias camadas sociais, de culturas diferentes, de modos distintos de
pensar e de usar as línguas, em razão de que, em “um grupo linguístico, a multiplicidade de falantes
443
evidentemente não pode ser ignorada de maneira nenhuma quando se fala da língua” (BAKHTIN,
2011, p.270).
Nessa perspectiva teórico-metodológica do Círculo de Bakhtin, não se pensa a língua como
um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas sim, como “ideologicamente
preenchida, a língua enquanto cosmovisão e até como uma opinião concreta que assegura o
maximum de compreensão mútua em todos os campos da vida ideológica” (BAKHTIN, 2015, p.40).
Considerando que há diferentes grupos, com distintas cosmovisões e conjuntos de valores,
compreende-se que há distintas línguas sociais. É neste sentido que buscamos articular a noção de
multilinguismo em línguas portuguesas (CAVALCANTI, 2007), tomadas como distintas estruturas
linguísticas, à concepção de língua como cosmovisão/conjunto de valores, como ideologicamente
preenchida.
O/a professor/a que apreende a língua como interação social e como cosmovisão
compreende que “a escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante sob maior ou menor
influência do destinatário e da sua resposta antecipada” (BAKHTIN, 2011, p. 306, grifos do autor) e,
ainda, que “a análise estilística, que abrange todos os aspectos do estilo, só é possível como análise
de um enunciado pleno e só naquela cadeia da comunicação discursiva da qual esse enunciado é um
elo inseparável” (p. 306, grifos do autor).
Diante disso, percebe-se que no processo de ensino/aprendizagem de uma língua não
precisa ser priorizado o ensino sistemático da língua, mas, sim, o seu uso nas diversas relações
sociais, como ela é carregada ideologicamente/valorativamente nas diversas esferas da atividade
humana.
2. IDEOLOGIA LINGUÍSTICA
É fato que por mais que pesquisas tenham avançado e que os documentos oficiais tenham
reconhecido o multilinguismo na nossa sociedade, ainda impera a cultura da língua padrão no
ensino/aprendizagem da língua portuguesa. Para Milroy (2011, p.57), “um efeito extremamente
importante da padronização tem sido o desenvolvimento da consciência, entre os falantes, de uma
forma de língua “correta” ou canônica”. O autor ainda acrescenta que “praticamente todo mundo
adere à ideologia da língua padrão e um aspecto dela é uma firme crença na correção” (p. 57). Para
compreendermos o porquê dessa crença ainda continuar a ser perpetuada em pleno século XXI,
torna-se relevante revermos algumas discussões de estudiosos sobre o conceito de ideologia.
444
Woolard (1998, p.5) afirma que o termo “ideologia” foi cunhado pela primeira vez no final do
século XVIII pelo filósofo francês Destutt de Tracy que esperava desenvolver uma ciência das ideias,
tomando-se ideias no sentido bem amplo de estados da consciência. De acordo com a autora, ao
termo foi logo dada a sua conotação negativa no esforço de Napoleão em desacreditar Destutt de
Tracy e seus colegas, cuja posição institucional e trabalho estavam ligados ao republicanismo. No uso
de Napoleão, a ideologia tornou-se “mera” e “ideóloga” um epíteto desprezível para os proponentes
de teorias abstratas não baseadas ou apropriadas para as realidades humanas e políticas. Nas
palavras da autora, o negativismo napoleônico provou ser duradouro, de modo que essa concepção
de ideologia ainda é uma variação significativa mesmo entre os significados científicos sociais do
termo.
Para Eagleton (1997, p. 15) “ninguém propôs ainda uma definição única e adequada de
ideologia”, isso porque “o termo “ideologia” tem toda uma série de significados convenientes, nem
todos eles compatíveis entre si”. Segundo o autor, a palavra “ideologia” é,
[...] um texto, tecido com uma trama inteira de diferentes fios conceituais; é
traçado por divergentes histórias, e mais importante, provavelmente, do que forçar
essas linhagens e reunir-se em alguma Grande Teoria Global é determinar o que há
de valioso em cada uma delas e o que pode ser descartado (EAGLETON, 1997, p.
15).
Para Moita Lopes (2013, p. 18-19), um dos autores que mobiliza os referenciais dos estudos
de ideologias linguísticas no Brasil, devido aos “processos sociais, políticos, econômicos,
demográficos, diaspóricos, etc. que chamamos de globalização e que caracterizam a modernidade
recente”, vivemos em um tempo em que “a linguagem passa a ocupar um espaço diferenciado em
nossas vidas sociais, o que precisa ser considerado em relação ao que chamamos de português”. Para
o autor
ideologias linguísticas envolvem tanto os modelos socioculturais da linguagem em
uso, do que chamamos de português no nosso caso, construídos pelos falantes,
escritores etc., como também aqueles elaborados por especialistas do campo dos
estudos da linguagem (MOITA LOPES, 2013, p.20).
Nesse sentido fica claro que nenhum “conhecimento é privilegiado ou que nenhuma teoria é
transparente ou tem acesso à verdade” (MOITA LOPES, 2013, p.22).
No Brasil, como afirmam César e Cavalcanti (2007, p. 50), “na área dos estudos da linguagem,
as práticas pedagógicas refletem o ideal do monolinguismo, sob a égide do português como língua
445
oficial”, por isso, “amargam índices crescentes de fracasso escolar dos seus estudantes falantes de
línguas minoritárias”. Sendo assim, como afirma Moita Lopes (2013, p. 27) “a ideologia da
delimitação linguística a uma comunidade precisa ser revista, principalmente à luz dos processos de
globalização e de fronteiras porosas que vivenciamos”, ou seja, é necessário compreender que as
ideologias linguísticas são muito mais complexas (envolvem diferentes dimensões e aspectos sociais,
históricos e políticos) e que as línguas também são construtos sociais muito mais complexos (línguas
são constitutivamente heterogêneas e hibridizáveis/hibridizadas) para dar conta do que entendemos
como português no século XXI. “Esse posicionamento significa que ideologias linguísticas são
motivadas por interesses específicos, valores e visões do mundo e do ser humano nele” (MOITA
LOPES, 2013, p. 27).
Por isso também, é muito importante que o/a professor/a tenha consciência de que
ideologia de língua está mobilizando com seus alunos. A ideologia da normalização/padronização
continua a ser poderosa (Gal, 2006) e a ideologia do monolinguismo está arraigada na nossa
sociedade e, em especial, nas escolas. Mas elas podem provocar insucesso para nossos estudantes.
3. POLÍTICAS LINGUÍSTICAS
As Políticas Linguísticas, como afirma Ribeiro da Silva (2013, p.291), configuram-se como “um
campo de investigação relativamente recente em comparação com outras áreas dos Estudos da
Linguagem”. O número reduzido de textos publicados em língua portuguesa sobre os principais
postulados teóricos e metodológicos da área tem dificultado a sua implantação como disciplina
permanente nos cursos de licenciatura no Brasil (RIBEIRO DA SILVA, 2013, p.290).
Consequentemente, ainda não há uma consonância no que se refere à terminologia específica da
área. Para alguns autores o termo utilizado é Planejamento Linguístico e Política Linguística, já para
outros “Planejamento e Política Linguística”, e há ainda pesquisadores que utilizam “Engenharia
Linguística” e/ou “Tratamento Linguístico” (CRYSTAL, 1992, p.310-311 apud RIBEIRO DA SILVA, 2013).
Neste trabalho usarei a terminologia Políticas Linguísticas (PL) para “designar o processo em sua
totalidade, isto é, a política e o planejamento linguístico” (RIBEIRO DA SILVA, 2013, p.291).
Segundo Tormena (2007, p.18-19), as PL para o ensino fundamental apresentadas pelo
Ministério da Educação no Brasil na virada do século XXI (1995-2007), período objeto de pesquisa de
sua dissertação de mestrado, “não se preocupam com a forma da língua, não se caracterizando com
um planejamento de corpus” (que intervém sobre a forma da língua), pois “não há uma intervenção
na gramática, na forma escrita da língua ou na sua padronização”. Para a autora, as PL brasileiras, no
446
período citado, preocupam-se predominantemente com as questões de status (intervêm sobre as
funções da língua), ou seja, “em saber qual (is) variedade (s) se quer valorizar e qual (is) se quer
ignorar” (TORMENTA, 2007, p.19). Segundo Tormenta, no Brasil, na prática, o objetivo sempre foi de
uma língua única padronizada, a norma-padrão, e “o plurilinguísmo sempre foi rejeitado, combatido
ou ignorado”. Tormena (2007, p. 19) ainda acrescenta que as PL brasileiras são implícitas, pois a
“questão da língua integra outras políticas educacionais, não ocupando o foco principal”.
Para Schiffman (1996), política linguística explícita é aquela que diz respeito à legislação
oficial, ou seja, documentos, leis, decretos, resoluções, etc., que regulamentam as questões
linguísticas. Enquanto, política linguística implícita refere-se às regras linguísticas que não são oficiais,
porém se manifestam no cotidiano, ou seja, nas práticas sociais, que embora não sistematizada
possuem regras claras, as quais podemos tratá-las como variedades linguísticas.
Pensando nessas definições, faz-se necessário refletir sobre o papel dos livros didáticos que
são aprovados pelo PNLD, porque sem dúvida nenhuma eles são instrumentos de divulgação das
políticas linguísticas e, por isso, é importante observar que ideologia linguística está sendo
transmitida, uma vez que, em muitos casos o livro didático é “o único material de leitura disponível
na casa dos alunos do ensino fundamental público, alcançando toda a família” (TORMENA, 2007).
Diante disso, acreditamos que o PNLD trata-se de uma política linguística explícita, já que é
um programa oficial do governo federal e o livro didático trata-se de uma política linguística
implícita, porque, mesmo tentando-se adequar aos critérios do PNLD para poder ser aprovado,
também mobiliza culturas linguísticas que historicamente circulam na sociedade e mantem modos
de organização interna e perspectivas sobre a língua distintas daquelas do PNLD.
4. A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA COLEÇÃO
Em análise detalhada da coleção, observamos que o tratamento dado à questão da
heterogeneidade/variação linguística, foco desta pesquisa, tem uma maior ênfase no livro do 6º ano,
ou seja, observa-se uma preocupação dos autores em valorizar a reflexão sobre a língua em diversas
maneiras de uso neste período escolar. Em relação aos outros volumes, observamos que o foco
principal é o estudo da gramática normativa. Quando, no livro, se fala em variedade linguística
normalmente é para mostrar ao aluno que os textos devem ser escritos na variedade padrão, como
se pode notar na atividade a seguir (p. 132), exercício 8 do livro do 7º ano, em que é trabalhado um
texto de campanha comunitária.
447
Figura 1
8- A linguagem deve estar sempre de acordo com o gênero e com o perfil do público a que o texto se
destina.
a) Que tipo de variedade linguística foi empregada no texto?
b) Que tipo de público você acha que o texto pretende atingir? Justifique sua resposta.
c) Por que o anunciante se dirige diretamente ao leitor, tratando-o por você?
As questões pretensamente apontam para uma preocupação que o aluno reflita sobre o uso
da “variedade padrão”, e suas situações de uso. Embora afirme que a linguagem se adequa ao
gênero, os autores não fazem nenhuma referência aos aspectos extraverbais que dão sustentação ao
verbal, que orientam a escolha dos gêneros e dos recursos linguísticos utilizados na produção do
gênero. Em que contexto esse texto foi produzido? Onde circulou? Com que finalidade? Isso
percorre todo o livro, e nos demais volumes, 8° e 9° anos, os gêneros discursivos trabalhados na sua
maioria estão escritos na norma culta, com grande ênfase para o ensino da gramática normativa.
Arriscamos afirmar que o exemplar do 6º ano aborda o fenômeno da variação linguística
com maior profundidade, devido ao fato de ser o momento em que os alunos chegam à segunda fase
do Ensino Fundamental. Parece ser um momento adequado de a escola afirmar que reconhece os
usos das formas não padronizadas, mas que se espera que o/a aluno/a aprenda as formas
padronizadas da língua. E como se trata de uma coleção que é adotada pela escola para um trabalho
durante 4 anos, os alunos que se encontram nas séries posteriores, pelo menos em teoria, já
448
possuem um conhecimento do fenômeno da variação linguística, sendo assim, pressupõe-se que
cada volume constitui parte de um todo elaborado, isto é, o conhecimento é adquirido de forma
contínua. Isso faz pensar, que a intenção do ensino da língua portuguesa é que, à medida que os
alunos avancem vão aos poucos abandonando sua variedade, aquela que usava quando chegou no
6°ano, e passem a assumir as línguas portuguesas prestigiadas ensinadas na escola (CECÍLIO e
MATOS, 2006, p. 42). Isso é preocupante, pois a pergunta que vem é: então, o objetivo da escola é
“apagar” as línguas sociais dos alunos e introduzir apenas as línguas sociais prestigiadas? É muito
importante refletir sobre isso, já que se pode afirmar que o livro didático é um instrumento de
difusão e consolidação de ideologias e políticas linguísticas produzidas no Brasil. Trabalhar em aula
somente com o ensino das línguas cultas é perpetuar o preconceito linguístico, apesar dos
documentos oficiais afirmarem o contrário. Por falta de espaço não traremos as análises realizadas
das atividades do livro didático.
5. A VARIAÇÃO NA PRÁTICA DOCENTE: O USO DO LIVRO DIDÁTICO NAS SALAS DE AULAS
Na análise das aulas observadas, que não serão demonstradas aqui por falta de espaço, foi
possível constatar que há a ideologia da língua padrão, da norma de correção, ou seja,
posição/ideologia do padrão como a maneira correta de uso da língua ficou bem evidente nas aulas,
mesmo quando se afirma que as variedades linguísticas devem ser trabalhadas em sala de aula, que
são importantes, como foi afirmado nas entrevistas, acaba-se na prática perpetuando a cultura do
erro, a crença da correção. A ideologia do padrão em sala de aula ficou tão evidente que em vários
momentos foi mencionado aos/às alunos/as que é na escola o lugar de aprender a língua “correta”,
ou seja, “o que eles adquirem de modo informal antes da idade escolar não é confiável e não
plenamente correto ainda” (MILROY, 2011, p.60), isto é, é na escola onde ocorre a “verdadeira
aprendizagem da língua” (idem). Essa perspectiva parece responder, entre outros enunciados, à
posição enunciada no livro didático.
O interessante que apesar de constatarmos que existe uma fortíssima ideologia da língua
padrão para o ensino de língua portuguesa, na prática docente notamos que mesmo o/a docente
afirmando que na escola se deve falar a norma-padrão, que os/as alunos devem falar
“corretamente”, nas falas do professor e da professora isso não aconteceu. Praticamente em todo
momento ele e ela utilizaram-se da língua/variedade prestigiada para explicarem o conteúdo e
conversarem com os/as alunos. Isto demonstra que o/a docente, mesmo sem perceber, aplica
políticas linguísticas diariamente na sua prática pedagógica. Segundo Schiffman (1996, p. 5) a política
449
linguística baseia-se na cultura linguística, isto quer dizer, “no conjunto de comportamentos,
suposições, formas culturais, preconceitos, sistemas populares de crenças, atitudes, estereótipos,
formas de pensar sobre a linguagem e as circunstâncias histórico-religiosas associadas a uma língua
específica”. Quando o/a docente fala para os/as alunos/as que não usar a língua conforme a norma-
padrão é “errado”, ele/ela está, além de disseminar o preconceito linguístico, influenciando na
manutenção e transmissão da língua ou variante falada por um grupo ao mesmo tempo em que
fomenta ou desestimula a aprendizagem/uso de outras línguas/variantes (RIBEIRO DA SILVA, 2013, p.
310).
Como afirma Bagno (2007, p. 158) temos que lutar para permitir “o convívio tranquilo e
tolerante entre as muitas formas de se dizer a mesma coisa”, é necessário reconhecer a riqueza da
língua brasileira, da cultura brasileira. A norma-padrão sem dúvida “é um patrimônio dos povos que
falam o português, e todos esses falantes têm o direito de aprendê-la, por mais distante que ela
esteja dos usos reais contemporâneos” (idem). No entanto, o que é inconcebível é querer impor esse
padrão como única/correta opção de uso da língua.
O papel do/a professor/a como agente de políticas linguísticas é de extrema relevância para
que se reconheça o multilinguísmo, o multiculturalismo no Brasil, visando não à homogeneidade, o
silenciamento das diferenças, mas sim à igualdade de direitos, às identidades sociais, à
heterogeneidade linguística. A crença/ideologia de que se estuda língua portuguesa na escola para
aprender a falar e escrever “corretamente” precisa ser revista/discutida com os/as estudantes, uma
vez que nas entrevistas realizadas com os/as alunos/as todos responderam que o objetivo de existir
uma disciplina de língua portuguesa na escola é para ensinar a falar e escrever corretamente. É
evidente que os/as alunos/as afirmaram isso porque no dia a dia é transmitida essa ideologia para
eles/elas, não apenas na escola, mas em casa e em outros meios também, pois faz parte da nossa
cultura ver a escola como o lugar onde se aprende a língua “correta” e se considera que, para além
destas variedades de prestígio, é também o espaço de abandonar as variedades estigmatizadas e
passar a utilizar a norma padrão.
Enfim, o professor e a professora praticam políticas linguísticas que valorizam a hegemonia
da língua padrão, corrigindo os/as alunos/as quando não fazem uso da norma, o que demonstra que
a “proficiência em uma língua é percebida como um símbolo de status, de poder, de pertencimento
a grupos específicos” (SHOHAMY, 2006), ou seja, pessoas escolarizadas devem dominar o uso da
língua padrão, por outro lado, deixam de abordar de maneira mais significativa a linguagem que se
manifesta no cotidiano, nas práticas sociais, inclusive as que ocorrem em sala de aula, um vez que,
como já foi mencionado, tanto o professor como a professora não fizeram uso da língua padrão nas
450
ações comunicativas em sala de aula, o que é natural, porque simplesmente esse uso não existe na
prática. Como afirma Bagno (2007, p. 160) é preciso “dizer em voz alta que as formas não
normatizadas também estão corretas” (grifo do autor), pois isso impede que “o conhecimento da
norma tradicional seja usado como um instrumento de perseguição, de discriminação, de
humilhação do outro”, sendo assim, teremos alunos/as que de fato aprendam sobre a língua que
usam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou identificar as ideologias e políticas linguísticas no ensino de língua
portuguesa no que se refere à abordagem da heterogeneidade/variação linguística presentes em
duas salas de aula de 6º ano do Ensino Fundamental na cidade de Castro/Paraná. Para isso, foi
mobilizado o arcabouço teórico da Linguística Aplicada, fazendo ligação entre língua e sociedade à
luz dos estudos de Bakhtin e do Círculo e das contribuições da Sociolinguística, assim como, dos
estudos de Políticas Linguística.
Identificamos que a ideologia da padronização está presente nas salas de aulas observadas
nesta pesquisa e que as políticas linguísticas efetuadas pelo/a docente levam à valorização da norma-
padrão. Essa valorização desta norma é construída, ainda pela compreensão de que a norma-padrão
equivaleria às línguas/variedades de prestígio. Segundo Bagno (2007), no entanto, a norma-padrão
não pode ser considerada variedade porque não é falada como tal por nenhum falante. A ideologia
da padronização está relacionada à ideologia do monolinguísmo da língua portuguesa no Brasil.
Acreditamos que este trabalho contribui para as discussões sobre o ensino de língua
portuguesa e para a formação de professores da área segundo a proposta de Moita Lopes (2013),
que nos instiga a repensar o que chamamos de português no século XXI e, consequentemente, os
demais conceitos que contribuem para um tratamento que desconsidere as instáveis relações sociais
de modo e que colabore para práticas pedagógicas críticas em relação às políticas linguísticas e
ideologias linguísticas que estão envolvidas no processo de ensino/aprendizagem de línguas.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FILHO, J.C.P. Codificar conteúdos, processo, e reflexão formadora no material didático para
ensino e aprendizagem de línguas. In: PEREIRA, A.L,
451
BAGNO, M. Nada na língua é por acaso por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo:
Parábola Editorial, 2007.
______ Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola, 2001.
______ Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 1999.
______ Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 2011.
______Sete erros aos quatro ventos a variação linguística no ensino do português. São Paulo:
Parábola, 2013.
______ Língua, linguagem, linguística: pondo os pingos nos ii. São Paulo: Parábola, 2014.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 13.ed. São Paulo: Hucitec, 2009.
______ Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995.
______ Estética da Criação Verbal. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
______ Teoria do romance I. São Paulo: Editora 34, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação. Guia de livros didáticos PNLD 2014. Ensino Fundamental Anos Finais. Brasília, 2013.
CAVALCANTI, M.C. Educação linguística na formação de professores de línguas: intercompreensão e
práticas translíngues. In. MOITA LOPES, L.P. (Org.) Linguística Aplicada na Modernidade recente. São
Paulo: Parábola, 2013.
CAVALCANTI, M.C. e CÉSAR, A.L. Do singular para o multifacetado: o conceito de língua como
caleidoscópio. In. CAVALCANTI, M.C; BORTONI-RICARDO, S.T. (Orgs.) Transculturalidade, linguagem
e educação. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007. p.45-65.
CECÍLIO, S.R.; MATOS, C.M.A. Revisitando o livro didático: a variação linguística e o ensino de
língua. Entretextos, Londrina, n. 6. p. 39-43, jan/dez. 2006.
CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. São Paulo, Saraiva, 2012.
CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v. 30, n.3, p. 549-566, set/dez.2004.
CORACINI, M. J. (Org.). O Jogo Discursivo na Aula de Leitura. Campinas, SP: Pontes, 1995.
______(Org.). O Livro Didático nos Discursos da Linguística Aplicada. In: CORACINI
(ORG.) Interpretação, autoria e legitimação do livro didático. Campinas, SP: Pontes, 1999.
CRYSTAL, D. Glossary (Language Planning) In: BRIGHT, W. (Ed.). International encyclopedia of
Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1992. p.310-311.
COX, M.I.P; ASSIS-PETERSON, A.A. Transculturalidade e transglossia: para compreender o fenômeno
das fricções linguístico-culturais em sociedades contemporâneas sem nostalgia. In. CAVALCANTI,
452
M.C; BORTONI-RICARDO, S.T. (Orgs.) Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas, SP:
Mercado de Letras, 2007Campinas: Mercado de Letras, 2007.
EAGLETON, T. A ideia de cultura, 2ed. São Paulo: UNESP, 2011
FARACO, C. A. Norma culta brasileira desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2009.
FARACO, C.A; ZILLES, A.M.S. (Orgs.) Pedagogia da variação linguística, língua, diversidade e ensino.
São Paulo: Parábola, 2015.
GAL, S. Migration, Minorities and Multilingualism: Language Ideologies In: Europe 13 (Language
ideologies, policies, and practices: language and the future of Europe/edited by Clare Mar-Molinero
and Patrick Stevenson, 2006.
MILROY, J. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. In: BAGNO,M.; LAGARES. X
(Orgs.) Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo, SP: Parábola, 2011.
MOITA LOPES, L.P. DA. O português no século XXI cenário geopolítico e sociolinguístico. São Paulo,
SP: Parábola, 2013.
OLIVEIRA, C.E. Concepções de leitura nos livros didáticos de língua espanhola: uma reflexão
discursiva sobre a leitura em língua estrangeira. (Dissertação de Metrado). Instituto de Linguagens
UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2008.
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Língua
Portuguesa. Curitiba, 2008.
PEREIRA, A.L. Representações de gênero em livros didáticos de língua estrangeira: discursos
gendrados e suas implicações para o ensino. In: PEREIRA, A.L, PEREIRA, A.L, GOTTHEIM, L. (Orgs.)
Materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira processos de criação e contextos de uso.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013. p.213-146.
PESSOA, R.R. O livro didático na perspectiva da formação de professores. Trabalhos em Linguística
Aplicada. Campinas, 48(1):53-69, jan./jun.2009.
RIBEIRO DA SILVA, E. A pesquisa em política linguística: histórico, desenvolvimento e pressupostos
epistemológicos. Campinas. n(52.2) p. 289-320, 2013.
SANTOS, V.A; MARTINS. L. A importância do livro didático. Revista Virtual, Bahia, v.7, n.1, p.20-33,
2011.
SCHIFFMAN, H.F. Linguist culture and Language Policy. London: Routledge, 1996.
_______. (2006). Language Policy and linguistic culture. In: Ricento, T. (ed.). An introduction to
Language Policy: theory and method. Malden: Blackwell Publishing, pp. 111-126.
SILVA, M.A. A fetichização do livro didático no Brasil. Educ. Real, Porto Alegre, v. 37, n.3. p. 803-821,
set/dez. 2012.
O PODER DA PALAVRA EM HAROUN E O MAR DE HISTÓRIAS
453
Silas Rodrigues Machado (Unila)
Resumo: O objetivo deste artigo é analisar Haroun e o Mar de Histórias, de Salman Rushdie (1998),
a partir da oposição palavra versus silêncio. A obra literária será abordada pelo percurso metodológico
proposto pela Semiótica greimasiana. Por meio das marcas textuais e discursivas se pretende
estabelecer relações entre os anseios, os temores e as expectativas de um tempo e espaço marcado pelo
questionamento da censura em oposição à liberdade de expressão. Para isso, apoiamo-nos nas
explicações de José Luiz Fiorin (1995), Diana Luz Pessoa de Barros (2002) e Luiz Tatit (2014); e os
encaminhamentos sobre a relação entre o discurso e o contexto explicados por M. Bakhtin (2000).
Revelando, por meio das relações entre linguagem, sociedade e história, uma obra que, além de
chamar atenção para o tema da liberdade de expressão, remete ao processo de criação de histórias e da
palavra enquanto forma de poder dentro de uma determinada sociedade.
Palavras-chave: Censura. Liberdade de expressão. Semiótica.
Abstract: This paper aims to analyze ―Haroun and the Sea of Stories‖, by Salman Rushdie (1998),
from the opposition word versus silence. The literary work will be discussed by the methodological
path proposed by Greimasian semiotics. By means of textual and discourse markers it intends to
establish relationship among time‘s and space‘s yearnings, fears and expectations, marked by censure
questioning in opposition of freedom of speech. José Luiz Fiorin (1995), Diana Luz Pessoa de Barros
(2002) and Luiz Tatit (2014) support this study, as well as M. Bakhtin (2000) with his thoughts about
the relationship between discourse and context. Revealing, by the means of the relationship among
language, society and history, a work that besides calls the attention for freedom of speech theme, rely
on stories creation process and the word as a powerful tool within a specific society.
Keywords: Censorship. Freedom of expression. Semiotics.
Palavra quando acesa
Não queima em vão
Deixa uma beleza posta em seu carvão
E se não lhe atinge como uma espada
Peço não me condene oh minha amada
(Fernando Filizola)
INTRODUÇÃO
A análise do texto não restringe apenas a fios ou palavras soltas, mas sim a sua
totalidade de sentido. Da mesma forma que um tecido não é um amontoado desorganizado de
fios, ―o texto não é um amontoado de frases, nem uma grande frase. Tem ele uma estrutura,
que garante que o sentido seja apreendido em sua globalidade, que o significado de cada uma
de suas partes dependa do todo‖ (FIORIN, 1995, p. 1). Sendo assim, para analisar o texto em
454
sua totalidade, iremos nos apoiar no percurso gerativo de sentido desenvolvido pela Semiótica
de linha francesa – que inicialmente recebeu o nome de Semântica Estrutural por seu
fundador Algirdas Julien Greimas (1917-1992), mas devido a este estudioso, também pode ser
chamada de Semiótica greimasiana.
De acordo com Diana Luz Pessoa de Barros (2002), define-se o texto a partir de duas
formas que se complementam: objeto de significação e objeto de comunicação. Dessa forma,
―o estudo do texto com vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser entrevisto
como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou sócio-
históricos de fabricação do sentido‖ (2002, p. 8). Nessa direção que os estudos mais recentes
da semiótica têm caminhado. Procurando conciliar,
[...] com o mesmo aparato teórico-metodológico, as análises ditas ‗interna‘ e
‗externa‘ do texto. Para explicar ‗o que o texto diz‘ e ‗como o diz‘, a
semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual
e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção
do texto (BARROS, 2002, p. 8).
Conforme analisa José Luiz Fiorin, a Semiótica concebe-se como uma teoria gerativa,
sintagmática e geral. É gerativa, porque prevê um percurso metodológico para se apreender o
ou os sentidos do texto. ―É uma teoria sintagmática, porque seu escopo é estudar a produção e
a interpretação dos textos. É geral, porque se interessa por qualquer tipo de texto,
independentemente de sua manifestação‖ (1995, p. 166). Ainda segundo o autor, baseia-se na
ideia de que o conteúdo pode ser analisado separadamente da expressão, pois o mesmo
conteúdo pode ser representado por diferentes expressões – verbal, visual, sonora etc. Sob
essa perspectiva, a Semiótica sugere que para explicar o ou os sentidos do texto, deve-se
primeiro atentar-se ao plano do conteúdo. Para examiná-lo, ―faz abstração da manifestação
[...] e só depois vai estudar as especificidades da expressão e sua relação com o significado‖
(FIORIN, 1995, p. 167).
Nesse sentido, preocupamos fundamentalmente em investigar os mecanismos que
engendram e constituem como uma totalidade de sentido a obra literária Haroun e o Mar de
Histórias, de Salman Rushdie. Tendo como foco o plano do conteúdo, o qual se manifesta por
meio de um percurso gerativo que é constituído de três níveis: nível fundamental, nível
narrativo e nível discursivo. Cada um dos patamares tem sua própria sintaxe e semântica, no
entanto, o sentido geral do texto depende da relação entre os níveis. Como ponto de partida,
tomamos a oposição fundamental entre palavra e silêncio, saindo do mais simples e abstrato
para o mais complexo e concreto. Dessa forma, a partir deste percurso metodológico,
455
almejamos compreender o enunciado e seus efeitos de sentido para estabelecer relações com
os anseios, os temores e as expectativas de um tempo-espaço pertencentes a um determinado
grupo social.
1 NÍVEL FUNDAMENTAL
A primeira etapa do percurso gerativo de sentido recebe o nome de nível fundamental
ou das estruturas fundamentais. Luiz Tatit (2014) menciona a ideia de que a Semiótica
desenvolvida por Greimas prevê o que poderíamos chamar de solução vertical, uma
perspectiva gerativa na qual as unidades manifestadas na superfície do texto, seriam
elementos já enriquecidos, ―provenientes da articulação entre categorias mais simples e
abstratas localizadas em patamares mais profundos que só o procedimento descritivo pode
revelar‖ (TATIT, 2004, p. 188).
Sendo assim, o primeiro passo desse procedimento é ―determinar a oposição ou as
oposições semânticas a partir das quais se constrói o sentido do texto‖ (BARROS, 2002, p.
10). Essas categorias semânticas caracterizadas por uma oposição binária são base de
qualquer texto e se manifestam de diversas formas. Destacamos na obra Haroun e o Mar de
Histórias a oposição semântica fundamental: palavra versus silêncio. Tais oposições ganham
o valor de positivas (eufóricas) e negativas (disfóricas). Cabe ressaltar que ser determinado
como positivo ou negativo modifica-se de acordo com os valores presentes; não é sempre que
―vida‖ ganha o valor positivo e ―morte‖ o valor negativo. Por exemplo: se numa história,
morte for metáfora para libertação, pode ganhar o valor positivo.
Neste primeiro momento, focaremos atenção no sujeito Rashid Khalifa, um célebre
contador de histórias conhecido como o Mar de Ideias ou o Xá do Blablablá – para os que
não gostam de histórias. Um dia, a esposa do contador de histórias, Soraya, abandona-o para
fugir com o vizinho Senhor Sengapura, que para ela, não tem imaginação e vive na realidade.
Não ter imaginação para Soraya é algo positivo. Rashid é convidado para fazer duas
apresentações para políticos, uma na Cidade G e outra no vizinho Vale de K. Para superar o
choque do abandono, viaja com seu único filho, Haroun. Mas no meio da primeira
apresentação o impensável acontece, o festejado Mar de Ideias abre a boca e única coisa que
sai dela é um Aak. Na noite anterior da segunda apresentação, já aterrorizado com a
possibilidade de fracasso, começa a se questionar sobre o motivo de contar histórias. Em um
momento de desespero, decide desistir de tudo, aposentar-se, cancelar sua assinatura. Haroun
456
descobre a fonte de todas as histórias (o Mar de Fios de Histórias) e, determinado a recuperar
o dom de seu pai – reconectá-lo com a maior biblioteca do universo –, aventura-se em uma
viagem fantástica em busca das palavras.
Segundo Fiorin (1995), os textos podem ―trabalhar com a mesma categoria semântica,
mas axiologizá-la diferentemente e isso vai produzir discursos completamente distintos‖
(1995, p. 168). Dessa maneira, as categorias fundamentais, a partir da forma como são
apresentadas por Rushdie no início da obra, produzem dois tipos de discursos. No primeiro,
sob a ótica dos que chamam Rashid de Mar de Ideias, o discurso se volta para uma
valorização da palavra, portanto, o termo é eufórico; no segundo, podemos identificar um
discurso que nega as histórias de Rashid e o chamam de Xá do Blablablá, neste caso, a
palavra é disfórica.
Em consonância com Barros (2002, p. 10), no nível das estruturas fundamentais,
estabelece-se um percurso entre os termos. Podemos entender que a obra em questão tem dois
protagonistas, Rashid e Haroun (o título da obra recupera esta hipótese). Na presente análise,
partiremos do percurso narrativo de Rashid que pode ser dividido em dois momentos: um que
se passa da palavra positiva ao silêncio negativo e outro que se passa da palavra negativa ao
silêncio positivo.
Primeiro momento de Rashid, o Mar de Ideias:
Palavra → não palavra → silêncio
(euforia) (não-euforia) (disforia)
Segundo momento de Rashid, o Xá do Blablablá:
Palavra → não palavra → silêncio
(disforia) (não-disforia) (euforia)
Este percurso entre os termos pode ser mais bem visualizado quando representado
topologicamente pelo quadrado semiótico. Luiz Tatit argumenta que tal quadrado
[...] prevê uma sintaxe sumária que consegue apreender em seus termos –
desde que bem escolhidos – não só os estados narrativos, mas especialmente
suas transformações. Para tanto, conta basicamente com as operações de
negação e asserção. Com a primeira, instaura os termos contraditórios que,
muitas vezes, funcionam como termos de passagem. Com a segunda,
instaura os termos contrários que articula a principal oposição contida num
texto (TATIT, 2014, p. 198).
457
Nesse sentido, essas oposições ganham uma representação visual da articulação lógica
de uma categoria semântica, que permite identificar a dinamicidade narrativa presente no
texto. Ou seja, quando negamos um termo, temos a asserção de outro, estabelecendo uma
espécie de percursividade. No nosso caso, ficaria da seguinte forma:
Negando-se cada um dos termos da oposição temos um não termo, como: não
palavra versus não silêncio. Os termos palavra versus silêncio mantêm entre si uma relação de
contrariedade, ou seja, a palavra é contrária ao silêncio. O mesmo acontece com os termos
não palavra versus não silêncio. Entre palavra e não palavra e silêncio e não silêncio há uma
relação de contraditoriedade. Ademais, palavra e não silêncio, assim como silêncio e não
palavra, estabelece uma relação de complementariedade, com efeito, temos como resultado da
primeira relação, a liberdade de expressão (eufórico) e da segunda, a censura/repressão
(disfórico).
No que tange a narrativa, temos o primeiro momento de Rashid: asserção da palavra,
negação da palavra e asserção do silêncio. No segundo momento: asserção do silêncio,
negação do silêncio e asserção da palavra. a) Asserção da palavra: Rashid é o famoso Mar de
Ideias, um festejado contador de histórias profissional que possui o dom da palavra; negação
da palavra: sua esposa Soraya, Sr. Sengapura e até Haroun, o questionam para o que servem
suas histórias que nem são de verdade; asserção do silêncio: Rashid nega as histórias, tem um
bloqueio criativo e cancela sua assinatura com o Mar de Fios de Histórias. b) Asserção do
silêncio: Rashid não consegue mais contar histórias, agora é o silêncio que predomina;
negação do silêncio: Haroun nega a desconexão de seu pai com o Mar de Fios de Histórias e
viaja ao país de Gup para tentar corrigir o cancelamento; asserção da palavra: depois de sua
aventura consegue fazer com que seu pai volte a contar histórias.
Essa categoria semântica do nível fundamental – representada aqui por palavra versus
silêncio –, portanto, é o elemento mais simples e abstrato de ordenamento dos múltiplos
conteúdos do texto.
458
2 NÍVEL NARRATIVO
No nível narrativo ou das estruturas narrativas, organiza-se o percurso do ponto de
vista de um sujeito e define-se como uma transformação de estado que pode ser revelado por
meio de dois termos: um disjunto e um conjunto. Como assevera Barros, ―os elementos das
oposições semânticas são assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeitos,
graças à ação também de sujeitos [...] não se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos [...],
mas de transformação, pela ação do sujeito‖ (2002, p. 11). Ou seja, o foco não é assegurar a
palavra (liberdade de expressão) e recusar o silêncio (censura), mas transformar, pela ação do
sujeito, estados de censura e liberdade de expressão.
Em Haroun e o Mar de Histórias, há duas transformações em que se passa de um
estado inicial disjunto para um estado final conjunto. Analisaremos o seguinte trecho:
E foi aí que aconteceu aquilo: Algo Impensável. Rashid subiu no palco
diante daquela floresta de gente e Haroun ficou olhando dos bastidores
laterais. O pobre contador de histórias abriu a boca e a multidão deu
gritinhos excitados; e agora Rashid Khalifa, em pé lá na frente, de boca
aberta, descobriu que sua boca estava tão vazia quanto seu coração
(RUSHDIE, 1998, p. 26).
É algo impensável, pois temos Rashid, que possui o dom da palavra, ou seja, está em
relação de disjunção com o objeto silêncio. Quando Rashid surpreende a multidão com sua
boca vazia, ocorre uma transformação na relação sujeito e objeto. Rashid passa de um estado
inicial disjunto para um estado final conjunto com o silêncio. Por esse viés, o sujeito Rashid, o
célebre contador de histórias, entra em contato direto com os valores do silêncio por meio de
dois sujeitos. Primeiro por Soraya, que antes de abandoná-lo deixa a seguinte carta: ―você só
se interessa pelo prazer, mas um homem decente deve saber que a vida é uma coisa séria. Seu
cérebro está cheio de faz-de-conta, não tem lugar para a realidade‖ (RUSHDIE, 1998, p. 20).
Soraya, por sua vez, recebe os valores do silêncio do vizinho Senhor Sengapura, que critica
Rashid por viver fora da realidade: ―Afinal de contas, o que são essas histórias todas? A vida
não é nenhum livro de histórias, nem uma loja de piadas. Todo esse divertimento ainda vai
acabar mal! E pra que servem histórias que nem sequer são de verdade?‖ (RUSHDIE, 1998,
p. 16-17). Haroun ouve a conversa e ao ser abandonado por sua mãe, reproduz a fala do
Senhor Sengapura aos gritos para o seu pai, dessa forma, Rashid entra em contado pela
segunda vez com os valores do silêncio.
459
Por meio desta sequência narrativa, podemos afirmar que Rashid está entre valores
polêmicos e, no decorrer da obra, assume papéis contrários: o do valor da palavra e o do valor
do silêncio. No entendimento de Fiorin, por meio de uma sequência canônica, articulam-se as
transformações narrativas. Pois, ―de um lado, revela a dimensão sintagmática da narrativa e,
de outro, mostra as fases obrigatoriamente presentes no simulacro da ação do homem no
mundo, que é a narrativa‖ (1995, p. 169). No caso de Haroun e o Mar Histórias, não existe
apenas uma sequência linear, mas uma narrativa complexa constituída de várias etapas que se
sobrepõem. Entretanto, a fim de construir o sentido da chave de leitura proposta, trataremos
apenas da ótica de Rashid.
Em tal perspectiva, temos a primeira fase da sequência, que recebe o nome de
manipulação. Nessa etapa, ―um sujeito transmite a outro um querer e/ou um dever‖ (FIORIN,
1995, p. 169). Para Tatit, o manipulador também pode levar o manipulado ao não fazer, em
que ―suprime a liberdade de escolha [...] deixando-o numa situação de não poder não fazer”
(2004, p. 191). Com base nessa explicação, temos uma manipulação por desmotivação, em
que o manipulador ou manipuladores (Soraya e Haroun), perguntam ao manipulado o sentido
de sua ação, com o intuito de que, como reação, ele mude seus valores e construa uma vida
pautada na ―realidade‖, um fazer não fazer. Mesmo inconscientemente, o sujeito Rashid
agrega ao ato de contar histórias à culpa por suas histórias não serem reconhecidas por quem
ele mais queria, a sua família.
Posteriormente, ao insistir em outra apresentação, Rashid se depara com MasDemais,
um político que o contratou para contar histórias. No entanto, MasDemais, por ter sua imagem
corrompida pelas histórias contadas por seus inimigos, exige que Rashid conte apenas
histórias alegres e elogiosas sobre ele. Com isso, cria-se uma nova barreira em Rashid:
[...]‗Eu sou o Mar de Ideias, não sou nenhum Office-boy para ficar
recebendo ordens! Mas não, que bobagem é essa! Vou subir no palco e não
vou encontrar nada na minha boca, nadinha, só um aak. E aí eles vão me
picar em pedacinhos, vai ser o meu fim! Finito, kaput, khattam-shud! É
melhor eu parar de me iludir, desistir de tudo, me aposentar, cancelar minha
assinatura. A mágica desapareceu, acabou-se pra sempre depois que ela foi
embora‘ (RUSHDIE, 1998, p. 58).
Analisando o seguinte trecho, percebemos que Rashid está com sua liberdade de
escolha suprimida, ele não apenas acha que não pode contar histórias por acreditar que a
―mágica‖ desapareceu depois que Soraya o abandonou, mas também acredita que não deve,
pois é pressionado a contar histórias para engrandecer políticos. Ele aceita, neste primeiro
460
momento, a manipulação do não poder não fazer dos manipuladores, apesar de não poder, crê
que não deve contar a história encomendada por MasDemais.
Acompanhando a explicação de Fiorin, na fase da competência ―um sujeito atribui a
outro um saber e um poder fazer‖ (1995, p. 169). Sendo assim, o que faz do sujeito Rashid o
grande contador de histórias que nunca repete uma palavra não é apenas seu dom/motivação,
mas a relação sujeito/objeto figurativizado por Rashid/Mar de Fios de Histórias. O objeto
―mágico‖ Mar de Fios de Histórias é responsável por dar um saber e um poder fazer para o
sujeito que realiza uma assinatura. Sendo assim, neste primeiro momento, em que Rashid
cancela a assinatura com o Mar de Histórias, a ligação entre sujeito/objeto é desfeita e Rashid
perde os atributos mágicos da contação de histórias. No entanto, Haroun inicia seu percurso
para reativar a assinatura/ligação de seu pai com o Mar de Fios de Histórias, para que tenha o
saber e o poder fazer novamente.
Passamos então para a fase da perfomance, nela ―ocorre a transformação principal da
narrativa‖ (FIORIN, p. 169). Rashid deixa o que poderia ser entendido como o mundo ―real‖
e viaja para um mundo de fantasias, o lugar de onde vêm todas suas histórias. Lá, no processo
de enfrentar as forças ocultas do silêncio, entra em contato com outros valores, como os da
liberdade de expressão e o poder da palavra. Após superar a manipulação de não contar
histórias e reativar a ligação com o objeto mágico que lhe dá o poder fazer, o sujeito Rashid
assume os valores da liberdade de expressão. Mas dessa vez, de forma equilibrada. A
presença do equilíbrio é manifestada de forma bem sutil ao longo da obra. Como na reflexão
de Haroun sobre as oposições e a dança do Guerreiro das Sombras:
‗Mas a coisa não é assim tão simples‘, pensou consigo, pois a dança do
Guerreiro da Sombra mostrou-lhe que o silêncio também tinha sua graça e
beleza (assim como a fala pode ser feia e deselegante), e que a Ação podia
ser tão nobre como as Palavras; e que as criaturas da noite podiam ser tão
belas como os filhos da luz. ‗Se os Gupis e os Tchupwalas não se odiassem
tanto‘, pensou ele, ‗poderiam descobrir que o outro lado é bem interessante.
Dizem que os opostos se atraem‘ (RUSHDIE, 1998, p. 147).
Sugerindo que mesmo a palavra recebendo o valor positivo, deve-se buscar o
equilíbrio. Tanto a transformação pela qual Rashid passa, como a oposição palavra versus
silêncio – que ganha inúmeras figurativizações –, são representadas em outras imagens. Como
no exemplo do novo governo de Tchup, que busca ―[...] uma paz em que a Noite e o Dia, a
Fala e o Silêncio não mais seriam separadas em duas metades divididas por Zonas da Meia-
Luz e Muralhas de Força‖ (RUSHDIE, 1998, p. 232). O que nos leva a quarta e última etapa,
a da sanção.
461
Conforme Fiorin (1995, p. 169), a sanção pode ser cognitiva, em que há o
reconhecimento por um sujeito de que a performance foi executada, e pragmática, que pode
ser manifestada por um prêmio ou castigo. No caso da obra analisada, acreditamos que a
sanção se manifesta das duas formas. Defendemos tal ideia, pois a performance de Rashid é
reconhecida tanto pelo reino de Gup que reativa sua assinatura, quanto por Haroun e Soraya
que aceitam o valor da palavra novamente. E os castigos são distribuídos: o senhor do silêncio
é derrotado, o político corrupto foge da apresentação sob vaias e o Senhor Sengapura é
abandonado por Soraya.
3 NÍVEL DISCURSIVO
O terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas, nessa etapa, os textos
―devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se instauram entre a instância da
enunciação, responsável pela produção e pela comunicação do discurso, e o texto-enunciado‖
(BARROS, 2002, p. 11). Nessa etapa as formas mais abstratas no nível narrativo são
revestidas de termos concretos por meio de temas e figuras. Em Haroun e Mar de Histórias,
Rashid que estava em conjunção com o objeto palavra, entra em disjunção com ele. Essa
estrutura pode ser entendida como censura/privação da palavra, tendo em vista que Rushdie,
em que o nome, assemelha-se ao do nosso contador de histórias, deixa alguns vestígios de que
seu texto ―não era apenas uma história‖ (RUSHDIE, 1998, p. 63).
Ele foi um dos autores mais perseguidos pelo Islã na década de 1990, por conta do
romance Versos Satânicos (1988). No ano seguinte à publicação, o líder fundamentalista
islâmico iraniano aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu o fatwa – sentença de morte – contra o
escritor por fomentar abandono da fé islâmica. Rushdie passa a morar de forma anônima na
Inglaterra. Isso, porém, não o impede de lançar Haroun e o Mar de História, em que afirma
ser uma tentativa de explicar para o filho o tema liberdade de expressão.
Fiorin (1995) enfatiza que temos dois níveis de concretização das estruturas narrativas:
a tematização e a figurativização. Um texto em que sua concretização para no primeiro nível,
recebe o nome de texto temático, esses procuram explicar o mundo. Se a concretização for até
o segundo nível, é um texto figurativo, esses criam simulacros do mundo. Uma dissertação ou
tese, que tem como tema a liberdade de expressão no contexto do Irã nos anos de 1990, é um
texto temático. Mas um texto que trata dos mesmos assuntos só que representado por figuras,
como Haroun e o Mar de Histórias, é um texto figurativo.
462
Para dar veracidade ao tema liberdade de expressão, Rushdie busca persuadir o
enunciatário a aceitar seu discurso criando um simulacro do mundo. Ou seja, temos um
contador de histórias inserido num mundo não muito diferente do nosso. As histórias contadas
remetem a mundos fantásticos muito distantes. No entanto, o contador de história e seu filho
se deparam com as mesmas histórias contadas por ele, ou seja, a história dentro da história. A
partir disso, seu filho tem a seguinte reflexão: ―Quantas histórias inventadas estão se
transformando em realidade!‖ (RUSHDIE, 1998, p. 88). Assim como as histórias fantásticas
de Rashid se aproximam do mundo deles, a história de Rushdie estabelece uma relação com
seu mundo.
―E pra que servem histórias que nem sequer são de verdade?‖ (RUSHDIE, 1998, p.
16-17). Esse trecho suscita o seguinte questionamento: o texto pode ser lido distante da sua
relação com a sociedade? De acordo com Mikhail Bahktin (1997), ignorar a natureza do
enunciado ―e as particularidades de gênero que assinalam a variedade do discurso em
qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade
do estudo‖ (BAKHTIN, 1997, p. 282).
A tematização da liberdade de expressão abarca para si outras questões, como o poder
que a palavra exerce dentro de uma determinada sociedade.
Salvar Batchit, que tolo plano!
O que importa é salvar o Oceano!
Vamos percorrer todo o terreno!
Salvar o Mar é a nossa lei!
O Mar vale mais do que a filha de um rei! (RUSHDIE, 1998, p. 136).
‗Que exército!‘, refletiu Haroun. ‗Se algum soldado se comportasse dessa
maneira na Terra, seria condenado por uma corte marcial no mesmo
instante‘ [...] ‗Mas mas mas‘, disse Gavião MasMas, ‗qual é o sentido de se
dar às pessoas Liberdade de Expressão, e depois dizer que elas não devem
utilizá-las? E não é o Poder da Palavra o maior de todos os Poderes?‘ (p.
138-139).
Rushdie provoca uma segunda reflexão: até que ponto vai nossa liberdade de
expressão? Acreditamos que temos tal liberdade, mas ao mesmo tempo, nos identificamos
com o pensamento de Haroun. Na sociedade que vivemos, mesmo que um soldado discorde
do pensamento do seu superior, ele é obrigado a cumprir as ordens. Ao representar como
seria, de fato, um mundo com liberdade de expressão, Rushdie causa esse estranhamento no
enunciatário da mesma forma que Haroun o manifesta na obra. E não é a palavra o maior de
todos os poderes? Pois é justamente isso que Rushdie pretende tratar, quem controla a
463
informação controla o mundo. Se a liberdade de expressão é controlada, não a temos,
portanto, somos controlados.
No entanto, mesmo sendo a liberdade de expressão o tema que perpassa toda a obra,
outro tema está presente: o processo de criação, isto é, a metalinguagem. Está temática se
manifesta por meio de inúmeras figuras.
[...] o Mar de Fios de Histórias era, na verdade, a maior biblioteca do
universo. E como as histórias ficavam guardadas ali em forma fluida, elas
conservavam a capacidade de mudar, de se transformar em novas versões de
si mesmas, de se unirem a outras histórias; de modo que, ao contrário de
uma biblioteca de livros, o Mar de Fios de Histórias era muito mais do que
um simples depósito de narrativas. Não era um lugar morto, mas sim cheio
de vida (RUSHDIE, 1998, p. 82).
Observamos que o Mar de Fios de Histórias trata de ser uma biblioteca. Logo no
nome temos duas figuras, os fios que remetem a tecelagem e as histórias que remete ao texto.
Nesse nível podemos notar que fios e histórias podem ser entendidos como o ato de tecer
textos. Como a biblioteca é figurativizada pelo mar, as histórias são guardadas de forma
fluida, o que garante sua capacidade de se modificar. Ou seja, a metáfora do mar de fios de
histórias não se refere apenas ao texto finalizado, mas ao texto em seu processo de criação.
Por outro lado, temos os ―artistas da fome‖:
‗Quando estão com fome eles engolem histórias por todas as bocas, e lá nas
suas entranhas acontece um milagre: um pedacinho de uma história se junta
com uma ideia de outra, e pronto! Quando eles cospem as histórias, elas já
não são mais as mesmas, antigas; são outras, novas. Nada vem do nada,
Ladrãozinho; nenhuma história vem do nada; as histórias novas nascem das
velhas. São as novas combinações que fazem com que elas sejam novas‘
(RUSHDIE, 1998, p. 98-99).
Se o Mar de Histórias diz respeito ao texto em seu processo, os peixes Milbocas
representam o próprio ato de criar do autor. De forma análoga, assim como os peixes
Milbocas engolem histórias antigas e cospem novas histórias, o autor tece novos textos a
partir dos inúmeros fios de histórias que fazem parte de seu repertório. Nesse sentido, em
Haroun e o Mar de Histórias, Rushdie não só se assemelha a Rashid, mas também aos peixes
Milbocas. Justificamos tal afirmação por meio da forma como constrói sua narrativa, já que a
obra em questão é um apanhado de histórias, mas a referência principal é a célebre Mil e Uma
Noites. As inúmeras citações que o príncipe bolo faz das histórias da Mil e Uma Noite, como:
Bolo e a Lâmpada Maravilhosa; Bolo e os Quarenta Ladrões; Bolo, o Marujo etc. A casa
flutuante que recebe o nome de Mil e Uma Noites, entre outras referências. Então, Rashid
464
engole as inúmeras histórias de seu repertório e cria a complexa obra Haroun e o Mar de
Histórias.
Assim como o tecelão, que a partir de uma estrutura de tear, constrói o tecido por fios
que se movem na horizontal entrelaçando com fios na vertical, Rushdie tece um texto
entrelaçando as muitas histórias presentes no nosso imaginário, transformando uma narrativa
fantástica, numa obra cheia de referências que fala sobre o próprio ato de criar textos. Nesse
sentido, por meio das relações entre linguagem, sociedade e história, o autor constrói uma
obra que, além de chamar atenção para o tema da liberdade de expressão, também remete ao
processo de criação de histórias e da palavra enquanto forma de poder dentro de uma
determinada sociedade.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão; rev. trad.
Marina Appenzeller. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
BARROS, D. L. P. Dialogismo, Polifonia e Enunciação. In: Diana Luz Pessoa de Barros; José
Luiz Fiorin (Org). Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade em torno de Bakhtin. São Paulo:
EDUSP, 1994, p. 1-10.
______. Estudos do Discurso. In: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à linguistica II:
princípios de análise. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008.
______. Teoria Semiótica do Texto. 4. ed. São Paulo: Ática, 2002.
FIORIN, J. L. A linguagem humana: do mito à ciência. In: FIORIN, José Luiz (Org.).
Linguística? Que é isso? 1. ed. São Paulo: Contexto, 2013, v.1 p.13-43.
______. A noção de texto em Semiótica. Organon, Porto Alegre, v. 9, n. 23, p. 163-173, n.
1995.
______. Linguagem e Ideologia, 8. ed. São Paulo. Editora Ática, 2004.
______. O uso linguístico: a pragmática e o discurso. In: FIORIN, José Luiz
(org.). Linguística? Que é isso? 1. ed. São Paulo: Contexto, 2013, v.1 p.181-203.
______. Sendas e veredas da semiótica narrativa e discursiva. Revista D.E.L.T.A., vol.15, nº 1,
1999, p.177-207.
RUSHDIE, S. Haroun e o Mar de Histórias. Trad. Isa Mara Lando São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
TATIT, L. A abordagem do texto. In: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à linguística. 6.
ed. São Paulo: Contexto, 2014.
465
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A NECESSIDADE DE DISCUTIRMOS O
QUE SEJA E COMO ENSINAR GRAMÁTICA
Hermes Talles dos Santos (Fac. SESI-SP de Educação)
Resumo: No Brasil, embora tenhamos certos avanços teóricos no contexto acadêmico, no contexto
escolar muitas das práticas de ensino são desenvolvidas por meio de conhecimentos e modelos
pautados na abordagem tradicional e na Gramática Tradicional e Normativa. Há, portanto, certo
descompasso entre as orientações científicas contemporâneas, presentes em documentos e orientações
oficiais, e a prática pedagógica no contexto escolar. Desse modo, compreende-se que é preciso discutir
o que seja gramática e seu ensino em cursos de educação docente inicial e continuada. Por meio de
dados coletados em postagens de professores em um curso a distância de formação continuada docente
sobre o ensino gramatical no contexto escolar, em um ambiente virtual de aprendizagem, concluiu-se
que, no contexto escolar, há certa concorrência entre conhecimentos científicos e pessoais,
construindo, assim, representações sociais sobre o que seja ensinar gramática. Nesse sentido, para
mudanças no ensino de língua portuguesa, seria importante haver maior aproximação entre
universidade e escola, construção e apresentação mais explícita e delimitada de gramáticas ou
abordagens gramaticais coerentes com o pensamento científico e acadêmico contemporâneo em
documentos e orientações oficiais, e materiais didáticos.
Palavras-chave: Gramática. Ensino de língua portuguesa. Representações sociais.
Abstract: In Brazil, although we have some theoretical advances in the academic context, in the
schools many of the teaching practices are developed through knowledge and models based on the
traditional approach and the Traditional and Normative Grammar. Thus, there is some mismatch
between the contemporary scientific orientations, present in official documents and guidelines, and the
pedagogical practice in schools. Accordingly, it is necessary to discuss what grammar is and discuss
about the teaching of grammar in courses of initial and continuing teacher education. Through data
collected in teacher postings in a distance-learning course about grammar teaching in basic education,
in a virtual learning environment, it was concluded that there is some competition between scientific
and personal knowledge, constructing social representations about what is implicit in the teaching of
grammar by teachers. Therefore, for changes in Portuguese language teaching, it would be important
to have a closer approximation between university and schools, construction and more explicit and
delimited presentation of grammars or grammatical approaches a consistent one, with contemporary
scientific and academic thinking present in official documents and guidelines, and didactic materials.
Keywords: Grammar. Portuguese language teaching. Social Representations.
1 INTRODUÇÃO
Nossa experiência e vivência como formador de professores, na modalidade de
formação continuada, bem como nosso estudo de doutoramento (SANTOS, 2017)
evidenciam, assim como outros especialistas e teóricos da ciência linguística, que há certo
descompasso entre os estudos linguísticos contemporâneos e as práticas de ensino de língua
466
portuguesa, na Educação Básica brasileira, uma vez que, há mais de um quartel de século,
documentos e orientações científicas contemporâneas apontam a necessidade de que o
contexto escolar revise e modifique algumas práticas de ensino que ainda nele persistem.
A nosso ver, não se trata de persistência renitente, mas tensiva, pois os contextos
brasileiros escolar e o acadêmico influenciam-se mutuamente, mas com certas resistências –
algo típico de qualquer processo dessa natureza –, que nem sempre são bem compreendidas
ou analisadas pelos dois lados. Nossos estudos demonstraram, na verdade, que há certo
distanciamento entre escola e academia, o que dificulta quaisquer mudanças significativas na
integração da teoria à prática e, ainda, na construção de teorias condizentes com a realidade
escolar de ensino.
Nesse sentido, visando a discutir o ensino de língua portuguesa e, especificamente, o
ensino gramatical, e, concomitantemente, aproximar academia e contexto escolar, com intuito
de contribuirmos com reflexões dos professores de língua portuguesa sobre o que seja e como
ensinar gramática de modo mais coerente com orientações linguísticas contemporâneas e, em
certo sentido, promover um processo de ensino linguístico mais produtivo, apresentamos,
primeiro, breve retomada histórica sobre o ensino de língua portuguesa. Aproveitamos, ainda,
para discutir como as mudanças e as concepções de linguagem que sustentam as viradas
linguísticas no ensino influenciam na compreensão do que seja e como ensinar língua e
gramática. Depois, primeiro, apresentamos o fenômeno das representações sociais
(MOSCOVICI, 2015), para, depois, com base em três comentários de professores, coletados
em um ambiente virtual de aprendizagem, refletimos sobre como os docentes compreendem o
que seja e como seria ensinar gramática no contexto escolar, destacando a influência de tal
fenômeno na construção de conceitos e processos de ensino. Por fim, tecemos alguns
encaminhamentos para contribuirmos com ensino de língua portuguesa coerente com a
ciência linguística contemporânea.
2 AS MUDANÇAS NO ENSINO BRASILEIRO DE LÍNGUA PORTUGUESA
De acordo com Bunzen (2006), durante o final do século XVIII até meados do século
XX, o ensino de língua portuguesa, no Brasil, preconizava basicamente a aprendizagem de
regras gramaticais e de leitura – em uma visão estrita, muito próxima de uma prática de
decodificação e memorização de textos literários. A aprendizagem da escrita – próximo do
que conhecemos hoje como produção textual – ocorria nos anos finais do ensino secundário,
467
nas disciplinas de retórica, poética e literatura nacional, por meio da produção de
composições. Tal ensino de produção textual, em um sentido restrito, baseava-se no
pressuposto de que a aprendizagem da língua materna ocorreria por meio do estudo e da
produção escrita por imitação de trechos de obras literárias. Assim, a aprendizagem pautava-
se na análise das características textuais (tema, componentes, organização e estilística) de
autores tidos como modelares.
Embora possamos considerar que, nesse período, o texto já estivesse na base do ensino
de língua portuguesa – que, nesse contexto, é constituído pelo estudo do trivium, isto é,
retórica, poética e gramática, e em alguns momentos com a supressão ou adição de alguma
disciplina – na verdade, o estudo do texto era feito por meio de suas partes, estrutura e
características, com base em textos literários, considerados modelares, ou seja, o texto não era
tomado em sua totalidade, mas explorado isoladamente: análise gramatical, estilística,
argumentação, estruturação.
Tal visão conduziu os docentes a observarem mais questões, digamos, superficiais,
como ortografia, concordância, pontuação... sempre sob o viés da norma-padrão, não se
atentando a questões de conteúdo, contexto e procedimentos. Nesse sentido, o foco de
aprendizagem não era o texto, enquanto objeto de unidade de estudo, mas a exercitação da
leitura e da escrita para aprendizagem exclusiva da norma padrão da língua portuguesa. Como
salientam Bunzen (2006) e Costa Val (1998), nesse período o foco não era o ensino e a
aprendizagem, mas a reprodução da escrita e da leitura de trechos de obras literárias. Nesse
contexto, ensino e aprendizagem estavam mais focados no estudo gramatical de análise de
frases, isto é, de orações e sentenças que permitiriam a aplicação dos conhecimentos
gramaticais tradicionais e das prescrições da norma padrão.
Esse trabalho com o texto como pretexto no processo de ensino de língua portuguesa,
historicamente, vigorou, de maneira exclusiva, até meados dos anos 60 do século XX, e tinha
por base a concepção linguística conhecida como expressão do pensamento.
Conforme destacam Geraldi (1986), Neder (1993) e Travaglia (2009), nessa
concepção a expressão linguística é construída no interior da mente, o que resulta na
consideração de que problemas na expressão linguística sejam tido como equivalentes a
problemas na construção mental, ou seja, algo do tipo: quem não pensa bem, não se
expressa/fala ou escreve bem. A atividade linguística é tida como um ato monológico e
individual. Logo, não há razões para se considerar questões contextuais e sociais na
constituição da língua e da interação linguística. O modelo linguístico a ser seguido é o
468
encontrado no cânone literário que seria portador de uma língua ideal, sinônimo do bem dizer.
Destarte, por conta de tal visão linear, seria possível estabelecer previamente certos preceitos
para a construção de expressões linguísticas organizadas e adequadas aos modelos exemplares
de uso da língua.
Disso decorre o entendimento de gramática enquanto conjunto de preceitos que
regulariam a fala e a escrita tidas como corretas, segundo a norma-padrão da língua (cf.
NEDER, 1993); ou, como define Travaglia (2009, p. 24, grifo do autor), ―gramática é
concebida como um manual com regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles
que querem se expressar adequadamente‖.
Nesse contexto, ensinar gramática equivaleria a ensinar modelos, principalmente por
meio de excertos textuais oriundos dos cânones literários, tidos como bons exemplos da
norma padrão. Além disso, o estudo da língua se faria através de conceitos gramaticais
tradicionais, por meio da conceituação, exemplificação e aplicação (cf. BRASIL, 1998) a
serem desenvolvidos no nível máximo da oração, isto é, entre seus elementos morfológicos ou
sintáticos constituintes ou entre períodos sintáticos.
A eleição do texto como foco do processo de ensino e aprendizagem da língua materna
ocorreu, a partir de meados dos anos 60 e 70, com a virada pragmática (BONINI, 2002),
discursiva ou enunciativa (ROJO & CORDEIRO, 2010). De acordo com Fregonezi (1999, p.
82), trata-se de uma mudança de paradigmas que desloca ―[...] o foco da frase para o texto e
do enunciado para a enunciação‖. Para Bonini (2002, p. 26), essa virada
[...] corresponde à incorporação, no ensino, de uma série de perspectivas
teóricas comprometidas com [o] funcionamento da linguagem para além de
uma estrutura imanente voltada sobre si mesma, tais como: a teoria da
enunciação, a teoria polifônica de Bakhtin, a AD (análise do discurso) anglo-
saxônica, o funcionalismo, a AD francesa, a análise da conversação e a
linguística textual.
Com a incorporação de tais perspectivas teóricas, segundo Rojo & Cordeiro (2010, p.
10), passou-se a enfocar, ―[...] em sala de aula, o texto em seu funcionamento e em seu
contexto de produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que as
propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos‖.
Conforme demonstra Rojo (2008), essa mudança ocorreu processualmente ao longo de
certos períodos, o que a faz caracterizar basicamente três viradas no ensino de língua materna,
que estariam inter-relacionadas e, a nosso ver, motivadas e incentivadas pela academia
brasileira, com base nos estudos da ciência linguística. Contudo, como ela bem demarca:
469
embora, no contexto escolar, tais mudanças façam o texto ser tomado como base ou objeto
para estudo da língua, práticas gramaticais pautadas em noções tradicionais e normativas
resistem, insistem e co(n)ocorrem, ainda hoje, no processo de ensino de língua portuguesa.
Segundo a autora (ROJO, 2008, p. 11-12), na década de 70 do século XX, ocorreu a
virada pragmática em que
[...] o texto ganha estatuto de principal unidade de ensino na sala de aula.
Mas não ainda de objeto de ensino. O texto literário, publicitário, de
entretenimento e jornalístico passa a ser utilizado em sala de aula para
suportar procedimentos de leitura e de (re)produção, descritos e divulgados
nas pesquisas de psicologia cognitiva e do processamento: as estratégias de
leitura e modelos de processamento em produção. Temporariamente, a
disciplina de LP perde ―conteúdo‖ e se torna procedimental.
Na segunda metade da década de 80, ocorreu a virada textual em que
[...] o texto se torna objeto de ensino, não isento de uma gramaticalização
escolar. [...] De certa maneira, por essa época, o ―conteúdo‖ gramatical de
LP se recompõe, dessa vez, incorporando nos eixos procedimentais de
ensino, uma gramática pedagógica no nível do texto (as (super) estruturas da
narrativa e da dissertação/argumentação, sobretudo, mas também rudimento
das noções de coesão e coerência) (ROJO, 2008, p. 12).
Tais viradas no ensino estão, a nosso ver, pautadas na concepção de linguagem como
instrumento de comunicação. Tal concepção, conforme Geraldi (1986), Neder (1993) e
Travaglia (2009), compreende a língua como um código, isto é, um conjunto de signos
verbais que possuem regras que organizam combinação dos elementos linguísticos, de forma
a garantir a transmissão das informações de uma pessoa a outra(s). É preciso pontuar que
regras, aqui, não são equivalente a preceitos. Elas derivam da própria organização dos signos
na estrutura permitida pelo sistema linguístico. A língua é um sistema social, por envolver não
questões de ordem histórica ou social, mas, no mínimo, duas pessoas, falantes de dada língua.
Além disso, seria preciso que o código e sua organização sigam certa convenção, estabelecida
pelos falantes de determinada língua, de forma a garantir a efetivação da comunicação.
Nessa concepção de linguagem, gramática é tida como algo estabelecido pela própria
estrutura, com base no sistema linguístico, a partir de regularidades em construções
linguísticas. Por isso, as regras gramaticais de uma língua poderiam ser deduzidas a partir da
análise de um conjunto de enunciados, os quais relevam o funcionamento da língua, por meio
da estruturação de seus elementos. Logo, a gramática é um dos componentes da língua. Como
em um quebra-cabeça tais elementos teriam lugar previsto para seu encaixe. Nesta tendência,
uma das possíveis especificações de tal conceito é dado pelo termo descritivo, pois sua
470
compreensão resulta de um processo de descrição da estrutura linguística, para a compreensão
de seu funcionamento e, também, da constituição da língua.
Nesse contexto, ensinar gramática seria exemplificar regularidades do uso linguístico.
Partindo de exemplos reais de uso da língua, escritos ou orais, os aprendizes devem
depreender como ela funciona, por meio da análise discreta de seus elementos constituintes.
Segundo Neder (1993), valendo-se de exercícios estruturais, o ensino da língua procura
conduzir o estudante à aprendizagem dos elementos dentro sistema linguístico, como intuito
de que o aluno internalize regras linguísticas diferentes daquelas que possui. De acordo com a
autora (NEDER, 1993, p. 87),
O objetivo é que o adquira hábitos linguísticos que são reações aprendidas e
que se repetem em circunstâncias semelhantes. Esse tipo de ensino enfoca,
sobretudo, o saber fazer. Através da repetição, o aluno irá absorvendo as
formas que comporão seu universo linguístico, ficando munido de estruturas
que o auxiliem no aperfeiçoamento da capacidade de uso de um meio de
comunicação.
Trata-se, portanto, de exercícios, de certa forma, mecânicos, que visam o domínio da
estrutura linguística que possibilita a realização de diferentes registros linguísticos. O
importante é compreender o funcionamento da língua em dada comunidade e situação,
inserindo, como pontua Neder (1993, p. 83), ―[...] progressivamente a noção de nível [ou
registro] de língua: familiar, formal etc.‖, para explicar variações ocorridas na estrutura
linguística.
Por fim, na última década do século XX, conforme Rojo (2008), ocorreu a virada
discursiva em que, por influência de conhecimentos oriundos de vertentes diferentes de
análise do discurso, o texto é tomado
[...] como objeto fundamental do ensino de língua, a ponto de se discutir hoje
a não necessidade do ensino de gramática por si só, mas ao mesmo tempo
multiplicando as propostas de tratamento do texto na escola (como estrutura
e forma; como acontecimento; como singularidade; como significação; como
exemplar de gênero; como veículo de ideologias; como instrumento de
constituição de identidades, alteridades e subjetividades; como instrumento
de luta contra-hegemônica) (ROJO, 2008, p.12).
Tal virada está relacionada à concepção de linguagem enquanto processo de interação
(cf. GERALDI, 1986; NEDER, 1993; TRAVAGLIA, 2009). Nela a língua é utilizada para
interação entre humanos, de forma que a atividade linguística se opera por meio da produção
de efeitos de sentidos, sempre relacionados à situação comunicativa e ao contexto sócio-
histórico e cultural. Por ser uma atividade social, a linguagem é permeada e constituída por
471
fatores ideológicos, fazendo com que a interação verbal não seja uma atividade passiva de
mera recepção e compreensão das informações previamente preestabelecidas, mas de contínua
e tensiva construção e reconstrução de sentidos, conforme as situações de comunicação e
posições sociais das pessoas. Toda construção linguística não é feita previamente, mas
durante a atividade de interação verbal. Logo, não há como pré-estabelecer modelos ou regras
a serem fielmente seguidas, porém há como prevê-las, conforme a repetição, nunca igual, mas
semelhante, dos enunciados nas atividades comunicativas próximas ou semelhantes.
Nessa concepção seria adequado pensar em gramática como um conjunto de relações
estabelecidas entre elementos linguísticos e fatores contextuais, imediatos e mediatos, que dão
aos enunciados linguísticos formas adequadas e distintas conforme as situações comunicativas
em que ocorrem. Em outras palavras, a gramática é elemento não apenas da atividade
linguística, mas também discursiva (cf. ANTUNES, 2014). Assim, como pontua Neder (1993,
p. 88), nessa concepção, ―as gramáticas da língua são entendidas, portanto, como
conhecimento produzido coletivamente a partir de um trabalho produzido coletivamente nas
situações concretas de interação verbal, um conhecimento de língua construído pelo seu uso
efetivo‖.
Nesse contexto, o ensino gramatical não visa a diferenciar as variedades linguísticas,
nem apresentar modelos de bom uso da língua. Na verdade, nele ensino, o objetivo é refletir
como diferentes construções são aceitas e possíveis, ou não, dentro de determinadas situações
comunicativas e atividades linguísticas. O estudo gramatical, portanto, se faz por meio de
diferentes textos, objetivando que, na ação da prática linguística, o aprendiz balize as
possibilidades e virtualidades de manifestação verbal, produzidas ou aceitas em determinada
ação linguística (cf. FRANCHI, 2006).
3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS & AS VISÕES DOCENTES SOBRE GRAMÁTICA
E SEU ENSINO
Primeiro, de forma bem concisa, apresentamos o conceito de Representações Sociais,
desenvolvido originalmente por Moscovici (2015).
De acordo com Moscovici (2015, p. 54), ―[...] a finalidade de todas as representações
[sociais] é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade‖. Nesse sentido, as
representações sociais seriam formas de conhecimento que procuram explicar fenômenos
com os quais os sujeitos se deparam cotidianamente. Elas sempre partiriam de fenômenos
472
familiares aos sujeitos, em maior ou menor grau, mas com os quais os indivíduos necessitam
de maior familiarização, para que lhes sejam apreensíveis e, consequentemente, possam ser
transmitidos/comunicados a outros. Compreender que os fenômenos seriam familiares aos
sujeitos implica considerar que, de alguma forma, estes têm ou estabelecem algum contato
com outros fenômenos em seu quotidiano, porém, somente quando, por razões diversas,
necessitam torná-los delimitadamente compreensíveis e transmissíveis é que eles, por meio de
um processo específico de construção de conhecimento, tornam-se-lhes familiares.
Por isso, as representações sociais são: conhecimentos práticos, pois intentam a
compreensão de ocorrências sociais, materiais ou ideativos com os quais os sujeitos direta ou
indiretamente se relacionam; enquanto conhecimento, elas visam à transformação de
fenômenos não familiares em familiares, justamente para construir uma realidade comum
entre os sujeitos de determinada sociedade e, por conseguinte, garantir a comunicação entre
eles, uma vez que não é possível que os sujeitos envolvidos em situações comunicativas
interajam sem compartilhar minimamente conhecimentos acerca de determinado objeto – por
isso, como destaca Duveen (2015), a linguagem é importante para a teoria das representações
sociais; destarte, essas formas de conhecimento se manifestam por meio de elementos
cognitivos, mas não se reduzem a estes, ou seja, àquilo que os sujeitos mentalmente se
apropriam, pois as representações sociais são formas de conhecimento concretas, construídas
na tensão indivíduo-sociedade e compartilhadas socialmente.
Evidentemente, as representações sociais não são construções individuais, mas
sociais. O compartilhamento social das representações, bem como sua origem, é evidenciado
por Moscovici (2015, p. 41) ao asseverar que
As representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo
isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria,
circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao
nascimento de novas representações, enquanto velhas representações
morrem.
Como pondera Moscovici (2015), as representações sociais, por um lado, são uma
atmosfera, em relação ao indivíduo ou ao grupo, pois envolvem direta ou indiretamente todos
os membros de determinada sociedade, propiciando-lhes (quando necessárias, novas)
explicações sobre a realidade; e, por outro lado, são específicas de nossas sociedades, pois
cada uma, por questões culturais e sócio-históricas, terão questões que lhes são relevantes e
que podem não o ser para outras
473
Por sua vez, para Moscovici (2015, p. 46), as representações sociais ―[...] sempre
possuem duas faces, que são interdependentes, como duas faces de uma folha de papel: a face
icônica e face simbólica. [...] Em outras palavras, a representação iguala toda imagem a uma
ideia e toda ideia a uma imagem‖. A constituição da face simbólica concerne à ancoragem,
enquanto a face icônica, à objetivação.
A ancoragem consiste no processo de transformação de algo incomum em categorias
ou imagens comuns, por meio de sua conformação em paradigmas conhecidos. Dito de outra
forma: a ancoragem consiste na incorporação da representação do objeto não familiar em um
esquema de categorias preexistentes. Por sua vez, a objetivação consiste em um mecanismo
que concretiza o objeto da representação social, ligando-o a noções abstratas. Para Spink
(2003, p. 306), ―a objetivação é essencialmente uma operação formadora de imagens, o
processo através do qual noções abstratas são transformadas em algo concreto, quase tangível
[...]‖.
A seguir, apresentaremos e discutiremos três comentários postados em um ambiente
virtual de aprendizagem. Trata-se de comentários realizados no curso de extensão Gramática
e ensino de língua portuguesa, no ano de 2.017, por meio do Portal dos Professores da
Universidade Federal de São Carlos.
O curso visava a promover a reflexão sobre o ensino gramatical no contexto escolar e
sua relação com a aprendizagem da língua portuguesa, por meio da ampliação da noção
corrente e usual de gramática. Para tanto, ele foi organizado em oito módulos, com duração de
uma semana cada. Neles discutiu-se o ensino gramatical e a aprendizagem da língua materna,
por meio de leitura de textos teóricos e práticos, e participações em fóruns de discussão.
Houve ainda um módulo prático em que os participantes produziram, em pequenos grupos,
atividades com foco no ensino gramatical, utilizando-se das discussões realizadas no curso.
A reprodução e a análise dos comentários postados no ambiente virtual de
aprendizagem foram previamente autorizadas pelos participantes, mediante documento escrito
e assinado. Ademais, os nomes foram alterados de forma a não permitir sua identificação.
Pontuamos, ainda, que recortamos dos comentários originais, apenas partes que dizem
respeito à noção de gramática e à consideração sobre o ensino apresentadas pelas professoras.
Comentário 1: Vanda
Gramática tem por objetivo orientar, através de regras, o uso da língua,
baseado em um padrão da escrita.
[...]
474
O professor deve considerar a gramática natural com a qual o aluno chega
na escola e, aos poucos, proporcionar ao aluno estudos da língua para que ele
compreenda por que estudar gramática normativa. Partindo da leitura de textos, da
produção escrita, o educando poderá observar onde as regras se encaixam‖.
Comentário 2: Jelda
Já sabemos que a Gramática é o conjunto de regras que determinam o uso
considerado correto da língua escrita e falada; porém quem movimenta e faz da
língua um sistema vivo e variável somos nós. Não podemos condicionar os alunos
ao certo ou errado, todavia a norma culta deve ser conhecida e aplicada.
Atualmente em sala de aula devemos contextualizar e explicar a norma culta nas
diversas situações comunicativas, já que há as variantes linguísticas.
Comentário 3: Lara
A língua é um instrumento que permite a compreensão das mensagens
transmitidas uns aos outros. A gramática é o conjunto de regras que sistematiza os
usos da língua nas situações de comunicação. O ensino gramatical traz os
conceitos gramaticais, mesclando a gramatica normativa e trazendo também
contextualização de suas regras, para não ser apenas conservação da língua, mas
também ter significação. O ensino de língua portuguesa é quando o professor
trabalha o ensino gramatical adequando-o as diversas realidades encontradas no
dia a dia para que haja compreensão do que se estuda e como isso acontece na
prática, seja num cartaz, nos jornais, num outdoor ou qualquer outro gênero com
que o aluno possa se deparar. É mostrar a funcionalidade da língua e não apenas
reproduzir regras e decorar conceitos e nomes.
Embora as três professoras tenham participado efetivamente do mencionado curso de
formação continuada docente, envolvendo-se ativamente coma maioria das atividades
propostas, elas ainda apresentam fortemente a noção de que gramática seria preceitos para o
bom uso da língua. Tal concepção está pautada na concepção de língua enquanto expressão
do pensamento, que, como vimos, já não mais deveria basear o trabalho linguístico no
contexto escolar, mas ainda o pauta (cf. ROJO, 2008).
Contudo, no que diz respeito especificamente ao processo de ensino, notamos, de certo
modo, interessante: de um lado a gramática e suas prescrições, bem como os conceitos
gramaticais tradicionais, deveriam ser ensinadas a partir da valorização da gramática
internalizada dos estudantes; por outro, o ensino gramatical deve estar articulado ao estudo do
texto, numa proposta popularmente conhecida como ensino gramatical contextualizado. Nesse
ponto, algumas considerações se fazem necessárias: há hibridizações de concepções
linguísticas, que como vimos anteriormente, fundam-se em noções diferentes do que seja
língua e, por conseguinte, fundamentam distinta e, ao mesmo tempo, diretamente o ensino
475
linguístico e gramatical. Tais mesclagens são realizadas pelos docentes de forma
relativamente harmônica e congruente – algo, do ponto de vista acadêmico e científico, difícil
de ser aceito, justamente por conta das filiações conceituais.
No entanto, a nosso ver, justamente por conta do fenômeno das representações
sociais, tais professores conseguem articular e hibridizar harmonicamente fundamentos
linguísticos de concepções distintas de forma a lhes facilitar, por um lado, a compreensão do
que seja trabalhar com gramática e, por um lado, atender às demandas institucionais e sociais
presentes na escola.
Do lado da compreensão do que seja gramática, fica-nos perceptível que tal noção se
alicerça na compreensão gramatical tradicional e normativa. Justamente a noção mais
presente em manuais de ensino gramatical e também mais antiga, com a qual possivelmente
as docentes tiveram contato ao longo de seu próprio percurso enquanto estudante no ensino
básico. Nesse sentido, essa noção é central na estruturação e compreensão de quaisquer outras
noções gramaticais, distorcendo e acomodando traços para sua conformação à visão de
gramática enquanto conjunto de preceitos coerentes com o modelo exemplar de língua.
Do lado das demandas sociais, o que temos é uma tentativa de adequar esse ensino
mais tradicional às demandas mais contemporâneas e coerentes com propostas presentes em
documentos oficiais e orientadas pelas teorias linguísticas contemporâneas. Nesse caso, as
representações sociais atuam fazendo que as docentes procurem dar conta das: pressões
institucionais das escolas, como o uso de materiais didáticos, resultados satisfatórios em
avaliações em larga escala, adequação às orientações oficiais; e das pressões sociais, como
cobranças dos pais pelo ensino conforme o modelo que conhecem, domínio da língua culta
para desempenho satisfatório em diferentes situações e processos de seleção, noção de cunho
popular sobre o que seja língua...
Essas pressões aliam-se àquilo que os professores aprendem ou consideram sobre
língua e ensino, de um ponto de vista mais coerente com a ciência linguística contemporânea.
Isso resulta em uma hibridização, peculiar, em certo sentido, que tende a manter noções
gramaticais normativas e tradicionais, mas desenvolvê-las de forma mais articulada ao texto.
Embora tal noção de texto também não nos esteja explicitada nos comentários analisados.
Disso decorre a noção de gramática contextualizada que seria justamente a tentativa de
reconhecer ou inserir no estudo dos textos o uso da gramática normativa ou da descrição
gramatical tradicional.
476
Vale ainda destacar, que, de modo geral, as professoras demonstram conhecimento
delimitado sobre as orientações científicas contemporâneas de ensino de língua presentes em
documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Esses
conhecimentos possivelmente influem suas práticas de ensino, fazendo com que a
hibridização ocorra de forma a atender às diferentes demandas, sem que, com isso, se
distanciem ou desliguem-se das orientações científicas linguísticas contemporâneas. Além
disso, tal hibridização diz respeito às representações sociais, a nosso ver, por conta de tentar
familiarizar conceitos relativamente novos, oriundos da ciência linguística e das orientações
oficiais contemporâneas, àqueles já conhecidos pelas professoras e circulantes no contexto
escolar, tidos como tradicionais, de forma a tornar-lhes possível sua aplicação no processo de
ensino.
Por fim, tais comentários demonstram que a discussão sobre o que seja e como ensinar
gramática em uma visada mais coerente com a perspectiva científica contemporânea, produz,
se não completamente, movimentos e tentativas docentes de adequarem-se suas práticas de
ensino a tais demandas. No nosso entender, isso fica perceptível pelo conhecimento das
teorias linguísticas contemporâneas e das hibridizações construídas, que procuram, como já
exposto, dar conta de forças tensivas distintas que existem no contexto escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa experiência permite-nos considerar que é preciso incentivar a discussão sobre o
que seja gramática e como ensiná-la se desejarmos que os professores assumam uma
abordagem de ensino diferente daquela dita tradicional. Tal discussão, por si só,
evidentemente, não garantirá, de pronto, o total abandono ou mudanças de noções ou modelos
tidos como tradicionais, mas servirá para a construção de alicerces que fundamentem e
propiciem a revisão e a transformação projetada pela ciência linguística contemporânea para o
ensino de língua portuguesa.
Destarte, consideramos que somente a publicação de manuais e documentos oficiais
não sejam capazes de promover mudanças, veja-se o caso dos PCN de língua portuguesa
(BRASIL, 1998), que até hoje ainda não foram totalmente assimilados e, muitas vezes, são
desconsiderados pelos professores da Educação Básica. A nosso ver, a maior confirmação de
que tais publicações não projetaram alterações no ensino de língua portuguesa se encontra na
Base Nacional Comum Curricular – a qual merece uma análise mais aprofundada por todos
477
aqueles preocupados com a qualidade satisfatória do ensino –, pois, sendo, pelo menos assim
dito, construída com sugestões docentes, apresenta noções e conteúdos tradicionais aliadas a
científicas, bem semelhante ao que encontramos nos comentários dos professores aqui
analisados.
Por isso, a nosso ver, é preciso promover, de um lado, uma revisão nos cursos de
formação inicial de docentes, e, de outro, investir e incentivar cursos de formação continuada.
Isso, para nós, aproximará a academia da escola brasileira, proporcionando maiores e
delimitados conhecimentos entre ambas, o que poderá resultar em construções teórico-práticas
e metodológicas mais condizentes e adequadas ao processo de ensino. Contudo, essa
aproximação deve ser pensada de forma mais colaborativa e menos taxativa, procurando
compreender a realidade multifacetada do cotidiano escolar e suas diferentes tensões,
conforme discutimos. Essa multifaces e tensões influenciam diretamente na compreensão das
teorias científicas contemporâneas e, por isso, não podem ser ignoradas.
Destacamos, que, conforme evidenciado em nossas análises, de certo modo, os
professores conhecem e procuram adotar noções científicas contemporâneas no processo de
ensino. Nesse sentido, há sim uma procura por adequar o ensino às orientações científicas
presentes em documentos oficiais. Contudo, essa adequação se efetiva por meio de
hibridizações que procuram tornar algo, em certo sentido, não familiar em familiar, de forma
que se tornem aos professores compreensivo e aplicável. Por isso, no nosso entender, quanto
mais discutirmos o que seja e como ensinar gramática, mais essas questões se tornarão
conhecidas pelos docentes e, assim, diminuirão hibridizações, de certa forma, incongruentes.
Por fim, queremos deixar demarcado que a crítica exclusiva ao ensino gramatical
tradicional, como é comum atualmente, não se mostra de todo verdadeiro. Franchi (2006)
pontua que muitos professores se valendo da Gramática Tradicional desenvolveram trabalhos
relevantes e satisfatórios no ensino de língua. Eis aí um ponto que merece maior estudo por
parte da academia brasileira. Contudo, isso não justifica a adoção inquestionável de tal
gramática. A roupagem dita condizente com a ciência linguística e as orientações oficiais
contemporâneas, como encontramos em muitos materiais didáticos de ensino de língua
portuguesa é prova de que tal articulação se mostra infértil, se não houver uma reflexão das
potencialidades e limitações de tal abordagem. Por isso, a ampliação e a discussão sobre o
ensino de gramática fazem-se necessários, para que tanto docentes e especialistas possam
construir teorias e caminhos mais satisfatórios e possíveis para o ensino de língua portuguesa
nas escolas brasileiras de Educação Básica.
478
REFERÊNCIAS
ANTUNES, I. Gramática contextualizada: limpando ―o pó das ideias simples‖. São Paulo:
Parábola, 2014.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro
e quarto ciclos do Ensino Fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BONINI, A. Metodologias do ensino de produção textual: a perspectiva da enunciação e o
papel da Psicolinguística. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n.01. jan./jun., p. 23-47, 2002.
BUNZEN, C. Da era da composição à era dos gêneros: o ensino de produção de texto no
ensino médio. In: _____. & MENDONÇA, M. (org.). Português no ensino médio e a
formação do professor. São Paulo: Parábola, 2006.
COSTA VAL, M. G. O que é produção de texto na escola? Presença pedagógica, Belo
Horizonte, v. 4, n. 20, p. 83-87, 1998.
DUVEEN, G. Introdução: o poder da ideias, in: MOSCOVICI, S. Representações Sociais:
investigações em Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 7-28
FRANCHI, C. Mas o que é mesmo gramática? São Paulo: Parábola, 2006.
FREGONEZI, D. E. Aconteceu a virada no ensino de língua portuguesa? Revista do
GELNE, Teresina, ano 1, n.2, p.82-85, 1999.
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: ______. O texto na
sala de aula. Cascavel: Assoeste, 1986.
MOSCOVICI, S. Representações Sociais: investigações em Psicologia Social. Petrópolis:
Vozes, 2015
NEDER, M. L. C. Concepção de linguagem e ensino de língua portuguesa. Polifonia, Cuiabá,
v. 1, n. 0, p.71-89, 1993.
ROJO, R. H. O texto no ensino-aprendizagem de línguas hoje: desafios da
contemporaneidade. In: TRAVAGLIA, L. C.; FINOTTI, L. H. B. et al. (org.) Gêneros de
texto: caracterização e ensino. Uberlândia: EDUFU, 2008
_____. & CORDEIRO, G. S. Introdução. In: SCHNEUWLY, B. & DOLZ, J. Gêneros orais e
escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2010.
SANTOS, H. T. dos. Representações sociais dos professores de língua portuguesa sobre o
ensino gramatical. 2017, 339f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Centro de
Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017.
SPINK, M. J. P. O conceito de representação social na abordagem Psicossocial. Cadernos de
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.9, n.3, p.300-308, jul./set., 2003.
479
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. São
Paulo: Cortez, 2009.
Teoria da Relevância: a relação entre cognição e interpretação
Ericiane Marilisa de Ramos (UEPG)
Resumo: A interpretação é inerente a quaisquer atos comunicativos, configurando-se indispensável
para o convívio em sociedade. Este aspecto tem despertado o interesse de pesquisadores de diferentes
vertentes teóricas, tais como a Teoria e Códigos e a Teoria Inferencial. Essas teorias buscam desvendar
as entrelinhas da comunicação. A interpretação é um processo que envolve muito mais que o esquema
simplificado da Teoria dos Códigos, segundo o qual a comunicação restringe-se ao envio e à recepção
de mensagens. Neste trabalho, discute-se, sucintamente, alguns aspectos relacionados à interpretação
de atos comunicativos sob o viés da Pragmática Cognitiva. Para tanto, adota-se o argumento da
complexidade e da importância do processo cognitivo e inferencial, buscando-se explicitar que o
sentido, ou o significado, das informações, com as quais nos deparamos em nossas interações diárias,
pode interferir expressivamente no processo cognitivo de interpretação, considerando-se que, por
exemplo, um mesmo enunciado em contextos diferentes pode ser interpretado de maneiras distintas.
Como principal fundamentação teórica, utilizaremos a Teoria da Relevância.
Palavras-chave: Interpretação, Cognição, Relevância.
Abstract: Interpretation is inherent in any verbal and non-verbal communication, making it
indispensable to live in society. This subject has attracted the interest of many researchers from
different theoretical approaches, as Code Theory and Inferential Theory. These theories seek to
unravel the meanings hidden in the communication. Because interpretation is a process that involves
more than the simplified scheme of the Codes Theory, in which communication is restricted to
sending and receiving messages. In this article we briefly discuss some aspects related to the
interpretation of verbal and non-verbal communication using theoretical framework of Cognitive
Pragmatics. We show the complexity and importance of the cognitive and inferential process, whose
objective is to point out the meaning of the information contained in our daily interactions, can
significantly interfer in the cognitive interpretation process, taking into account that the same
utterance in different contexts can be interpreted in different ways. We will use the previously
proposed Theory of Relevance as a main theoretical basis.
Keywords: Interpretation, Cognition, Relevance.
Introdução
Nos estudos da linguagem, de maneira geral, podemos perceber que existem várias
vertentes que se dedicam ao estudo da interpretação, seja ela imagética, oral, gestual ou
textual – tanto em relação às suas dificuldades quanto às suas especificidades. A
interpretação se mostra indispensável para a vida cotidiana, configurando-se como um
480
determinante para nossas atividades sociais, independentemente se são mais comuns ou mais
complexas.
Ainda que a maioria desses estudos se debrucem nos percalços da interpretação
textual, notamos que interpretar, de maneira geral, é um trabalho extremamente complexo e
dependente da disponibilidade de informações com as quais estamos em constante
aproximação e distanciamento. Isso porque é uma atividade que atinge todas as pessoas a todo
o tempo, considerando que interpretar informações é uma atividade constante do nosso
convívio social.
Seja em conversas formais ou informais, na leitura de textos com seus aspectos
linguísticos e não-linguísticos, no contato com imagens, fotografias, músicas, sons, etc, nossa
atividade mental nos leva constantemente à busca de sentido e significado. Em outras
palavras, estamos constantemente em contato com o raciocínio interpretativo, que pode
demandar mais ou menos esforço dependendo tanto do conteúdo a ser interpretado, quando da
aptidão do indivíduo.
Neste estudo, pretendemos discutir alguns pontos-chave relacionados a interpretação
sob o viés da pragmática cognitiva. Não queremos afirmar, de maneira nenhuma que a
interpretação de cada indivíduo ou conteúdo ocorra exatamente da mesma forma, mas sim que
todo processo de interpretação depende das informações disponibilizadas na mente do
indivíduo.
Dessa forma, o raciocínio cognitivo opera tanto com os inputs de entrada (informações
novas) quanto com os dados previamente armazenados em nossa enciclopédia mental. Para
explicar melhor essa questão, utilizaremos como principal aparato teórico o conceito de
relevância de Sperber e Wilson (2001), que se configura como uma abordagem pragmático-
cognitiva bastante satisfatória para nossas análises, bem como a noção de inferência,
igualmente importante para nossas discussões. Inicialmente, faremos a explicação de alguns
conceitos presentes na Teoria da Relevância, analisando seu papel diante do processo de
interpretação para que por fim possamos demonstrar sua importância e eficácia para os
estudos pragmáticos de interpretação cognitiva.
1. Teoria da Relevância
De acordo com Santos (2009), existem dois tipos de abordagem dos estudos
pragmáticos com relação a comunicação humana, a teoria de códigos que está voltada para
481
uma discussão direcionada aos aspectos mais semânticos e a teoria inferencial, que considera
os raciocínios lógicos e cognitivos.
De acordo com o autor, o modelo de código mais conhecido é o proposto pelos
engenheiros Shannon e Weaver (1949), adaptado à análise da comunicação humana por
Jakobson (1961), que considerava que uma mensagem passava de emissor para um receptor,
mesmo com um possível ruído, através de um canal em um dado contexto, numa relação de
codificação e descodificação dessa mensagem.
Devido ao fato de que a comunicação e a chegada ao sentido e significado das
informações com as quais nos deparamos durante todo e qualquer ato de direto ou indireto de
interação envolvem muitos outros aspectos além da codificação e descodificação de uma
mensagem, nota-se a importância da teoria inferencial para entender como isso se desenrola
nos atos comunicativos. Nós não só somos capazes de descodificar, mas também de inferir e
desenvolver pensamentos e atitudes a partir da interpretação de enunciados.
A pragmática é uma das vertentes dos estudos da linguagem que se dedica à analises,
discussões e pesquisas em relação ao contexto e a linguagem atrelada ao usuário, mostrando
um crescimento significativo em vários aspectos. Grice (1975) trouxe um novo olhar à
pragmática, criando uma alternativa ao modelo semiótico de comunicação a partir de sua
teoria inferencial que serviu também de subsídio para o desenvolvimento da Teoria da
Relevância (TR), nos caminhos da pragmática cognitiva.
A maior parte da pesquisa pragmática tem sido executada na tradição
filosófica ou lingüística, na qual se coloca uma prioridade maior na
generalidade teórica, combinada com uma tendência de confiança na
intuição. Isso criou uma certa relutância para lidar com os negócios
embaraçosos da experimentação. Os teóricos da Relevância têm tentado
combinar generalidade teórica com todas as possibilidades de teste
fornecidas pelo uso cuidadoso de intuições lingüísticas, dados observáveis, e
métodos experimentais da psicologia cognitiva. (SPERBER; WILSON,
2005, p. 257).
Especificamente sobre a teoria, depois que Grice inicialmente descreveu a
compreensão como sendo uma forma de um processo de raciocínio discursivo e consciente,
sendo que sua pragmática inferencial ―não sugere qualquer processo prático através do qual o
significado da pessoa falante possa ser encontrado automática e inconscientemente‖
(SPERBER; WILSON, 2001, p. 10).
Os linguistas perceberam então que Grice deixou a máxima da Relação mal
desenvolvida. Por isso mesmo, os autores lançam a Teoria da Relevância como uma tentativa
482
inicial de responder algumas questões levantadas nas palavras de Grice, e se tornou uma
importante teoria da comunicação. No que se refere a sua abordagem teórica, a relevância se
baseia em outra afirmação de Grice, ―a de que os enunciados criam automaticamente
expectativas que guiam o ouvinte na direção do significado do falante‖ (SPERBER;
WILSON, 2005, p. 222).
Wilson (2001) explica que a TR é uma nova abordagem que tenta dar respostas a
questões filosóficas e psicológicas relacionadas tanto à natureza da comunicação quanto a
maneira com que a interpretação se desenrola na mente do indivíduo. Nesse sentido, a TR de
Sperber e Wilson surge como uma alternativa à abordagem semiótica dos estudos linguísticos,
explorando as questões relacionadas à comunicação e a cognição humana. Passaremos agora à
explicação das noções propostas na TR por Sperber e Wilson, que clarificam a relação
extremamente concisa entre a interpretação e a cognição humana.
2. O processo de interpretação e a Teoria da Relevância
Para nossa análise, o conceito de Relevância e de inferência são imprescindíveis, visto
que a partir dessas duas noções temos os elementos concisos que denotam – na mente do
indivíduo – quais os estágios pelos quais ele transita no momento da interpretação.
A grosso modo, podemos designar a inferência como o próprio raciocínio que fazemos
durante a interpretação cotidiana. A este raciocínio estão ligadas todas as informações já
contidas em nossa memória, bem como as novas informações que estamos em constante
contato. Por isso mesmo não se trata, nessa abordagem, de um raciocínio correto ou incorreto,
porque as informações dispostas para cada indivíduo não são as mesmas, e sua interpretação
dependerá inevitavelmente dessa disposição.
Hardy-Vallée (2013) avalia a inferência como sendo a transição de uma ideia ou de
uma representação para outra segundo determinada regra, salientando que existem três tipos
de inferência: a dedução (sendo um cálculo lógico capaz de tirar conclusões formais como um
modus ponens), a abdução (que encontra uma regra a partir de um caso, baseando-se numa
relação causal de normalidade) e a indução (caracterizada pela generalização de uma
implicação, a grosso modo, passando do particular ao universal).
Para Santos (2009, p. 32) a inferência é um processo mental que nos permite atribuir
significados às coisas e ideias no mundo. Nesse sentido,
483
é pela inferência (semântica e pragmática) que se estabelece uma relação de
significado entre a expressão linguística (palavra, proposição ou enunciado)
com seu referente no mundo. Ela é responsável pelo disparo, ativação e
geração (não necessariamente nesta ordem) do processo interpretação do
significado. (SANTOS, 2009, p. 32)
Já a relevância é uma propriedade mental das entradas de dados (elocuções,
pensamentos, memórias, ações, sons, cheiros, etc), que torna uma informação suficientemente
útil para ser processada pela nossa mente, a depender do esforço que faremos e o efeito que
isso nos trará ao final desse processo. No que se refere à relevância, devemos ter em mente
alguns princípios gerais:
A) De acordo com seu Princípio Cognitivo, a cognição humana tende para a maximização
da relevância;
B) O Princípio comunicativo da relevância denota que toda elocução ou ato de
comunicação inferencial cria uma expectativa de relevância.
Tanto a inferência quanto a relevância são processos mentais que podem determinar o
sucesso ou o fracasso da interpretação do indivíduo. Isso porque eles estabelecem como se
alocam os significados linguísticos e as suposições contextuais no momento da interpretação
do indivíduo.
Para que seja relevante, uma entrada de dados precisa demandar menos esforço de
processamento, e grandes efeitos cognitivos. Em outras palavras, se o indivíduo tiver
facilidade para operar com as determinadas informações, e essas informações designarem
uma perturbação/resposta a partir do contato dos dados novos e antigos, promovendo uma
modificação no seu ambiente cognitivo, isso quer dizer que a informação foi suficientemente
relevante para ser processada.
Vejamos como isso se daria a partir dos dois exemplos a seguir: imaginemos que durante
uma conversa informal entre A e B, A profira com certeza a frase ―Minha nossa, hoje vai
chover‖, sendo ela verdadeira. Observemos agora, numa situação hipotética, como ocorreria a
interpretação desse enunciado a partir dos dois contextos sequentes:
Situação A: ―Minha nossa, hoje vai chover‖
484
Figura 1:
Fonte: <http://cidadesnanet.com/news/wp-content/uploads/2017/04/26-1900x900_c.jpg>. Acesso em: 23 de jun.
17.
A entrada de dados denota que pelo contexto em que a informação é lançada se mostra
suficientemente relevante para o indivíduo, sendo um estímulo suficiente para que ocorra uma
perturbação no seu ambiente cognitivo, proporcionando um grande efeito e pouco esforço de
processamento.
Santos (2015) explica que uma das principais regras cognitivo-dedutivas utilizadas no
processo de compreensão inferencial é a regra modus ponens (se P então Q). “Esta regra toma
como entrada de dados um par de premissas, uma condicional e outra sendo sua antecedente,
e dá como resultado a consequente da condicional‖ (SANTOS, 2015, p. 196).
Aplicando a sentença à regra modus ponens (se P então Q), o resultado seria: Se (P) –
informação levantada a partir do contexto situacional – estamos em uma situação de seca
constante então (Q) – informação constrangida a partir da entrada de dados linguísticos – a
chuva é benéfica e esperada.
Situação B: ―Minha nossa, hoje vai chover‖
Figura 2:
485
Fonte:<https://abrilquatrorodas.files.wordpress.com/2016/11/enchente_abre.jpeg?quality=70&strip=info&w=92
8>. Acesso em: 23 jun. 17.
Nesta situação, ainda que os dados linguísticos sejam os mesmos, o contexto
situacional, bem como os participantes do ato comunicativo são diferentes. A partir da regra
modus ponens, teríamos: Se (P) – informação levantada a partir do contexto situacional –
estamos em uma situação de alagamento então (Q) – informação constrangida a partir da
entrada de dados linguísticos – a chuva é prejudicial e não esperada.
O indivíduo só é capaz de inferir o sentido e o significado da frase a partir do contexto
em que está vinculado, sendo ele compartilhado entre os dois falantes. Além disso, é
necessário que ele acesse suas informações background e que, ao aliá-las com as novas, seja
capaz de criar hipóteses de sentido e significado.
O que queremos expor com a demonstração dessas duas situações é que a
interpretação depende não só do que é dito/lido/mostrado, mas também do contexto, das
informações que temos disponíveis acerca das coisas no mundo e da maneira com que
utilizaremos essas informações.
Nas palavras de Souza (2005), um mesmo enunciado pode perturbar o ambiente
cognitivo anterior de três maneiras. Se essa perturbação ocorrer num nível cognitivo,
mediante um processo inferencial, ela resultará em um conhecimento novo. Mas se a
informação já for conhecida, ela apenas fortalecerá esse conhecimento que já estava
previamente armazenado no ambiente cognitivo desse indivíduo.
486
Nos casos em que a informação contida no estimulo contradiz um conhecimento
prévio do destinatário, o resultado será de apagamento ou anulação de suposições, ou seja,
poderá ocorrer uma modificação naquilo que o indivíduo representa como uma verdade ou
provável verdade, ou então poderá ocorrer o apagamento ou anulação do conhecimento novo.
Somente por ser uma informação nova, não há garantias de que o indivíduo vá adotá-la como
uma verdade ou provável verdade, abandonando suas suposições prévias.
Quando uma entrada de dados (uma elocução, por exemplo) é processada
dentro de um contexto de suposições disponíveis, ela poderá dar como
resultado algum efeito cognitivo através da modificação ou da reorganização
dessas suposições. (SPERBER; WILSON, 2001, p. 11)
Seguindo esse pressuposto, podemos perceber que a interpretação sempre se dá a partir
das informações que estão disponíveis para o indivíduo tanto em relação a uma entrada de
dados, como também como, em que situação, por quem foi dito/comunicado, por exemplo, as
informações que estão previamente armazenadas em sua enciclopédia mental, entre outros
fatores que se encaixam entre si, possibilitando ao sujeito que crie hipóteses de sentido e
significado, selecionando aquela que melhor se encaixa naquele determinado processo de
interpretação.
Outro fator-chave para entender como a interpretação ocorre na mente do indivíduo é
a propriedade mental que Sperber e Wilson denominam relevância. De acordo com os autores,
―expectativas de relevância geradas por um enunciado são precisas e previsíveis o suficiente
para guiar o ouvinte na direção do significado do falante‖ (2005, p. 222). Nesse sentido, o
processo de interpretação seguiria pela busca da relevância, considerando que a atenção do
indivíduo sempre será direcionada àquilo que seja a ele relevante, capaz de mobilizá-lo a
processar aquela determinada informação.
Os autores explicam que qualquer estímulo pode ser relevante para o indivíduo, mas o
que o torna realmente relevante é quando esse input se conecta a uma informação background
disponível, solucionando, de certo modo, uma questão que estava na mente do indivíduo.
Nos termos da Teoria da Relevância, um input é relevante para um indivíduo
quando seu processamento, em um contexto de suposições disponíveis,
produz um EFEITO COGNITIVO POSITIVO. Um efeito cognitivo positivo
é uma diferença vantajosa na representação de mundo do indivíduo: uma
conclusão verdadeira, por exemplo. Conclusões falsas não são posses
vantajosas; elas são efeitos cognitivos, mas não são efeitos positivos
(SPERBER; WILSON, 2005, p. 223)
487
Em outras palavras, não se trata de nenhuma espécie de seleção aleatória daquilo que é
ou não é relevante, como bem explicam Sperber e Wilson, é uma questão de graus. Um
estímulo será considerável sempre que denotar maior relevância em relação aos outros
inúmeros estímulos aos quais estamos expostos diariamente.
Por exemplo, numa situação comum em que A, B e C estão em uma conversa em
grupo e A e B passam a falar ao mesmo tempo, direcionando-se a C, ele provavelmente irá
focar no estímulo que lhe for mais relevante, ou poderá ignorar esses dois estímulos, se
nenhum deles mostrar maior relevância. A tentativa de manter o foco nos dois estímulos
concomitantemente fará com que tanto um quanto o outro percam sua expectativa de
relevância e, consequentemente, nenhum dos estímulos será cognitivamente processado,
impedindo que C forneça uma resposta posterior satisfatória a B e C.
Segue-se do Princípio Cognitivo da Relevância que a atenção humana e seus
recursos de processamento estão dirigidos para as informações que parecem
relevantes. Segue-se do Princípio Comunicativo da Relevância que uma
pessoa falante, pelo próprio acto de estar a dirigir-se a alguém, cria uma
expectativa de relevância óptima. Uma elocução é optimamente relevante
quando é bastante relevante para valer a pena ser processada, e é, além disso,
a elocução mais relevante que a pessoa falante tem a vontade e a capacidade
de produzir (WILSON, 2001, p. 12).
Outra propriedade que pode interferir significativamente no processo de interpretação,
na abordagem da Teoria da Relevância é a ostensão, que a grosso modo são as pistas dadas ao
interlocutor, uma espécie de pedido de atenção que nas palavras de Klöckner (2005) é uma
espécie de ajuda especial dada pelo comunicador para que o interlocutor possa reconhecer sua
intenção informativa. Para Sperber e Wilson, na comunicação ostensivo-inferencial, a
compreensão é alcançada a partir do êxito da intenção informativa.
No entanto, a eficiência no processamento de informações só pode ser
definida em relação a uma meta, que pode ser absoluta – voltada à solução
de um problema –, ou relativa – voltada à elevação do valor de uma variável.
A eficiência do mecanismo de informação consiste em encontrar a solução
do problema com o mínimo de custo possível. (SANTOS, 2009, p. 76)
Sperber e Wilson explicam que o processo de compreensão pautado na relevância
deve seguir o caminho do menor esforço de processamento para um maior efeito cognitivo,
testando hipóteses interpretativas e cessando o processo quando as expectativas de relevância
forem satisfeitas. Em outras palavras, o processo de interpretação, de acordo com esta teoria,
488
permeia desde os inputs de entrada até a satisfação das expectativas de relevância, podendo
chegar ao sentido e/ou significado do estímulo.
Quando o estímulo não é suficientemente relevante, o processo de interpretação será
interrompido em determinado momento, e as expectativas de relevância não serão satisfeitas.
Isso não quer dizer, no entanto, que o estímulo não foi percebido: o interlocutor pode ter
notado perfeitamente o estímulo e ainda assim não obter sucesso no processo interpretativo.
Imaginemos que A tenha recebido uma mensagem que diz ―Estarei lá às 18 horas‖.
Essa mensagem só terá suas expectativas de relevância satisfeitas se e somente se A puder
inferir quem estará e onde estará a partir do processo cognitivo inferencial, construindo uma
hipótese de significado (tarefa global), obedecendo as seguintes sub-tarefas
a. Construção de uma hipótese apropriada sobre o conteúdo explícito
(EXPLICATURAS) por meio da decodificação, desambiguação, resolução
de referência e outros processos de enriquecimento pragmáticos.
b. Construção de uma hipótese apropriada sobre suposições contextuais
pretendidas (PREMISSAS IMPLICADAS).
c. Construção de uma hipótese apropriada sobre implicações contextuais
pretendidas (CONCLUSÕES IMPLICADAS). (SPERBER; WILSON, 2005,
p. 235)
Se A não souber ou se a informação background não estiver disponível para ele
naquele momento, o estímulo denotará demasiado esforço para pouco efeito cognitivo,
frustrando as expectativas de relevância. As tarefas e sub-tarefas, de acordo com Sperber e
Wilson não seguem uma ordenação específica, porque ocorrem num processo online, que tem
propriedades variáveis.
Por isso mesmo, podemos afirmar que a interpretação nos seus mais variados aspectos
é extremamente complexa e flexível, pois envolve uma série de processos característicos da
cognição humana e que são imprescindíveis para seu sucesso ou seu fracasso.
Considerações finais
A Teoria da Relevância não é a única teoria da comunicação que nos permite analisar
processos interpretativos, mas se mostra extremamente importante e esclarecedora no que diz
respeito a entender e discutir sobre como a interpretação acontece na mente do indivíduo,
auxiliando na clarificação de todo processo comunicativo.
489
A partir desse estudo, pudemos perceber que a interpretação depende de um processo
cognitivo complexo, explicando de forma sucinta como ela se desenvolve na mente do
indivíduo a partir de alguns postos-chave contemplados pela TR.
Podemos considerar que as entradas de dados fornecem apenas parte da evidência
necessária para que o indivíduo tenha sucesso no processo de interpretação. O contato inicial
com uma comunicação ostensiva a partir de um estímulo X ocasionará uma expectativa de
relevância que será satisfeita caso demande pouco esforço de processamento e um grande
efeito cognitivo.
Essa relação de esforço e efeito depende não só da disponibilidade de informações na
enciclopédia mental do indivíduo, como também de fatores contextuais, linguísticos, etc. Em
outras palavras, para cada estímulo ostensivo existe uma série de variáveis que vão determinar
sob quais aspectos a interpretação cognitiva poderá transitar.
Em suma, pudemos perceber a partir da discussão proposta nesse trabalho que a
eficiência da interpretação de enunciados é dependente de uma série de fatores que
extrapolam a questão da capacidade intelectual do indivíduo, sendo também produto do
contexto e dos processos mentais acionados no processo de compreensão.
Referências
HARDY-VALLÉE, Benoit. Que é um conceito? São Paulo: Parábola Editorial, 2013.
Tradução de: Marcos Bagno.
KLÖCKNER, Luciano. A Entrevista Radiofônica: Uma Análise Através da Teoria da
Relevância. In. RAUEN, F. J., SILVEIRA, J. R. C. (Orgs.). Linguagem em discurso:
Teoria da Relevância. Tubarão: Unisul, 2005.
SANTOS, Sebastião Lourenço dos. A interpretação da piada na perspectiva da Teoria da
Relevância. Acervo Digital, 2009. Disponível em: <
https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/23417/Tese%20final.pdf?sequence=
1&isAllowed=y>. Acesso em: 12 maio 2017.
SANTOS, Sebastião Lourenço dos. Quadrinhos e Contexto Pragmático: o humor nas tiras
de Chico Bento. Revista Eletrônica – (Con)textos Linguísticos, Vol 9, Nº 13, 2015.
490
Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos/article/view/10843/8231>.
Acesso em: 11 de set. de 2016
SILVEIRA, Jane Rita Caetano da. A Imagem: Interpretação e Comunicação. In. RAUEN, F.
J., SILVEIRA, J. R. C. (Orgs.). Linguagem em discurso: Teoria da Relevância. Tubarão,
SC: Unisul, 2005.
SOUZA, Marcos. Era o verbo um Deus? – Análise de João 1:1 a partir da Teoria da
Relevância. In. RAUEN, F. J., SILVEIRA, J. R. C. (Orgs.) Linguagem em discurso: Teoria
da Relevância. Tubarão: Unisul, 2005.
SPERBER, Dan; WILSON, Deidre. Teoria da Relevância. In. RAUEN, F. J., SILVEIRA, J.
R. C. (Orgs.). Linguagem em discurso: Teoria da Relevância. Tubarão, SC: Unisul, 2005.
SPERBER, Dan; WILSON, Deidre. Relevância: Comunicação e Cognição. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
O SUJEITO APRENDIZ E O ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE
PROPAGANDAS OFICIAIS
Janaina de Jesus Santos (UNEB/DCH VI) [email protected]
Resumo: Neste estudo, investigamos a produção de sujeitos nas redes de poder contemporâneas, a
partir do aprendiz nas propagandas sobre o novo ensino médio, veiculadas pelo Ministério da
Educação. Para tanto, identificamos os discursos nas propagandas selecionadas; depois, descrevemos
os enunciados regulares entre elas, a partir da linguagem audiovisual; e, por fim, analisamos como os
discursos produzem sentidos sobre o sujeito aprendiz. A Análise do discurso possibilita considerar os
aprendizes como sujeitos historicamente situados em redes de saberes e poderes, bem como refletir
sobre quem são eles hoje, a partir do objeto audiovisual. Percebemos que o sujeito aprendiz é moldado
como indivíduo e como população para a eficácia das relações contemporâneas de poder. Portanto,
concluímos que, ao evidenciar o enunciado “liberdade” nas propagandas, as necessidades da
população de educação de qualidade não são consideradas em sim mesmas, mas como meios para
maximizar o poder do Estado sobre os indivíduos. Palavras-chave: Mídia. Poder. Sujeito.
Abstract: In this study, we investigated the subject production in contemporary power networks,
looking at the student in the advertisements about the new high school, made by the Ministry of
Education. To do so, we identified discourses in selected advertisements; then, we described the
regular enunciations between them, from audiovisual language; and, finally, we analyzed how the
discourses elaborate the senses on the learner subject. Discourse analysis enables to think about
students as subjects in historical networks of knowledge and power, as well as to reflect who they are
491
today, from an audiovisual object. We perceived that the subject learner is shaped as an individual and
as population for the effectiveness of contemporary power relations. Therefore, we conclude that by
highlighting the enunciation "freedom" in advertisements, the population needs for quality education
are not considered in themselves, but are ways of maximizing the power of the state over individuals.
Key-words: Media. Power. Subject.
1 DELINEAMENTOS INICIAIS
O sujeito é revelado por suas práticas cotidianas, fazendo ver quem é, qual seu status e
qual espaço ocupa e transita. É necessário interrogar a atualidade e a história sobre a
existência dos sujeitos, que se revelam pela apropriação de dizeres, ao mesmo tempo em que
são produzidos pela ordem discursiva. Estudar a função sujeito na contemporaneidade implica
refletir sobre o momento histórico da globalização e da modernidade líquida (BAUMAN,
2001). Trata-se de considerar as características de intensa comunicação entre pessoas pelo
globo e a dissolução de tudo o que é sólido, submetendo os indivíduos, a sociedade, as
relações e as instituições a estados constantes de mudança.
Dentro do projeto do capitalismo moderno, a escola é apontada como uma importante
instituição para o desenvolvimento dos países, o que, a princípio, destaca a função de
professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem. No contexto brasileiro,
estamos num momento de reforma do Ensino Médio e de discussão da Base Nacional Comum
Curricular, que apontam profundas mudanças nas políticas da educação nacional. Nesse
sentido, entendemos que é importante analisar como essas condições possibilitam o
aparecimento de determinados discursos e o silenciamento de outros. Mais especificamente,
vamos investigar como as propagandas do Ministério da Educação (MEC) sobre o Novo
Ensino Médio emergem nesse horizonte e produzem sentidos sobre o sujeito aprendiz.
A partir da perspectiva dos estudos discursivos e dos postulados arquegenealógicos de
Michel Foucault, vamos nos ocupar em refletir sobre a noção de sujeito e analisar discursos
inscritos no suporte audiovisual, como a linguagem em evidência na contemporaneidade.
Trata-se de entender discursos e sujeitos a partir de objetos midiáticos com foco no ensino
médio, de modo que as propagandas serão percebidas como suporte de discursos.
O contexto das propagandas está situado quando, após o impeachment da presidente
Dilma Rousseff, Michel Temer assume definitivamente o cargo em 31 de agosto de 2016. E,
logo em seguida, em 23 de setembro de 2016, é publicada a Medida Provisória nº 746, cuja
ementa é:
Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
492
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20
de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e dá
outras providências. (BRASIL, 2016).
No Brasil, as medidas provisórias são editadas pelo presidente em casos de relevância
e urgência. Elas têm força de lei e efeitos imediatos, mesmo que depois devam ser apreciadas
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Neste caso, a educação foi enquadrada
dentro de relevância e urgência, sendo considerado necessário: ampliar a carga horária anual
para 1400 horas, alterar a parte obrigatória do currículo, tornar obrigatório o ensino de língua
inglesa a partir do sexto ano, possibilitar o exercício da docência por especialista técnico-
profissional de “notório saber” e prever o uso de recursos públicos para custear formação em
instituições privadas.
Pensada como um acontecimento discursivo, a reforma do ensino médio gerou
bastante discussão no cotidiano político, escolar e social. São questionadas, particularmente,
a docência por não licenciados, a ampliação da carga horária e a mudança no currículo
obrigatório. A sociedade argumenta que não houve discussão e que foi um ato autoritário do
presidente, sobretudo, pelo fato de ter sido efetivado por meio de medida provisória. Então, o
Ministério da Educação faz veicular duas propagandas na televisão aberta e em seu canal no
Youtube, em 28 de outubro do mesmo ano*; depois, mais duas em 26 de dezembro; seguidas
de mais três, em 4 de janeiro de 2017; e, por fim, mais duas em 6 de junho de 2017†.
Diante dessa emergência de enunciados, intentamos refletir sobre a problemática de
como são produzidos os sujeitos na contemporaneidade, tomando como lugar de observação
as propagandas de outubro de 2016. Essas propagandas estão compreendidas no período
anterior à tramitação da MP nº 746/2016 e à alteração da LDB 9.394/1996, momento de maior
manifestação de insatisfação popular e argumentação governamental. Isso implica em
perceber a produção de sujeitos nas redes de poder, questionar as posições históricas possíveis
de serem ocupadas e sua existência na modernidade líquida. Para tanto, primeiro,
identificaremos os discursos nas propagandas escolhidas; depois, descreveremos os
enunciados que compõem as propagandas, considerando a especificidade do audiovisual; por
fim, analisaremos como os discursos produzem sentidos sobre o sujeito aprendiz.
* Data informada em Anúncios publicitários sobre o Novo Ensino Médio explicam as mudanças propostas
pelo MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/40941-anuncios-
publicitarios-sobre-novo-ensino-medio-explicam-as-mudancas-propostas-pelo-mec>. Acesso em: 10 jun.
2018. † Datas de postagem no canal do MEC no Youtube. Disponível em: <
https://www.youtube.com/user/ministeriodaeducacao>. Acesso em: 10 jun. 2018.
493
Nesse sentido, desenvolvemos o trabalho em seções interdependentes, sendo que na
primeira, apresentamos as noções de discurso, enunciado, sujeito e poder que mobilizarão as
análises; em seguida, tecemos algumas considerações sobre a escola e a mídia na
modernidade líquida; depois, evidenciamos o método basilar para a análise das propagandas,
descrevemos e interpretamos as propagandas; e, por fim, discutimos sobre a produção do
sujeito aprendiz. Passemos aos fundamentos teóricos da investigação.
2 OS DISCURSOS, OS ENUNCIADOS E OS SUJEITOS
No uso da linguagem, temos a ilusão de transparência e neutralidade, de modo que o
falante seria revestido de consciência, enunciaria e se faria entender conforme o sentido
desejado. A produção e a recepção dos enunciados seriam controladas e enunciar seria entrar
em “[...] uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros
respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma [...]”
(FOUCAULT, 2007b, p. 7). Ao invés da transparência calma, a perspectiva discursiva
considera que a linguagem é superfície de embate entre discursos, saberes e poderes, de modo
que não nos é possível controlar os sentidos. Isto é, a produção de sentido é um efeito em que
trabalham os elementos de linguagem e os elementos do tempo e do espaço.
Ao refletir sobre a linguagem na contemporaneidade, o linguista Courtine (2006)
afirma que se ouve e se vê mais do que se lê, o que destaca a linguagem sonora e visual no
contexto de rápida produção e circulação de mídias na internet e, especialmente, nas redes
sociais. Destacamos o site Youtube (www.youtube.com.br) como um importante vetor de
depósito e circulação de vídeos, de modo que conteúdos de natureza pessoal e institucional
são facilmente carregados e visualizados na rede da internet. Nesse contexto, assumimos os
pressupostos da Análise do Discurso, com a finalidade de buscar entender a produção de
sentidos, a partir da materialidade da linguagem na história, seguindo a indicação de Gregolin
(2007).
O discurso, igualmente, não é transparente, nem neutro, é ligado ao desejo e ao poder,
é objeto de desejo, é lugar de exercício de poder, tem “[…] realidade material de coisa
pronunciada ou escrita” (FOUCAULT, 2007b, p. 8) e existência transitória com uma duração
que não nos pertence. Entendemos, com Foucault (2007a, 2007b), o discurso como um
conjunto de enunciados que têm as mesmas regras de funcionamento, indiferente do campo
do qual façam parte. Essas regras são determinadas pela ordem do discurso, que organiza a
494
produção de saberes e poderes em consonância com os âmbitos econômico e social. Com
efeito, os discursos são regidos por um ordenamento que determina o que, quem, quando e
onde dizer, de modo que formam um conjunto de regras anônimas que possibilitam aos
sujeitos o dizer e uma existência dentro das condições históricas. Eles são produzidos na
tensão entre saber e poder de um momento histórico.
Ainda nos estudos arqueológicos, Foucault (2007, p. 98) define o enunciado como a
uma função que interliga a estrutura e as unidades possíveis e que possibilitam sua
emergência “[…] com conteúdos concretos, no tempo e no espaço.” Então, o enunciado é a
materialização da existência dos discursos no momento de sua emergência, é a estrutura
efetivamente dita ou mostrada nas condições históricas.
Todo discurso tem um sujeito, cujo status possibilita sua enunciação, sendo que não é
necessariamente o autor da enunciação, mas uma função vazia que pode ser exercida por
diferentes indivíduos. Portanto, o sujeito não está no campo individual, mas naquele dos
processos de produção histórica. A existência de cada um imbrica sistemas de representação,
de sensibilidades. À vista disso, é necessário “[…] determinar qual é a posição que pode e
deve ocupar todo indivíduo para ser sujeito.” (FOUCAULT, 2007, p. 108).
Assim sendo, há um ordenamento da produção de discursos e sujeitos por uma rede de
poderes que alcança a todos. Daí, o poder ser pensado de maneira pulverizada em todo o
tecido social, como força que faz os sujeitos agirem e, também, como exercício de uns sobre
os outros, não podendo ser possuído ou tomado para si.
Nessa mesma direção, consideramos que:
O estado não é a fonte central do poder, mas sim uma matriz de
individualização “sobre” a qual cada um tem construída a sua subjetividade,
vive sua vida e pratica suas ações. O poder se exerce no Estado, mas não
deriva dele; pelo contrário, o poder se estatizou ao se abrigar e se legitimar
sob a tutela das instituições estatais. (VEIGA-NETO, 2011, p. 145, grifos do
autor).
O poder não atua pela simples repressão e dominação dos homens, mas atua nas
microinstâncias, nas menores práticas, para fazer com que se tornem cada vez mais úteis. Ele
“[…] incita, suscita, produz; ele não é simplesmente orelha e olho; ele faz agir e falar.”
(FOUCAULT, 2006, p. 220). Portanto, de acordo com Foucault (2007c, p. 8), é necessário
“[…] considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do
que uma instância negativa que tem por função reprimir.”. E é justamente por possuir essa
eficácia produtiva que o poder volta-se para o sujeito, não essencialmente para reprimi-lo,
495
mas para adestrá-lo, torná-lo dócil e útil para a sociedade. Nessa trama, pensamos a escola e a
mídia como instituições imbuídas de poder, conforme desenvolvemos a seguir.
3 A ESCOLA E A MÍDIA NA MODERNIDADE LÍQUIDA
É sabido que a instituição escolar é inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade
humana, cuja finalidade é a formação do sujeito cidadão, no ordenamento geral da sociedade.
Entretanto, refletindo a partir dos estudos foucaultianos, percebemos a escola, antes de tudo,
como produtora de sujeitos por meio dos diferentes saberes, relações de poder e relações
consigo mesmo. Com o objetivo de viabilizar esse controle, toma o indivíduo em sua
totalidade, não apenas o corpo, mas também a alma é objeto dessa tecnologia disciplinar.
Ewald (1993 apud VEIGA-NETO, 2011, p. 70) afirma que “[…] a alma é, ao mesmo tempo,
o produto do investimento político do corpo e um instrumento do seu domínio.”
Nesse sentido, a escola é considerada uma potente instituição para individualizar e
possibilitar novas subjetividades:
A escola foi sendo concebida e montada como a grande – e (mais
recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos
corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torná-los dóceis; além do
mais, a escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes dessa), a
instituição de seqüestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...) o
maior tempo de suas vidas, no período da infância e da juventude. Na
medida em que a permanência na escola é diária e se estende ao longo de
vários anos, os efeitos desse processo disciplinar de subjetivação são
notáveis. (VEIGA-NETO, 2011, p. 84-85).
Porém, na modernidade líquida, a escola, assim como outras instituições sociais, é
questionada. A tônica é a dissolução de estruturas de pensamento e das certezas tradicionais,
sem necessariamente propor novos modelos ou reformulações. Nessa atmosfera de constantes
mudanças, costumes, práticas sociais e relações entre sujeitos são moldados para atender à
liberdade individual de escolha. Cabe à sociedade a função de dar garantias da continuidade
indefinida de escolha e, ao mesmo tempo, de ressaltar sua inevitabilidade. Entretanto, são
silenciados os riscos e a responsabilidade inerentes às escolhas. (BAUMAN, 2013).
No contexto de intensas transformações econômicas e sociais, a mídia ocupa uma
posição central na produção e circulação de informações, como destaca Gregolin (2007, p.
16): ―[n]a sociedade contemporânea, a mídia é o principal dispositivo discursivo por meio do
qual é construída uma ‗história do presente‘ como um acontecimento que tensiona a memória
496
e o esquecimento.‖ Nesse mesmo sentido, compreendemos a mídia como lugar de visibilidade
de discursos e não como elemento fundante de discursividades, sendo que “[a]s vozes que
falam na mídia fazem eco a outros dizeres que vêm de outros lugares da sociedade.‖
(GREGOLIN, 2007, p. 22). Portanto, a emergência e a circulação das propagandas são
entendidas como partes da produção de sentidos, em que instauram um controle de discursos e
sujeitos, levando-os a fazer adesão aos discursos materializados.
Sendo assim, a mídia é produto do cruzamento da linguagem com o processo
histórico, um modo de acesso à realidade e de circulação de formas de ser e agir, entrelaçado
com as determinações econômicas e sociais. Importa-nos, pois, analisar a circulação das
propagandas, as posições de sujeito assinaladas, a materialidade audiovisual que efetiva os
sentidos e as conexões que esses enunciados estabelecem com a história, como teceremos a
fio .
4 AS PROPAGANDAS, OS DISCURSOS E OS SUJEITOS
Com o objetivo de investigar a produção de sujeitos na contemporaneidade, a partir
das propagandas, adotamos o procedimento descritivo-analítico da materialidade audiovisual,
que possibilitou compreender como os discursos são materializados na linguagem, onde
sentidos sobre os educandos são produzidos e cristalizados. Selecionamos duas propagandas,
dentre o total de nove que circularam sobre o “Novo Ensino Médio”, desde outubro de 2016,
sendo localizadas no momento inicial da MP nº 746/2016 e anteriores à aprovação da Lei nº
13.415 (BRASIL, 2017), que altera a LDB nº 9.394/1996.
Analisamos o sujeito educando no contexto geral da propaganda, por meio de pistas
deixadas pelos discursos que o produzem na propaganda, como lugar de visibilidade da
sociedade contemporânea. Trata-se de perseguir traços na superfície da imagem e do som à
procura de indicações, o que nos levou a recortar enunciados visuais e sonoros do enunciado
maior das propagandas. O objeto midiático será analisado como superfície de discursos, isto
é, lugar em que práticas são possibilitadas pela ordem contemporânea. A emergência dessas
propagandas aponta para as condições econômicas e sociais que possibilitaram sua circulação.
Nas propagandas produzidas pelo Ministério da Educação do Brasil, verificamos, em
um gesto de descrição e interpretação, os sentidos produzidos pela circulação das
representações discursivas sobre o sujeito educando. Começamos destacando que essas
propagandas não mais estão disponíveis no canal do MEC. Nelas, observamos o cenário de
497
uma sala de aula tradicional, com professora e vinte educandos, composta pelo mobiliário
característico: mesas e cadeiras individuais para a professora e os discentes, quadro branco,
armário, mapas etc.
A cena da propaganda n°1 mostra os alunos sentados enfileirados conversando entre
si, quando a professora chama a atenção para o que irá explicar. Nesse momento, todos param
para ouvi-la:
Atenção turma! Porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que
a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito
o Ensino Médio? Isso mesmo. O desempenho dos jovens em matemática e
português está menor que há 20 anos. Duas décadas, gente! E hoje já são
quase dois milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham.
Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos
jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil É pra ontem!
O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de
conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda
optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a
trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide
o seu futuro. (MEC, 2016)
Na enunciação da professora, percebemos o chamamento dos alunos para um assunto
considerado importante. “É hora de falar de educação” e “Participe das discussões” indicam
que toda a população é convocada para refletir e emitir opinião sobre a reforma. Isso reforça a
cidadania de todos e a importância nas decisões políticas. Entretanto, é interessante observar
que os vídeos publicados no canal do MEC, inclusive esses quando disponíveis, têm os
comentários desativados na plataforma do Youtube.
Outro encadeamento pode ser feito com os enunciados “[...] precisa melhorar muito
[...]”, “O desempenho [...] está menor que há vinte anos.”, “[...] nem estudam, nem trabalham
[...]” e “[...] precisa virar essa página” criam uma moldura de repreensão aos jovens,
apontados como aqueles que têm um comportamento reprovável.
Ao mesmo tempo em que a professora enuncia, na lousa são estampados os
enunciados: “Educação”, “Menor do que há 20 anos”, “1,7 milhão de jovens fora da escola”,
“Mais liberdade para escolher”, “Formação técnica”, no encadeamento com a enunciação.
Percebemos como uma estratégia para destacar alguns enunciados dentro do conjunto maior
do enunciado.
Na outra propaganda de mesma data, quem explica a novidade é um estudante, que se
levanta do meio da sala, pede autorização à professora e fala aos colegas:
Aí, galera! Vocês já conhecem o novo Ensino Médio? Essa proposta que está
todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências
de vários países. Países que tratam a educação como prioridade. E que ela
498
vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a
realidade dos jovens de hoje? Pois é! Agora, além de aprender o conteúdo
obrigatório, essencial para a formação de todos, o que será definido pela
Base Nacional Comum Curricular, j á em discussão, eu vou ter liberdade de
escolher entre quatro áreas de conhecimento para me aprofundar. Tudo de
acordo com minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para
quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar,
poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e
práticas. Acesse o site e participe das discussões. Agora é você quem decide
o seu futuro. (COMERCIAL, 2018)
Em consonância com a exposição do aluno, aparecem na lousa a sequência de
enunciados: “Novo Ensino Médio”, “Coréia do Sul, França, Inglaterra, Portugal, Austrália”,
“Base Nacional Comum Curricular”, “Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza,
Ciências Humanas”, “Formação técnica profissional” e “mec.gov.br, Participe das
discussões”. Em contraste com os enunciados da outra propaganda, percebemos que não é
enfocado o quadro negativo do Ensino Médio, mas sim as novidades alinhadas com “países
que tratam a educação como prioridade”.
Na comparação entre as duas propagandas, vemos a repetição dos enunciados
“Formação técnica” e o vocativo “Agora é você quem decide o seu futuro”. Quem enuncia é
aquele que tem o status de ocupar o espaço da sala de aula e falar a verdade, de modo que a
posição do professor e do aluno são colocadas no mesmo nível de autoridade para enunciar o
que é verdadeiro sobre o “Novo Ensino Médio”. Isso reveste os enunciados de sentidos de
que tanto uns como outros estão cientes do processo de mudança e que ambos estão aptos
para aprová-lo. Entretanto, “Agora é você quem decide o seu futuro”, no encadeamento de
possíveis opções entre a formação geral ou a formação técnica, assim como entre as áreas do
conhecimento, coloca o educando numa atmosfera de sentidos de liberdade que dialoga
intimamente com com o enunciado “liberdade”, “futuro”, “projeto de vida”, “minha vocação”
e “minha vida”.
Diante do controle da produção dos discursos, percebemos que os elementos das
propagandas foram selecionados, organizados e redistribuídos por procedimentos que têm por
função dominar o acontecimento da reforma do ensino médio. Mais uma vez, pensando com
Foucault (2007b, p. 9), sabemos que “[…] não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim não pode falar de qualquer
coisa.” Ao enunciar por meio das propagandas, o Ministério da Educação assume o lugar
daquele que fala a verdade sobre as mudanças necessárias para uma melhor formação da
população jovem brasileira e tenta, assim, deslegitimar e até silenciar enunciados outros que
emergem concomitantemente em fontes não oficiais.
499
Dessa maneira, fica marcado no acontecimento da reforma do ensino médio que “[…]
o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas
aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.” (FOUCAULT,
2007b, p. 10). Em outros termos, os discursos lutam para ter a existência material, o status de
verdade e as condições de excluir aqueles que questionam a verdade. Foucault (2007, p. 20)
assevera que “[o] discurso verdadeiro […] não pode reconhecer a vontade de verdade que o
atravessa; e a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a
verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la.”
Depois de lançar um olhar sobre a materialidade sonora e visual, podemos observar
que há um direcionamento para o trabalho de discursos nas propagandas. Inicialmente,
podemos perceber pela própria estética das imagens. Tratam-se de imagens trabalhadas com
iluminação diurna vívida e remetem a efeitos de sentido de ordem, limpeza e beleza. É
evidenciada sua atualidade pelo conjunto de elementos físicos da sala e, principalmente, pela
relação menos formal entre professora e alunos.
As imagens evidenciam tanto os alunos como a professora, por meio da estratégia de
campo e contracampo, o que produz um efeito de conversa na sala de aula, em que todos têm
direito à fala. Isso permite perceber a reação de empatia e aprovação diante da enunciação das
mudanças no ensino médio, como em um diálogo arquitetado dentro do monólogo da
exposição da professora, em uma, e do aluno, em outra propaganda. É um caminho de
interpretação aberto pelas imagens, que potencializa a persuasão do enunciado midiático
sobre os espectadores. Uma pedagogização do olhar sobre a propaganda. Os enunciadores são
mostrados em plano americano, de maneira que vemos a parte superior do corpo e o cenário,
ao mesmo tempo. Isso possibilita uma clara identificação dos sujeitos professor e educando.
Na esteira de Foucault (2007a), investigamos a existência desses enunciados
imagéticos dentro do enunciado maior que é a propaganda e pensamos que o fato de se
evidenciar o espaço coloca em destaque sujeitos marcados nos corpos e lhes situa na
historicidade. É como uma enunciação que se repete e faz cristalizar o que é ser docente e o
que é ser discente, quem fala a verdade naquele momento e naquela instituição.
Ainda analisando as propagandas com a lente da teoria do poder foucaultiana,
observamos o cruzamento de mecanismos disciplinares que atuam sobre o corpo e
mecanismos regulamentadores que atuam sobre a população: nos primeiros, o corpo dos
jovens é individualizado como organismo dotado de capacidades e potencialidades; nos
segundos, os corpos são colocados nos processos biológicos do conjunto para o equilíbrio
500
amplo, por meio do controle de tudo o que possa acontecer com a população. Um corpo
individual disciplinado, treinado, dócil e útil entra no regime dos mecanismos populacionais,
para possibilitar estados globais de equilíbrio, de regularidade. A educação, assim, funciona
também como mecanismo regulamentador da população, que ordena e hierarquiza os jovens.
Isso produz mudanças nas formas pelas quais nos subjetivamos e se relaciona diretamente
com o papel desempenhado pela escola em nosso processo de subjetivação.
Ademais, na contemporaneidade, a produção do sujeito perpassa o corpo e a alma:
De uma subjetivação em que a disciplina é central – na qual a escola, como
instituição fechada e episódica na nossa vida, teve e ainda tem um papel
fundamental – está-se passando para uma subjetivação aberta e continuada –
na qual o que mais conta são os fluxos permanentes que, espalhando-se por
todas as práticas e instâncias sociais, nos ativam, nos fazem participar e nos
mantêm sempre sob controle. (VEIGA-NETO, 2011, p. 140).
Nesse contexto, as oposições e as lutas sociais permitem ou impedem o acesso a qualquer tipo de
discurso com seus saberes e poderes. É necessário refletir historicamente como se produzem efeitos de verdade
sobre o ensino médio no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos. Podemos apontar
quatro fatores: a produção de propaganda oficial tem o efeito de dizer, a partir do lugar institucional do
Ministério da Educação, a verdade sobre as reais necessidades e possibilidades do ensino e da reforma; por outro
lado, a intensa circulação de tantas propagandas na televisão e nas redes sociais acaba por produzir o
silenciamento dos outros discursos para a população geral; por último, acreditamos que o funcionamento
discursivo é intensificado pelo uso da linguagem audiovisual, em que jovens falam para jovens sobre assunto que
interessa a jovens.
O posicionamento central dos jovens, particularmente, no segundo conjunto de propagandas reforça o
pensamento foucaultiano de que o poder não se restringe a uma força que diz não, mas atravessa o tecido social,
produz discursos, induz ao prazer e forma saberes. A busca por protagonismo nas decisões políticas e a
centralidade do jovem parecem dialogar diretamente como um funcionamento das relações de poder que atende,
de certa maneira, aos anseios historicamente produzidos e faz com que os sujeitos aprendizes se sintam
contemplados pela liberdade de escolha para sua vida. Em outras palavras, o poder fabrica o sujeito aprendiz
desejante de liberdade que vemos na contemporaneidade.
Os postulados do filósofo francês são reafirmados pelas reflexões sobre a modernidade líquida e sua
plasticidade:
a capacidade onívora dos mercados de consumo, sua fantástica habilidade de
aproveitar todo e qualquer problema, ansiedade, apreensão, dor e sofrimento
humanos – sua capacidade de transformar todo protesto e todo impacto de
“força contrária” em proveito e lucro. (BAUMAN, 2013, p. 30).
Entretanto, não aparece na superfície das propagandas que o poder atua sobre os corpos e atos, para
extrair deles tempo e trabalho, nem que os jovens são alvo de intensa vigilância e controle por um meticuloso
sistema de coerções econômicas e sociais. O silenciamento da produção de sujeitos úteis está no ponto central do
501
sentido, pois, como afirma Gregolin (2007, p. 15), “[s]ilenciamento e exposição são duas estratégias que
controlam os sentidos e as verdades. Essas condições de possibilidade estão inscritas no discurso.‖
5 CONSIDERAÇÕES
Percebemos que há uma relação entre poder, saber e instituição, de modo que
processos sociais e econômicos constituem a rede que produz discursos e sujeitos. Devemos
questionar o modelo jurídico e perceber nas leis um funcionamento de relações de poder para
produzir os sujeitos. As necessidades da população de educação de qualidade não são
consideradas em sim mesmas, mas como meios para maximizar o poder do Estado sobre os
indivíduos. Para tanto, técnicas disciplinares são aplicadas sobre o corpo, por meio de uma
série de mecanismos de saber, pois é preciso conhecer os jovens e seus desejos para
compreendê-los em sua individualidade.
Nesse sentido, o poder na sociedade contemporânea é sofisticado, invisível e
pulverizado, de modo que, apesar de estar muito mais eficiente, para os dominados chegam
apenas os discursos astuciosos de “liberdade”, “qualidade”, “bem-estar”. É assim que são
produzidos os discursos que nos governam, nos adestram, nos disciplinam e direcionam as
nossas escolhas. A partir de Foucault (2007c), podemos, ainda, afirmar que é necessária a
liberdade e suas ilusões, para que o poder seja uma força produtiva, para que os sujeitos
tenham um domínio de possibilidades de condutas, reações e modos de comportamento.
A necessidade de fazer escolhas inclui, pois, o risco de seguir por caminhos
indesejados, perder posições e status, ser excluído e ser incapaz de atender às demandas do
mercado. Contudo, as escolhas são ofertadas por meio da mídia como liberdade de escolha e
silenciam a servidão a ela associada (BAUMAN, 2013).
Dentro das relações contemporâneas de poder, a escola continua sendo um espaço
singular de produção de sujeitos. É fundamental intensificar a produção e apropriação dos
conhecimentos dos sujeitos da e na escola, para que ela se consolide como lugar de
disseminação de conhecimentos práticos, concretos, aplicáveis e capazes de incitar
questionamentos sobre a realidade e suas verdades. É imprescindível fazer o exercício
constante de polemizar a ilusória transparência da linguagem, sobretudo da mídia, e do regime
de produção de verdade.
Assim, investigamos a propaganda oficial como um grande enunciado, que evidencia
os discursos que circulam na contemporaneidade e responde a quem somos nós hoje.
Pensamos que analisar a educação contemporânea por meio de discursos que circulam na
502
sociedade, principalmente na mídia oficial, é um campo rico para investigações e outros
olhares podem oferecer novas contribuições.
REFERÊNCIAS
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2001.
______. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo. Tradução de Carlos
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013.
BRASIL. Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. Diário oficial da União,
Brasília, DF. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-
mp-746-ensino-medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso
em: 2 fev. 2018.
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Diário oficial da União, Brasília, DF.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13415.htm?TSPD_101_R0=4155c30ff36b3f478ea20f7288475616h1R000000
000000000048c0cc8affff00000000000000000000000000005a94199800280a97f5>. Acesso
em: 2 fev. 2018.
COMERCIAL MEC Reforma ensino medio - 02. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=P_1iPX6Ui54>. Acesso em: 28 ago. 2018.
MEC Novo Ensino Médio 01. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=OCjb9G4qGwE&list=PLzdIe8fS6HgZwMsQaM6PmIF
Sp6i2XTiul&index=2>. Acesso em: 20 jan. 2018.
COURTINE, Jean-Jaques. Metamorfoses do discurso político: derivas da fala pública. São
Carlos: Claraluz, 2006.
FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do discurso: reflexões introdutórias. 2. ed. São
Carlos: Claraluz, 2007.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007a.
______. A ordem do discurso. 11. ed. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São
Paulo: Edições Loyola, 2007b.
______. Estratégia, poder-saber. 2. ed. Tradução de Vera Lúcia A. Ribeiro. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2006. (Coleção Ditos e Escritos IV).
503
______. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. 23. ed. São Paulo: Graal,
2007c.
GREGOLIN, Maria do Rosário. Análise do discurso e mídia: a (re)produção de identidades.
Comunicação, mídia e consumo. São Paulo, vol. 4, n. 11, p. 11-25, nov. 2007.
VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
UM OLHAR SOBRE O ETHOS DISCURSIVO DE ARNALDO JABOR
A MENÇÃO IRÔNICA NA CRÔNICA POLÍTICA
Jefferson Freitas dos Santos (UFF)
Patrícia Ferreira Neves Ribeiro (UFF)
Resumo: Em busca de tecer reflexões sobre a relação entre identidade, discurso e sociedade, procede-se, nesta
pesquisa, à análise da construção identitária do sujeito enunciador Arnaldo Jabor – cronista de destaque na mídia
brasileira – em dois momentos de grande efervescência da política nacional, ligados à atuação do Partido dos
Trabalhadores à frente do governo federal. Mais especificamente, neste trabalho, nos debruçamos sobre dois
textos de sua autoria, sendo um deles publicado no livro Pornopolítica, de 2006, e o outro produzido, no ano de
2016, para o jornal impresso O Globo. Examinamos os referidos textos com o objetivo de focalizarmos a
imagem que o enunciador projeta de si mesmo por meio do discurso produzido, supondo a constituição de
um ethos irônico caracteristicamente. No âmbito dos procedimentos de análise, este trabalho investiga, de modo
particular, a menção irônica dada pelo emprego do recurso tipográfico das aspas, assumindo-o como marca
linguístico-discursiva constitutiva do suposto ethos irônico de Jabor. Como fundamentação teórico-
metodológica, convocamos, para a confecção do trabalho, uma orientação calcada na Análise Semiolinguística
do Discurso, de Patrick Charaudeau (2008), a que se conjugam as noções de ethos, especialmente da perspectiva
aristotélica retomada por Charaudeau (2015), Maingueneau (2015) e Amossy (2005) e de ironia, em
conformidade com Machado (2014), Charaudeau (2011) e Maingueneau (2002). Os resultados da pesquisa
apontam que o sujeito enunciador Arnaldo Jabor projeta, pelo recorrente emprego de aspas,
um ethos inegavelmente irônico em crônicas que versam sobre temas políticos. Com este trabalho, procuramos
contribuir para a discussão acerca do cenário político brasileiro nos últimos anos em face da análise e da reflexão
da menção irônica por meio do uso nada inocente do recurso tipográfico das aspas.
Palavras-chave: Crônica política; Ethos discursivo; Menção irônica.
Abstract: In search to weave reflections on the relation between identity, speech and society, it is proceeded, in
this research, to the analysis of the identity construction of the enunciator Arnaldo Jabor - a proeminente
columnist in the Brazilan media - at two turbulent moments of the national politics, due to the performance of
the PT, head of the federal government. More specifically, in this article, we lean on two texts of his authorship,
being one of them published in the Pornopolítica book, of 2006, and other produced, in the year of
2016, for the periodical printed matter O Globo. We examine the mentioned texts with the objective to focusthe
image that the enunciator projects exactly about himself by means of the produced speech, assuming the
constitution of an ethos ironic characteristically. In the scope of the analysis procedures, this work investigates,
in particular way, the ironic mention given by the use of the typographical resource of the quotations marks,
assuming it as constituent linguistic-discursive mark of the ironic presumption ethos of
Jabor. As support theoretical-methodological, we convoke, for the confection of the work, an
orientation based in the Discourse Semiolinguistic Analysis, of Patrick Charaudeau (2008), the one that
it conjugates the slight knowledge of ethos, specially from the aristotelian perspective retaken by Charaudeau
(2015), Maingueneau (2015) and Amossy (2005) and of irony, in conformity with Machado (2014), Charaudeau
(2011) and Maingueneau (2002). The results of the research point that the enunciator subject Arnaldo Jabor
projects, by the recurrent use of quotations marks, ethos undeniably ironic in chronicles about political themes.
With this work, we try to contribute for the discussion concerning the Brazilian political scene, in the recent
years, in face of the analysis and the reflection of the ironic mention by means of the use nothing innocent of
the quotations marks typographical resource.
504
Keywords: Chronicle politics; Discursive Ethos; Ironic mention.
INTRODUÇÃO
Sociedade, discurso e identidade: eis o ponto de partida para esta pesquisa‡, que se
acena segundo o desejo de refletir, em sentido amplo, sobre o cenário político brasileiro dos
anos de 2006 e 2016. Trata-se de dois períodos que espelham a política social petista em
dimensão nacional, uma vez que, nesses dois anos, os ex-presidentes Luís Inácio Lula da
Silva e Dilma Housseff estiveram, respectivamente, à frente do governo federal.
Tomando por base a história política recente do país – que testemunhou, de 2006 até
2016, a ascensão do Partido dos Trabalhadores, com a conquista de um segundo mandato pelo
presidente Lula, até a sua queda, com o impeachment da presidente Dilma – este trabalho
centra-se sobre a circulação de discursos voltados justamente para essa cena política
brasileira.
Em sentido mais restrito, esta pesquisa debruça-se sobre as encenações discursivas
flagradas no seio de duas crônicas produzidas pelo colunista Arnaldo Jabor acerca da temática
em tela: ―Viva a crise!” (2006) e “O golpe, o golpe, o golpe – O verdadeiro golpista foi o PT,
esse partido que nos desmanchou” (2016), publicadas, respectivamente, no livro
Pornopolítica e no jornal O Globo. Tal escolha encontra justificativa no fato de Jabor
produzir, nesse intervalo de tempo, crônicas que versavam, de forma supostamente irônica,
sobre a atuação do partido dos trabalhadores à frente do governo federal.
Essa percepção direcionou nosso olhar sobre o ethos do enunciador – correspondente à
imagem que o enunciador cria de si pelo fio do discurso – e acabou por delinear o objetivo de
nossa pesquisa. Assim, neste trabalho visamos investigar a construção identitária do sujeito
enunciador Arnaldo Jabor, nos dois textos supramencionados, com vistas a flagrar o potencial
ethos discursivo irônico projetado.
Para tanto, nos propomos a investigar, como objeto de estudo particular deste trabalho,
a menção irônica dada pelo emprego do recurso tipográfico das aspas. Esse recurso é
‡ Este trabalho é uma versão modificada e condensada da dissertação de mestrado “O golpe, o golpe, o golpe”:
entre ecos de protesto, a construção de um ethos irônico nas crônicas políticas de Arnaldo Jabor, escrita por
Jefferson Freitas dos Santos, sob orientação da professora Patricia Ferreira Neves Ribeiro, e defendida, na
Universidade Federal Fluminense, em fevereiro de 2018.
505
assumido, nesta pesquisa, como uma possível marca linguístico-discursiva constitutiva do
ethos de Jabor em crônicas que tratam sobre temas políticos. Já as aspas podem ser
concebidas como índices de ironia. Assim como outros sinais de pontuação, a exemplo das
reticências e do ponto de exclamação, as aspas, graficamente, servem, por excelência, para
sinalizar certo tom irônico.
Neste trabalho, a ironia, entendida como verdadeira estratégia argumentativa, será
tratada em conformidade com as proposições de Machado (2014), Charaudeau (2011) e
Maingueneau (2002). Além disso, dedicaremos uma parte do artigo para a exposição de outras
postulações teórico-metodológicas úteis à análise realizada, como as dadas no interior da
Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau (2008), que nos permite levar
em consideração a ideia de que qualquer manifestação linguageira verbal é passível de
apresentar marcas linguístico-discursivas reveladoras de intencionalidade discursiva do
enunciador no quadro de sua subjetividade, e as apresentadas em teorias sobre ethos advindas
dos estudos de Charaudeau (2015), Maingueneau (2015) e Amossy (2005). Para este trabalho,
consideraremos, principalmente, o pressuposto teórico de que o ethos se materializa pela
imagem construída de si pelo discurso, isto é, as marcas linguísticas deixadas no texto pelo
enunciador serão as pistas que podem deflagrar um possível ethos irônico do escritor Arnaldo
Jabor à luz dos textos que produz.
Diante disso, é válido ressaltar, entretanto, que já temos constituído um ethos prévio
do sujeito de identidade social Arnaldo Jabor. De acordo com os dados biográficos publicados
no blog do próprio escritor, encontramos previamente as seguintes considerações sobre ele:
Carioca nascido em 1940, filho de um oficial da Aeronáutica e uma dona de
casa, cineasta e jornalista Arnaldo Jabor já foi técnico de som, crítico de
teatro, roteirista e diretor de curtas e longas metragens. Formado no
ambiente do Cinema Novo, participou da segunda fase do movimento, que
buscava analisar a realidade nacional, inspirando-se no neorrealismo italiano
e na nouvelle vague francesa. Seu primeiro longa metragem foi o inovador
documentário Opinião Pública (1967), uma espécie de mosaico sobre como
o brasileiro olha sua própria realidade. Na década de 1990, por força das
circunstâncias ditadas pelo governo Fernando Collor de Mello, que sucateou
a produção cinematográfica nacional, Jabor foi obrigado a procurar novos
rumos e encontrou na imprensa o seu ganha-pão. Estreou como colunista de
O Globo no final de 1995 e mais tarde levou para a Rede Globo, no Jornal
Nacional, no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje e no
Fantástico e também para a Rádio CBN, o estilo irônico com que comenta os
fatos da atualidade brasileira. Seus dois últimos livros ―Amor É prosa, Sexo
É poesia‖ (Editora Objetiva, 2004) e ―Pornopolítica‖ (Editora Objetiva,
2006) se tornaram best-sellers instantâneos.
Abordando os mais variados temas (cinema, artes, sexualidade, política
nacional e internacional, economia, amor, filosofia, preconceito), suas
506
intervenções "apimentadas" na televisão e em suas colunas lhe renderam
admiradores e muitos críticos. (BIOGRAFIA. Disponível em:
<http://www.arnaldojabor.com.br/biografia#sthash.qaCUoHpZ.dpuf>.
Acesso: 02 abril 2017.)
Assim, Arnaldo Jabor é tido, na esfera jornalística, como um escritor cuja
―característica irônica‖ se manifesta devido à forma pela qual comenta os fatos da atualidade
brasileira. Portanto, no labor de investigarmos a maneira pela qual se constrói o ethos do
locutor, partimos também da hipótese de que a imagem discursiva do enunciador poderá
receber traços característicos do sujeito de identidade social, ou seja, do jornalista Arnaldo
Jabor, ocasionando então um jogo de espelhamento entre esses diferentes sujeitos, o social e o
discursivo.
Enfim, acreditamos que os pressupostos teóricos apresentados e os caminhos que serão
percorridos para o desenvolvimento deste trabalho nos auxiliarão em nosso objetivo de
confirmarmos que o sujeito enunciador Arnaldo Jabor projeta, pelo discurso, um ethos irônico
recorrente em suas crônicas que versam sobre temas políticos. Ainda que tenhamos
conhecimento sobre os traços reais de sua personalidade enquanto pessoa física, o que nos
interessa analisar é a maneira pela qual ele se projeta no discurso, ou seja, a forma que se
apresenta pela voz discursiva e não pelo que afirma ser.
Na seção seguinte, reservamos espaço para a abordagem de alguns pressupostos
teórico-metodológicos úteis ao tratamento analítico do corpus da pesquisa.
1- CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Sendo este um trabalho sobre ethos, apresentamos, como ponto de partida teórico, o
conceito de ethos delineado no Dicionário de Análise do Discurso:“Termo emprestado da
retórica antiga, o ethos [...] designa a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso
para exercer uma influência sobre seu alocutário‖. Retomada principalmente pela análise do
discurso, essa noção refere-se ―às modalidades verbais de apresentação de si na interação
verbal‖ (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p.220).
De acordo com Amossy, essa ―construção de uma imagem de si, peça principal da
máquina retórica, está fortemente ligada à enunciação‖ (AMOSSY, 2005, p. 10-11), ou seja,
está bastante atrelada ao locutor que coloca a língua em funcionamento. Assim, para capturar
o ethos, há de se analisar a inscrição do locutor e a construção da subjetividade na língua.
507
Ao analisarmos as duas crônicas componentes do corpus, partiremos da suposição de
que o ethos constituído de Arnaldo Jabor é atravessado pelo recurso argumentativo da ironia.
Sob essa hipótese, buscamos identificar como se constrói o ethos da voz enunciativa do texto
e não especificamente o do sujeito real Arnaldo Jabor, ainda que, implicitamente, saibamos
que poderá haver por trás da referida voz enunciativa marcas identitárias do próprio cronista
em consonância com a sua posição social e ideológica.
Com base nessa observação, referimo-nos à questão sobre o espelhamento do ethos,
haja vista que, conforme dito por Charaudeau (2015), o ethos pode se formar através de uma
dupla identidade: a social e a discursiva. Porém, a primeira poderá ser ocultada pelo
comportamento linguageiro do sujeito de ―papel‖. Entretanto, haverá possibilidade de o
discurso em si receber marcas (escapes) de uma identidade social. O espelhamento ocorre
quando esses escapes se cruzam entre as vozes do sujeito de identidade social e do sujeito de
identidade discursiva. Mas, só é possível deflagrar essas marcas a partir do momento em que
se conhece o ethos prévio do sujeito em análise.
Segundo Charaudeau e Maingueneau:
O ethos discursivo mantém uma relação estreita com a imagem prévia que o
auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz do
modo como seus alocutários o percebem. A representação da pessoa do
locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes denominada ethos prévio
ou pré-discursivo – está frequentemente no fundamento da imagem que ele
constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta consolidá-la, retificá-la,
retrabalhá-la ou atenuá-la. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p.
221).
Nesse sentido, o ethos prévio se refere à imagem que o coenunciador constrói do
enunciador, antes mesmo que este pronuncie algo. Assim, tendo como base, por exemplo, o
conhecimento prévio da maneira pela qual Arnaldo Jabor se movimenta no espaço social e do
teor das crônicas produzidas por ele, principalmente no que se refere ao plano da linguagem,
poderemos criar hipóteses sobre a imagem que se constrói, pelo fio do discurso, da voz
enunciativa de Jabor. Dessa forma, o ethos de um discurso resulta mesmo da interação (jogo
de espelhos) entre o ethos pré e discursivo, sendo esse flagrado segundo o que o enunciador
dá a ver e a entender, situado que está na aparência do ato de linguagem (CHARAUDEAU,
2015, p.114).
Além disso, a análise partirá também da perspectiva teórica semiolinguística, de base
comunicativa e enunciativa, instaurada por Charaudeau (2008), que pensa sobre os sujeitos no
quadro constitutivo de uma encenação da linguagem (à luz de um contrato comunicativo),
508
caracterizados como atores e/ou personagens do discurso, envolvidos na ―mise-en-scène‖
(encenação discursiva), não sendo, necessariamente, sujeitos reais, porém podem ser
personagens projetadas para representar o ―eu‖ que fala e o ―tu‖ com quem se fala.
Tratando-se de uma encenação discursiva, são previstos para a grande cena outros
sujeitos da comunicação propostos por Charaudeau (2008). Ele prevê a existência de dois
―eus‖ e dois ―tus‖. Como já fora dito, os sujeitos que compõem a ―mise-en-scène‖ podem ser
reais ou representações, ou seja, vozes projetadas que podem não ter relação necessária com
uma pessoa física. Dessa forma, temos: o Eu-comunicante (mentor real), o Eu-enunciador (eu
discursivo projetado), o Tu-destinatário (tu discursivo idealizado) e o Tu-interpretante
(interlocutor real). Ao estudar esses sujeitos que compõem a mise-en-scène, Charaudeau não
se interessa em investigar a construção do discurso de um sujeito real, mas sim das vozes que
são apresentadas pelo discurso. Então, seguindo este raciocínio teórico, não nos é interessante
saber se Jabor é um sujeito de personalidade irônica, porém analisar a maneira como ele, um
Eu-comunicante, apresenta a enunciação como expressando um Eu-enunciador irônico,
lembrando que a atribuição da estratégia da ironia recai sobre a voz do EUe e não sobre a do
EUc.
No que concerne à ironia, dentre tantas formas de focalizá-la, elegemos considerá-la
como estratégico fenômeno linguageiro que, transitando entre diferentes vozes ou sujeitos,
advém de provocação ou crítica oriunda de um sujeito comunicante e materializa-se pela
intencionalidade desse sujeito na fala do enunciador, estando assim ambos (comunicante e
enunciador) conjugados (MACHADO, 2007, p.173). Sob essa concretização, entrevemos uma
reunião de contrários: a ironia é o produto de uma normatividade consensual e,
concomitantemente, do que se insurge de um imaginário subjetivo do autor em seu processo
de semiotização do mundo. (MACHADO, 2007, p180).
Assim, a partir dessas noções iniciais, podemos, ainda que não tenhamos neste
momento uma análise concreta do ethos projetado nas crônicas de Arnaldo Jabor, depreender,
pelas leituras prévias, que o enunciador das crônicas focalizadas se comporta ironicamente,
com base, sobretudo, no uso de recursos gráficos no plano da expressão, como é o caso das
aspas.
Quanto ao uso das aspas, Charaudeau afirma que:
[...] na ironia o locutor deve fornecer ao receptor as pistas que lhe permitem
entender que o que deve ser entendido é o inverso do que é dito. Daí, os
sinais extras verbais (entonação, mimetismo), os comentários co-textuais
(comentários metalinguísticos, modificadores, distanciadores [aspas, "sic",
509
"suposto", tipografia] que permitem efetuar essa reversão ou conversão).
(CHARAUDEAU, 2011, pp. 9-43)
A partir deste escopo teórico, nos basearemos no recurso tipográfico das aspas para a
apreensão de um suposto ethos irônico delineado em textos de Jabor. Como já apresentado, o
corpus de análise deste trabalho é formado por duas crônicas, sendo uma extraída do livro
Pornopolítica (2006) e a outra do jornal O Globo, publicada no ano de 2016. Assim, partamos
para a análise.
2- O CORPUS SOB EXAME
Na crônica intitulada ―Viva a crise!‖, publicada no livro Pornopolítica, no ano de
2006, o enunciador Arnaldo Jabor apresenta-nos o ―lado bom da crise‖ econômica mundial de
2006 e como essa afeta o Brasil. Neste contexto, o olhar crítico do enunciador direciona-se
para a forma como o governo brasileiro em vigência – na época sob o comando do PT –
conduziu as suas ações para que o país não sofresse um impacto maior do que o esperado.
Então, no decorrer do texto, percebe-se que a preocupação maior do enunciador é a de
desmoralizar o partido, que estava sob o comando do ex-presidente Lula, no intuito de
mostrar que o plano de política progressista do governo não condizia com a realidade
econômica sob a qual o país estava vivendo na época. Desse modo, o enunciador atribui
declaradamente a Lula e a seus aliados a culpa pelo agravamento dos reflexos da crise
recaídos sobre o Brasil.
Do ponto de vista microestrutural, apontaremos a seguir dois fragmentos
correspondentes à categoria linguística elencada para análise, a fim de identificarmos o
possível ethos irônico do enunciador Arnaldo Jabor: (1) A crise acaba com a mitificação do
PT como o partido dos "puros" e (2) A crise ensina que ninguém é "revolucionário" ou
"herói" ou "comandante supremo" ou "companheiro"; as pessoas são narcisistas,
compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas, fracassadas, com problemas sexuais.
Em relação ao primeiro trecho, destacamos o emprego das aspas em torno do item
lexical ―puros‖, sugestivo da ideia de descrédito do governo petista, de maneira que este se
configura como principal responsável pelo quadro econômico em crise do país na época. O
não dito sobre puros é o dito implícito sobre um partido considerado impuro.
As aspas produzem, neste caso, o efeito de ironia a partir do momento em que o
enunciador tem a intenção de subverter o sentido da palavra em tela a fim de criticar o
510
governo. Ou seja, o não dito é uma maneira (in)direta de construção da imagem negativa que
o enunciador busca criar em relação ao PT.
Podemos citar também como exemplo, para reforçar a análise, um trecho extraído da
crônica ―Como era bom o nosso comunismo‖ (2006), que versa sobre a seguinte temática: a
defesa da ideia de que o governo petista, além de retroalimentar um espírito utópico
comunista, sobrevive dele. Então, a proposta é de desqualificar o governo a partir de seus
ideais utópicos. Ou seja, diz que o PT tem um sonho vaidoso de governo que não condiz com
a realidade. Vejamos o trecho: Nossa tarefa de comunistas era os infiltrar “em todos os
nichos da sociedade” para, de dentro, conquistar o poder. Exatamente como o PT está
fazendo hoje – empregando milhares de companheiros aguerridos e “puros” dentro dos
aparelhos do Estado. (JABOR, 2006, p.212)
Como no trecho (1), temos também a subversão irônica de sentido, implícita na
palavra ―puros‖. Quando o enunciador denomina os membros do PT como companheiros
“puros”, a palavra utilizada ativa, automaticamente, todo o imaginário social que temos
construído a respeito da atuação política do PT. Ou seja, nos apropriamos dos saberes de
crença (CHARAUDEAU, 2015), que fazem parte de certos sistemas de valores circulantes
em um dado grupo social, para acreditarmos que a denominação ―puros‖ refere-se à atuação
política do governo, cuja proposta voltava-se para assistência à camada popular do Brasil.
Neste contexto, podemos inferir a ideia de que a palavra ―puros‖ refere-se a políticos que não
são profissionais, em oposição àqueles entregues aos vícios do poder.
Retomando Machado (2007, p.180), ela afirma que a ironia se dá no ―jogo de conflitos
que é provocado pela exposição descritiva: ela é o resultado de uma visão normativa, imposta
pelo consenso social e, ao mesmo tempo, o reflexo do imaginário subjetivo do autor, em seu
processo de construção e apropriação do mundo‖.
Dessa forma, no trecho (1) em análise, temos em uma ponta o consenso social
(conhecimento prévio acerca do destinatário-interlocutor) sobre a proposta de atuação política
do PT, de um governo que trabalha em prol das classes mais pobres do país, e o ethos de
popularidade que o partido cria a partir dessa proposta. E, na outra ponta, o imaginário
subjetivo do enunciador acerca do governo. Essa subjetividade é instaurada através do uso das
aspas, responsável por produzir o efeito irônico no discurso.
Portanto, neste contexto, o jogo de conflitos que instaura a ironia ocorre a partir da
oposição entre os imaginários comuns compartilhados por parte da população brasileira, que
aprecia a atuação política do Partido dos Trabalhadores, e o processo de construção subjetiva
511
desses mesmos imaginários por parte do enunciador, porém com um olhar depreciativo, haja
vista que a palavra ―puros‖, introduzida por meio do recurso tipográfico das aspas, produz
efeito de sentido contrário, ou seja, é o mesmo que dizer que os companheiros integrantes do
PT são impuros. De certa forma, devido ao uso das aspas, o TU-destinatário vê-se obrigado a
reatualizar o sentido da palavra para manter a coerência textual, mesmo que não partilhe dos
mesmos imaginários do enunciador.
Retomando a análise da crônica pelo exame agora do segundo trecho – (2) A crise
ensina que ninguém é "revolucionário" ou "herói" ou "comandante supremo" ou
"companheiro"; as pessoas são narcisistas, compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas,
fracassadas, com problemas sexuais – verificamos que a ironia acontece a partir da
contradição entre as rotulações destinadas à esquerda do Brasil, figurada, neste caso, pelo
Partido dos Trabalhadores, e o desmonte dessas rotulações desencadeadas pela crise,
conforme a avaliação feita pela voz enunciativa.
Para depreendermos a ironia ocorrida neste trecho, devemos considerar que, com o
passar dos anos, desde a sua fundação, o PT procurou criar uma imagem (ethos) de fidelidade
às camadas populares brasileiras, tendo no centro dessas lutas um líder político que fala em
nome das classes menos favorecidas. Por isso, o rótulo de ―companheiro‖ adquirido pelo ex-
presidente Lula, por ter estado à frente da militância esquerdista desde a fundação do partido.
Trata-se de rótulo, comprometido no enunciado, que, devido ao uso das aspas, acaba por
distorcer a imagem de credibilidade – junto, sobretudo, às classes menos favorecidas –
construída ao longo dos anos de atuação política do ex-presidente.
Nesse sentido, as expressões utilizadas pelo enunciador estão a serviço justamente de
comprometer essa imagem, denotando a ideia de que o partido age a favor de seus interesses e
não dos da parcela minoritária a qual defende. Essa intenção se confirma quando o enunciador
faz uma avaliação depreciativa em relação às pessoas, dizendo que elas “são narcisistas,
compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas, fracassadas e com problemas sexuais”.
É válido ressaltar que o reconhecimento dessas rotulações só pode ser
operacionalizado, em nosso processo de leitura, pelo uso das aspas. Elas, neste contexto, são
as responsáveis por fazerem com que as expressões utilizadas pelo enunciador façam
referência a tais características depreciativas assemelhadas, na crônica, à esquerda. A ironia
ativada pelo emprego das aspas, assim, constitui-se a partir do momento em que esses rótulos
são utilizados com o intuito de criticar o governo em razão da crise financeira, e não de
agregar-lhe valores.
512
Os termos sob aspas, tanto no primeiro quanto no segundo trecho, não representam
uma criação inédita, pois o discurso que permeia a sociedade, pelo menos por quem apoia o
ex-presidente, é o que ecoa, justamente, dos sentidos das palavras empregadas. Portanto, o
enunciador vale-se da voz dos grupos que consideram Lula líder de um partido honrado, com
o intuito de se isentar da responsabilidade que pode recair sobre ele, ao denominar o ex-
presidente e os integrantes do partido como ―herói‖, ―companheiro‖, integrante do partido dos
―puros‖. Sobre o supracitado, retomamos Machado (2001, pp. 58-59) quando diz que ―o
macroato de linguagem que é a crônica é assim composto, grosso modo, pela presença da
ironia através de inclusões de vozes de outrem. (...) O cronista utiliza palavra de outrem para
nelas introduzir sua orientação própria, sua visão irônica‖.
Assim o faz o enunciador. Apropria-se de palavras de outrem (os grupos favoráveis a
Lula e ao PT) e, com o uso das aspas, introduz a sua visão irônica, ao deixar implícita,
sutilmente, a ideia de que de ―herói‖, por exemplo, Lula não tem nada, sendo apenas uma
máscara que ele veste, já que seus atos políticos parecem ter sido contra ele e não a favor. As
aspas são extremamente importantes para anunciar, antecipadamente, que as palavras estão ali
a serviço da crítica e/ou da chacota.
Passemos agora ao exame dos trechos que seguem, extraídos da crônica “O golpe, o
golpe, o golpe – O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos desmanchou‖ –
veiculada pelo Jornal O Globo (do dia 05 de julho de 2016) – e que, versando sobre o
processo de Impeachment sofrido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, trazem para o
cerne da discussão o fato de ela e de seus aliados acusarem a ilegalidade do processo sob a
pena de estarem sofrendo um golpe político. A partir daí, será possível estabelecermos
comparações entre os textos, o que nos ajudará a comprovar a nossa hipótese inicial sobre o
potencial ethos do enunciador, sobretudo quanto ao seu caráter irônico.
Seguem os trechos para análise: (3) Isso já poderia ser motivo para impedimento: ou
ela fez vista grossa para as roubalheiras da Petrobras (“oh... malfeitos toleráveis para a
„revolução‟ petista...”) ou por incompetência e negligência criminosa mesmo, ao não
examinar direito como “presidenta” do Conselho de Administração [...] e (4) É um golpe feio
a arrogante “presidenta” pedir sanções contra o Brasil a países vagabundos da Unasul
bolivariana... A presidenta do Brasil fala mal do Brasil no mundo todo. Pode?
Nesses dois trechos, o enunciador usa o termo “presidenta” e, ao evocar Dilma por
esse título, vale-se novamente do uso das aspas como recurso produtor de efeito de sentido
irônico. O uso das aspas subverte o sentido referencial do termo levando ao descrédito a
513
atuação de Dilma neste cargo, ao mesmo tempo em que isenta o enunciador da
responsabilidade de considerá-la assim ―presidenta‖, o que o vincularia à forma de Dilma ver
os fatos, uma vez que foi ela quem decretou o desejo de ser assim chamada.
Diante do trecho (3), o enunciador diz que Dilma é ―presidenta‖ do conselho de
administração e deveria por obrigação estar ciente da compra da refinaria. Assim, uma vez
que ela não tem o controle das decisões, que são tomadas à sua revelia, não terá então
competência para atuar no cargo de presidente. A ironia ocorre no momento em que a palavra
―presidenta‖ é utilizada como forma de conferir descrédito à atuação política de Dilma, sendo
o uso das aspas o responsável por demarcar esse efeito. Frente ao trecho (4), o enunciador
arma-se de adjetivos que denotam a sua visão negativa acerca das ações cometidas pela ex-
presidente e encerra as suas conclusões com uma pergunta retórica, colocando Dilma em uma
posição antiética e que não condiz com a postura de um presidente de um país, que é falar mal
da própria nação que governa.
Acerca do uso das aspas sobre a palavra presidenta, destacamos duas hipóteses
centrais. A primeira refere-se ao fato de Dilma ter ganhado destaque na mídia pela
incoerência de seus discursos, o que para muitos foi motivo de chacota. Então, utilizar a
palavra entre aspas é também uma forma de reforçar o estereótipo que fora criado acerca da
imagem dela, de ser uma pessoa desqualificada para o cargo, pois nem ao menos teria o
conhecimento básico sobre o uso da norma padrão da língua para preparar os seus discursos,
como fora acusada pela mídia em geral. A outra hipótese é referente ao aparente
comportamento misógino do enunciador, quando se refere à Dilma como ―presidenta‖. Ou
seja, é o mesmo que dizer que Dilma não tem competência suficiente para exercer o cargo de
presidente do Brasil por ser mulher. A ironia, dessa forma, instaura-se a partir do jogo de
oposição entre os imaginários que circulam na sociedade, de favorecimento à livre circulação
da mulher em qualquer esfera social e do pensamento retrógrado do enunciador ao conferir
descrédito à atuação política da ex-presidente pelo fato de ela ser mulher. A palavra
―presidenta‖, entre aspas, foi utilizada de maneira sutil, cujo sentido implícito apresenta teor
exclusivamente de crítica.
Sob o enquadramento da ―polifonia irônica‖ apresentada por Maingueneau (2002),
flagramos, na mesma cena discursiva, um sujeito real ―empírico‖, dotado de uma
intencionalidade, ou seja, um mentor, ao lado de um sujeito a quem o enunciado concede o
papel de encarnar uma encenação irônica pelo discurso. Em outras palavras, há, agora sob o
escopo da teoria semiolinguística do discurso, a presença de um EU-comunicante (mentor) e a
514
de um EU-enunciador (discursivo); no contexto da crônica, o Arnaldo Jabor de ―carne e osso‖
(comunicante) e o Arnaldo Jabor ―de papel‖ (enunciador).
Charaudeau (2011) diz que a ironia é colocada em cena através de uma relação
triangular. De um lado, temos um locutor-enunciador que sai em busca de um interlocutor-
destinatário ideal, com a perspectiva de que este se torne seu cúmplice para atingir um alvo.
Assim, no contexto das crônicas analisadas, o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma
Rousseff são os alvos a quem o locutor-enunciador pretende atingir.
Em esquema temos:
LOCUTOR-ENUNCIADOR INTERLOC. DESTINATÁRIO
ARNALDO JABOR LEITORES
ALVO PROJETADO
LULA/DILMA
Figura 1: Representação do dispositivo comunicativo irônico aplicado às crônicas estudadas.
Dessa forma, temos nos trechos analisados, um enunciador irônico, porque finge
querer nos passar uma sensação, mas na verdade a sua intenção é outra, a daquele que ironiza
e que quase nunca age por acaso, pois a ironia funciona como um mecanismo de
argumentação que busca dizer o contrário. Ainda que o efeito de ironia esteja implícito, é
possível encontrarmos marcas de subjetividade do enunciador, pois a ironia é utilizada
intencionalmente. A ironia não é criada por escapes, pois na arquitetura do seu texto o
enunciador escolhe ser irônico.
Nas palavras de Machado:
Escapar da subjetividade pela ironia... eis um grande engano que, no entanto
foi mantido durante muito tempo na leitura/interpretação de discursos
escritos: os autores que colocavam a ironia como figura de linguagem ou ato
de palavra com força comunicativa e argumentativa eram considerados como
que dotados de um ―olhar neutro‖, ―distanciado‖ em relação aos fatos que
narravam; em outras palavras: não ―entravam no texto‖, encarando com
frieza suas personagens e os problemas que as envolviam. Eram autores que
escreviam de modo objetivo. (...) Não, o ironista não é frio nem distante, ele
é subjetivo, porque escolheu a ironia como meio de comunicação, como uma
estratégia, em meio a tantas outras. A ironia funciona então como uma
espécie de argumentação ―ao contrário‖. ―Fingindo‖ querer nos passar uma
sensação, o ironista acaba passando outra. (MACHADO, 2007, p. 170-175)
515
As duas crônicas escolhidas para esta análise mais detalhada demarcam dois
momentos de extrema importância na história política e econômica do nosso país. O legado
do PT no poder resulta de um governo cuja duração foi de treze anos. No ano de 2006, época
em que Lula é reeleito pelo voto popular, o Partido dos Trabalhadores estava em seu auge de
atuação política, pois foi o período em que o ex-presidente faz a retomada da atividade
econômica do país (ainda que estivéssemos no início de uma crise econômica mundial) e
investe em políticas públicas que visavam atender às necessidades mais básicas da camada
popular.
Todavia, enquanto em 2006, o PT vivia o seu momento de glória, em 2016, passa a
viver a derrota, com a queda da ex-presidente Dilma Rousseff. Acusada por crime de
responsabilidade fiscal, Dilma encerra os treze anos ininterruptos de governo do PT na
presidência da república.
Então, a análise dessas crônicas demarca o recorte temporal de atuação do governo
petista. Em uma ponta, a ascensão e, na outra, a queda. Escolhê-las foi a maneira encontrada
de investigar como o enunciador se comporta discursivamente em momentos distintos, ou
seja, em crônicas que demarcam um intervalo de dez anos. Assim, buscamos constatar que,
durante o período de uma década, o enunciador se apresenta discursivamente de uma única
forma, sendo irônico.
Dessa forma, acreditando que as categorias linguísticas elencadas para análise das
duas crônicas em tela tenham sido eficazes para a comprovação da nossa hipótese inicial
quanto ao ethos do enunciador, partamos, então, para as considerações finais desta pesquisa.
3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na busca por realizar uma pesquisa que traçasse relações entre sociedade, discurso e
identidade, debruçamo-nos sobre duas crônicas opinativas, de cunho político, escritas por
Arnaldo Jabor. Mais especificamente, vislumbramos, neste trabalho, contribuir para uma
reflexão acerca do cenário político brasileiro, circunscrito aos anos de 2006 e 2016, pelo viés
do exame da identidade discursiva projetada por Jabor em dois textos por ele assinados e cuja
temática comum aponta para a atuação do partido dos trabalhadores frente ao governo federal.
Em seus textos, inegavelmente, flagramos críticas fervorosas à gestão petista, com
apoio em vozes que denunciavam desmandos do referido governo. As vozes postas em cena,
516
discursivamente, por Arnaldo Jabor, foram objeto de investigação mais amplo neste trabalho.
Interessamo-nos em investigar a maneira pela qual o enunciador Jabor foi se constituindo, nas
crônicas selecionadas, pelo fio do discurso. Em outros termos, de modo mais específico,
olhamos para o ethos projetado por Jabor no tocante ao emprego de recorrente recurso
gráfico: as aspas.
Pela focalização desse frequente recurso tipográfico no corpus em tela, esperávamos
delinear uma identidade discursiva irônica para o enunciador Arnaldo Jabor, correspondente à
sua identidade social. Sendo assim, no percurso da pesquisa, apoiamo-nos em pressupostos
amplos ofertados pela Análise Semiolinguística do Discurso, segundo os quais relacionamos
os fatos de linguagem a fenômenos psicológicos e sociais, considerando o enunciador um
sujeito psico-sócio-linguageiro, ou seja, ainda que seja um ―ser de fala‖ poderá também
receber influência da esfera ―social‖, alterando então traços de sua personalidade. Além disso,
levamos em consideração a ideia de que qualquer manifestação linguageira verbal é passível
de apresentar marcas linguístico-discursivas, reveladoras de intencionalidade discursiva do
enunciador e de sua subjetividade.
Como já mencionado, debruçamo-nos sobre as aspas na busca por confirmar a suposta
identidade discursiva irônica do enunciador. Seguindo, sobretudo, a concepção de
Maingueneau (2002), atestamos ser o recurso gráfico das aspas uma forma de o enunciador
deixar uma lacuna aberta em seu próprio discurso, cabendo ao Tu-destinatário fazer o
preenchimento do vazio interpretativo. Dessa forma, observamos que todos os termos que são
utilizados com o recurso das aspas, nas crônicas analisadas, possuem efeito contrário ao seu
sentido original. Ou seja, preenchemos o vazio interpretativo relacionado ao contexto da
temática como um caso de uso da ironia como estratégia argumentativa. O enunciador, ao
usar termos como ―presidenta‖, por exemplo, não tem a intenção de reconhecer o potencial da
ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, mas desqualificá-la diante do cargo por ser mulher
ou por achar que ela não tem competência para tal. Justamente, a partir daí, a ironia emerge
pela subversão do sentido original da palavra e torna-se argumento favorável às teses do
enunciador.
Essa análise confirma a consideração advinda de uma proposta teórica delineada por
Charaudeau (2011) acerca da relação triangular em que a ironia se interpõe. Retomando esse
aspecto teórico, ele afirma que, nessa relação triangular, o locutor se dirige a um destinatário
ideal (cúmplice), convidando-o a ir em direção a um determinado alvo (vítima). No contexto
das crônicas analisadas, Lula e Dilma Rousseff – metonimicamente – são os alvos principais a
517
quem o locutor se dirige. A estratégia da ironia torna-se, sob esse enquadramento, um
argumento nada inocente para criticar o governo dos ex-presidentes, sendo utilizada de
maneira pensada e articulada com o propósito de reprovação.
A partir das análises do corpus, concluímos, uma vez mais, que as aspas são
instrumentos de ação e de intencionalidade, podendo ser a ironia produtora de inegável efeito
argumentativo estratégico. Nesse sentido, ela é utilizada intencionalmente, ou seja, na
arquitetura do texto, a ironia é posta na cena discursiva de maneira nada inocente, porém de
forma planejada com o intuito de criticar e/ou ferir um alvo.
Com este trabalho, procuramos, enfim, contribuir para a discussão acerca do cenário
político brasileiro nos últimos anos em face da análise e da reflexão da menção irônica por
meio do uso do recurso tipográfico das aspas.
REFERÊNCIAS
AMOSSY, Ruth (org). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo:
Contexto, 2005.
BIOGRAFIA. Disponível em:
<http://www.arnaldojabor.com.br/biografia#sthash.qaCUoHpZ.dpuf>. Acesso em: 02 abril
2017.
CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. São Paulo:
Contexto, 2008.
______. Identidade social e identidade discursiva, o fundamento da competência
comunicacional. In: PIETROLUONGO, Márcia. (Org.) O trabalho da tradução. Rio de
Janeiro: Contra Capa, 2009, p. 309-326.
______. Des catégories pour l‘humour. Précisions, rectifications, compléments. In: VIVERO,
Ma. D. (dir.). Humour et crises sociales. Regards croisés France-Espagne. Paris:
L‘Harmattan, 2011, p.9-43.
______. Discurso político. São Paulo: Contexto, 2015.
______. Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. São
Paulo: Contexto, 2016.
JABOR, Arnaldo. Pornopolítica: paixões e taras na vida brasileira. Rio de Janeiro: Objetiva,
2006.
______. O GOLPE, O GOLPE, O GOLPE – O VERDADEIRO GOLPISTA FOI O PT, ESSE
PARTIDO QUE NOS DESMANCHOU. O Globo, Rio de Janeiro, 05 jul.2016. Disponível
em: <http://oglobo.globo.com/cultura/o-golpe-golpe-golpe-19644066#ixzz4NCEXpHjq>.
Acesso em: 05 jul. 2016.
518
MACHADO, Ida Lúcia. Uma teoria de análise do discurso: a Semiolinguística. In:
MACHADO, Ida Lúcia; MARI, Hugo; MELLO, Renato de. (Orgs.). Análise do discurso:
fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Núcleo de Análise do Discurso, FALE/UFMG, 2001,
p.39-62.
______. Emoções, ironia, AD: breve estudo de um discurso literário. In: MACHADO, Ida
Lúcia; MENEZES, Wander; MENDES, Emília. (Orgs.). As emoções no discurso. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2007, p.169-181.
______. A ironia como estratégia comunicativa e argumentativa. Bakhtiniana, São Paulo,
v.9, n.1, p.108-128, jan./jul. 2014.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. Tradução de Cecília P.
de Souza-e-Silva, Décio da Rocha. São Paulo: Cortez, 2002.
______. Dominique. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana
(Org.). Ethos discursivo. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015. p.11-30.
ANÁLISES DIACRÔNICAS DE DOIS FENÔMENOS ORAIS PARA O ESTUDO DO
RITMO DO FRANCÊS FALADO NUM GRUPO RITMICO PORTUGUÊS
Rudy Kohwer (UFGD)
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo comparativo entre a língua francesa e portuguesa, cujo
objetivo é analisar comparativamente dois fenômenos linguístico-orais do sistema estilístico do ritmo
da língua falada, presente no constituinte sintático francês pendant ce temps-là e na sua tradução
portuguesa brasileira enquanto isso. Para tanto, elegeu-se como objeto o romance Voyage au bout de
la nuit, publicado em 1932 na França por Louis-Ferdinand Céline, e sua versão em português, Viagem
ao fim da noite, traduzida por Rosa Freire d'Aguiar. As análises estão submetidas, principalmente, aos
estudos da fonética histórica francesa (ZINK, 1986) e portuguesa de Portugal (GONÇALVES
VIANA, 1902). Para esta exposição, apresenta-se a letra e instável francesa, observando sua tradução
pelo meio do ditongo do sândi vocálico externo português brasileiro, e analisam-se o linguístico e a
oralidade dos dados, tomando como base o programa da literatura francesa da Idade Média e a
gramática histórica da língua portuguesa desenvolvida por José Pereira da Silva. Espera-se que os
resultados contribuam para atingir a uma dupla finalidade: a) colaborar com a fonética histórica
comparativa, ampliando seu escopo teórico-metodológico, de modo particular em relação aos estudos
da gramática histórica e da literatura antiga; b) auxiliar na divulgação deste estudo comparativo do
fenômeno francês.
Palavras-chave: Oralidade. Fonética. História.
ABSTRAT: This article presents a comparative study between French and Portuguese languages, and
its purpose is to comparatively analyze two linguistic-oral phenomena of the stylistic system of the
rhythm within spoken language, present in the French syntactic component pendant ce temps-là and in
its translation to the Brazilian Portuguese enquanto isso. In this regard, the novel Voyage au bout de la
nuit, published in 1932 in France by Louis-Ferdinand Céline, and its Portuguese version, Viajem ao
519
Fim da Noite translated by Rosa Freire d'Aguiar, was selected as the study object. The analyzes are
mainly submitted to the studies of French historical phonetics (ZINK, 1986) and Portuguese of
Portugal (GONÇALVES VIANA, 1902). For this study, the unstable French letter e is presented,
observing its translation by the diphthong of the Brazilian Portuguese external vowel sândi, the
linguistic and the orality of the data are analyzed, having as base the French Literature of the Middle
Age program and the historical grammar of the Portuguese language developed by José Pereira da
Silva. It is hoped that the results can contribute in two aspects: a) to collaborate with comparative
historical phonetics, by expanding its theoretical-methodological scope, especially in relation to
studies of historical grammar and ancient literature; b) assist in the dissemination of this comparative
study of the French phenomenon.
Key words: Orality. Phonetics. History.
INTRODUÇÃO
Neste artigo, aborda-se dois fenômenos fonéticos em nível diacrônico dos idiomas, primeiro,
francês para a formação da letra e instável marcada em negrito no pronome demonstrativo
simples [ce], o qual é a unidade lexical inicial do constituinte sintático [ce temps], e, segundo,
português brasileiro para a composição de um dos três tipos de sândi vocálico externo
português brasileiro, isto é, do ditongo na fronteira da sílaba final [to], marcada em negrito na
conjunção subordinativa temporal [enquanto], com a sílaba inicial [is], marcada em negrito no
pronome demonstrativo neutro [isso], o qual é posposto à unidade lexical [enquanto]. O
seguinte constituinte sintático é o em análise e mostra sua estrutura sintática: [enquanto /
isso]. A terminologia empregada a respeito das unidades lexicais e sílabas em análises, é uma
barra oblíqua que define a fronteira entre duas sílabas ou unidades lexicais e dois crochês que
as enquadram. E a respeito das transcrições fonéticas, os fonemas são entre duas barras
oblíquas. O seguinte exemplo o mostra quanto ao fonema da letra e instável: /ə/. Embora
ambos os idiomas se formassem em regiões distintas, este texto informa que o ditongo
português brasileiro, primeiro, se manifesta pronunciando o constituinte sintático [enquanto
isso], o qual é a tradução do constituinte sintático francês [pendant ce temps-là] e em que se
constata o efeito da letra e instável quando é falado, e, segundo, oportunizou a tradução com
fidelidade da duração de fala francesa, isto é, da originalidade rítmica do francês falado. Por
fim, é numa perspectiva histórica de ambas as línguas que sobressaiam os aspectos
linguísticos comuns, a saber, o seguinte desenvolvimento resume brevemente os motivos
político-linguísticos da origem de uma mesma evolução, isto é, do latim vulgar ou popular de
Roma, o qual era falado pelos romanos da região do Lácio na Itália. Neste artigo, pelo motivo
de as análises tratarem da língua oral, por conseguinte, diferenciar o latim clássico (sermo
520
urbanus) do vulgar (sermo vulgaris) é relevante: ―Uma língua tem dois empregos distintos: o
literário, quase sempre escrito, usado pelos artistas da palavra e pela sociedade culta,
difundido nas escolas e nas academias – e o popular, falado quase sempre, de que se serve o
povo despreocupado e inculto‖ (SILVA NETO, 1976, apud PEREIRA DA SILVA, 2010, p.
34).
A respeito da língua francesa, a extensão do latim vulgar se iniciou em 50 a.C., ou melhor, a
partir da conquista da Gália por César com sua política de extensão territorial, a qual se
finalizou no século V, ou seja, no início da Idade Média marcado pela queda do Império
Romano do Ocidente em 476 d.C. De um ponto de vista geográfico-linguístico, a
romanização da Gália se originou na atual Provença da França, pois, era província romana dos
romanos, cujos soldados terminaram por colonizar a Gália composta dos povos gauleses
falando a língua celta, a qual, em suma, romanizou-se pela imposição dos costumes
linguísticos dos romanos.
E quanto ao idioma português de Portugal, foi até a Península Ibérica que a romanização se
estendeu no século III. O objetivo inicial da invasão dos soldados romanos era defender os
povos iberos e fênicos sofrendo dos ataques cartagineses durante a segunda guerra púnica,
mas, a final, a conquista não foi apenas político-militar, mas também linguístico-cultural pela
imposição do latim vulgar.
Por fim, após a total romanização em ambos os territórios, surgiu a queda do Império Romano
do Ocidente em 476 d.C. Os merovíngios ou francos, os normandos, entre outros, invadiram a
Gália, daí o nascimento da maiúscula e da caligrafia merovíngia. Os visigóticos invadiram a
Península Ibérica, assim, apareceu a caligrafia visigótica. Por conseguinte, é pelos povos
bárbaros germânicos que a cursiva romana sofreu modificações caligráficas, mas também em
nível do sistema morfológico, sintático e fonético da língua. Em suma, essas transformações
são a consequência da aparição das línguas romanço francês na Gália e romanço lusitano na
Península Ibérica. Estes dois estágios intermediários entre o latim e, respectivamente, o antigo
francês e o antigo português de Portugal (galego-romano), mostram semelhanças em nível da
composição morfológica, por exemplo, da palavra romanço, isto é, da sua raiz etimológica
rom, a qual é de origem latina e é marcada em negrito nas seguintes unidades lexicais:
Romanus em latim que significa Romano em português de Portugal moderno e Romain em
francês moderno. No entanto, observam-se dissemelhanças morfológicas em nível de seus
sufixos, os quais são sublinhados. E, no étimo latino [inquantu], o qual formou a unidade
lexical portuguesa moderna [enquanto], constata-se de o prefixo in e do sufixo u, marcados
521
em negrito em [inquantu], serem diferentes de o prefixo en e do sufixo o, marcados em
negrito na unidade lexical portuguesa de Portugal [enquanto]. São os metaplasmos ou as
mudanças de formas fonéticas e morfológicas as responsáveis, do que trata a segunda parte
deste artigo, isto é, e de um ponto de vista diacrônico do idioma português, da origem e da
formação do ditongo do sândi vocálico externo. E, inicia-se o desenvolvimento, a respeito da
letra e instável francesa, pela primeira parte.
1 Origem e desenvolvimento da letra e instável francesa
A respeito da localização da letra e instável francesa no constituinte sintático [pendant
ce temps-là], a qual se transcreve pelo meio do fonema /ə/, encontra-se marcada em negrito no
referido constituinte sintático. Neste estudo, para ter uma relação com a língua oral bem como
a originalidade rítmica do francês, melhor é falar de grupo rítmico em vez de constituinte
sintático, entretanto, usam-se ambos os termos na medida em que é a escrita que explica o
fenômeno oral e instável, o qual se restringe, em suma, às sílabas [ce] e [temps], com as
transcrições fonéticas /se/ a respeito da unidade lexical [ce] isolada ou /sə/ quando é ligada à
transcrição fonética /tã/ da sílaba [temps]. As sílabas são marcadas em negrito em [ce temps].
Em nível da tradução interlíngua do grupo rítmico francês [pendant ctemps-là], em outros
termos, da conservação da duração de fala na tradução [enquantisso], a experiência de traduzir
literalmente o grupo rítmico francês se afirmou ser uma tentativa obsoleta, já que o número de
sílabas na tradução literal [durante este tempo] é de sete, separadas com hífen [du-ran-te-es-
te-tem-po], e de cinco [pen-dant-ce-temps-là] no constituinte sintático francês [pendant ce
temps-là].
É com base a fonética histórica do francês (ZINK, 2016) e o programa da literatura
francesa da Idade Média (LAGARDE & MICHARD, 1965), que se iniciam as análises a
partir de um verso prelevado no texto a Canção de Roland da epopeia das Canções de Gestos.
A escolha de um texto destinado a ser lido a voz alta é óbvia, pois, neste artigo, trata-se de um
fenômeno da oralidade, mas também, pelo motivo de a Canção de Roland, primeiro, ser
mencionada como a origem do gênero literário romance, os
[...] indivíduos que reescrevem vão até retomar as antigas Canções,
amplificando alguns trechos, ―enriquecendo-os‖ sem vergonha de
desenvolvimentos retóricos de seu cru. Assim, a morta da Bela Aude, a qual
na Canção de Roland ocupa 33 versos, é desenvolvida em 800 versos por
um indivíduo do século XII que reescreve. No século XV, nossas epopeias,
cada vez mais empapadas e destinadas unicamente à leitura, são colocadas
522
em prosa e constituem ROMANCES (LAGARDE; MICHARD, 1965, p. 2,
tradução nossa).
E, segundo, ser escrita em dialeto anglo-normando: ―Nós a conhecemos, desde 1837, pela
publicação do manuscrito de Oxford, escrito acerca de 1170. [...]. A obra que chegou até nós,
é em dialeto anglo-normando‖ (Ibid., p. 3, tradução nossa). Este dialeto, que tem sua origem
do latim de Roma, foi alterado pelos bárbaros germânicos, os quais trouxeram a maiúscula
merovíngia durante a conquista da Inglaterra em 1066 d.C. (século XI). É o momento em que
foi escrita a Canção de Roland. Pouco depois, a maiúscula merovíngia foi simplificada pelos
monges copistas, entre outros, pelo abade Alcuíno do Mosteiro de York na Inglaterra, o qual
estabeleceu a separação das unidades lexicais pelo meio de um espaço, a saber, foi a aparição
da caligrafia e da minúscula carolíngia sob as ordens de Carlos Magno.
A Canção de Roland foi redigida para ser lida a voz alta, ―esses poemas, sobretudo destinados
à leitura a partir do século XIII [...]‖ (Ibid., p. 1, tradução nossa), eram recitados ―[...], de
castelo a castelo, sobre as praças, no recinto da feira, [...]‖ (Ibid., p. 1, tradução nossa).
Embora alguns romancistas e poetas se o permitam, convém mencionar que a escrita francesa
de hoje considera agramatical o gesto de omitir a letra e instável, no entanto, na fala,
continua-se a produção dessa articulação particular, a qual omite a letra e instável, pois, é
fenômeno ou mecanismo natural no funcionamento do aparelho vocálico da criança em
aquisição do idioma francês como língua materna. No seguinte verso prelevado na Canção de
Roland (Ibid., p. 24), observa-se a consequência da letra e instável a partir da escrita do século
XI d.C. O fenômeno é na fronteira, marcada por uma barra oblíqua, entre as respectivas
sílabas marcadas em negrito.
- Nem / fesis mal ne jo nel te forsfis.
Observa-se no verso em dialeto anglo-normando que a letra e instável não aparece, a saber, a
ausência de pausa na fronteira entre as sílabas [nem] e [fe] produz a seguinte articulação:
[nemfe]. Eis, a origem da instabilidade da letra e, em outros termos, de um ritmo falado
diferente que se tivesse uma interrupção de fala entre ambas as referidas sílabas. A respeito do
francês falado moderno ou do ritmo do francês falado de hoje, no entanto, fala-se de
ressilabação no idioma oral, pois, na escrita, a presença da letra e instável é obrigatória, o
seguinte constituinte sintático o mostra: [ce temps]. E, a ressilabação na língua oral se observa
no seguinte grupo rítmico: [ctemps]. O resultado da ressilabação é que uma sílaba desaparece
523
na língua oral, a saber, fica apenas a sílaba [ctemps]. Sua representação fonética é /stã/. Essa
ressilabação devido à letra e instável, o justifica e o explica a tradução intralíngua do verso
(Ibid., p. 24) da Canção de Roland em paralelo com o constituinte sintático [ce temps]. O
fenômeno escrito é na fronteira marcada por uma barra oblíqua entre as sílabas [me] e [fe], e
[ce] e [temps], as quais são marcadas em negrito.
- Tu ne me / fis jamais de mal, et jamais je [...].
- Dans les profondeurs, pendant ce / temps-là, [...].
É voltando ao dialeto anglo-normando que se iniciam as explicações a respeito da presença
obrigatória da letra e instável na escrita francesa de hoje. As formas morfológicas francesas
me, te, se e le se apoiaram sobre a palavra que lhes estava anteposta. No verso anterior da
Canção de Roland traduzido em francês moderno, as unidades lexicais [ne] e [me],
sublinhadas, eram compostas por aglutinação (com alteração de elementos formadores da
palavra) no verso em dialeto anglo-normando, assim, escreviam-se [nem] em anglo-
normando, o que mostra a queda da letra e instável na escrita. Primeiro, essa composição por
aglutinação, em nível da morfologia da palavra, justifica que as modificações sobre a
caligrafia e a maiúscula merovíngia, a fim de formar a caligrafia e a minúscula carolíngia, não
eram totais e, segundo, mostra que a língua francesa evoluiu, pois, no presente, há um espaço
entre as unidades lexicais [ne] e [me]. Para concluir, essa volta ao dialeto anglo-normando
mostra uma dupla origem, isto é, uma presença obrigatória da letra e instável na escrita
francesa de hoje e uma omissão desta no atual francês falado ou oral.
Continua-se considerando a explicação da duração de fala não palavra por palavra ou sílaba
por sílaba, mas pelo grupo rítmico que considera os sons das línguas ou os fonemas. Embora
apareça na tabela dos fonemas vocálicos da Gramática Metódica do francês (RIEGEL;
PELLAT; RIOUL, 2016, p. 78) e representada pelo símbolo ø, a vogal e instável,
representada pelo fonema vocálico /ə/ ou às vezes /ø/, foi esquecida voluntariamente na tabela
1 (porém, é marcada entre parênteses para referenciar a explicação do referido fenômeno),
pois, quando é instável, não é considerada vogal, nunca produz uma sílaba acentuada e nunca
aparece em sílaba acentuada no triangulo vocálico acústico, o qual corresponde à repartição
dos pontes de articulação quando há vogais tônicas nas sílabas. A seguinte tabela comparativa
identifica foneticamente, à esquerda nas colunas, os fonemas consonânticos e vocálicos da
língua francesa de hoje, e com base na Gramática Metódica do Francês (2016), e, à direita nas
524
mesmas colunas, os fonemas consonânticos e vocálicos do idioma português brasileiro de
hoje, e com base na Gramática escolar da Língua Portuguesa (2010).
Tabela 1 – Organização comparativa dos fonemas franceses e portugueses brasileiros
FONEMAS DA LÍNGUA FRANCESA E PORTUGUESA BRASILEIRA
AS VOGAIS
anteriores anteriores/labializadas posteriores (labializadas)
Orais:
fechadas
mi-fechadas
mi-abertas
abertas
i e / i
e
ɛ
а ɛ
y
(ø ou ə)
œ
a
u o / u
o
ɔ
ɑ ɔ
Nasais:
mi-abertas
abertas
fechada
ɛ
/ ĩ
œ
ã
ã
ɔ
õ /
AS CONSOANTES
OCLUSIVAS bilabiais dentais palatais/velares
surdas
sonoras
nasais
p p
b b
m m
t t
d d
n n
k k
g g
ր ր
CONSTRICTIVAS labiodentais alveolares pré-palatais/bilabiais
surdas
sonoras
f f
v v
s s
z z
ʃ ʃ
ʒ ʒ
alveolares Dorso-uvulares
laterais
vibrantes
l l
r
ʀ
Semiconsoantes Palatais
palatais/dentais velares
j ƛ ɥ w R
Fonte: conteúdo elaborado pelo autor e a partir da Gramática Metódica do francês (RIEGEL; PELLAT;
RIOUL, 2016) e da Gramática escolar da Língua Portuguesa (BECHARA, 2010).
Convém lembrar que a pronuncia da letra e instável pode se produzir de acordo com a
natureza das consoantes do ambiente silábico em questão, a escada maior, do grupo rítmico.
525
Por exemplo, isolando a unidade lexical [ce] com a representação fonética /se/, a vogal [e],
marcada em negrito e representada pelo fonema /e/ (ver a tabela 1), é dependente da
consoante [c], sublinhada na referida unidade lexical e representada pelo fonema /s/. Em
suma, a posição da consoante [c] lhe confere uma natureza explosiva e seu valor constritivo
surdo, com o ponto de articulação alveolar, faz que a letra e produz uma sílaba acentuada, a
saber, a vogal e é crescente em nível da tensão articulatória. Para concluir, quando a letra e
não é instável, por conseguinte, tônica na unidade lexical [ce] isolada, o resultado é que se
forma o perfil silábico CV (consonante mais vogal), cujo pico de apertura ou sonoridade é a
vogal e estável. Todavia, convém voltar ao grupo rítmico [ctemps], isto é, à letra e instável
pelo motivo de a unidade lexical [ce], neste trabalho, ser considerada no conjunto sintático [ce
temps].
A sílaba [temps], da unidade lexical [temps] e com a representação fonética /tã/, possui o
perfil silábico CV, em suma, o mesmo perfil que a unidade lexical [ce] isolada e podendo se
explicar da mesma forma que a da letra e estável. Na escrita ou no constituinte sintático [ce
temps], por conseguinte, descobre-se o perfil silábico CV CV, no entanto, na língua francesa
oral ou falada, é o perfil silábico CCV que aparece, pelo motivo de a letra e, com a
representação fonética /ə/, cair ou ser omitida, ou instável. Continua-se a conclusão isolando
novamente a unidade lexical [ce], a qual possui a transcrição fonética /se/ quando é isolada.
Agora, o objetivo é final, isto é, o de atingir a medida em segunda da duração de fala do grupo
rítmico [pendant ctemps-là]. De acordo com a tabela 1, o fonema vocálico /e/ é uma vogal
oral com o valor mi-fechado e com o lugar ou ponto de articulação anterior, a saber, a forma
ou a posição dos lábios não precisa de ser arredonda pronunciando a letra [e] ou o som de seu
fonema /e/, pois, o ar vai pelo interior da boca, só uma parte sai, isto é o seu valor mi-fechado.
E seu grau de apertura é fechado, a saber, não se produz ressonância nasal, neste sentido, não
há alongamento de pronuncia ou de som. Ao invés, quando a letra [e] é considerada no
conjunto [ce], a presença da consoante constritiva surda [c], em posição adjacente à vogal [e]
e com o lugar de articulação alveolar, faz que o fonema /e/ da vogal [e] adquire um novo lugar
de articulação, a saber, esta vogal se torna anterior/labializada. Este novo ponto de articulação
significa que o seu som se aproxima daquele do fonema /œ/, o qual tem a representação
fonética /œ/ na tabela 1 e na seguinte citação. Aproximando-se, fala-se de este fonema /e/ ser
o som intermediário entre o fonema /ə/ ou a letra e instável e o fonema vocálico oral mi-
aberto anterior/labializado /œ/.
526
Na realidade, quando é pronunciado, não é distinto de /œ/, isto é, que
corresponde a um som intermediário entre /ø/ e /œ/: mais especificamente,
em sílaba não-acentuada aberta, a oposição entre esses dois fonemas é
neutralizada (2.2) ao aproveitamento desse som meio; e é, portanto,
foneticamente integrado à série (RIEGEL; PELLAT; RIOUL, 2016, p. 80,
tradução nossa).
A palavra ―série‖, mencionada na citação anterior, corresponde à classificação do fonema /e/
como fonema acentuado, ou seja, ao seu novo lugar ou ponto de articulação que é
anterior/labializado. Este novo lugar produz o alongamento da pronuncia da sílaba [ce], com a
representação fonética /se/. Em suma, o fonema consonântico /s/ labializou o fonema /ə/, o
qual, portanto, tornou-se /e/. A estrutura articulatória se arredondou, a saber, há adjunção de
uma ressonância labial, isto é, há uma duração de alongamento três vezes mais longa que se
não tivesse adjunção ou saída de ar. Essa noção de duração volta para dizer que a pronuncia
da sílaba [ce] isolada ou do pronome demonstrativo [ce] isolado, é de 30 centésimos de
segunda, em vez de 10 para a pronuncia da letra [e] isolada.
Em francês, num grupo rítmico, a última sílaba da última unidade lexical do grupo rítmico é
sempre acentuada, a saber, sua pronuncia é de 30 centésimos de segunda. E, quando uma
palavra francesa possui uma consoante não pronunciada como última letra na sílaba, a sílaba é
também acentuada, por conseguinte, com uma pronuncia de 30 centésimos de segunda. É o
caso de todas as palavras no grupo rítmico [pendant ctemps-là], o qual tem a seguinte
representação fonética: /pãdãstãlɑ/. São marcadas em negrito todas as sílabas, em suma, são
quatro com duração de pronuncia de 30 centésimos de segunda. Este resultado justifica a
originalidade rítmica do francês falado, ou melhor, uma estruturação silábica CV CV CCV
CV no grupo rítmico em análise: ―essa estruturação silábica é um fator importante da
constituição do ritmo em francês‖ (PAGEL; MADELENI; WIOLAND, 2012, p. 69, tradução
nossa). E, a língua francesa se fala em palavras fonéticas, pelo motivo de este idioma não
possuir acentos lexicais. Isso faz que a distribuição da pronuncia das sílabas, as quais
compõem a palavra fonética, é regular e harmoniosa, ―o alongamento final é a consequência
da tensão crescente da energia articulatória durante a palavra fonética; ele atinge seu ponto
culminar sobre a última sílaba‖ (PAGEL; MADELENI; WIOLAND, 2012, p. 70, tradução
nossa). Para concluir com a medida da duração de fala, segundo o número de sílabas
acentuadas e o fenômeno da letra e instável no grupo rítmico francês [pendant ctemps-là],
têm-se 30 centésimos de segunda vezes 4 (30X4) e mais 10 centésimos de segunda, pelo
527
motivo que a letra e instável fez perder 20 centésimos de segunda à sílaba [ce]. A duração de
fala do referido grupo rítmico é de 1.30 segunda.
2 Origem e desenvolvimento do ditongo do sândi vocálico externo português brasileiro
Lembre-se que o objetivo deste trabalho é tentar demostrar a possibilidade de traduzir o ritmo
do francês falado, isto é, a duração de fala do grupo rítmico francês [pendant ctemps-là], com
a representação fonética /pã.dã.stã.lɑ/. Seria o grupo rítmico [enquantisso], em português
brasileiro e com a representação fonética / .kw ə .tʊ.i.sʊ/, que poderia responder a essa
hipótese. Convém lembrar de esses grupos rítmicos possuírem os constituintes sintáticos
[pendant ce temps-là], a respeito da língua francesa, e [enquanto isso], quanto ao idioma
português brasileiro.
Dirige-se o estudo para o constituinte sintático [enquanto / isso], mais especificamente, para
as sílabas [to] e [is] marcadas em negrito na fronteira marcada com uma barra obliqua entre as
unidades lexicais [enquanto] e [isso]. A sílaba final [to], com a vogal [o], marcada em negrito
na unidade lexical [enquanto], é átona e postônica, pois, a unidade lexical [enquanto] é
paroxítona. E a sílaba inicial [is], com a vogal [i], marcada em negrito na palavra [isso], é
tônica, pois, a unidade lexical [isso] é paroxítona e dissílabas. Por fim, quando se observa o
grupo rítmico [enquantisso] em paralelo com o seu constituinte sintático [enquanto isso],
percebe-se o apagamento da vogal [o] no referido grupo rítmico, a saber, um fenômeno oral
teria criado uma ressilabação do conjunto traduzido do francês falado por [pendant ctemps-
là], a fim de se aproximar da duração de fala [pendant ctemps-là]. Um dos três tipos de sândi
vocálico externo português brasileiro é o ditongo, e no caso destas análises, entre duas
unidades lexicais. A vogal final marcada em negrito na unidade lexical [enquanto] é [o], em
suma, uma vogal oral e mais breve que a vogal inicial oral [i], marcada em negrito na unidade
lexical [isso], a qual é posposta à unidade lexical [enquanto]. Por conseguinte, o tipo de
ditongo é oral e crescente. E, no constituinte sintático [enquanto isso], a possibilidade de o
processo de ditongação acontecer é viável, pois, primeiro, não há pausa ou interrupção de fala
entre as unidades lexicais [enquanto] e [isso], e, segundo, a vogal [o], marcada em negrito em
[enquanto], é átona ou com um som semivocálico e, a vogal [i], marcada em negrito em
[isso], é tônica ou com um som vocálico. As consoantes geminadas, marcadas em negrito na
unidade lexical [isso], produzem um alongamento de duração de fala da vogal inicial [i]. Por
fim, na unidade lexical [enquanto], a consoante oclusiva surda [t], com o lugar de articulação
dental (ver a tabela 1), isto é, a consoante iniciando a sílaba [to], a qual é marcada em negrito
528
na referida unidade lexical, é explosiva, a saber, uma vogal oral com o ponto de articulação
posterior/labializado é breve em nível de seu alongamento quando é posposta a uma
consoante explosiva ou dental. É o caso da sílaba [to] em [enquanto].
É com base a gramática histórica da língua portuguesa (PEREIRA DA SILVA, 2010)
e os metaplasmos da língua portuguesa de Portugal, que se iniciam as análises da duração de
fala no grupo rítmico [enquantisso] e a partir da unidade lexical [cousa] prelevada numa frase
do Testamento de Dom Afonso II (o exemplar de Lisboa), o qual foi escrito no século XII
d.C. Justifica-se a escolha deste documento, pelo motivo de sua redação ter acontecida no
período da independência de Portugal, em 1185 d.C. A dizer a verdade, foi o momento em
que o galego-português era em processo de diferenciação, a saber, a separação definitiva do
galego e do português tornou este último, língua nacional da Península Ibérica. Entretanto,
uma separação que não se produziu imediatamente,
[...] com a consolidação da independência de Portugal e a anexação do
território galego ao reino de Castela, as pequenas diferenças dialetais foram-
se acentuando, as duas línguas – o galego e o português – ganharam formas
próprias, até que no começo do século XVI, com a publicação das duas
primeiras gramáticas da língua e com o aparecimento do Os Lusíadas, o
português adquiriu as linhas definitivas que conhecemos hoje (PEREIRA
DA SILVA, 2010, p. 32).
Para resumir, após a passagem do latim vulgar para o romanço lusitano, formou-se o galego-
português no século XI d.C., o qual sofreu de uma separação no momento da independência
de Portugal, no entanto, e de acordo com a citação anterior, estabeleceram-se realmente o
português de hoje após o fim da Idade Média e os romances populares portugueses na
Renascença no século XVI d.C., em que a prosa portuguesa se afirmou, em seguida, a Poesia
portuguesa nos Lusíadas. Em suma, entre o período do latim vulgar e do português moderno,
a língua sofreu mudanças de formas fonéticas e morfológicas.
A partir do étimo latino causa, observa-se o seguinte trecho prelevado no Testamento
de Dom Afonso II. A unidade lexical [cousa] é marcada em negrito, pois, sua a origem
etimológica é a do étimo latino causa.
- [...] e todas aquelas cousas que Deus mi deu em poder sten en paz e em folgãcia.
529
Com a unidade lexical [cousa] no trecho anterior, observa-se uma mudança em nível do
ditongo [au], marcado em negrito no étimo latino [causa]. Essa mudança é uma troca da vogal
[a] para a vogal [o], isto é, um metaplasmo que significa mudança de forma. Os resultados são
duplos: 1) uma breve observação da existência de mudanças de formas fonéticas e
morfológicas em nível diacrônico da língua portuguesa de Portugal e; 2) um desenvolvimento
a respeito dos princípios fonéticos possibilitando um ditongo, e em nível sincrônico do
referido idioma. A continuidade do estudo considera a língua portuguesa de Portugal na
perspectiva diacrônica da língua, a saber, desenvolvem-se as análises a respeito do ditongo no
grupo rítmico [enquantisso], pelos metaplasmos que sofreram os étimos latinos in e quantu, os
quais são os referentes etimológicos da unidade lexical portuguesa moderna [enquanto], e
ipsum, o qual é o referente etimológico da unidade lexical portuguesa moderna [isso]. Os
metaplasmos modificam principalmente a língua oral ou falada, entretanto, e como a letra e
instável francesa, é possível os desenvolver pela escrita. Convém iniciar pela descrição dos
metaplasmos que sofreram os étimos latinos in e quantu e acabar com os metaplasmos a
respeito do étimo ipsum. Lembra-se que o objetivo é o de descobrir, e desde sua origem, a
formação do ditongo na fronteira das unidades lexicais [enquanto] e [isso]. Antes de explicar
os metaplasmos, é relevante considerar a história da língua portuguesa de Portugal, a qual é
ligada a história política da Península Ibérica, a saber, os povos colonizadores, as guerras, as
cruzadas, entre outras, enriqueceram e transformaram os sons das vogais e das consoantes do
alfabeto. Em suma, e pelo motivo que a língua latina se transmitiu oralmente, é em constante
que os povos estrangeiros colonizadores a modificaram.
Por conseguinte, é possível conceber que é pela língua viva, no sentido próprio do termo viva,
que a língua mudou e evoluiu, e não sempre por regras e princípios. A dizer a verdade, as
regras e os princípios se estabeleceram a partir da oralidade.
Os étimos latinos in e quantu sofreram dos metaplasmos de assimilação parcial e de apofonia.
Inicia-se pela explicação do metaplasmo de assimilação parcial ocorrido no étimo latino [in].
Neste étimo, a consoante [n], marcada em negrito, é nasal (ver seu fonema na tabela 1) e a
vogal [i], sublinha, é oral (ver seu fonema na tabela 1). A hipótese de uma nasalização total
em o étimo latim [in], possibilita mencionar que foi o metaplasmo de assimilação parcial que
oportunizou a nasalização, e da seguinte maneira: como a vogal [i] e [e] são semelhantes em
nível fonético (respectivamente, com a representação fonética /i/ e /e/), portanto, sem grandes
dificuldades para os povos estrangeiros ou seus órgãos, os quais são responsáveis do timbre,
alterarem o som ou a articulação da vogal [i]. Assim, a vogal [i] se vocalizou em [e], a saber,
530
a troca desta pela vogal [e] deixou nasal a pronuncia da unidade lexical [en], como o mostra
sua representação fonética / /, marcada em negrito na transição fonética /ĩ.kw ə .tʊ/ da
unidade lexical portuguesa moderna [enquanto]. Em seguida, houve um período em que a
unidade lexical [en] se aproximou do étimo latino [quantu], a fim de formar, por justaposição,
uma só palavra, mais especificamente, a unidade lexical [enquantu]. Esse procedimento é do
domínio da morfologia da língua portuguesa e acontece sem alterações de elementos
formadores da palavra (sem perda ou acréscimo de letras).
Por fim, é questão do metaplasmo de apofonia que sofreu o étimo latino [enquantu], mais
especificamente, a vogal final oral fechada [u]. Os motivos são parecidos àqueles da
assimilação parcial mencionada anteriormente. O lugar de articulação posterior/labializado
ficou o mesmo (ver a tabela 1) durante a passagem da vogal [u] para a vogal final [o],
entretanto, o som da vogal [u] foi afetado levemente para o som da vogal [o], daí a troca da
letra em nível da grafia da palavra [enquanto]. Em suma, este metaplasmo fonético provocou
a troca do timbre da vogal [u] para o timbre da vogal [o]. O resultado da aparição da vogal
final [o], na última sílaba átona [to], marcada em negrito na unidade lexical [enquanto],
mostra que já começou a se formar o ditongo.
A respeito do étimo latino [ipsum], com o referente português moderno [isso], sofreu de seis
metaplasmos para se formar o seu referente [isso]. A primeira mudança de forma diz respeito
a queda da consoante epentética [p] oclusiva surda com o lugar de articulação bilabial. Esta
consoante é marcada em negrito no étimo latino [ipsum]. Essa assimilação regressiva se
iniciou pelo encontro das duas consoantes [p] e [s], marcadas em negrito em [ipsum], a saber,
esse casal consonântico não incomodava a articulação do étimo, no entanto, devido ao mesmo
lugar de articulação bilabial que o da consoante final [m] oclusiva nasal, marcada em negrito
no étimo [ipsum] e representada pelo fonema /m/, a consoante epentética [p] caiu por
assimilação regressiva. Na sua queda, aconteceu uma segunda mudança de forma no étimo
latino [isum], a saber, com essa queda, ou melhor, com o desaparecimento da tensão crescente
que possibilitava a explosão do [p], o efeito sonoro da consoante final oclusiva [m], com o
ponto de articulação bilabial, enfraqueceu-se até uma desnasalização provocando sua queda
por apocope. O terceiro metaplasmo diz respeito ao dobro da consoante intervocálica sonora
[s], marcada em negrito entre as vogais [i] e [u] na palavra [isu], para formar um grupo
consonântico surdo, a saber, por geminação da consoante sonora [s], acresceu-se nesta a
consoante [s], assim, formou-se a palavra [issu] com o grupo consonântico intervocálico
surdo [ss], o qual é marcado em negrito em [isso]. Fala-se de esta mudança de forma ser a
531
culpa dos copistas: ―[...] os copistas tomaram o habito de dobrar o grafema para o deixar
surdo: [...]‖ (ZINK, 2016, p. 66, tradução nossa). É interessante assinalar que neste momento,
a palavra [isso] se tornou paroxítona em nível de seu acento tônico, a saber, pelo efeito surdo
da geminação, a sílaba acentuada passou a ser a inicial, marcada em negrito na palavra [isso],
e não mais a final, a qual é sublinhada. Essa mudança de posição do acento tônico já
possibilita a formação do ditongo entre as duas unidades lexicais [enquanto] e [isso]. Quando
ao quarto metaplasmo que é a metafonia, a vogal inicial [i], marcada em negrito em [isso],
sofreu da metafonia, mas também, da influência da semivogal [u] com o lugar de articulação
posterior. Em suma, a acentuação silábica paroxítona, devida à geminação [ss] e ao ambiente
sonoro, provocaram a troca da vogal [i] para a vogal [e]. Neste sentido, o efeito sonoro da
sílaba acentuada [es] em [essu] é total, por conseguinte, a vogal final [u] virou [o] por
necessidade de abertura mais completa, isso é o quinto metaplasmo. Por fim, a última
mudança de forma diz respeito a nasalização da vogal inicial [e], marcada em negrito na
palavra [esso]. Assim, [esso] volta, portanto, para a unidade lexical [isso]. Essa nasalização
possibilita melhor antecipação em nível da articulação da palavra [isso], em suma, a vogal
inicial [i], no conjunto [isso], provoca uma ressonância nasal, a qual se difunde durante toda a
emissão do som quando se fala a unidade lexical [isso].
As análises realizadas em nível diacrônico da língua portuguesa de Portugal, justificam,
primeiro, a origem do ditongo oral e crescente e, segundo, a possibilidade de ressilabação na
fronteira entre as unidades lexicais [enquanto] e [isso], assim, formar um ditongo. A partir
desta formação, formula-se a hipótese de traduzir o ritmo do francês falado ou do tempo de
fala do grupo rítmico [pendant ctemps-là] no grupo rítmico [enquantisso]. Por conseguinte, a
continuidade deste estudo é sugerir de medir o perfil das sílabas portuguesas, no constituinte
sintático [enquanto isso] e a partir, por exemplo, dos estudos de fonologia do português
brasileiro (BISOL, 2014). O benefício para o estudo é uma objetividade mais forte, do que
trata uma das seguintes considerações finais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão dos resultados neste trabalho é dificilmente objetiva na medida em que, o
estudo do ritmo falado de uma língua depende de cada falante situado socialmente e
culturalmente, e de sua situação de enunciação. Neste sentido, dizer que os objetivos foram
alcançados, a respeito da medida do ritmo falado da língua, é dizer que tem nenhuma
possibilidade de desenvolvimento a respeito deste estudo. Uma das continuidades deste
532
estudo poderia, por exemplo, restringir-se a uma situação de enunciação em que o falante
deve adotar uma entonação ou velocidade de elocução especifica etc. adaptada à situação de
enunciação.
De um outro lado, a compreensão dos resultados deste trabalho necessita, primeiro, distinguir
a língua escrita da língua oral ou falada e, segundo, conscientizar o sujeito falante na sua
comunidade linguística, a qual é composta de critérios extralinguísticos. E os resultados
obtidos têm como base a língua oral, a saber, os fenômenos ―letra e instável francesa‖ e
―ditongo do sândi vocálico externo português brasileiro‖ se aplicam pela fala, neste sentido,
produzi-los na escrita é um gesto agramatical. Contudo, ao geral e de um ponto de vista da
língua escrita, romancistas e poetas fazem o uso do ritmo falado da língua na sua relação com
a ferramenta de escrita ―sonoridade‖, isto é, as assonâncias, as aliterações etc. Em nível da
elaboração da forma de uma narrativa, a produção do ritmo falado de uma língua, em suma,
desconsidera os critérios extralinguísticos, por exemplo, o ditongo do sândi vocálico externo
para ser uns dos hábitos de fala de uma comunidade linguística. Isso significa dizer que, na
fala, nem todos os indivíduos produzem o ditongo entre duas unidades lexicais. Esse
fenômeno vocálico, em suma, é critério que se classifica com o do grau de escolaridade, da
localização geográfica do falante etc,. Contudo, os escritores consideram esses critérios
quando trabalham o conteúdo da narrativa, em outros termos, os diálogos das personagens
consideradas situadas em sociedades e culturas distintas.
A respeito da letra e instável francesa, por ser fenômeno natural em nível do aparelho
vocálico e acústico do nativo francês, omitir tal fenômeno parece ser um gesto improvável, no
entanto, e de acordo com a situação de enunciação, o interlocutor, a entonação, o dialeto etc.,
acontece a produção de fala pronunciando a letra e instável, por conseguinte, tornando-se
estável. Por fim, a respeito da tradução interlíngua deste fenômeno, há obstáculos. Por
exemplo, o sistema fonético para ser especifico a uma língua. Por conseguinte, o trabalho de
tradução se revela complexo, neste sentido, o tradutor se mostra infiel com a tradução literal,
por exemplo, de certas unidades lexicais, a fim de favorizar outros sistemas da língua, por
exemplo, o das sonoridades.
REFERÊNCIAS
BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010.
533
BISOL, L. Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. 5. ed. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2014.
CÉLINE, L-F. Viagem ao fim da noite. Tradução Rosa Freire d‘Aguiar. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
______. Voyage au bout de la nuit. Paris: Éditions Gallimard, 2016.
GONÇALVES VIANA, A. Portugais: phonétique et phonologie – morphologie, textes.
London: Forgotten Books, 2017.
LAGARDE, A.; MICHARD, L. Moyen Age: Les grands auteurs français du programme.
Paris: Bordas, 1965.
PAGEL, D.; MADELENI, É.; WIOLAND, F. Le rythme du français parlé. Paris: Hachette
Livre, 2012.
RIEGEL, M.; PELLAT, J-C.; RIOUL, R. Grammaire méthodique du français. Paris:
Presses Universitaires de France, 2016.
SILVA PEREIRA DA, J. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: [s.n.],
2010.
ZINK, G. Phonétique historique du français. Paris: Presses Universitaires de France, 2016.
DESAFIOS PARA UMA PRESENÇA EMPÁTICA NA COMUNICAÇÃO COM
USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS
Ernani Coimbra de Oliveira (UFF)
José Carlos Gonçalves (UFF)
Isabel Cristina Adão Schiavon (UFF)
Stela Cabral de Andrade
[email protected] (UFF)
RESUMO: Esta pesquisa é uma microanálise sociointeracional do discurso terapeutico em contextos
de atenção a pacientes em serviços psiquiátricos com apoio da análise etnometodologica da conversa.
Cabe o ressalte de que a Análise Etnometodologica da Conversa funcionou como auxiliar da
sociolinguística interacional, que está elencada nessa estratégia metodológica pelo fato do estudo em
tela não estar interessado somente na estrutura dos eventos de fala analisados, mas na sua interpretação
e compreensão para os falantes, que constituem e são mutuamente constituídos pela interação, por
serem sujeitos dinâmicos da interação. A pesquisa objetivou: Identificar nas experiências interacionais
vivenciadas pelos participantes implicações para consubstanciar a produção de habilidades voltadas à
construção e, por conseguinte, manutenção de comportamentos para o desenvolvimento de
relacionamento terapêutico positivo em serviços psiquiátricos. Um dispositivo de saúde mental de um
município de Minas Gerais foi o cenário deste estudo. Compõem a amostra do estudo, a saber: uma
equipe de saúde formada por dois enfermeiros, dois psicólogos, um médico, um farmacêutico, um
534
pedagogo, uma profissional do serviço social, uma terapeuta ocupacional, uma profissional de
educação física, quatro trabalhadores de nível médio incluindo técnicos e serviços gerais, três
estagiários do curso técnico de enfermagem e três usuários desse serviço. Também foram seguidos os
princípios da Análise da Conversa Etnometodológica, com rigor ao modelo de transcrição de Sacks,
Schegloff e Jefferson. Resultados parciais apontam que para os profissionais e usuários participantes
do estudo, a relação é quase sempre marcada por situações promovidas pelas nuances de sentimentos
que se traduzem em desfechos de comportamentos variados, indo da indiferença à empatia. Há
também aqueles profissionais que reconhecem que o tempo em serviço não foi suficiente para
desconstruir a tônica misteriosa que emblema a clínica psiquiátrica e, por vezes os tornam marginais
às relações com as pessoas que circulam pelo serviço na condição de doente.
Palavras-chave: Transtornos Mentais. Relacionamento interpessoal. Comunicação em saúde.
Interação face a face. Enquadres Interacionais.
ABSTRACT: This research is a sociointerational microanalysis of the therapeutic discourse in
contexts of attention to patients in psychiatric services with the support of the ethnomethodological
analysis of the conversation. It is worth emphasizing that the Ethnomethodological Analysis of the
Conversation functioned as an auxiliary of the interactional sociolinguistics, which is listed in this
methodological strategy because the study on screen was not only interested in the structure of the
analyzed speech events, but in its interpretation and understanding for the speakers , which constitute
and are mutually constituted by interaction, because they are dynamic subjects of interaction. The aim
of the research was: To identify in the interactional experiences experienced by the participants
implications to substantiate the production of skills aimed at the construction and, therefore,
maintenance of behaviors for the development of positive therapeutic relationship in psychiatric
services. A mental health device of a municipality of Minas Gerais was the scenario of this study. The
study sample consists of a health team consisting of two nurses, two psychologists, a doctor, a
pharmacist, a pedagogue, a social work professional, an occupational therapist, a physical education
professional, four level workers including technicians and general services, three trainees of the
technical nursing course and three users of this service. The principles of Ethnomethodological
Conversation Analysis were also followed, with rigor to the transcription model of Sacks, Schegloff
and Jefferson. Partial results point out that for the professionals and users participating in the study,
the relationship is almost always marked by situations promoted by the nuances of feelings that
translate into outcomes of varied behaviors, ranging from indifference to empathy. There are also
those professionals who recognize that the time in service was not enough to deconstruct the
mysterious tonic that emblems the psychiatric clinic and sometimes make them marginal to the
relations with the people who circulate through the service as a patient
Keywords: Mental Disorders. Interpersonal relationship. Communication in health. Face-to-face
interaction. Interactive Frames.
1 INTRODUÇÃO
O Certamente não teria me envolvido com um assunto/tema tão complexo se não
tivesse sido levado a isso por toda a lógica que iluminou meu trabalho docente/assistencial
nesses últimos tempos.
Um certo estado de potência da angústia surge e me toma ao constatar de início que
em nenhum dos relatórios de pesquisas nas áreas correlacionadas que buscamos e por
535
conseguinte, analisamos para a pesquisa bibliográfica que usamos com vistas a fundamentar
esse estado da arte, não se encontrou evidências da interação face a face usuário-equipe de
serviços psiquiátricos, com descrições dos seus estágios sucessivos e distintos das vivências
de outros contextos de cuidado da saúde.
Daí a importância do nosso estudo e o interesse pela fala-em-interação, uma vez que
resultados da pesquisa da interação médico paciente, sugerem que “a qualidade da interação
que se estabelece entre os participantes é de importância primordial, pois ela é parte
substancial do processo de restauração e promoção da saúde” (GONÇALVES, 2001, p.12;
GONÇALVES; SCHIAVON, 2017, p.77).
É importante, nesse contexto, que se reconheça a interação e a comunicação como
fenômeno de interesse da Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica, embora nosso extenso
catalogo nacional organizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq, não faça menção direta ao tema, mas aponta claras vinculações com
objetos de interesse do campo da saúde envolvendo outros atores.
Durante o período da minha formação como educador, meu posicionamento crítico
em relação ao ensino da assistência de enfermagem ao usuário de serviços psiquiátricos, que
já conhecia até então do ponto de vista profissional, pelos três anos de atuação como
enfermeiro do campo, ia se tornando cada vez mais controverso, além de convicto de que
ainda distante estava de uma competência teórico-reflexiva mais profunda para segurar as
pontas soltas das recorrentes situações de incomodo advindas dessas vivências com a prática,
com vistas a uma possível intervenção.
Observava posturas de enfermeiros e instituições vinculadas ao cuidado de usuário
de serviços psiquiátricos com as quais não podia concordar, dentre as quais destaco um
contexto fortemente marcado por relações pautadas nas necessidades de organização,
disciplina e higiene, marcadas por esvaziadas situações de interação, afetividade e respeito. A
impressão era de que se encontravam distantes, quando não divergentes dos princípios que
fundamentavam o novo fazer nesses cenários de cuidado.
Importantes autores do campo da saúde mental acompanham com crítica o que se
assemelha ao que descrevo ter identificado durante minha experiência na assistência de
enfermagem ao usuário de serviços psiquiátricos, portanto um problema ainda presente e de
dimensões consideráveis (FURLAN e RIBEIRO, 2011; BRUM, et al, 2013; SILVA, et al,
2013; WILLRICH, et al, 2014;).
536
Penso que como qualquer outro profissional de saúde mental, tenha aprendido
bastante por meio de experiências difíceis e frustradoras, sobretudo nos anos iniciais da
profissão, portanto também seria injusto dizer que estes problemas relatados, em algum
momento não tenham feito parte da minha vivência, senão de quase todos os
empreendimentos humanos, o que não quer dizer que devam permanecer e implicar tão
negativamente na vida daqueles que cuidamos.
Se a realidade descrita estava enfrentando necessárias transformações em outros
contextos de cuidado na saúde e já apresentavam concretos resultados porque no campo da
saúde mental isso ainda se mostrava diferente, quando não distante como descrevi já tê-lo
percebido em algumas experiências como enfermeiro assistencial? Na rapidez com que tudo
se transformou e se transforma, nosso fazer não ficou intocável, claro, guardadas as devidas
proporções de cada processo, mas, porquê na assistência psiquiátrica e em saúde mental essas
mudanças ainda esbarram em resistentes concepções de corpo, tempo e espaço?
Contudo, se a relação equipe-paciente nesses tempos tem se mostrado regulada e
qualificada pela exigência do direito do usuário ao conhecimento da sua própria saúde e de
outras importantes condições determinantes à construção social do seu lugar nas relações de
cuidado, na saúde mental o que se percebe é que esses resultados de transformações históricas
e filosóficas se mostraram menos incorporados (SPADINI; SOUZA, 2006). Não que
estejamos novamente diante de uma instituição total e sua dóxa como se configurou o
manicômio nas características mais centrais desse conceito, a saber da segregação,
normatização e apagamento das identidades dos sujeitos institucionalizados; ou impostos a
um modelo médico e de hospitalização de pessoas com problemas mentais como se viu na
história de muitas instituições psiquiátricas brasileiras, sobretudo antes da reforma
psiquiátrica; mas se discernindo, especialmente, no que diz respeito ao protagonismo que
usuários de distintos campos da saúde conseguem desempenhar para efetivação dos seus
direitos em razão da existência de formas de classificação e desclassificação presentes em
maiores ou menores proporções entre campos diferentes de cuidado em saúde.
Não obstante, torna-se necessário reconhecer que as formas de classificação ,
―expressão de Durkheim‖ ainda estão presentes e engendram, quando não, fundamentam
nossas condutas e constroem nossos discursos, fomentando dolorosas estereotipagens rituais
que influenciam sobremaneiramente a distribuição dos direitos e deveres do sujeito-paciente.
Uma coercitividade silenciada pelo que Foucault (2016) chamou de procedimentos técnicos
537
de poder, cujas as estruturas inconsciente do dominador operam no controle detalhado,
minucioso do corpo-gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos.
Na condição de falante ou ouvinte, por exemplo, especialmente em situações de
comunicação em contextos naturais de interação face a face entre paciente-equipe de serviços
psiquiátricos, aspectos tais como a distribuição dos direitos e deveres do sujeito-paciente,
parecem influenciados por sua doença mental que sustenta de forma real e virtualmente
símbolos de estigma, ou seja, o que Goffman (2013) descreveu como signos que são
especialmente efetivos para despertar a atenção sobre uma degradante discrepância de
identidade que quebra o que poderia, de outra forma, ser um retrato global coerente que
imputa uma redução consequente em nossa valorização do sujeito.
Obviamente que esses signos que trazem a informação social do sujeito também
estão presentes em outros contextos de interação face a face nas situações naturais de contato
na saúde, contudo em menor proporção e distantes da qualidade diferencial manifesta que
consiste no seu defeito permanente, ou seja seu status de doente mental, que carrega e informa
para o agente do cuidado que existem aí razões para atitudes cuidadosas, uma vez que há
também uma concepção de que perigosos estão presentes e, portanto a situação de contato
pode se tornar tensa, incerta e ambígua para todos os participantes.
As manipulações da tensão são geradas durante esses contatos sociais são promotoras
de assimetrias no discurso, que podem ser verificadas numa perspectiva interacional,
discursiva e linguística, articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis ao estudo
que propusemos realizar.
Há de se considerar ainda que tais situações são indutoras de uma ordem imensurável
de problemas de comunicação. Desde a frustração pela não contemplação de seus anseios e
necessidades à incompreensão das orientações repassadas com uso e abuso de informações
rebuscadas com ajuda de jargão técnico profissional, com linguagem discrepante da
linguagem usual dos pacientes.
Por entender que a fala-em-interação é intersubjetivamente construída, não podemos
esperar transpor esses problemas sem antes encontrar uma estratégia que só poderá ser
elaborada a partir do conhecimento dos tecidos mais sensíveis dessa realidade aqui já um
pouco problematizada. Esta é a razão esse estudo.
Daí, nosso interesse por uma descrever a construção discursiva da fala-em-interação
na condição face a face entre múltiplos participantes conviventes em um serviço psiquiátrico,
uma vez que, pela análise da postura desses participantes, implicitamente guiados pela
538
pergunta ―O que está acontecendo aqui e agora?" , poderiam derivar pistas que nos levasse a
uma melhor compreensão dos problemas de comunicação que acabam, por vezes, fomentando
importantes rupturas no cuidado, tendo aqui o relacionamento terapêutico ineficaz, desfecho
comum dessas relações que ocorrem em contextos naturais de interação face a face, nosso
foco de investigação.
Diante do exposto, e considerando que boas práticas de relações interpessoais
mediadas pela comunicação entre os interagentes (equipe-usuário) no contexto de cuidado da
saúde mental poderiam se constituir num instrumento para um cuidado efetivo, resolutivo,
humano e ético foi que resolveu-se realizar este estudo.
O objetivo do estudo em tela foi identificar nas experiências interacionais
vivenciadas pelos participantes, implicações para consubstanciar a produção de habilidades
voltadas à construção e, por conseguinte, manutenção de comportamentos para o
desenvolvimento de relacionamento terapêutico positivo em serviços psiquiátricos.
2 CAMINHO METODOLÓGICO
Trata-se de um estudo microetnográfico ―microssociolinguística‖. Uma análise do
discurso, realizada pela corrente teórica ―Análise Etnometodologica da Conversa – ACE‖.
Cabe o ressalte de que a ACE funcionará como auxiliar da sociolinguística interacional, que
está elencada nessa estratégia metodológica pelo fato do estudo em tela não estar interessado
somente na estrutura dos eventos de fala analisados, mas na sua interpretação e compreensão
para os falantes, que constituem e são mutuamente constituídos pela interação, por serem
sujeitos dinâmicos da interação (GONÇALVES, 2017).
Portanto, um estudo de campo, exploratório e descritivo, com abordagem da
metodologia qualitativa interpretativa, particularmente pela nossa necessidade, como
pesquisadores interessados em fala-em-interação, de trabalhar no estudo em tela com uma
produção de dados de ocorrência natural, que precisavam ser submetidos a procedimentos
diversos de registros e análises, norteados pelo polo teórico e metodológico da
sociolinguística interacional, onde as estruturas de frames, alinhamentos, esquemas, footings,
pistas de contextualização etc., serão examinados , descritos e analisados.
Por essa razão, a abordagem qualitativa é de escolha quando se deseja associar a
aplicação das categorias de análise usadas para explorar os eventos de fala descritos pelo
estudo, com estratégias interdisciplinares e de aplicação, no caso do estudo em tela, as
539
relações interpessoais mediadas pela comunicação entre os interagentes (equipe-usuário) no
contexto de cuidado da saúde mental.
Essa possibilidade de abertura e trânsito nesta investigação que consiste na adoção de
referenciais teóricos e metodológicos foi favorável, uma vez que, o estudo envolve
pesquisadores representantes de distintos campos de conhecimento, tais como: Ciências da
Saúde, Ciências Sociais e Humanas, para uma aproximação e abordagem de problemas micro
institucionais e psicossociais.
Segundo Erickson (1990, p.106-108):
A tarefa do pesquisador interpretativo é descobrir as maneiras específicas em
que as formas locais e não locais de organização social e cultural se
relacionam com as atividades de pessoas específicas no processo de fazer
escolhas e conduzir a ação social em conjunto. A tarefa do analista é expor
as diferentes camadas de universalidade e de particularidade que se
apresentam no caso específico sendo examinado.
Pensando nesse contexto interpretativo descrito por Erickson, nos recordamos da
importância da microanálise etnográfica nesse trabalho, considerando que com auxilio dessa
importante ferramenta da sociolinguística interacional estaríamos mais próximos e
qualificados para uma possível e necessária descrição desse contexto de contato entre uma
equipe e usuários de serviços psiquiátricos,
Ademais, nos estudos de linguagem é a microanálise um instrumento constante na
vida de pesquisadores que atuam na descrição do comportamento de uma determinada
sociedade, e para detalhar determinadas transcrições esses estudiosos precisam levar em conta
não somente situações de comunicação, mas todo um contexto social (MATTOS, 2011).
Para Goffman (2013) há dimensões negligenciadas relativas à interação social, que
vão configurar uma microanálise, pela consideração não somente da comunicação e interação
imediata de uma cena onde ocorre a fala-em-interação, mas por também contemplar a relação
entre esta interação e o contexto social maior (uma possibilidade de macroanálise), onde essa
situação natural se engendra.
Um dispositivo de saúde mental de um município de Minas Gerais foi o cenário deste
estudo. Trata-se de uma instituição pública municipal fundada no município mineiro em 2012
e que atualmente em razão da existência de convênios de saúde para fins de financiamento
com receitas compartilhadas, tem seu serviço extensivo à oito municípios circunvizinhos.
Ainda que de forma tímida e incipiente, em consideração a todos os aspectos descritos
a seguir, essa instituição tem finalidades acadêmicas, de pesquisa e atendimento à
540
comunidade loco regional e é uma expoente no estado quando considerada sua área de
cobertura.
De caráter comunitário, portanto aberto e de nível ambulatorial, o serviço em tela tem
funcionamento exclusivamente diurno. Segue horário comercial para ofertar de seu
expediente e não atende aos fins de semana como ocorre em outras tipologias mais
estruturadas desse serviço de saúde mental, sendo as emergências psiquiátricas ocorridas
nesses dias direcionadas para outros dispositivos da rede, tais como Unidade de Pronto
Atendimento - UPA e hospitais que contam com vagas reservadas para pessoas com
transtornos mentais graves.
Nesse dispositivo de saúde mental é oferecido assistência em forma de tratamento,
atendimento a crise psiquiátrica, reabilitação, promoção da saúde mental e psicoeducação para
pessoas com transtornos mentais graves, cujo regime de permanência (manhã, tarde, integral e
consulta de acompanhamento mensal) é determinado por equipe multidisciplinar em
consideração às demandas que fundamentam o seu projeto terapêutico individual.
Atualmente, a instituição possui 158 prontuários ativos distribuídos entre os regimes
de permanência descritos anteriormente. Desses, grande parte são de usuários esquizofrênicos,
seguidos por usuários com transtornos maiores do humor.
Na delimitação da população do estudo foram considerados apenas usuários em
regime integral, ou seja, com permanência dia, uma vez que as estratégias elencadas nessa
pesquisa para geração de dados necessitam do registro de eventos completos, quase sempre
necessários para interpretarmos ―o que está acontecendo aqui?‖. O que faz com que desde a
chegada desses participantes a esses serviços até suas saídas ao final de cada dia, se
configurem marcos iniciais e finais do nosso turno participação.
Por isso coadunamos com Carroll (2016) que descreve que a propriedade que melhor
define um cenário é o fato do mesmo projetar uma descrição concreta de uma atividade em
que o usuário se engaja no momento em que está realizando uma tarefa específica, portanto
nos permitindo responder também a ―como os participantes realizam isso?‖.
As razões para a manutenção do anonimato em relação ao nome da instituição, cidade
e seus agentes, incluem situações/condições discutidas e acordadas à época da apresentação
do protocolo de pesquisa, ocasião em que se constatou o risco de uma associação direta entre
os dados produzidos e o cenário em questão, além de se reconhecer que essas informações
não são de relevância quando se tem em vista a contribuição das experiências e vivências dos
participantes.
541
Para seleção dos participantes que compõem a amostra do estudo, a saber, uma equipe
de saúde formada por enfermeiros, psicólogos, médicos, farmacêutico, pedagogo, serviço
social, terapeuta ocupacional, profissional de educação física, oito trabalhadores de nível
médio incluindo técnicos e serviços gerais e os usuários do serviços psiquiátrico cenário do
nosso estudo, foram adotados os seguintes critérios de elegibilidade para equipe e usuários:
• Ser funcionário do quadro permanente da instituição em tela;
• Atuar na instituição por no mínimo seis meses;
• Atuar ou colaborar de forma direta ou indiretamente com o atendimento dos
usuários; seja nas consultas ou nas diversas formas de oficinas implementadas nesse contexto;
• Ter prontuário ativo por no mínimo um ano (usuário);
• Estar em regime de permanência integral (usuário);
• Ter obtido previamente esclarecimentos sobre a pesquisa; e decidir participar
voluntariamente (usuário e equipe).
Participaram do estudo oito profissionais de saúde, de ambos os sexos, destes, duas
enfermeiras; duas psicólogas; um farmacêutico; um médico; uma assistente social e um
educador físico e; dois usuários do serviço psiquiátrico cenário da pesquisa.
Importantes procedimentos de produção de conhecimento foram adotados nesta
pesquisa, especialmente na fase de geração de dados, respeitando cada etapa do encontro
social: concentração, dispersão e encerramento, cujas técnicas e seus ensejos foram variadas e
dinâmicas, determinadas em razão da necessidade de se registrar os eventos o mais
completamente possível.
Dentre os mencionados recursos, cabe destaque para os que de fato estiveram
envolvidos em nosso trabalho de campo com a pesquisa: observação, participação, registro
escrito e em áudio, reflexão analítica com base nos registros e relato descritivo e narrativo.
A observação foi a etapa inicial do processo de produção de dados, que se iniciou em
março de 2016. Definida como do tipo participante, a observação perpassou por todas as fases
da etapa de campo, num processo dinâmico e constante em associação à outras técnicas de
coleta de dados também utilizadas, tais como entrevistas gravadas e elaboração de
memorandos (teóricos, metodológicos e observacionais) para uma descrição formal dos
eventos.
A experiência de observação participante que desenvolvemos pode ser descrita por
diversos momentos de permanência in loco, que não restringiram-se às ocasiões de realização
das entrevistas, ou seja, a inserção se deu no todo da experiência com os participantes em seu
542
cotidiano no serviço de saúde mental, cenário deste estudo. Nesse sentido também cabe
ressaltar que diversos foram os retornos a este cenário, quando diante de um evento e outro
algum aspecto da fala-em-interação necessitava ser revisitado para uma tentativa de descrição.
Lançamos mão também da entrevista do tipo semiestruturada como estratégia para
produção de dados, realizadas de acordo com a disponibilidade de cada depoente, sendo a
maioria desenvolvida no próprio serviço de saúde mental, todas com duração superior a 25
minutos, gravadas em aparelho MP3 e posteriormente transcritas na íntegra, acrescendo
registros como expressões, aspectos entonacionais, espaços temporais, o silêncio em si e
velocidade da produção vocal dos participantes da fala-em-interação social.
Contudo, antes procedemos com uma ambientação que consistiu basicamente em
nossa apresentação e dos objetivos da nossa presença ali, tudo isso com vistas a familiarizar
os participantes com nossa presença, estratégia e com o equipamento que utilizamos para
esses registros. Na ocasião também falamos da necessidade do consentimento expresso vide
assinatura em termo de consentimento livre e esclarecido para assim iniciarmos.
Obviamente, para que fosse possível tal cobertura contamos com o apoio técnico de
dois bolsistas de iniciação científica, norteados por um plano de trabalho elaborado antes do
processo de produção de dados da fase de campo do estudo, cuja tarefa exclusiva foi a de
gravar as entrevistas e elaborar os memorandos (notas de campo).
Considerando a extensão dos eventos comunicacionais registrados pelo estudo,
resolvemos por transcrever apenas segmentos específicos, ou seja, os que estavam vinculados
densamente ao fenômeno estudado e nossos objetivos, cuja delimitação era feita pela
ocorrência das construções sustentadas pelo participante, conformando-os em unidades
analíticas renomeadas por Garcez (2014) como excertos.
Com os dados da pesquisa inicia-se então a fase de análise concomitante a transcrição,
configurando-se em um processo árduo e demorado. A elaboração dos segmentos e excertos
se dão diante de toda necessidade de indicação de enunciados particulares.
A transcrição linha a linha favorece uma melhor organização e, por conseguinte a
análise. As sequências podem ser separadas por unidade e assim os exames dos enunciados
podem trazer uma caracterização dos espaços sequenciais da fala-em-interação.
Em seguida, ilustramos tais convenções com um excerto de transcrição de conversa de
dois participantes do estudo durante o exame inicial de saúde mental, em que o médico tenta
esclarecer dúvidas de um paciente.
543
Quadro 2 – Excerto ilustrativo de Convenções Jefferson de transcrição
Fonte: Coimbra-Oliveira, (2018).
No excerto acima, por exemplo, foi necessário a notação exata da ordenação temporal
e dos detalhes da produção vocal das participantes para que se observe na transcrição as
características interacionais da ação de não se sentir atendido em sua solicitação.
Na organização dos resultados, a nomeação dos participantes observou-se o contrato
do sigilo e anonimato proposto pela pesquisa, por isso foram renomeados pseudônimos para
associa-los a numeração das linhas que conformam os excertos ilustrativos que mostraremos
no capítulo a seguir intitulado: resultados e discussão.
Portanto, os dados foram transcritos e estão sendo processados, digitalizados, e
analisados categorias de análise usadas para explorar os eventos de fala descritos pelo estudo,
seguindo o modelo de transcrição adotado pela Análise Sociointeracional da Conversa.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CARACTERIZANDO OS PARTICIPANTES DO ESTUDO
Com base em uma amostra constituída por oito participantes de diversas áreas do
campo da saúde, usuários do serviço e estagiários do curso técnico de enfermagem, tem-se a
representação simbólica de um recorte do tecido social, que diz respeito à realidade humana
vivida no contexto de cuidado da saúde mental nos serviços psiquiátricos.
Excetuando um psicólogo e um farmacêutico que são concursados, a maioria dos
profissionais do serviço possui tempo igual ou inferior a dois anos. O curto tempo de
atividade em serviço pode ser explicado pela ocorrência de mudança de gestão pública
18. Dr. Luís: é difícil determinar porque isso veio acontecer só agora
19. (.)
20. Dr. Luís: <mas creio que você não deva se preocupar com isso>
21. Cláudio: .h > ((Entendi))
22. Dr. Luís: Hu:::m °hum°
23. (.)
544
municipal. Geralmente, os gestores demitem o quadro de pessoal anterior e contratam de
acordo com as conveniências do seu mandato, prática que tem trazido significativos prejuízos
no que tange a qualidade e eficácia da prestação de serviços, pois tais interrupções geram
descontinuidades constantes nos processos formativos e acumulativos de saberes nos agentes
envolvidos.
Os espaços onde as interações objeto deste estudo ocorreram, são contextos das
diversas frentes de trabalho desempenhadas pelos participantes do estudo, com vistas ao
cuidado dos usuários de saúde mental acolhidos pelo serviço em questão.
Assim, oficinas, grupos terapêuticos, atendimentos individuais, acolhimento de novos
usuários, visitas domiciliares e intervenções itinerantes, são alguns dos exemplos de
atividades cotidianas do serviço que envolve usuários, profissionais de saúde e estagiários
nesse serviço psiquiátrico.
Contudo, uma sessão de acolhimento/exame inicial de saúde mental foi o contexto de
ocorrência natural de fala-em-interação que nos possibilitou explorar o evento que origina os
dados que aqui passaremos a apresentar, analisar e discutir, especialmente na subseção 3.2,
intitulada: Os múltiplos enquadres e realinhamentos dos participantes.
3.2 OS MÚLTIPLOS ENQUADRES E REALINHAMENTOS DOS PARTICIPANTES
Embora em entrevistas clínicas tais como essa realizada pela equipe de saúde com
vistas a um exame inicial de saúde mental, à que tivemos a oportunidade de nos inserir com o
estudo em tela, exista um eixo de informações básicas comuns ao interesse de cada
profissional representado nessa cena, há ainda assim uma necessária diferença em razão da
variedade de formações e perspectivas.
Notadamente, isso ocorre em detrimento a existência de agendas específicas proposta
por cada profissional representado, norteadas por objetivos inicialmente divergentes, mas com
desfechos convergentes pela missão uníssona de elaborar um plano conjunto de cuidados,
instrumento que vem sendo chamado no contexto de cuidado em saúde mental de projeto
terapêutico singular.
Campos e Domitti (2001) destacam a importância dessa tecnologia para as ações em
saúde, uma vez que o projeto terapêutico é arquitetado na dimensão interdisciplinar do
cuidado que por conseguinte, aglutina a contribuição de várias especialidades e de distintas
profissões do campo da saúde.
545
Desta forma, ao final desse processo o que se constrói é um denso banco de
informações compartilhadas em forma de prontuário sobre as condições do usuário. A partir
daí, são acordados procedimentos a cargo de diversos membros da equipe multiprofissional,
denominada equipe de referência.
Para os profissionais participantes do estudo, a relação com os usuários de saúde
mental é quase sempre marcada por situações promovidas pelas nuances de sentimentos que
se traduzem em desfechos de comportamentos variados, indo da indiferença à empatia.
Por essa razão, não é raro profissionais buscarem com suas supervisões clínicas, vias
de soluções para suas demandas de dificuldades de relacionamentos com pessoas em
situações de cuidado psiquiátricos (FRAZÃO, 2017).
Há também aqueles profissionais que reconhecem que o tempo em serviço não foi
suficiente para desconstruir a tônica misteriosa que emblema a clínica psiquiátrica e, por
vezes os tornam marginais às relações com as pessoas que circulam pelo serviço na condição
de doente.
A questão do tempo em serviço foi vinculada pelos participantes aos problemas de
interações com os usuários de serviços psiquiátricos. Para importantes autores do base
filosófica das relações humanas a permanência já se mostrou relativa em relação a
autenticidade da presença de um ser ante ao outro (CARDELLA, 1994).
Para Frazão (2017) quando se é, torna-se possível doar-se ao outro expontanemanete,
num processo constante de trocas simbólicas e materiais, sem a ocupação mental da imagem
que o outro possa ter das suas ações.
Na percepção dos participantes é real e absolutamente aceitável que em determinados
momentos da vida em serviços com os usuários da saúde mental, existam impasses e situações
emblemáticas que fazem com que essa relação se mostre conturbada, o que para estes
profissionais também ocorreria na clínica oncológica, cardiológica, médica geral, etc..., afinal
o que está em questão são aspectos que poderiam estar presentes em pessoas se relacionando
com uma situação de adoecimento qualquer.
É evidente que situações em que se presenciam pessoas com percepção de perda de
sentido na vida ou incertezas, excessiva dependência ou afastamento de relacionamentos,
visão negativa, dentre outras, afetam a disposição das pessoas para se relacionar e, portanto,
dificultam ou precarizam as interações.
Não raro, também se observa terapeutas com considerável tempo em serviço
enfrentando situações adversas, por vezes, até com clientes de ampla convivência.
546
Isso ocorre porque ao falar de si nessas interações, os usuários de saúde mental nos
colocam diante de suas emoções e outros sentimentos relacionados a fatos da vida cotidiana,
para os quais nem sempre estamos preparados, ademais nem com toda orientação e prática
daremos conta de tamanha complexidade existencial em seus desdobramentos.
4 CONCLUSÕES
Os participantes descrevem experiências sobre a comunicação com usuários de saúde
mental marcadas por dificuldades iniciais que dizem respeito as suas tímidas habilidades e
também consideram que a prática direciona o percurso de amadurecimento das habilidades,
evidentemente, com significativo custo para ambos os interagentes, conforme se viu no
depoimento anterior.
Os momentos em que ocorre essa comunicação entre equipe-usuários nos serviços de
saúde são variados em função da pluralidade de ações que são desenvolvidas nesse contexto.
Os acolhimentos, por exemplo, suscitam desses profissionais um ensaio extremamente
habilidoso de técnicas de comunicação, pois esse momento é determinante para o
estabelecimento da relação terapêutica ou ao menos o início de sua construção.
REFERÊNCIAS
BRUM, Ana Karine Ramos et al . Programa para cuidadores de idosos com demência: relato
de experiência. Rev. bras. enferm, Brasília, v. 66, n. 4, p. 619-624, Aug. 2013. Available
from<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672013000400025&ln
g=en&nrm=iso>. access on 28 June 2018.http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
71672013000400025.
CARDELLA, Beatriz Helena Paranhos. O amor na relação terapêutica: uma visão
gestáltica. – São Paulo: Summus, 1994.
CAMPOS, G. W. S; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: uma
metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad Saúde Pública. Rio de
Janeiro, 2001.
ERICKSON, Frederick. Qualitative methods. In: Robert L. Linn & Frederick Erickson.
Orgs. Quantitative methods; Qualitative Methods. vol.2. New York: Macmillan. 1990.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
FRAZÃO, Lílian Meyer. Questões do Humano na contemporaneidade: olhares
guestálticos. – São Paulo: Summus, 2017.
FURLAN, Marcela Martins; RIBEIRO, Cléa Regina de Oliveira. Abordagem existencial do
cuidar em enfermagem psiquiátrica hospitalar. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 45, n. 2,
p. 390-396, abr. 2011. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342011000200013&lng=pt
&nrm=iso>. acessos em 28 jun. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342011000200013.
547
GARCEZ, P. M. Fala-em-interação: introdução à análise da conversa etnometodologica. –
Campinas, SP: Mercado de letras, 2008.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. – Rio de
Janeiro: LCT, 2013.
GONÇALVES, José Carlos. Análise da interação profissional-cliente e qualidade da
comunicação em serviços. INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares
da Comunicação XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação – Campo Grande /MS –
setembro, 2001.
GONÇALVES, J. C; SCHIAVON, I. C. A. Análise interacional do discurso e comunicação
profissional-cliente em contextos de saúde: quando a conversa é parte da cura. in:_ ONE, G.
M. C; PORTO, M. L. Saúde: os desafios do mundo contemporâneo. (Orgs.). 4. ed. Paraíba:
IMEA, 2017. cap.4, p. 77.
SILVA, Nathália Santos et al . Percepção de enfermeiros sobre aspectos facilitadores e
dificultadores de sua prática nos serviços de saúde mental. Rev. bras. enferm., Brasília , v.
66, n. 5, p. 745-752, out. 2013. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672013000500016&lng=pt
&nrm=iso>. acessos em 28 jun. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000500016.
SPADINI, Luciene Simões; SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e. A doença
mental sob o olhar de pacientes e familiares. Revista da Escola de Enfermagem da USP,
São Paulo, v. 40, n. 1, p. 123-127, mar. 2006. ISSN 1980-220X. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/41519/45113>. Acesso em: 13 july 2018.
doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342006000100018.
WILLRICH, Janaína Quinzen et al. Da violência ao vínculo: construindo novos sentidos para
a atenção à crise. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 67, n. 1, p. 97-103, fev. 2014. Disponível
em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672014000100097&lng
=pt&nrm=iso>. acessos em 28 jun. 2018. http://dx.doi.org/10.5935/0034-7167.20140013.
TRADUTOR OU MUSICISTA? DIFERENTES SOLUÇÕES TRADUTÓRIAS PARA
UM TRATADO ITALIANO DE MÚSICA DO SÉCULO XVII
Tatiane Marques Calloni (USP)
Resumo: Nosso trabalho é voltado à tradução do tratado italiano ―Del sonare sopra‘l basso con tutti li
stromenti e dell‘uso loro nel conserto‖, escrito em 1607 por Agostino Agazzari. Essa obra foi dedicada
ao ensino de uma técnica musical muito utilizada ao longo do período barroco, conhecida como Baixo
Contínuo. Pretendemos indicar as soluções tradutórias adotadas por pesquisadores da área musical
para alguns dos termos técnicos utilizados, que traduziram trechos do tratado para inclui-los em seus
trabalhos. Em seguida, apresentaremos as soluções que pesquisamos e utilizamos até o momento,
representando, assim, o papel do tradutor sem conhecimento aprofundado sobre o tema. Nossa
pesquisa está fundamentada nos princípios da teoria funcionalista da tradução, apresentada por Reiss e
Vermeer (1984), e conta com o auxílio da Linguística de Corpus, descrita entre outros, por Berber
Sardinha (2004), para extração de termos-chave através da elaboração e análise de corpora. Também
selecionamos artigos, dissertações, teses e livros dedicados aos estudos da música como fonte de
consulta durante a primeira etapa da tradução. Através de nossos resultados, esperamos demonstrar
que pesquisadores de uma área específica do conhecimento nem sempre apresentam as melhores
soluções tradutórias, e que a falta desse conhecimento técnico não representa necessariamente um
empecilho ao tradutor, que também é capaz de encontrar boas soluções para termos técnicos.
Palavras-chave: Baixo contínuo. Música. Tradução.
548
Abstract: This paper aims to describe the translation of an Italian treatise entitled ―Del sonare sopra‘l
basso con tutti li stromenti e dell‘uso loro nel conserto‖, written in 1607 by Agostino Agazzari. This
treatise was dedicated to the teaching of a musical technique widely used during the Baroque period,
known as Basso Continuo. We intend to indicate the translatorial solutions adopted by researchers
from the musical area to some of the technical terms used, whose works have included some translated
parts of the treatise. Then, we will present the solutions we have found so far, aiming to represent the
translator that has no in-depth knowledge about the subject. Our research is based on the principles of
the Functionalist Approach to Translation, introduced by Reiss and Vermeer (1984), and counts on the
help of Corpus Linguistics described, among others, by Berber Sardinha (2004), and used for keyword
extraction through corpora compilation and analysis. We have also selected articles, dissertations,
thesis and books dedicated to Music Studies as a reference source during the first step of the
translation process. We hope to demonstrate by the results that researchers of specific areas not always
have the best translatorial solutions and that the lack of technical knowledge does not necessarily
represent a hindrance to the translator, who is capable of finding good solutions to technical terms.
Keywords: Basso continuo. Music. Translation.
INTRODUÇÃO
A área da música conta com uma vasta quantidade de material teórico, mas grande
parte ainda não foi traduzido para o português. Por conta disso, é necessário que
pesquisadores, estudantes e interessados na área conheçam outras línguas para que consigam
ter acesso a esse material. A variedade de dissertações e teses dedicadas à tradução de obras
musicais por mestrandos e doutorados de Programas de Música também indica essa
necessidade. Notamos, então, uma boa oportunidade de integrar os estudos da tradução à área
de música, colaborando com a disponibilização desse material em português e possibilitando,
assim, um maior acesso ao conhecimento por parte dos interessados que não conhecem outro
idioma. Também enxergamos essa iniciativa como uma boa forma de colaborar com os
estudos realizados através da Linguística de Corpus.
Dedicamos nosso trabalho, então, à tradução de um tratado escrito pelo musicista
italiano Agostino Agazzari, em 1607, intitulado Del sonare sopra‟l basso con tutti li
stromenti e del uso loro nel conserto. O tratado aborda uma técnica musical que surgiu no
período barroco, conhecida como baixo contínuo. De acordo com Dourado (2004, p.38) em
seu ―Dicionário de Termos e Expressões da Música‖, o baixo contínuo pode ser definido
como: ―Parte inferior que era tocada sem interrupção por instrumento de voz grave,
principalmente durante o período Barroco, e servia de base para condução da harmonia.‖
549
Aprofundando um pouco mais a definição da técnica, Del Sordo (2010), em sua obra
inteiramente dedicada ao baixo contínuo, descreve suas cinco funções principais, sendo elas:
acompanhamento (de outros instrumentos); harmonização; acabamento (para completar, ou
preencher, a obra); indicador estético (para avaliar a qualidade da obra); e elemento da
regência (pois conduzia e situava os outros instrumentos) (DEL SORDO, 2010). Essa técnica,
apesar de antiga, ainda representa um conhecimento fundamental para músicos que estudam e
tocam música barroca, conferindo à obra uma sonoridade mais próxima daquela executada na
época.
Esse trabalho possui três objetivos principais: primeiro, introduzir o campo musical às
pesquisas baseadas em Corpus; segundo, apresentar as possibilidades de pesquisa
relacionadas ao campo musical; e terceiro, contribuir com o oferecimento de material
específico da área.
Esperamos que essa pesquisa contribua, ainda que de modo singelo, aos estudos da
Música no Brasil, que ainda representa uma área muito informal, conforme constatamos ao
pesquisarmos a quantidade de material disponível em português e a quantidade de traduções
desenvolvidas sobre temas relacionados à música.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os Estudos da Tradução desenvolveram uma série de definições e teorias muito
importantes, algumas mais aceitas que outras. Indicaremos, a seguir, a principal teoria que
está norteando nossa pesquisa, mais especificamente, a Teoria do Skopos, baseada na
abordagem funcionalista da tradução. Mencionaremos, também, a Linguística de Corpus e o
modo como ela foi utilizada em nossa tradução.
2.1. ABORDAGEM FUNCIONALISTA DA TRADUÇÃO
A abordagem funcionalista da tradução foi elaborada e descrita por diversos autores,
entre eles, Justa Holz-Mänttäri (1984), com sua teoria dos atos de tradução; e Reiss e Hans J.
Vermeer (1984/2013). Essa abordagem leva em consideração a função que um determinado
texto exerce em sua comunidade linguística. Costa, Polchlopek e Zipser (2012) definem a
abordagem funcionalista da seguinte forma:
[...] ser funcionalista em tradução significa ter como foco principal a função
(ou funções) inerente(s) aos textos e às traduções, visto que se pressupõe que
550
todo texto, traduzido ou não, detém um propósito específico, uma intenção
sustentada na relação presumida entre produtor e leitor(es) final. No entanto,
quando se traduz um determinado texto para um contexto/cultura distinto
daquele em que foi produzido [...], vale ressaltar que esse novo público
receptor pensa, sente, observa e avalia o mundo a partir de outra perspectiva
[...]. (Costa, Polchlopek, Zipser, 2012, p. 26)
O tradutor deve, então, compreender porque o autor escreveu aquele texto, qual função
ele exerce ou exercia em sua época, e para quem ele foi escrito. O que torna essa teoria
polêmica é o fato de alguns conceitos base da tradução perderem sua relevância, como os
conceitos de equivalência e fidelidade, em prol da finalidade do texto (Costa, Polchlopek,
Zipser; 2012; p. 26).
Pensando, então, no viés funcionalista, observamos a finalidade prática do tratado de
Agazzari, que pretendia introduzir o baixo contínuo e sua utilização a um público restrito,
formado por homens do século XVII, possuidores de um bom conhecimento sobre música e
grande habilidade ao tocar. Neste caso, devemos pensar qual seria a função, hoje, da tradução
de um tratado sobre baixo contínuo do século XVII. Consideramos, assim, que o elemento
mais importante do tratado é a instrução do autor com relação ao baixo contínuo. É esse
elemento, acima de qualquer outro, que deve chegar ao leitor contemporâneo, levando adiante
a relação autor-instrução-leitor construída através do texto original.
2.2. LINGUÍSTICA DE CORPUS
Trabalhamos, também, com os conceitos e ferramentas da Linguística de Corpus,
precisamente descrita por autores como Berber Sardinha (2004) e Tagnin (2008), no Brasil. A
Linguística de Corpus, considerada metodologia por alguns e teoria por outros, trabalha com a
análise de coletâneas de textos previamente selecionados. Esse conjunto de textos é
denominado corpus (plural: corpora) e através de sua análise é possível observar fenômenos
linguísticos em diversas línguas. A Linguística de Corpus pode ser aplicada a muitas áreas de
estudo, como tradução e ensino de línguas estrangeiras. Segundo a definição de Biber e
Reppen (2015): ―Corpus linguistics is a research approach that facilitates empirical
investigations of language variation and use, resulting in research findings that have much
greater generalizability and validity than would otherwise be feasible.‖§
§ ―A Linguística de Corpus é uma abordagem de pesquisa que facilita investigações empíricas da
variação e uso da língua, resultando em descobertas de pesquisa que têm maior generalização e
validade do que seria de outra forma possível.‖ (Tradução nossa).
551
Há diversos tipos de corpus, porém, neste trabalho utilizamos o corpus de estudo
paralelo bilíngue em que, segundo Sardinha (2004): ―os textos são comparáveis (por exemplo,
original e tradução)‖. O corpus personalizado é muito eficaz, dependendo do que se busca
alcançar na pesquisa. Nesse caso, deve-se seguir algumas etapas descritas por Tagnin (2013).
A autora indica que antes de iniciarmos qualquer procedimento, é necessário escolher qual
tema será analisado, dentro de uma área bem delimitada, pois apenas dessa forma serão
obtidos textos mais específicos. Quanto mais abrangente a área, mais trabalhosa será a análise
do corpus. O segundo passo constitui-se em escolher qual gênero literário será trabalhado,
buscando manter sempre um número equivalente de textos ou palavras, ou seja, balanceando
o corpus. Em seguida, a procura e seleção dos textos deverá ser feita de acordo com a área de
pesquisa delimitada e, de preferência, através da internet, pois assim os textos já estão em
formato eletrônico. Qualquer ilustração ou informação gráfica deve ser retirada para obter-se
um texto limpo. Por fim, é preciso salvar os textos selecionados no formato .txt e nomeá-los
de forma a serem reconhecidos facilmente, para que possam ser analisados pelos softwares
específicos de análise de corpus (TAGNIN, 2013, pp. 49 e 50).
3 METODOLOGIA
Dividimos a tradução do tratado em duas etapas. Na primeira, elaboramos a tradução
apenas com o auxílio de materiais de consulta, como dicionários e livros especializados.
Trabalhamos também com materiais disponíveis na internet. Anotamos os pontos de maior
dificuldade para que pudéssemos compará-los posteriormente. Já na segunda etapa, contamos
com o auxílio de pesquisas através de corpora, pretendendo assim esclarecer as dúvidas e
dificuldades encontradas durante a primeira etapa e também analisar até que ponto a
Linguística de Corpus poderia contribuir para a tradução de um texto antigo.
Já iniciamos a compilação dos corpora através da seleção de artigos, dissertações,
teses e livros sobre baixo contínuo e música barroca. Ficamos surpresos com a pouca
quantidade de material encontrado sobre o tema, tanto em português quanto em italiano,
mesmo sabendo que estamos trabalhando com um conhecimento muito específico do campo
musical. Indicamos, na tabela abaixo, o tipo e a quantidade de material coletado:
Texto Português Italiano
Resenha - 1
552
Artigo 3 4
TCC - 3
Dissertação 5 -
Tese 2 -
Livro 1 2
Tipo e quantidade de textos para compilação de corpora
Todos os textos passaram por um processo de limpeza, formatação e análise, pois os
corpora não podem conter nenhum elemento que não seja textual. Utilizamos, para tanto, o
conjunto de ferramentas online Sketch Engine, elaborado especialmente para compilação e
análise de corpora através das várias ferramentas disponíveis, também oferecendo corpora em
várias línguas, todos disponíveis para consulta. Esse conjunto de ferramentas é pago, mas não
é o único disponível. É possível baixar o software WordSmith Tools, também pago, e o
software AntConc, completamente gratuito. Trabalhamos com os dois softwares mencionados
anteriormente, porém ambos falharam no momento de analisar o corpus geral da língua
italiana. Acreditamos que isso tenha ocorrido devido à grande extensão do corpus, pois ambos
funcionaram perfeitamente com corpora menores. Tentamos processar o mesmo corpus no
Sketch Engine, que não apresentou nenhuma falha. Para a análise dos corpora compilados por
nós, trabalhamos com concordanciador, lista de palavras e palavras-chave.
Devido à pouca quantidade de textos encontrados, decidimos trabalhar também com
uma ferramenta do Sketch Engine que constrói corpora através de textos retirados da internet.
Para tanto, a ferramenta busca textos relacionados ao tema desejado por toda a internet, faz o
processo de limpeza e automaticamente compila o corpus. Também utilizamos essa
ferramenta para a compilação de corpora sobre instrumentos musicais, pois foram elementos
que representaram dificuldades durante a primeira etapa da tradução. Até o momento,
compilamos quatro corpora: dois relacionados à música barroca, em português e italiano; e
dois relacionados a instrumentos, também em português e italiano.
Após a leitura do material coletado para construção dos corpora, constatamos que
alguns autores com formação na área musical traduziram trechos do tratado de Agazzari, por
isso decidimos analisar essas traduções e compreender como alguns termos especializados
foram traduzidos por eles. Posteriormente, percebemos a influência de uma tradução integral
em inglês presente em um livro de Oliver Strunk (1950) na tradução desses trechos em
português, ou seja, a tradução dos trechos não partiu diretamente do texto original, mas de
553
uma outra tradução, que pode ou não conter alguns erros. Os trechos analisados estão
presentes na tese de doutorado de Dias (2001), intitulada ―O papel do contraponto no
desenvolvimento da harmonia: uma abordagem a partir do baixo contínuo italiano no século
XVII‖, e na dissertação de mestrado de Rosa (2007), intitulada “Teoria e prática do baixo
contínuo: uma abordagem a partir das instruções de J. S. Bach‖.
4 RESULTADOS
4.1. BASEADOS EM TRADUÇÕES PRÉVIAS
Analisamos as traduções de alguns trechos do tratado, elaboradas por musicistas que
inseriram esses trechos em dissertação de mestrado e tese de doutorado. Indicaremos alguns
exemplos a seguir. Dias (2001) traduziu literalmente os termos nota buona e nota cativa como
nota boa e nota ruim, porém, com esses termos o autor do tratado estava se referindo à
consonância e dissonância. É possível notar, então, que Dias preferiu manter-se mais próximo
do texto original e, consequentemente, mais distante do leitor contemporâneo. Em nossa
tradução, preferimos utilizar os termos consonância e dissonância, deixando o texto mais
claro ao leitor contemporâneo, conforme a finalidade estabelecida através da abordagem
funcionalista da tradução, sem alterar o significado original do texto de partida.
Rosa (2007), por sua vez, traduziu os termos mano di sopra e mano di sotto,
literalmente mão de cima e mão de baixo, como mão direita e mão esquerda, já deixando
claro o verdadeiro significado dos termos e mantendo, assim, uma relação de aproximação
com o leitor atual, ainda que para isso tenha precisado se distanciar do texto original.
Utilizamos a mesma solução escolhida por Rosa (2007), traduzindo mano di sopra e mano di
sotto por mão direita e mão esquerda.
Quanto ao termo conserto, poderíamos tentar traduzi-lo como concerto, no sentido de
obra ou composição musical, devido à semelhança fonética e gráfica entre os dois termos.
Observando, porém, os trechos traduzidos por Dias (2001) e Rosa (2007), percebemos que o
termo se refere a um conjunto de músicos. Ao pesquisar nos corpora, encontramos resultados
que confirmaram a exatidão da tradução feita pelos autores anteriormente citados e por isso
mantivemos o termo conjunto em nossa tradução. Ainda assim, é necessário prestar muita
atenção ao contexto em que o termo é utilizado, pois em alguns trechos Agazzari realmente o
utiliza com sentido de obra ou composição musical.
554
4.2. OBTIDOS ATRAVÉS DE CONSULTA A MATERIAIS E CORPORA
Indicaremos, a seguir, as principais dificuldades encontradas durante a elaboração da
primeira versão da tradução e o modo como tentamos solucionar cada uma delas. Citaremos,
primeiramente, os instrumentos musicais mencionados no tratado. Alguns deles, como o
violino, o órgão e o alaúde não ofereceram grandes dificuldades no momento da tradução,
pois ainda hoje são mencionados e utilizados, possibilitando assim que o termo
correspondente em português seja facilmente encontrado. O desafio surgiu no momento em
que nos deparamos com instrumentos utilizados no século XVII e que foram caindo em
desuso ao longo do tempo, sendo eles a arpa doppia, a cetera ordinaria, o ceterone, a
chitarrina, o lirone e o organetto. Esses instrumentos não possuem nenhum termo
correspondente em português e até mesmo encontrar imagens que os ilustre representou uma
difícil tarefa. Pensando na raridade e pouca menção de tais instrumentos, consideramos útil a
elaboração de um glossário, a ser apresentado no final da tradução, com todos os instrumentos
mencionados, ilustrados e descritos, facilitando a compreensão e contribuindo para a
expansão de conhecimento do leitor que não os conheça.
Os trechos e descrições técnicas também representaram um grande desafio, afinal, o
autor do tratado descreve uma técnica muito específica, utilizando para tanto uma série de
expressões que caíram em desuso e que, se lidas hoje, causam grande estranhamento.
Citamos, novamente, como exemplo mano di sopra e mano di sotto (literalmente, mão de
cima e mão de baixo). Como dissemos anteriormente, com essas expressões o autor está se
referindo à mão esquerda e à mão direita. Outro exemplo é nere disgionte ou nere disciolte,
que literalmente significa negras separadas. A cor indica notas de pequeno valor (semínima,
colcheia, etc), que devem ser executadas separadamente pelo músico. Por fim, citamos o
termo scherzo, que requer muita atenção no momento da tradução. Esse termo existe ainda
hoje e indica um dos movimentos de uma composição, porém, no período barroco esse
conceito ainda não existia, logo, é necessário considerar o termo em seu sentido literal, ou
seja, tocar de forma brincalhona. Essas, assim como outras soluções, foram encontradas em
livros especializados sobre música barroca.
Considerando também a estrutura do texto, notamos logo durante a primeira leitura
que a sintaxe aplicada pelo autor era muito mais complexa, repleta de inversões que
dificultam muito a compreensão do conteúdo. Decidimos, então, reorganizar alguns períodos
555
e sentenças para que o leitor contemporâneo possa realizar uma leitura mais fluida,
compreendendo o texto sem que para isso seja necessário reler várias vezes um mesmo trecho.
Ainda assim, buscamos preservar o máximo possível o estilo do autor, para que o tratado não
fosse descaracterizado. Indicamos, abaixo, um exemplo de modificação sintática:
A professor d‟ armi, il dedicare insegnamenti di scienze liberali, potrebbe à ragione
apparir disdicevole; se vero fosse; Che non ben convenissero le scienze coll' armi.
Se fosse verdade que erudição e armas não combinam, poderia certamente parecer
impróprio dedicar a um professor de armas ensinamentos de artes liberais.
Por fim, gostaríamos de mencionar a pontuação. O autor praticamente não utiliza
ponto final. Por outro lado, Agazzari utiliza com grande frequência ponto e vírgula, dois
pontos e vírgula, marcando pausas incomuns e quebrando o fluxo do texto. Reorganizamos
toda a pontuação, pensando novamente no leitor contemporâneo e na facilitação da
compreensão do texto, conforme exemplificado abaixo:
Terza deve haver buon orecchio, per sentir lo movimento, che fanno le parti infra di
loro; del che non ne ragiono, per nõ poter' io col mio discorso farglielo buono,
havendolo cattivo dalla natura.
Terceiro, deve possuir um bom ouvido para compreender o movimento que fazem as
vozes entre si. Disto não falarei, pois com meu discurso não conseguirei tornar bom o
ouvido daqueles que o tem ruim por natureza.
5 CONCLUSÃO
Esperamos ter demonstrado, ainda que superficialmente, os primeiros resultados de
nossa pesquisa de mestrado, ainda em andamento, e os rumos que nossa tradução está
tomando. Acreditamos que a abordagem funcionalista da tradução nos auxiliou
consideravelmente com relação a várias dúvidas que surgiram durante o processo de tradução,
principalmente àquelas relacionadas à sintaxe, pontuação e atualização de alguns termos
especializados. Ao questionarmos a função do texto e repensarmos quem é o nosso público-
alvo e o que ele espera de um material como esse, conseguimos tomar decisões que, a
princípio, pareciam muito complicadas. Não pretendemos, com isso, dizer que nossas
escolhas foram as melhores (até porque não existe apenas uma solução correta) mas
556
acreditamos que possam ser suficientemente adequadas à finalidade que propusemos para a
nossa tradução.
A Linguística de Corpus, até o momento, tem oferecido várias confirmações de uso de
termos especializados, além de indicar as melhores opções quando precisamos decidir entre a
utilização de um termo ou outro. Não podemos, entretanto, contar exclusivamente com ela,
sendo ainda necessário consultar material alternativo em alguns momentos. Acreditamos que
isso tenha ocorrido devido à pequena quantidade de textos que conseguimos juntar para
compilação dos corpora, principalmente porque é um tema muito antigo, restrito e
especializado. Ainda assim, não dispensaríamos o auxílio que os corpora têm oferecido à
nossa tradução.
Ao longo do desenvolvimento de nosso trabalho, buscaremos verificar se o
conhecimento em uma determinada área do saber é ou não, por si só, obrigatório para a
elaboração de uma boa tradução, pois também é preciso desenvolver uma série de
competências relacionadas ao processo tradutório para encontrar soluções satisfatórias.
Provavelmente, o tradutor que possui conhecimento técnico sobre o tema a ser traduzido
possui chances maiores de encontrar soluções satisfatórias em um tempo menor, porém, com
o auxílio da Linguística de Corpus, o tradutor sem conhecimento aprofundado do tema pode
fazer escolhas mais pertinentes, baseadas em exemplos autênticos de uso.
Por fim, também esperamos demonstrar como a tradução funcionalista pode contribuir
com a transposição de um conhecimento técnico através do tempo, de modo que o leitor
contemporâneo consiga compreender as instruções de Agazzari com a mesma naturalidade do
leitor do século XVII. Também acreditamos que os corpora, compilados e analisados segundo
os preceitos da Linguística de Corpus poderão apontar soluções e exemplos de uso para
muitos termos técnicos durante a primeira etapa da tradução.
REFERÊNCIAS
AGAZZARI, A. Del sonare sopra’l basso com tutti li stromenti. 1607. Facsimile.
ANTCONC. Version 3.5.7. Tokyo, Japan: Waseda University: Anthony, L., 2018. Disponível
em: <http://www.laurenceanthony.net/software>. Acesso em: 28 ago. 2018.
BIBER, D.; REPPEN, R. (Eds.). The Cambridge Handbook of English Corpus
Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
557
COSTA, M. J. D.; POLCHLOPEK, S. A.; ZIPSER, M. Tradução como ação comunicativa: a
perspectiva do funcionalismo nos Estudos da Tradução. In: Tradução & Comunicação:
Revista Brasileira de Tradutores. São Paulo, n. 24, set 2012, p. 21-37.
DEL SORDO, F. Il basso continuo: una guida pratica e teorica per l’avviamento alla
prassi dell’accompagnamento nei secoli XVII e XVIII. Padova: Armelin Musica, 2010.
DIAS, G. A. O papel do contraponto no desenvolvimento da harmonia: uma abordagem
a partir do baixo contínuo italiano no século XVII. 2015. 203 f. Tese (Doutorado) –
Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2001.
DOURADO, H. A. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Editora 34,
2004.
FAGERLANDE, M. O baixo contínuo no Brasil 1751-1851: os tratados em português.
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011. 200 p.
HOLZ-MÄNTTÄRI, Justa. Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki:
Soumalainen Tiedeakatemia, 1984.
REISS, K.; VERMEER, H. J. Towards a general theory os translational action: skopos
theory explained. Translated by Christiane Nord. New York: Routledge, 2014. 221 p.
ROSA, S. J. A. Teoria e prática do baixo contínuo: uma abordagem a partir das
instruções de J. S. Bach. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Artes,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP: [s.n.], 2007.
SARDINHA, T. B. Linguística de Corpus. São Paulo: Manole, 2004. 410 p.
SKETCH Engine. Lexical Computing Limited, 2003. Disponível em:
<https://www.sketchengine.eu/>. Acesso em: 28 ago. 2018.
STRUNK, W. O. Source Readings in Music History: from classical antiquity through the
romantic era. New York: W.W. Norton & Co., 1950.
TAGNIN, S. E. O. e VALE, O. A. (Org.). Avanços da Linguística de Corpus no Brasil. São
Paulo: Humanitas, 2008.
WORDSMITH Tools. Version 7.0. Lexical Analysis Software; Oxford University Press, 2016.
Disponível em: <http://lexically.net/wordsmith/>. Acesso em: 28 ago. 2018.
A ELABORAÇÃO DE DICIONÁRIO POR MEIO DO USO DE
FERRAMENTAS DA LINGUÍSTICA DE CORPUS**
Michelle Machado de Oliveira Vilarinho (UnB)
**
Pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto de Pós-Doutorado ―Dicionário de Aprendizagem de Português do
Brasil como Segunda Língua‖, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UnB, sob
orientação da Profª. Drª. EnildeFaulstich.
558
Resumo:Esta pesquisa foi desenvolvida no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos (Centro
Lexterm) do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP) da UnB e da linha de
pesquisa Léxico e Terminologia do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de
Brasília (UnB). A pesquisa foi apoiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-
DF), no projeto ―Dicionário de Aprendizagem de Português do Brasil como Segunda Língua‖. A fim
de delimitar os lexemas para compor a nomenclatura do dicionário em elaboração, identificamos os
mais utilizados no Português do Brasil. O referencial teórico se baseia nos princípios teóricos e
metodológicos de Faulstich (2001), Berber Sardinha (2004, p. 3) e Kilgarriff (2004, p. 1; 2014, p. 8).
A metodologia adotada foi a consulta feita no Corpus Brasileiro, disponível no programa Sketch
Engine, mediante o uso da ferramenta wordlist. Essa ferramenta disponibiliza as palavras mais
frequentes do corpus em estudo. Como resultado, selecionamos os substantivos dentre as mil palavras
mais ocorrentes, as quais serão lematizadas. Além disso, foi utilizada a ferramenta thesaurus para
recolha das palavras que mais se relacionam entre si com vistas a compor a nomenclatura da parte
sistêmica da obra lexicográfica desenvolvida para aprendizes de Português do Brasil como Segunda
Língua. Como a Linguística de Corpus disponibiliza os recursos tecnológicos que facilitam a
identificação das palavras mais frequentes, as combinações que ocorrem entre as palavras, as
abonações usadas na língua, os significados usados, entre outros recursos disponíveis, torna-se cada
vez mais útil na produção de dicionários, glossários e vocabulários. Uma vez que o dicionário está
sendo confeccionado mediante consulta a Corpus, registrará os lexemas empregados em situações
comunicativas necessárias para a interação em práticas sociais do aprendiz de PBSL.
Palavras-chave: Dicionário. Linguística de Corpus. Corpus Brasileiro.
Abstract: This research was carried on at the Center of Lexical and Terminological Studies (Lexterm
Center) from the Department of Linguistics, Portuguese and Classical Languages (LIP) and the
Lexicon and Terminology research line at the Graduate Program in Linguistics at the University of
Brasilia (UnB). It was funded by the Federal District Research Foundation (FAP/DF) as part of a
Project titled ―Dictionary of Brazilian Portuguese as a Second Language‖. In order to establish which
lexemes would compose the nomenclature of the dictionary under elaboration, we identified the most
used lexemes in Brazilian Portuguese. The framework is based on the theoretical and methodological
principles of Faulstich (2001), Berber Sardinha (2004) and Kilgarriff (2004, 2014). The methodology
included a search on the Brazilian Corpus, available at the Sketch Engine program, with the use
ofthewordlist tool. This tool returnsthemostfrequentwordsfromthe corpus understudy. As a result,
weselectedthenounsfrom a listof a thousandmostfrequentwordswhichwillbelemmatized. In addition,
weusedthe thesaurus tool tocollectrelatedwordsto build
thenomenclatureofthesystemicpartofthedictionarydeveloped for learnersofBrazilianPortuguese as a
SecondLanguage (BPSL). Corpus
Linguisticsprovidestechnologicalresourcesthatfacilitatetheidentificationof: mostfrequentwords,
combinationsbetweenwords, examplesused in thelanguage, meanings, amongothers. Therefore, it
becomesincreasinglyuseful for compilingdictionaries, glossariesandvocabularies. The
presentdictionaryisbeingelaboratedthrough Corpus consultationand it willregisterlexemesthat are used
in real-lifecommunicativesituationswhich are vital for the social interactionsoflearnersof BPSL.
Keywords:Dictionary. Corpus linguistics.Brazilian Corpus.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo resulta de pesquisa desenvolvida na linha Léxico e Terminologia, do
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (UnB). Nosso
interesse é o registro de resultados parciais dos projetos ―Dicionário Informatizado Analógico
de Língua Portuguesa (DIALP)‖ e ―Dicionário de Aprendizagem de Português do Brasil
559
como Segunda Língua (DAPBSL)‖, apoiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAP–DF). Para compor um dicionário de aprendizagem de Português do Brasil como
Segunda Língua, foi necessário utilizar as ferramentas da Linguística de Corpus, conforme
detalharemos no decorrer das seções.
2 A LINGUÍSTICA DE CORPUS
A Linguística de Corpus apresenta procedimentos empíricos para análise de língua,
mediante ferramentas computacionais que oferecem criação de Corpus, pesquisas de
frequência de ocorrências, buscas programadas com base em análises estatísticas, consulta a
dados reais de uso da língua de forma rápida e interativa, entre outras funções. Para Berber
Sardinha (2004,p. 3),
A Linguística de Corpus se ocupa da coleta e da exploração de corpora, ou
conjuntos de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o
propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade
linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem por meio de
evidências empíricas, extraídas por computador.
As ferramentas que essa Linguística oferece contribuem para a criação e o
aprimoramento de obras lexicográficas e terminográficas. Como a Linguística de Corpus
disponibiliza os recursos tecnológicos que facilitam a identificação das palavras mais
frequentes, as combinações que ocorrem entre as palavras, as abonações usadas na língua, os
significados usados, entre outros recursos disponíveis, torna-se cada vez mais útil, como
ferramenta, para o processo de elaboração de dicionários, glossários e vocabulários, entre
outros documentos de referência.
A composição de dicionário exige técnicas que podem ser supridas mediante a
aplicação da Linguística de Corpus. Com base em resultados acerca da aplicação da
Linguística de Corpus ajustada à Lexicografia, surgiram projetos que foram desenvolvidos, de
forma bem-sucedida. Um exemplo disso é o projeto ―Cobuild, uma parceria entre a
Universidade de Birmingham (Grã-Bretanha) e a editora Collins. No âmbito do Cobuild,
foram produzidos vários dicionários, gramáticas e livros didáticos para o ensino do inglês‖,
segundo Berber Sardinha (2004, p. 6). Esse projeto foi coordenado por Sinclair, ―maior
linguista de corpus da história‖ (id; ibid., p. 13), de modo que houve
Em 1987 o lançamento do dicionário Cobuild, o primeiro a ser compilado a
partir de um corpus computadorizado. Seus verbetes e definições foram
compostos com informações provenientes do corpus. Hoje em dia, o
560
emprego de corpora na produção de dicionários, em língua inglesa pelo
menos, tornou-se rotineira. (BERBER SARDINHA, 200, p. 332-333)
Os princípios formais e as ferramentas da Linguística de Corpus, usados em favor da
Lexicografia, tornaram mais ágil a criação de dicionários, porcausa dos aprimoramentos de
organização e extração de dados linguísticos com base em corpus. Para Sinclair (2005, p. 16),
―corpus é uma coleção de trechos de texto de linguagem em forma eletrônica, selecionados de
acordo com critérios externos para representar, na medida do possível, a língua ou uma
variedade de linguagem como fonte de dados para pesquisa linguística‖††
.
A consulta a corpus torna a obra lexicográfica mais próxima da realidade de usos, por
ser baseada em ocorrências da língua. Por isso, consultamos o Corpus Brasileiro, disponível
no Sketch Engine, programa criado em 2003, que possibilita gerenciamento de corpus e
análise linguística. Esse programa da Lexical Computingfoi criado por Dr. Adam Kilgarriff,
linguista especialista em Linguística de Corpus, Linguística Computacional e Lexicografia.
Para a criação de dicionários, editoras como Oxford University Press, Cambridge
University Press, Collins, Le Robert, Macmillan, Dictionary.com, Cornelsen e
InstituutvoorNederlandseLexicologie, bem como universidades do mundo têm usado o
programa. Pela natureza, o programa direciona-se ―para linguistas e lexicógrafos que desejam
descobrir palavras, usando métodos baseados em corpus‖ (KILGARRIFF, 2004, p. 1; 2014, p.
8).‡‡
No Sketch Engine, há vários corpora, entre os quais o Corpus Brasileiro, que foi
elaborado pelo Dr. Tony Berner Sardinha, professor da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUCSP) e especialista em Linguística de Corpus.
A representatividade de um corpus se baseia em sua extensão. Logo, o Corpus
Brasileiro é representativo, já que é classificado como médio-grande por possuir
1.133.416,757 de ocorrências de palavras (tokens) e 871.117.178 formas das palavras (types).
Tokens representa ―número de itens (ocorrências)‖ e types, ―a razão forma/item
(vocábulo/ocorrência) expressa em porcentagem. [...] Na prática, a razão forma/item indica a
riqueza lexical do texto. Quanto maior o seu valor, mais palavras diferentes o texto conterá‖
(BERBER SARDINHA, 2004, p. 94).
††
Texto original: ―a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to external
criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a source of data for linguistic research.‖ ‡‡
Texto original: tolinguistsandlexicographerswantingtofind out aboutwords, using corpus-drivenmethods.
Informações disponíveis nos sites http://www.datalandscape.eu/companies/lexical-computing e
https://blog.kilgarriff.co.uk/?author=1. Acesso em: 12 abr. 2017.
561
O quadro, a seguir, descreve os gêneros textuais que compõem o Corpus, a
porcentagem e o número de ocorrências:
Quadro 1: constituição do Corpus Brasileiro
Gênero Textual Porcentagem Nº de Ocorrências
Acadêmico: Teses e Dissertações 28,87% 327.221.017
Acadêmico: Artigos 23,74% 269.129.216
Jornalismo: Notícias de Jornal 23,41% 265.338.763
Educação (Miscelânea) 8,15% 92.409.600
Política: Sessões do Congresso 7,12% 80.743.866
Enciclopédia: Wikipédia 4,27% 48.376.978
Técnico: Relatórios e Manuais 1,27% 14.377.742
Legais e Jurídicos 0,83% 9.425.793
Literatura: Miscelânea 0,78% 8.827.430
Acadêmico: Anais 0,63% 7.172.711
Político: Atos de Assembleias
Estaduais
0,36% 4.058.166
Política: Discurso Presidencial 0,16% 1.813.191
Religião: Miscelânea 0,08% 935.839
Religião: Bíblia Cristã 0,08% 881.482
Manuais de Computação 0,07% 760.620
Literatura: Biografias 0,06% 640.709
Jornalismo: Revista 0,04% 503.040
Roteiros de TV e Filmes 0,03% 341.534
Literatura: Crônicas 0,01% 166.655
Medicina: Bula de Remédio 0,01% 117.776
Esporte: Locução de Jogos de Futebol < 0,01% 86.613
Literatura: Pequenos contos < 0,01% 61.628
Política: Debates de TV < 0,01% 22.066
Jornalismo: Horóscopo < 0,01% 4.322
Total
100% 1.133.416.757
Fonte: (COUTINHO, 2016, p. 26-27)
No corpus de estudo§§
, os textos acadêmicos compõem 52,61% do Corpus Brasileiro.
Ao observarmos os demais tipos de textos que constituem esse corpus, é notável como a
norma culta***
seja a predominante. Podemos, então, argumentar que os contextos apresentam
excertos da norma culta da língua. A consulta ao Corpus possibilita o registro da modalidade
escrita culta em uso
§§
O termo corpus de estudo ―é o corpus que se pretende descrever‖, de acordo com Berber Sardinha (2004, p.
21). ***
De acordo com Faraco (2008, p. 37, 76), norma culta é ―o conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem
habitualmente no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala e escrita. [...] ―é a expressão
viva de certos segmentos sociais em determinadas situações.‖
562
Quanto à tipologia, o Corpus Brasileiro é escrito, contemporâneo, de amostragem,
quer dizer, é composto por porções de textos ou de variedades textuais, planejado para ser
uma amostra finita da linguagem como um todo, conforme Berber Sardinha (2004, p. 20).
Na próxima seção, descrevemos a ferramenta utilizada para extração dos dados.
3 WORD LIST PARA IDENTIFICAR PALAVRAS FREQUENTES
No programa Sketch Engine, há a ferramenta wordlistque organiza alista das palavras
mais frequentes do corpus. Essa listagem é relevante para que lexicógrafos possam identificar
as palavras mais usadas. No contexto de aprendizagem de Segunda Língua, é provável que os
aprendizes consultem, em dicionários, as palavras que sejam frequentes no corpus. Assim, em
vez de o lexicógrafo definir a nomenclatura a compor o dicionário, é recomendável que esse
profissional contemple as palavras em uso na língua, que poderão ser procuradas pelo
consulente. ―Os dicionários baseiam-se em um corpus eletrônico para fazer a seleção da
nomenclatura, sobretudo em função do índice de frequência‖, segundo Binon e Verlinde
(2002, p. 101). O percurso metodológico de se basear em Corpus para elaborar dicionário é
frequente em outras línguas. No entanto, na Língua Portuguesa, esse percurso ainda é carente;
o que se tem é o Dicionário de Usos do Português do Brasil de Borba (2002) que foi feito com
base no Corpus criado na UNESP de Araraguara.
Ademais, temos a impressão de que faltam estudos para identificar o léxico básico do
Português do Brasil. Nossa contribuição, por meio do registro das palavras mais frequentes, é
de natureza metodológica, com vistas a elaborar dicionários, vocabulários e glossários para o
ensino da língua portuguesa a falantes de outras línguas.
Leffa (2000, p. 26) considera que ―a motivação principal para o estudo da frequência
de ocorrências é a constatação de que a maior parte do vocabulário de um texto é formada
pelas palavras mais comuns da língua‖. Podemos entender que as palavras mais comuns são
as recorrentes, por serem usuais. O resultado do que a Word list apresenta é útil por mostrar
essas palavras. Assim, o uso dessa listagem de palavras evita que a nomenclatura do
dicionário seja constituída por palavras que não seriam consultadas pelo aprendiz.
Na wordlist do Corpus Brasileiro, a ordem de apresentação é a que vai das palavras
mais frequentes para as menos frequentes, sem a separação por categoria gramatical. Na lista,
há ―a presença bem maior das palavras do chamado sistema fechado da língua (artigos,
pronomes, preposições, conjunções), com uma presença bem menor do sistema aberto
(substantivos, verbos, adjetivos)‖, conforme Leffa (2000, p. 30). A palavra mais frequente é a
563
preposição de, cuja frequência é 44.363.032. As 20 palavras mais frequentes são as
gramaticais, conforme o quadro a seguir elenca:
quadro2: 20 palavras mais frequentes do Corpus Brasileiro
Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência
de 44.363.032 para 7.802.284 dos 4.963.687
a 2.8392.471 com 7.010.487 não 4.549.628
e 22.238.879 no 6.173.492 as 4.531.407
o 21.888.135 os 6.019.595 por 4.349.398
que 16.283.800 uma 5.345.736
em 10.293.002 é 5.325.656
O substantivo comum mais frequente no Corpus é trabalho, cuja ocorrência é 827.090.
O verbo mais frequente é o verbo ser e suas flexões, cuja ocorrência é 8.621.894. Há maior
quantidade de substantivos abstratos. Localizamos 395 substantivos mais frequentes, os quais
estão relacionados no quadro a seguir.
quadro3: substantivos mais frequentes do Corpus Brasileiro
palavra frequência palavra frequência palavra Freqüência
ação 247,797 falta 176,966 plano 128,428
acesso 152,814 família 107,991 planta 115,837
acordo 359,214 fase 181,221 poder 289,296
administração 117,743 fato 333,942 polícia 93,227
água 296,442 fator 102,820 política 385,164
alta 162,521 feito 153,477 político 126,340
alteração 95,199 figura 225,169 ponto 251,673
alto 107,854 filho 107,081 população 99,519
aluno 115,567 filme 111,798 porto 154,810
ambiente 193,533 final 622,383 posição 136,052
amostra 208,854 folha 306,033 possibilidade 153,699
análise 374,833 fora 163,519 possível 299,152
animal 156,717 força 130,924 povo 140,811
ano 1.654,842 forma 768,363 prática 115,986
aplicação 137,508 formação 293,747 prazo 121,428
apoio 162,504 forte 106,448 preço 203,747
área 119,172 frente 136,143 presença 223,222
arte 97,531 frequência 96,375 presente 228,234
artigo 139,202 função 251,419 presidente 961,318
aspecto 162,407 funcionários 101,660 pressão 94,024
assunto 96,556 fundação 93,152 primeiro 103,263
atenção 136,656 fundamental 139,818 principal 184,802
atendimento 105,201 futuro 105,154 problema 502,171
atividade 500,771 gente 150,338 processo 618,852
atuação 93,758 gestão 116,372 produção 432,834
atual 152,274 governo 473,501 produto 134,882
aumento 284,459 Governo 227,824 professor 389,372
autor 179,658 grau 162,909 profissional 290,364
avaliação 245,762 grupo 456,304 programa 262,984
baixa 113,598 habitante 112,685 projeto 568,839
banco 124,233 história 420.113 proposta 177,315
base 271,410 homem 195,666 próprio 204,536
bilhão 119,836 hora 106,530 próximo 114,737
busca 144,292 humano 195,303 público 202,674
câmara 462.368 idade 217,491 quadro 121,490
564
campanha 97,052 ideia 160,652 qualidade 275,354
campo 230,551 imagem 116,831 quantidade 116,690
capacidade 183,473 importância 199,350 queda 94,347
capital 161,054 Importante 123,673 questão 150,683
característica 193,038 índice 108,556 razão 131,752
caráter 110,495 indivíduo 140,683 real 225.776
casa 383,901 indústria 93,572 realidade 175,786
caso 481,338 influência 98,908 realização 132,434
causa 141,425 informação 154,888 recurso 326,789
CD 353,622 inicial 99,236 redação 308,726
célula 93,436 início 233,844 rede 152,977
central 106,663 instituição 140,899 redução 168,497
centro 219,565 instituto 158,757 referência 207,469
cidade 93,166 interesse 230,457 reforma 113,817
ciência 108,411 interior 104,922 região 205,269
classe 118,899 internacional 103,833 regime 91,999
código 97,029 janeiro 101,252 relação 654,588
coisa 251,899 jogo 151,164 renda 122,472
classe 118,899 jovem 110,511 reportagem 148,773
código 97,029 justiça 142,061 república 111,296
coisa 251,899 lado 286,591 resistência 97,067
comissão 131,920 Lei 142,278 respeito 196,476
comportamento 143,986 leitura 118,548 responsabilidade 92,542
comum 135,950 ligação 117,113 responsável 109,139
comunicação 118,187 peso 158,114 resposta 128,340
comunidade 133,702 pesquisa 99,589 resultado 355,907
conceito 115,901 pessoa 149,616 revisão 142,605
concentração 114,402 pessoal 120,424 revista 101,444
condição 117,897 linguagem 98,640 risco 175,946
congresso 130,609 linha 120,808 saúde 358,285
conhecimento 249,818 literatura 122,618 secretaria 98,227
conjunto 173,227 livre 96,256 século 183,630
conselho 117,395 livro 157,413 seguinte 118,957
constituição 98,850 local 107,292 segunda 161,925
construção 206,942 localização 123,245 segurança 126,176
consumo 133,813 lugar 221,131 seis 141,168
conta 196,677 mãe 99,591 seleção 123,906
conteúdo 95,999 maio 96,381 semana 169,944
contexto 142,067 maioria 223,827 Senhor 94,222
contrário 108,924 mais 98,106 série 168,609
controle 281,057 maneira 193,653 serviço 148,047
corpo 160,547 manutenção 92,486 sessão 429,192
crescimento 225,741 massa 95,522 setor 198,279
criação 157,245 matéria 117,297 sexo 104,308
criança 138,915 material 92,503 simples 122,914
crise 119,677 média 277,336 sistema 643,894
cultura 214,336 medida 147,659 situação 96,739
cultural 108,709 médio 140,949 social 111,031
curso 138,325 meio 440,532 sociedade 326,605
custo 202,47 membro 100,164 solo 167,284
dado 94,982 mercado 310,566 solução 140,441
data 92,852 mês 167,834 sucesso 100,463
década 124,674 método 244,474 sul 245,810
decisão 144,920 tabela 144,478
defesa 96,784 milhão 283,353 tarde 92,183
departamento 133,653 mínimo 121,520 taxa 146,238
deputado 679,725 ministério 187,612 técnica 250,805
565
desempenho 134,916 ministro 107,829 técnico 114,293
desenvolvimento 432,430 minuto 102,507 tema 122,736
Deus 105,940 modelo 96,886 temperatura 105,660
dez 133,326 modo 258,333 tempo 628,630
dezembro 97,840 momento 284,494 teoria 101,191
dia 494,961 montagem 279,980 termo 152,814
diagnóstico 97,657 morte 134,666 terra 124,870
diferença 121,150 mostra 135,393 teste 123,777
difícil 102,105 movimento 164,177 texto 185,281
dificuldade 104,816 mudança 246,284 time 128,306
dinheiro 136,777 mulher 140,791 tipo 110,594
direção 115,783 mundo 371,531 título 93,736
direito 137,787 município 118,993 torno 100,186
diretor 107,682 música 94,040 total 292,136
discurso 150,642 nacional 207,362 trabalho 968,264
discussão 112,409 natural 102,465 trabalhador 142,036
distribuição 133,969 natureza 148,974 tratamento 245,026
doença 92,372 necessidade 103,790 sul 245,810
dois 618,674 nível 277,326 último 263,168
economia 158,953 noite 100,217 União 104,706
educação 290,266 nome 200,515 único 216,078
efeito 133,324 norte 94,598 unidade 99,139
elemento 135,957 novo 275,354 universidade 316,101
emprego 91,870 número 419,536 uso 349,543
empresa 300,760 objetivo 121,828 tipo 459,425
energia 131,827 objeto 113,494 utilização 144,794
ensino 115,036 obra 115,931 valor 629,945
época 161,584 ordem 256,510 variável 108,345
equipe 163,567 ordinária 278,876 verdade 145,471
escola 113,170 organização 188,085 vez 493,802
escolar 106,163 origem 119,220 via 112,038
espaço 214,283 paciente 106,400 vida 509,721
espécie 235,292 padrão 115,047 violência 103,165
Estado 655,919 Pai 94,285
estado 187,403 pais 98,402
estrutura 181,411 país 177,818
estudo 699,074 palavra 108,301
etc 128,555 papel 207,202
exemplo 352,460 parte 575,431
existência 123,916 participação 189,786
experiência 153,492 partido 98,408
expressão 101,797 passado 196,780
faculdade 106,426 perspectiva 96,973
Uma observação minuciosa dessas palavras mostra que a maioria é de substantivos
abstratos. Não há registro de nenhum tipo de animal, por exemplo. No campo lexical comida,
ocorre apenas massa. Do campo lexical bebida, ocorre somente o lexema água. Do campo
lexical família, aparecem filho, mãe, pai, pais.
É uma decisão do lexicógrafo inserir ou excluir os lexemas substantivos próprios no
dicionário. Assim sendo, decidimos incluir os substantivos próprios encontrados no corpus,
bem como algumas abreviaturas, que referenciam nomes de pessoas ou de lugares, porque,
566
por serem recorrentes, os aprendizes de PBSL podem encontrá-las em situações de uso da
língua. Para fins de sistematização, foram agrupadas no quadro 3.
quadro4: substantivos próprios e abreviação mais frequentes do Corpus Brasileiro Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência
América 123,194 Francisco 106,813 Pedro 107,699
Antônio 98,889 França 93,836 Santos 153,801
Brasil 1,027,976 Henrique 115,136 Sérgio 108,107
Brasília 201,132 kg 120,820 Silva 164,596
Carlos 213,657 km² 299,114 SP 230,711
EUA 186,010 João 190,681 TV 119,612
Fernando 162,451 Maria 203,059
FHC 109,640 Oliveira 113,711
O nome de lugar mais recorrente é o do país Brasil com 1,027,976. Nomes de pessoas
frequentes foram Antônio, Carlos, Fernando, Francisco, Henrique, João, Maria, Pedro, Sérgio.
A sigla FHC é também recorrente, possivelmente por ter havido um presidente da república
denominado por essa abreviação, o que faz com que várias notícias sejam publicadas com o
uso do nome ou da sigla. Optamos por registrar, no dicionário em elaboração, substantivo
próprio eabreviaturas encontradas.
A lista de verbos é representativa. São 26 verbos mais frequentes, extraídos do Corpus
Brasileiro, relacionados no quadro subsequente.
quadro5: verbos mais frequentes do Corpus Brasileiro Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência
afirmar 297,731 ficar 324,373 possuir 105,748
apresentar 203,602 haver 939,365 precisar 107,973
dar 320,217 ir 3,089,072 quer 172,129
dever 737,26 manter 98,972 representar 109,796
dizer 994,581 mostrar 135,393 ser 8,621,894
estar 1,917.833 ocorrer 115,320 ter 2,230,222
existir 132,166 parecer 131,311 ver 170,604
falar 98,434 passar 222,499 vir 186,426
fazer 876,518 permitir 105,595
Com relação às preposições, a frequência de ocorrências é representativa no Corpus,
conforme pode ser observado no quadro 6.
quadro 6: preposições mais frequentes do Corpus Brasileiro Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência
de 44,696,568 do 14,787,853 em 10,412,321
ao 4,559,093 da 16,905,963 entre 1,802,897
com 7,010,487 durante 415,552 para 7,802,284
Para elaboração do Dicionário de Aprendizagem de Português do Brasil como
Segunda Língua, usaremos a listagem dos substantivos e verbos mais empregados, visto que
567
as classes fechadas, como preposições e conjunções, serão objetos estudos posteriores. É
válido acrescentar que no DIALP, são registrados somente substantivos e verbos.
A análise da wordlist do Corpus Brasileiro apresenta uma proposta de interesse, pois
possibilita identificar as palavras mais usadas em teses, dissertações, artigos científicos, anais
de Congresso, notícias de jornal, sessões do Congresso, Wikipédia, relatório e manuais
técnicos, textos legais e jurídicos, discurso presidencial, textos de religião e educação da
revista miscelânea. Esse Corpus revela, por conseguinte, as palavras empregadas na
modalidade escrita formal cultado Português do Brasil.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, a Linguística de Corpus oferece recursos que possibilitam a elaboração
de obras lexicográficas e terminográficas com base no uso. Ferramentas, como wordlist,
rapidamente gera listas de palavras mais frequentes. Com o apoio dessa ferramenta, nossa
pesquisa delimita os dados que compõem o corpus do dicionário de aprendizagem do
Português como L2. Prevemos que seja de grande utilidade para ampliar a inter-relação entre
a aprendizagem do português e o domínio que os usuários detêm de suas línguas, com vistas a
ampliar as práticas de linguagem, as sociais e culturais entre línguas.
REFERÊNCIAS
BERBER SARDINHA, T. Linguística de Corpus. Barueri, São Paulo: Manole, 2004.
______. Linguística de Corpus: histórico e problemática. DELTA, São Paulo, v. 16, n. 2, p.
323-367, 2000. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
44502000000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 Maio2017.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-44502000000200005.
BINON, J & VERLINDE, S. A contribuição da lexicografia pedagógica à aprendizagem e ao
ensino de uma língua estrangeira ou segunda. In: LEFFA, V. J. (org.). As Palavras e Sua
Companhia. Pelotas: EDUCAT, 2000, p. 96-118. Disponível em:
<http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/As_Palavras.pdf>. Acesso em: 16 maio 2017.
BORBA, F. da S. et al. Dicionário de usos do Português do Brasil. São Paulo: Ática, 2002.
FARACO, C. A. Norma culta brasileira: desatando nós. São Paulo: Parábola, 2008.
LEFFA, V. J. Aspectos externos e internos da aquisição lexical. In: ______. (org.). As
Palavras e Sua Companhia. Pelotas: EDUCAT, 2000, p. 96-118. Disponível em:
<http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/As_Palavras.pdf>. Acesso em: 16 maio 2017.
568
SINCLAIR, J. Corpus andtext: basicprinciples. En M. Wynne (Ed.).Developinglinguistic
corpora: a guidetogoodpractice. Oxford: Oxbow Books, 2005. Disponível em:
<http://ota.ox.ac.uk/documents/creating/dlc/chapter1.htm>. Acesso em 11 maio 2017. ESTUDOS ESTILÍSTICOS DE GLADSTONE CHAVES DE MELO: UM PERCURSO
HISTORIOGRÁFICO-LINGUÍSTICO
Vanessa Ghilardi-Fossã (UFG)
Resumo: Com uma impressionante e extensa produção acadêmica, Gladstone Chaves de Melo é
considerado um dos mais profícuos linguistas brasileiros que tanto contribuiu para fortalecer a
pesquisa linguística no Brasil. No que tange à estilística da língua portuguesa, Chaves de Melo teve a
iniciativa de estudá-la em um período em que essa disciplina ainda era recente no Brasil e não ocupava
lugar de destaque nos estudos tradicionais de língua e linguagem. Diante disso, este artigo pretende
apresentar um estudo sobre a estilística da língua portuguesa desenvolvida por Chaves de Melo sob o
viés da historiografia linguística, com objetivo de descrever algunsconceitos estilísticos presentes em
suas obras, além de mostrar como a relação entre língua e estilo foi estabelecida pelo autor. Dessa
forma, para alcançar nosso intento, os princípios metodológicos utilizados neste trabalho serão os da
historiografia linguística, a saber, os princípios de contextualização, imanência e adequação, bem
como o método de revisão bibliográfica e análise de corpus. Como aporte teóricoutilizaremos
contribuições de autores como Chaves de Melo (1975; 1976; 1981), Mattoso Câmara Jr. (1978),
Possenti (2008), Altman (1998; 2009), Koerner (1996; 2014), entre outros. Portanto, faremos um
recorte metodológico da historiografia linguística, limitando o presente trabalho a um exame
preliminar apenas do princípio da contextualização e possíveis influências de outros autores e/ou obras
para a elaboração dos trabalhos de Chaves de Melo sobre a estilística da língua portuguesa, bem como
analisar a relação entre língua e estilo definida pelo autor.
Palavras-chave: Gladstone Chaves de Melo. Historiografia Linguística. Estilística Brasileira.
Abstract
With an impressive and extensive academic production, Gladstone Chaves de Melo is considered one
of the most proficient Brazilian linguists that has contributed so much to strengthen the linguistic
research in Brazil. Regarding the stylistics of the Portuguese language, Chaves de Melo had the
initiative to study it in a period in which this discipline was still recent in Brazil and did not occupy a
prominent place in traditional studies of language and language. This article aims to present a study on
the stylistics of the Portuguese language developed by Chaves de Melo under the bias of linguistic
historiography, in order to describe some stylistic concepts present in his works, as well as to show
how the relation between language and style was established by the author. Thus, in order to reach our
goal, the methodological principles used in this work will be those of linguistic historiography,
569
namely, the principles of contextualization, immanence and adequacy, as well as the method of
bibliographical revision and analysis of corpus. As a theoretical contribution we will use contributions
from authors such as Chaves de Melo (1975, 1976, 1981), Mattoso Câmara Jr. (1978), Possenti
(2008), Altman (1998, 2009), Koerner (1996, 2014), among others. Therefore, we will make a
methodological cut of linguistic historiography, limiting the present work to a preliminary
examination only of the principle of contextualization and possible influences of other authors and / or
works for the elaboration of the works of Chaves de Melo on the stylistics of the Portuguese language,
as well as how to analyze the relationship between language and style defined by the author.
Keywords:Gladstone Chaves de Melo. Historiography-Linguistics.Brazilian Style.
1 INTRODUÇÃO
Renomado linguista e filólogo brasileiro, Gladstone Chaves de Melo (1917-2001) foi
professor em diversas instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade
Federal Fluminense e a Universidade de Coimbra (Portugal). Fez parte de diversas associações
nacionais e estrangeiras, como a Academia Brasileira de Filologia, na qual foi membro efetivo, eleito
em 1951, Círculo Linguístico do Rio de Janeiro, Sociedade de Língua Portuguesa de Lisboa e
Associaçom Galega da Língua (AGAL, Galiza, Espanha), além de contribuir durante toda sua
produção acadêmica e intelectual para fortalecer o ensino e a pesquisa sobre a língua portuguesa no
Brasil e fora dele.
Autor de inúmeras obras, como A língua do Brasil ([1946] 1975), Alencar e a “língua
brasileira” ([1948] 1972), Iniciação à filologia e à linguística portuguesa([1951] 1981) e Ensaio de
estilística da língua portuguesa (1976), trabalhos que demonstram a ampla visão linguística e
filológica de Gladstone Chaves de Melo, com passagens que revelam a variação linguística no Brasil,
refletindo sobre a diversidade de usos linguísticos, as diferenças entre o estilo do português utilizado
no Brasil e em Portugal, além de fazer a distinção entre gramática e estilística, disciplina, esta, até
então recente no Brasil e que estuda o sistema expressivo da língua. Sobre a referida distinção, o autor
aponta:
A Gramática sistematiza os fatos da língua literária atual: é apenas um rol,
um catálogo honesto, estabelecido com rigor e método. A Estilística é mais
fina e vai mais longe: busca descobrir o porquê da escolha que fez este e
570
aquele falante, quando preferiu entre duas ou três possibilidades uma; busca
descobrir a adequação entre expressão e a situação linguística concreta, a ver
se a escolha bem se ajustou a tal situação concreta [...]; busca estudar
ordenadamente os processos de que dispõe a língua para que o falante, de
par com o conceito que emite, exteriorize a sua emoção, a impressão afetiva
que nele causa o enunciado (CHAVES DE MELO, 1981, p. 54)†††
.
A estilística, em sentido lato, pertence à linguística e estuda o estilo da linguagem, isto é, a
capacidade expressiva da língua em uso, tanto oral quanto escrita. Segundo Mattoso Câmara Jr.
([1953] 1978), a estilística pode exprimir-se nos diversos estratos da língua (fonética/fonologia,
léxico/semântica, morfologia, sintaxe). Desse modo, é possível falar em estilística fônica, estilística
léxico-semântica e estilística sintática. É comumente associada ao estilo, uma vez que estuda os
fenômenos linguísticos levando em consideração a maneira pessoal que o indivíduo tem de escolher e
operar os recursos expressivos que estão à sua disposição.
Para Gladstone Chaves de Melo, a escolha é ―a alma do estilo‖ (CHAVES DE MELO, 1976,
p. 23). Assim, em seus estudos estilísticos, o autor opta pela Estilística da Expressão, que é o estudo
dos valores estilísticos da linguagem expressa, considerando particularidades afetivas, volitivas,
estéticas, sentimentais, aspectos que também irão individualizar a expressão de cada um.
Dessa forma, em razão da relevância dos estudos de Chaves de Melo para o desenvolvimento
da linguística brasileira, os objetivos do presente trabalho consistem em descrever algunsconceitos
estilísticos e linguísticos que nortearam a elaboração de suas pesquisas estilísticas, além de mostrar
como a relação entre língua e estilo foi estabelecida pelo autor. Para alcançar nosso intento,
organizamos uma base metodológica amparada na historiografia linguísticaque, segundo Altman
(2009, p. 128), é uma disciplina que ―tem como principais objetivos descrever e explicar como se
produziu e desenvolveu o conhecimento linguístico em um determinado contexto social e cultural,
através do tempo‖.
Com efeito, a historiografia linguística pode ser entendida como o ―modo de escrever a
história do estudo da linguagem baseado em princípios‖ (KOERNER, 1996, p. 45). Assim, o autor
ressalta que o objeto de estudo deve ser observado segundo três princípios que orientam a pesquisa, a
saber: contextualização (relaciona o contexto histórico e sociocultural da época em que a obra foi
produzida com as concepções linguísticas que serão analisadas); imanência (levantamento de
informações contidas na obra, terminologia utilizada e conceitos linguísticos envolvidos); adequação
(aproximaçãodosconceitos e terminologias da obra analisada com as teorias atuais, verificando
possíveis continuidades e/ou rupturas).
†††
As referências das obras de Gladstone Chaves de Melo serão feitas desta maneira, usando CHAVES DE
MELO como sobrenome composto, conforme o autor fazia quando citava suas próprias obras, fato que pode ser
observado nas referências bibliográficas de seu livro Iniciação à filologia e à linguística portuguesa(1981).
571
Convém explicar que o objeto de análiseda historiografia linguísticanão é a linguagem, mas as
formas de conhecimento que foram construídas sobre a linguagem ao longo da história, isto é, as
teorias da linguagem e da língua, suas aplicações e evolução ao longo do tempo. Esse objetopode ser
uma obra, um conceito ou época, um autor ou a obra completa de um autor, e para cada objeto
analisado, a historiografia linguística propõe procedimentos metodológicos diferenciados.
De acordo com Altman (1998), a atividade historiográfica não consiste apenas em selecionar
acontecimentos históricos, mas sim em analisar esses acontecimentos de maneira crítica à luz do
espírito da época em que ocorreram. Dessa forma, a historiografia linguística leva em consideração os
diferentes fatores que contribuíram para que determinado saber linguístico se consolidassepor meio de
um processo histórico.
Outro aspecto importante de caráter metodológico na pesquisa historiográfica-linguística é a
questão da influência que, por um lado, ―diz respeito a experiências compartilhadas, educação‖ e, por
outro lado, se refere à ―influência direta que pode ser documentada com base em referências explícitas,
comparação de textos, agradecimentos públicos, e assim por diante‖ (KOERNER, 2014, p. 60). Dentre
os critérios mais relevantes para determinar a influência, apontamos o reconhecimento público, que
pode aparecer em ―referências diretas de um autor às obras de outros‖ (KOERNER, 2014, p. 102).
Entretanto, não temos a pretensão de esgotar a discussão sobre o tema da estilística, visto a
complexidade e a dimensão que esta alcança e pelo fato de nosso estudo historiográfico-
linguísticosobre Gladstone Chaves de Melo ainda estarem desenvolvimento. Desse modo, fizemos um
recorte metodológico e limitamos o presente trabalhoaum exame preliminar apenas do princípio da
contextualização e possíveis influências de outros autores e/ou obraspara a elaboração dos trabalhos do
autor historiografado no que diz respeito à estilística da língua portuguesa.
Diante do que foi exposto, este estudo justifica-se, em primeiro lugar, graças à pertinência dos
estudos estilísticos de Chaves de Melo no cenário da linguística brasileira, em um período em que a
disciplina de estilística ainda era recente no Brasil e não ocupava lugar de destaque nos estudos
tradicionais de língua e linguagem. E, em segundo lugar, pelo fato de que a historiografia linguística é
uma disciplinaque se preocupa em entender como o conhecimento acerca da linguagem se
desenvolveu ao longo do tempo, o que, segundo Altman (1998),é importante para o desenvolvimento
da própria historiografia da linguística brasileira e a compreensão de suas ideias, o que colabora para a
reflexão sobre teorias linguísticas já consolidadas e que estão à espera de possíveis atualizações e
avanços metodológicos.
2 ESTUDOS ESTILÍSTICOS DE GLADSTONE CHAVES DE MELO: LÍNGUA
PORTUGUESA E ESTILO BRASILEIRO
572
No Brasil, a estilística era compreendida basicamente por dois extremos: ou como uma
oposição à gramática normativa, pois o que não seguia as regras normativas era considerado ―desvio‖,
ou como o conjunto de características psicológicas individuais, ligadas à subjetividade do autor ou do
falante, não havendo um consenso entre os pesquisadores nem mesmo a respeito da própria concepção
de estilo, conforme aponta Possenti (2008):
Vimos que a noção de estilo é bastante confusa, havendo desta palavra
numerosas definições (ver, por exemplo, Chociay, 1983, que comenta nada
menos do que doze delas). [...] Entre a fluidez que se percebe nos
tratamentos do estilo pelos críticos literários e a tentativa de estabelecer uma
univocidade maior para este conceito, situam-se os linguistas, que tentam
depreender noções um pouco mais severamente controláveis com base nas
respectivas concepções de gramática ou de língua (POSSENTI, 2008, p.
249).
Destaquemos a obra Ensaio de estilística da língua portuguesa (1976), na qual Chaves de
Melo examina os aspectos estilísticos da língua, tecendo considerações sobre diversas teorias, dentre
as quais destacamos a de Charles Bally (1865-1947), em sua obra Tratado de estilística francesa
(1909), e a de Pierre Guiraud (1912-1983), com a obra A Estilística (1954), importantes expoentes nos
estudos estilísticos na Europa. Apesar de seguir os estudos estilísticos de Bally, Chaves de Melo faz
uma crítica a esse autor pelo fato de desconsiderar os textos literários. Segundo o linguista brasileiro,
os escritores literatos fazem uso consciente dos recursos estilísticos da língua para alcançar os efeitos
de sentido pretendidos, sendo um campo fértil para análise estilística.
Em relação à pesquisa estilística brasileira, Chaves de Melo difere-se de seus antecessores,
como Rodrigues Lapa e Silveira Bueno, citados pelo próprio autor, visto que eles fizeram
simplesmente compêndios de recursos da língua, manuais de gramática normativa que se distanciavam
da abordagem dos estudos estilísticos que estavam sendo feitos fora do país (CHAVES DE MELO,
1976, p. 12). Enquanto esses autores tratavam a estilística como parte da gramática, Chaves de Melo
considera duas disciplinas diferentes e autônomas, mas que caminham paralelamente.
Vale ressaltar a importância da iniciativa de Chaves de Melo em pesquisar sobre estilística da
língua portuguesa em um período em que essa disciplina ainda era recente no Brasil e não ocupava
lugar de destaque nos estudos tradicionais de língua e linguagem. Na verdade, os fundamentos
estilísticos promovem o questionamento e a reflexão a respeito de concepções consolidadas,
principalmente pela gramática normativa, o que muitas vezes se torna prejudicial à originalidade do
573
estilo, além de oferecerem possibilidades ao autor de ir além do significado denotativo das palavras
em um texto, por exemplo, aumentando sua emotividade e sugestionando o interlocutor.
Quando se trata de pesquisa historiográfica-linguística, é de suma importância apresentar a
orientação que norteava os estudos linguísticos na época em que as obras foram produzidas, a saber, o
princípio da contextualização, além das concepções linguísticas adotadas nas próprias obras. Esse
princípio refere-se à determinação do ―clima de opinião‖ do período em que a obra foi produzida e
desenvolvida, retomando o passado e relacionando o contexto histórico e sociocultural da época com
as concepções linguísticas que serão analisadas. As ideias linguísticas nunca se desenvolveram
independente de outras correntes intelectuais do período em que surgiram.
Dessa forma, ao analisar língua e estilo, Chaves de Melo retoma os pressupostos saussurianos,
o estruturalismo, e define fala ou discurso (parole) como a execução individual da língua, isto é, o uso
que o falante faz do sistema. Ao colocar em prática a língua aprendida na comunidade da qual faz
parte, o falante concretiza essa língua e, ao escolher o que usará dentro das possibilidades que a língua
lhe oferece, acaba imprimindo um estilo próprio em sua fala.
Em particular, na obra A língua do Brasil ([1946] 1975) Chaves de Melo considera que, assim
como existe um estilo individual de cada falante, também haveria um estilo nacional que representa
―um temperamento, um caráter, uma sensibilidade, um modo-de-ser nacional, [...] uma expressão
linguística que reflita esse modo-de-ser, essa, por assim dizer, alma coletiva‖ (CHAVES DE MELO,
1975, p. 133).
No que se refere à orientação que, predominantemente, norteava os estudos linguísticos no
Brasil, destaca-se a teoria linguística desenvolvida pelo filósofo e linguista suíçoFerdinand de
Saussure (1857-1913), a qual inaugurou o chamado estruturalismo, termo que surge uma vez que a
língua, seu objeto de estudo, é concebida como um sistema, ou seja, uma estrutura constituída por um
conjunto de elementos que obedecem certos princípios de funcionamento para produzir um todo
coerente de sentido. Assim, ―Saussure focalizou em seu trabalho a linguística da língua, "produto
social depositado no cérebro de cada um", sistema supraindividual que a sociedade impõe ao falante‖
(PETTER, 2014, p. 14).
Apesar de língua e fala serem inseparáveis, os estruturalistas tomavam a primeira como algo
isolado da segunda, além de desconsiderar em suas análises variações linguísticas, situações concretas
de uso da língua e fatores extralinguísticos que envolvem aspectos geográficos, históricos, sociais,
culturais, econômicos, políticosetc.
Nessa perspectiva, Chaves de Melo nunca foi adepto de um estruturalismo dito como
―radical‖, uma vez que não considera a língua isolada da fala, nem tão pouco faz abstração de
574
fenômenos socioculturais e históricos em suas análises linguísticas. Por esse fato, Altman (1998)
adverte que os pesquisadores contemporâneos a Chaves de Melo não o viam como linguista, mas sim
como filólogo. Segundo a autora, tal julgamento ocorria, pois, até os anos sessenta, ―no Brasil, sob a
designação de lingüistas, se colocavam apenas os chamados estruturalistas‖ (ALTMAN, 1998, p. 121),
o que reitera a concepção que se tinha naquela época acercado estruturalismo. A autora ainda esclarece
que:
A separação entre os dois programas de investigação começava aos poucos a
se fazer mais clara para a comunidade acadêmica da época: de um lado,
colocavam-se, sob a designação de Filologia, os trabalhos de edição crítica
de textos literários e os de dialetologia; de outro, sob a designação de
Lingüística, os trabalhos de descrição sincrônica de outras modalidades de
língua que não a literária (ALTMAN, 1998, p. 122).
Em se tratando de variedade linguística, Chaves de Melo demonstrou em alguns de
seus trabalhos grande interesse pelos estudos da sociolinguística. Em linhas gerais, a
sociolinguística é um campo da linguística que estuda a língua em uso e sua diversidade, a
qual é condicionada por fatores extralinguísticos, tais como diferenças geográficas, históricas,
sociais, culturais, econômicas, políticas, estéticasetc. Dessa forma, a mensagem do falante
pode apresentar variações de escolha, ainda que essa diversidade sofra uma ação coercitiva
representada pela norma padrãoexistente na comunidade de fala onde ocorre a comunicação.
Em obras como A língua do Brasil ([1946] 1975), Alencar e a “língua brasileira” ([1948]
1972) e Iniciação à filologia e à linguística portuguesa ([1951] 1981) observa-se a ampla visão
linguística e filológica de Chaves de Melo, com muitas passagens que mostram avariação linguística
existente no Brasil, além das diferenças entre a língua portuguesa utilizada aqui e em Portugal.
Portanto, o autor demonstra certa originalidade no que se refere aos estudos da sociolinguística no
Brasil na época da publicação de suas obras.
De fato, pode-seobservar no trecho abaixo, extraído da segunda parte da obra Iniciação à
filologia e à linguística portuguesa ([1951] 1981), que o autor faz referência aos usos concretos da
língua e à variação linguística decorrente dessas práticas:
[...] O latim ponto de partida dos idiomas românicos é o latim vulgar ou, por
melhor nome, latim coloquial, isto é, a língua viva do povo romano e dos
povos romanizados, língua instrumento de comunicação diária, com
finalidades práticas e imediatas.
É bem de ver que tal latim não se mostrava absolutamente uniforme por toda
a parte e em todas as camadas sociais, do mesmo modo que a linguagem
575
coloquial do Rio de Janeiro não é inteiramente igual à do Ceará ou à de
Minas; do mesmo modo que, dentro da cidade do Rio de Janeiro, um
malandro não usa a linguagem de um professor universitário ou de um
balconista que atende a senhoras (CHAVES DE MELO, 1981, p. 65).
Mais adiante, em outro trecho da obra supracitada, observa-se que Chaves de Melo também
leva em consideração fatores extralinguísticos, como aspectos sociais, históricos e políticos, como
sendo relevantespara a compreensão da evolução fonética da língua: ―Grande importância se tem
atribuído, e não sem razão, ao estado político e social da comunidade [de fala], como elemento de
atuação na relativa fixidez ou na fluidez do material sonoro das línguas‖ (CHAVES DE MELO, 1981,
p. 195).
No que tange às variações linguísticas existentes entre o português utilizado no Brasil e em
Portugal, o autor teve valiosa contribuição para combater uma ideia recorrente entre os linguistas
brasileiros: a de separação do português em duas línguas, a língua brasileira e a língua portuguesa,
fortemente difundida por quem Chaves de Melo chama de ―vocabulistas‖ e ―nacionalistas‖ (CHAVES
DE MELO, 1975, p. 22-24). Em suas pesquisas, o autor procurou comprovar que não temos outra
língua, usamos a mesma língua de Portugal, porém com algumas alterações gramaticais e estilo
brasileiro.
Com efeito, no capítulo intitulado Língua e Estilo, da obra A língua do Brasil ([1946] 1975),
Chaves de Melo reitera a afirmação de que não há uma ―língua brasileira‖. Na verdade, não existem
duas línguas diferentes, mas sim estilos diferentes decorrentes das variações linguísticas e do uso da
língua portuguesa no Brasil e em Portugal. O autor recorre à dicotomia saussuriana langue X parole
para distinguir língua e estilo, não apenas mantendo a noção de língua em oposição à fala, isto é,
sistema X uso, mas também colocando o estilo no âmbito da fala:
A distinção entre língua e estilo se funda na clássica dicotomia estabelecida
pelo grande Saussure – langue e parole. [...]
Note-se bem: a língua é um fato social, é o sistema de sons, de estruturas
vocabulares e de relações, que está na consciência ou no subconsciente de
todos os membros da comunidade linguística. [...]
Agora, quando a pessoa fala, põe em execução essa língua, esse material
lingüístico, escolhendo, selecionando e inovando (CHAVES DE MELO,
1975, p. 131-132). [Grifos do autor]
Em linhas gerais, a estilística é considerada como o estudo da língua no nível da fala e a noção
de estilo como a escolha que o usuário faz dentro de um repertório de possibilidades, na medida em
que as leis da língua o permitem, e conforme sua necessidade de expressão. Por essa razão, a estilística
poderia, então, ser caracterizada como estruturalista, visto que desenvolve a dicotomia langue X
parole em sua totalidade.
576
Ainda no capítulo supracitado, Chaves de Melo esclarece que no estilo revelam-se os
componentes da personalidade do falante, destacando o caráter individual da língua, o que ele
chama de discurso, no qual ―entra toda a personalidade do indivíduo: a inteligência, a
vontade, a imaginação, o temperamento, o gosto, a educação, a sensibilidade, a afetividade, a
emoção, a paixão, o senso estético‖. Dessa forma, o autor sugere que o discurso é o próprio
estilo e, por sua vez, ―o estilo é do homem‖ (CHAVES DE MELO, 1975, p. 132).
A distinção entre língua e estilo assumida por Chaves de Melo, considerando o
conceito de estilo como o uso individual que o falante faz da língua, isto é, do sistema que
está à sua disposição, comprova a sua tese de que no Brasil não existe uma língua brasileira,
mas sim um ―estilo nacional‖ resultante do ―modo-de-ser‖ próprio do brasileiro, influenciado
por fatores socioculturais e históricos. Dessa afirmação, a proposição do autor de que no
Brasil verifica-se a existência de uma língua portuguesa e um estilo brasileiro é, então,
justificada:
E precisamente esse conceito de "estilo nacional" tem justíssima aplicação
no caso da língua do Brasil. Nada impede que nós tenhamos língua
portuguesa e estilo brasileiro. Isto é, um sistema gramatical português, o
mesmo que se encontra em Camões, Vieira, Bernardes, Herculano, Garret, e
um modo de expressão, uma escolha no material lingüístico e algumas
criações, que melhor se ajustem e que correspondam ao espírito, à alma, ao
temperamento, à sensibilidade brasileira (CHAVES DE MELO, 1975, p.
134). [Grifos do autor]
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude da importância dos estudos de Gladstone Chaves de Melo para o
desenvolvimento da linguística brasileira, em particular, da estilística da língua portuguesa,
por meio do presente trabalho procuramos refletir a respeito dealguns conceitos estilísticos e
linguísticos que nortearam o autor para a elaboração de suas pesquisas, além de mostrar como
a relação entre língua e estilo foi estabelecida por ele. E, para tanto, os fundamentos
metodológicos utilizados neste trabalho foram o da historiografia linguística, disciplina
baseada em princípios e que busca descrever e explicar como as formas de conhecimento
sobre língua e linguagem, bem como suas aplicações, foram desenvolvidas ao longo da
história.
No entanto, como não tivemos a pretensão de esgotar todas as perspectivas de análise sobre o
tema da estilística, visto a complexidade e a dimensão que esta alcança, e como nosso estudo
historiográfico-linguístico sobre Gladstone Chaves de Melo ainda não foi concluído, fizemos um
recorte metodológico, limitando a presente pesquisa a um exame preliminar apenas do princípio da
577
contextualização e possíveis influências de outros autores e/ou obras para a produção das pesquisas
estilísticas do autor historiografado. Todavia, posteriormente, daremos continuidade ao referido estudo
historiográfico-linguístico, analisando outros princípios metodológicos e elementos investigativos que
julguemos relevantes para a conclusão de nossa pesquisa.
Com o intuito de situar o leitor no contexto da historiografia linguística, uma vez que esta
disciplina pode ainda ser desconhecida do grande público, fizemos uma breve explanação sobre o seu
objeto de estudo e como este deve ser analisado segundo os princípios de: contextualização, imanência
e adequação; bem como verificar a aplicação de um deles, a saber, a contextualização. Dessa forma,
observamos que a orientação que norteava os estudos linguísticosno Brasil era a teoria desenvolvida
por Ferdinand de Saussure, a qual inaugurou o estruturalismo, corrente que define a língua como um
sistema, uma estrutura constituída por elementos que obedecem certos princípios de funcionamento.
Nossa pesquisa também pretendia analisar como a relação entre língua e estilo foi estabelecida
por Chaves de Melo, para tanto,examinamos algunsconceitos linguísticos e estilísticos presentes em
suas obras e verificamos que, ao considerar língua e estilo, o linguista brasileiro retomou os
pressupostos saussurianos, definindo fala(parole) como o uso individual que o falante faz da língua
(sistema). Dessa forma, Chaves de Melo apresentou uma proposição, afirmando que no Brasil verifica-
se a existência de uma língua portuguesa e um estilo brasileiro, este último influenciado por fatores
socioculturais e históricos. Portanto, para o autor,não existem duas línguas diferentes, uma utilizada no
Brasil e outra em Portugal, mas sim estilos diferentes resultantes das variações linguísticas e do uso
diversificado da língua portuguesa nesses dois países.
Cabe ressaltar ainda que muitas das aparentes irregularidades ou variações de uma
determinada língua têm sua origem em fenômenos de natureza estilística, o que constitui um lugar
privilegiado para observar e assimilar aspectos socioculturais e históricos da língua analisada.
Portanto, tal investigação a respeito dos fundamentos estilísticos, além de propiciar estudos
linguísticos que acompanhem a dinamicidade e variabilidade da língua, favorece o desenvolvimento
tanto da estilística enquanto ciência como de outras áreas com as quais se relaciona, como a teoria
literária, a poética, a gramática, a pragmática, entre outras. Nesse sentido, Gladstone Chaves de Melo
destaca-se por ter contribuído durante toda sua produção acadêmica e intelectual para fortalecer o
ensino e a pesquisa linguística no Brasil, além de seus estudos estilísticos terem colaborado para a
consolidação da estilística da língua portuguesa e despertado o interesse de outros linguistas em dar
seguimento a essas pesquisas.
REFERÊNCIAS
578
ALTMAN, Cristina. A pesquisa linguística no Brasil (1968-1988). São Paulo: Humanitas,
FFLCH/USP, 1998.
___________. Retrospectivas e perspectivas da historiografia da linguística no Brasil. In: Revista
argentina de historiografia linguística, I, 2, p. 115-136, 2009.
CHAVES DE MELO, Gladstone. A língua do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação
Getúlio Vargas, 1975.
___________. Alencar e a “língua brasileira” (Seguido de Alencar, cultor e artífice da língua). 3.
ed. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1972.
___________. Ensaio de estilística da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão, 1976.
___________. Iniciação à filologia e à lingüística portuguesa. 6. ed. Rio de Janeiro: Ao
Livro Técnico, 1981.
KOERNER, Konrad. O problema da ‗influência‘ na historiografia linguística. In: Quatro décadas de
historiografia linguística: estudos selecionados. Edição Centro de Estudos em Letras - Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2014, p. 91-102.
___________. Questões que persistem em historiografia linguística. In: Revista da ANPOLL, nº 2,
1996, p. 45-70.
MATTOSO CÂMARA Jr., Joaquim. Contribuição à estilística portuguesa. 3. ed. rev. Rio de
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978.
PETTER, Margarida. Linguagem, Língua e Linguística. In: FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à
Linguística I: objetos teóricos. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2014. p. 11-24.
POSSENTI, Sírio. Discurso, estilo e subjetividade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística Geral. Trad. A. Chelini et al. 6. ed. São Paulo:
Cultrix, 1974.
579
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA
LINGUÍSTICA: UMA INVESTIGAÇÃO DO BANCO DE TESES DA CAPES
Stela Cabral de Andrade (UFF/IFSUDESTEMG)
Telma Cristina de Almeida Silva Pereira (UFF)
Ernani Coimbra de Oliveira (UFF/IFSUDESTEMG)
RESUMO: Esse trabalho constitui um recorte da tese desenvolvida no Programa de Pós-graduação em
Estudos da Linguagem na UFF na linha História, Política e Contato linguístico. Nosso objetivo é
mapear o cenário de produção de pesquisa sobre a educação de surdos e a Língua de Sinais no Brasil a
fim de compreender como tem se constituído os contornos desse campo de estudo. O crescente
aumento de pesquisa sobre políticas públicas para minorias e diversidade, em particular as que propõe
resgatar e garantir direitos à população historicamente excluída, se apresenta como fruto das
transformações sociais, políticas, econômicas e culturais das últimas décadas e a análise dessa
produção lança luz sobre a efetividade das políticas no que se refere à alteração das dinâmicas e da
representação social desses sujeitos. Os cursos de Pós-graduação se constituem em lugar privilegiado
de produção do conhecimento e desta forma a divulgação das pesquisas sobre a temática se apresenta
como um instrumento importante de política linguística e capaz de dar a ver o uso e a circularidade
destas questões nas diferentes áreas do conhecimento. Entre nossas referências destacam-se os
trabalhos de Cooper (1997), Calvet (2007) e Guespin & Marcellesi (1986). O trabalho pretende
analisar a trajetória das pesquisas desenvolvidas sobre a temática nas diferentes áreas do conhecimento
mapeando a produção de teses e dissertações desde as primeiras pesquisas sobre a questão em 1994.
Optamos por uma análise quantitativa-descritiva das pesquisas vinculadas ao banco de dados da
CAPES. A maioria dos trabalhos pertence à área de Ciências Humanas, seguida de Linguística, Letras
e Artes, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Multidisciplinar, Engenharias, Ciências Exata
e da Terra. Não sendo objeto de pesquisa apenas na área das Ciências Agrárias.
Palavras-chave: Educação de surdos; língua de sinais e política linguística
ABSTRACT: This work constitutes a cut of the thesis developed in the Program of Postgraduate
Studies in Language in the UFF in the line History, Politics and Linguistic Contact. Our objective is to
map the scenario of research production on deaf education and the Sign Language in Brazil in order to
understand how the contours of this field of study have been constituted. The growing increase in
research on public policies for minorities and diversity, particularly those proposing to rescue and
guarantee rights to the historically excluded population, is presented as a result of the social, political,
economic and cultural transformations of the last decades, and the analysis of this production sheds
light on the effectiveness of policies in terms of changing the dynamics and social representation of
these subjects. Postgraduate courses constitute a privileged place for the production of knowledge and
in this way the dissemination of research on the subject is presented as an important instrument of
linguistic policy and capable of showing the use and circularity of these questions in different areas of
knowledge. Among our references are the works of Cooper (1997), Calvet (2007) and Guespin &
Marcellesi (1986). The paper intends to analyze the trajectory of the researches developed on the
580
subject in the different areas of knowledge mapping the production of theses and dissertations from
the first researches on the subject in 1994. We opted for a quantitative-descriptive analysis of the
researches linked to the CAPES database. Most of the works belong to the area of Human Sciences,
followed by Linguistics, Letters and Arts, Health Sciences, Applied Social Sciences,
Multidisciplinary, Engineering, Exact and Earth Sciences. Not being object of research only in the area
of Agrarian Sciences.
Keywords: Deaf education; sign language and language policy
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho se apresenta como um recorte da tese que está sendo desenvolvida na
Universidade Federal Fluminense, no Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Linguagem, na linha de pesquisa História, política e contato linguístico, sob a orientação da
professora Telma Cristina Pereira. Nesse recorte procuramos mapear o cenário de produções
de pesquisas sobre a temática à cerca da educação de surdos, com o objetivo de compreender,
numa visão panorâmica, como tem se constituído o campo de estudos no Brasil. Para isso,
optamos por uma análise quantitativa-descritiva das pesquisas utilizando como referência o
Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Partimos do entendimento de que a divulgação e a circulação das pesquisas sobre a temática
se apresenta como um importante instrumento de política linguística capaz de auxiliar na
transformação das representações sobre o sujeito surdo e a Língua de Sinais.
A divulgação das pesquisas se apresenta como uma ação de promoção da língua e a
nosso ver, contribui na (re)construção de novas representações sobre seus falantes. A
divulgação de pesquisas sobre a Língua de Sinais e sobre a educação de surdos se constitui
em uma ação capaz de auxiliar na transformação das representações sobre os sujeitos surdos,
colaborando na produção de um novo lugar/espaço para os indivíduos historicamente
estigmatizados, deste modo, partimos do entendimento que o objeto do estigma do surdo não
se configura propriamente em relação à língua e sim a falta da capacidade comunicativa na
língua majoritária, contudo, sobre isso se faz necessário refletir em que medida a condição do
sujeito surdo se equivale à condição do sujeito cego, que embora também se apresente como
um ―sujeito deficiente‖, partilha o mesmo código linguístico da maioria.
Nossa proposta nesta parte do trabalho é mapear, de forma panorâmica, as pesquisas
realizadas no Brasil desde que a temática começou a ser discutida nos Programas de Pós-
graduação, utilizando como referência o Banco de Teses da CAPES (BTC) com o objetivo de
observar as produções de dissertações e teses sobre a temática produzidas no país nas últimas
581
décadas. Tomando os estudos de Calvet (2007) e Cooper (1997) sobre política linguística,
compreendemos que a divulgação das pesquisas se constitui em um importante instrumento
de política linguística capaz de auxiliar na promoção das transformações necessárias no
processo de construção de novas representações sobre os múltiplos aspectos das questões que
envolvem os surdos, a surdez e a Língua de Sinais.
À medida que observamos a primeira década após o estabelecimento das leis sobre a
Língua de Sinais no Brasil, percebemos algumas transformações decorrentes do
estabelecimento das ações de intervenção sobre língua. Todavia, é preciso perceber a
necessidade de que estas ações políticas sejam desenvolvidas de forma paralela às ações de
planejamento.
Como já nos apontava Calvet (2007), é preciso distinguir a política, compreendida
como as decisões do poder, e a transformação delas em ação, compreendida assim como o
planejamento. Embora alguns pesquisadores estabeleçam uma relação de subordinação entre a
política e o planejamento, de modo que o planejamento se constituiria em uma aplicação da
política linguística, Calvet (2007:17) nos aponta uma importante diferença sobre a questão no
que se refere aos pesquisadores americanos e europeus. Os pesquisadores europeus, entre eles
franceses, alemães e espanhóis, de modo contrário, estariam mais sensíveis às questões
concernentes às relações de poder por trás das ações políticas e desta forma, estariam mais
preocupados em observar aspectos relacionados às forças responsáveis pela definição das
ações, lançando luz para os conflitos linguísticos e evidenciando o caráter social e político por
detrás dessas intervenções.
Nesse sentido, o conceito de glotopolítica proposto por Guespin e Marcellesi (1986)
nos auxilia a compreender a questão. Para estes pesquisadores, o termo englobaria ―todos os
fatos de linguagem em que a ação da sociedade reveste a forma do político‖ (1986:1) e, de
forma alguma pretende contribuir para o fim do uso dos termos política linguística ou
planejamento linguístico. De outro modo, a proposição do termo pretende lançar luz sobre o
fato que toda decisão política ao se tornar aplicada, necessariamente traz consequências
glotopolíticas. Os autores franceses nos chamam a atenção para o fato de que para se ter
políticas linguísticas eficazes é necessário que se promova, de forma paralela uma reflexão
profunda sobre a política proposta, além da necessidade de se construir um conhecimento
aprofundado sobre o processo de mudança linguística. As diversas abordagens que a
sociedade faz da ação (consciente ou inconsciente) sobre a linguagem e sobre a língua, ao
legislar sobre seu status, quanto sobre a fala (quando, por exemplo, se estabelece valores a
582
determinadas variedades linguísticas em detrimento de outras que se tornam estigmatizadas)
quanto também sobre o discurso, determinando um tipo textual como privilegiado para o
ensino na escola e descartando para as margens os demais, são ações que contribuem para a
transformação da condição da língua e de seus falantes.
Em um cenário ideal, teríamos a percepção da necessidade que se apresentaria como o
fio condutor do estabelecimento de uma intervenção democrática sobre a língua. Contudo
como bem nos aponta Guespin e Marcellesi, seria necessário a existência de agentes
―decididores‖ conscientes de que qualquer medida glotopolítca só se torna eficaz a partir da
convicção dos usuários da língua, o que exige que esses usuários participem de forma ativa
tanto na investigação das questões quanto nas discussões e nas decisões. A questão apontada
para a implantação da política linguística, requer a compreensão de que o esforço não se dá
apenas em se debater sobre a língua propriamente dita, mas sobre as relações de interação
entre identidade social e as práticas de linguagem.
Diante da compreensão do papel glotopolítico dos falantes e da percepção de que toda
pesquisa sobre a língua se caracteriza como ação de intervenção sobre ela, concordamos com
o Guespin e Marcellesi ao afirmar que os linguistas nem sempre estiveram conscientes do
papel glotopolítico que desempenhavam. Diante da percepção da ação glotopolítica dos
linguistas e das intervenções que suas pesquisas exercem sobre a língua, é preciso lembrar que
os conceitos e os (pré)conceitos que orientam suas práticas, exercem uma forte influência no
modo como a sociedade compreende a língua e seus usuários, promovendo transformações ou
manutenções nas representações que sustentam nossa vida em sociedade. Os autores nos
lembram ainda que a política linguística é construída de atos discretos, como decisões,
recomendações, criação de instâncias que têm como objetivo agir sobre um ou mais sistema
linguístico, enquanto a ação glotopolítica, em contrapartida, se caracteriza pela ação constante
sobre as práticas de linguagem.
Desta forma, o conceito de glotopolítica nos permite observar que tanto as políticas
propriamente ditas, quanto as repercussões, conscientes ou inconscientes, ativas ou passivas,
dessas políticas, influenciam e são influenciadas deixando-nos à mostra o caráter único que
orienta as duas situações descritas, o que acaba por englobar as políticas linguísticas como um
caso particular de glotopolítica.
Como atividade essencialmente social, a língua é fortemente condicionada e moderada
pelas condições sociais nas quais o indivíduo está submetido, por isso é preciso lembrar que
ela se constitui em instrumento político capaz de refletir e consequentemente reproduzir as
583
condições sociais e culturais de seus falantes. As línguas hegemônicas de um modo geral,
estão associadas às classes dominantes, o que mantêm às margens, os usuários de línguas e
variedades em condição minoritária, estigmatizados. A atribuição de prestígio a uma
determinada língua ou variedade eleita como nobre, passa a ser instrumento de dominação
sobre as demais, tornando-se condição de variedade privilegiada, ganhando assim a alta
condição social, e, deste modo, modificando seu status.
Nesse sentido, o comportamento linguístico se torna um indicador capaz de evidenciar
a estratificação social, tornando possível diferenciar os grupos sociais através do uso da língua
e das variedades por eles utilizadas. Em uma sociedade estratificada socialmente o domínio da
variedade padrão ou de uma língua de prestígio se constitui como um fator de mobilidade
social desses indivíduos, uma vez que, ao dominar uma língua ou a variedade de prestígio, o
indivíduo passa a ter possibilidades de ascensão à níveis mais elevados de ensino e
consequentemente às condições melhores de trabalho, sendo possível em alguns casos, como
no caso dos sujeitos surdos, tornar efetivo a garantia do exercício pleno de sua condição de
cidadão.
Felipe (2008) nos aponta que as pesquisas linguísticas sobre a Língua de Sinais
passaram a fazer parte do cenário acadêmico e de discussões de grupos de pesquisas
tornando-se um tema nos registros do banco de teses CAPES a partir de 1987 com uma
dissertação de mestrado, intitulada ―A criança surda: educação para a marginalização‖‡‡‡
. A
partir da década de 1990 observa-se um expressivo aumento do número de trabalhos
acadêmicos publicados, dissertação, teses e artigos científicos abordando diferentes aspectos
da Educação de Surdos e da Língua de Sinais. Na década seguinte a promulgação da Lei nº
10.432, de 2002, em que a língua brasileira de sinais passa a ser reconhecida como língua
oriunda de comunidades de pessoas surdas do Brasil e o Decreto nº 5.626 de 2005 que
regulamenta a lei de 2002, se constituem em importantes marcos sobre a questão,
contribuindo para o aumento de publicações sobre a temática conforme veremos em alguns
gráficos a seguir.
Esses fatos se apresentam como marcos importantes para a área da surdez e, de forma
especial para a educação de surdos, uma vez que se constituem em marcadores legais dos
direitos da comunidade surda em vários âmbitos, servindo de baliza para os movimentos
sociais que passam a promover estudos e pesquisas a partir deles. Embora as produções
tenham começado a ser indexadas ao Banco de Teses da Capes a partir de 1987, Pagnez e
‡‡‡ Não há maiores informações sobre esta dissertação, sendo necessário promovermos uma maior investigação sobre a questão como autor, instituição onde foi defendida.
584
Sofiato (2014) nos informa que as primeiras publicações relacionadas à temática Libras e
Educação de Surdos passaram a ser indexadas sete anos depois em 1994§§§
.
Com o objetivo de situar nossa proposta no cenário atual de produções, promovemos
uma procura em sites de busca a fim de observar como essa ferramenta tem sido utilizada por
outros profissionais que pesquisam sobre a temática. Procurávamos por pesquisas que
tivessem como objetivo promover o Estado da Arte das pesquisas sobre Educação de Surdos
no Brasil através de estudos quantitativos realizados nas diferentes áreas de conhecimento.
Entre as pesquisas encontradas destacamos o trabalho de Pagnez e Sofiato (2014) cujo
objetivo era a análise do Banco de Teses e Dissertações da Capes no período de 2006 a 2011.
Segundo os critérios adotados pelas autoras, cujas palavras-chaves foram Educação de surdos
e Libras, nos anos compreendidos entre 1994 e 2014 foram apresentadas 679 pesquisas. As
autoras apontam 349 trabalhos publicados no período de 2006 a 2011, sendo 281 dissertações
de mestrado acadêmico, 16 teses de doutorado e 09 de mestrado profissional. Os resultados
apontavam a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como a instituição com maior
número de pesquisas no período sobre a temática, concentrando na área de Educação o maior
número de trabalhos (129), tendo sido a temática da educação de surdos cotejada por 30
trabalhos.
Diante das pesquisas encontradas, optamos por desenvolver uma análise similar àquela
proposta pelas autoras e, tomando as pesquisas catalogadas no Banco de Teses da Capes
utilizando para nossa pesquisa as palavras-chaves: Educação surdos; língua sinais e política
linguística. Promovemos o acesso ao banco de dados entre julho e agosto de 2017, sendo
estabelecido o universo de 1.230 trabalhos entre teses, dissertações de mestrados acadêmico e
profissional, além de profissionalizantes.
Como nosso objetivo nessa pesquisa é lançar luz sobre o cenário de produções de
pesquisas sobre a temática nos Programas de Pós-graduação, optou-se por tratar apenas as
pesquisas de Mestrados e doutorado, excluindo-se assim, as 23 produções pertencentes à
categoria profissionalizantes, o que nos estabeleceu um universo de 1.207 trabalhos, contudo,
tendo em vista que as produções referentes à 2017 ainda encontram-se abertas, optamos por
excluir as pesquisas defendidas nesse ano uma vez que esse número ainda sofrerá alterações.
Realizamos uma pesquisa quantitativa/descritiva com o objetivo de identificar e
descrever as produções acadêmicas relativas à educação de surdos a partir do banco de teses e
dissertações da CAPES disponibilizado virtualmente, tendo como recorte temporal o período
§§§ Contudo essa informação precisa ser verificada pois existem publicações sobre a temática antes de 1994, como podemos observar analisando o banco de dados da Unicamp por exemplo.
585
definido pelo próprio banco de dados, 1987 a 2016. A análise dos dados do Banco de Teses e
Dissertações da CAPES, a partir dos descritores utilizados, confirma o que tem sido afirmado
por centenas de profissionais do campo sobre a crescente publicação de trabalhos cuja
temática se refere à Educação de e para surdos, sendo possível observar que um crescimento
sobre a temática em torno dos surdos em diferentes campos do conhecimento. Esperamos com
nossa pesquisa, fornecer subsídios para o avanço das pesquisas não apenas sobre educação de
surdos, mas lançar luz sobre as questões de inclusão e exclusão, auxiliando assim a
transformação das representações sobre surdez e sobre o surdo, além de contribuir para a
construção de novas bases para as discussões sobre língua, identidade e diferença.
2 CONHECENDO O BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES
A Capes mantém registros sobre a pós-graduação stricto sensu brasileira desde 1976
quando a agência iniciou a sistemática de avaliação de mérito dos Programas de Pós-
Graduação (PPG) que constituíam o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).
Inicialmente, esses registros restringiam-se aos dados básicos sobre a constituição do
Programa de Pós-graduação, como seu ano de início e os respectivos níveis de cursos,
mestrado e/ou doutorado, bem como as informações sobre os totais de discentes por situação
de matrícula e de totais de docentes vinculados aos Programas. A coleta se dava por meio do
envio em tabelas de dados em formulários de papel****
. Este modo de avaliação durou até
meados da década de 1980 quando se criou o Data Capes, utilizado de 1988 a 1995. Nesse
novo modo, além dos dados de discentes e docentes no formato anterior, passou-se a enviar a
informação nominal de cada autor da produção intelectual do PPG.
Em 1996 teve início o Coleta de Dados, novo formato de envio das informações, em
que se registravam informações detalhadas e coletadas em forma de base de dados. Esse
modelo permaneceu até 2002, ainda contendo informações sobre o fluxo discente, docentes,
bem como a lista de autores de produção intelectual. Em 1998 institucionalizou-se a distinção
entre os cursos de mestrado acadêmico e profissional e, desta forma, em um Programa poderia
coexistir cursos de mestrado, doutorado e mestrado profissional††††
. Cinco anos depois, em
2003, as bases de dados passaram a ter identificação nominal para os discentes e os docentes,
e, no ano seguinte, passou-se a utilizar o cadastro através do CPF o que tornou possível a
**** Na primeira avaliação a pós-graduação brasileira stricto sensu contava com 181 cursos de mestrado e 518 de doutorado, distribuídos em 524 programas. †††† Neste ano, o sistema Nacional de Pós-graduação contava com 1463 cursos de mestrado, 27 de mestrado profissional e 779 de doutorado, distribuídos em 1.516 programas.
586
inclusão de mais detalhes sobre as matrículas. No mesmo ano, implantou-se uma adequação
permitindo que os Programas se distinguissem entre os que ofereciam cursos de Pós-
graduação com viés profissional daqueles com viés acadêmico. Desse modo, naquele
momento, passou-se a ter programas contando exclusivamente com cursos de mestrado
(acadêmico) e/ou doutorado e programas com cursos unicamente de mestrado profissional.
Até 2012, o Coleta de Dados se constituía em um aplicativo instalado localmente no
computador do usuário, o que permitia que as informações fossem inseridas livremente pelos
responsáveis pelo respectivo PPG, ficando a cargo das Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (ou algum órgão equivalente) da instituição ao qual o Programa se vinculava. O
envio dos dados ocorria anualmente, tomando como referência a situação do programa no dia
31 de dezembro do ano base. Em 2013 o Coleta de Dados se tornou um módulo na Plataforma
Sucupira e as informações passaram a ser preenchidas a qualquer tempo. A Plataforma
disponibiliza em tempo real e de forma transparente as informações, processos e
procedimentos que a Capes realiza no SNPG (Sistema Nacional de Pós-graduação) para toda
a comunidade acadêmica. Na Plataforma, as informações sobre o programa podem sofrer
atualizações a qualquer momento, mesmo aquelas de anos de referência anteriores ao ano
corrente.
Segundo informações disponíveis na página da Capes, com o objetivo de garantir a
qualidade da informação gerada a Plataforma Sucupira possui diversas validações e
cruzamentos de dados, se apresentando com uma maior e mais detalhada variedade de
informações sobre os discentes, docentes e a produção intelectual nos programas em relação
ao que se coletava em anos anteriores. O Banco de Teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) reúne 458.657 resumos de teses e teve
seu início a partir do aplicativo Coleta, em 1987. A partir de 1996 o banco continuou a ser
atualizado pelo aplicativo eletrônico (Cadastro de Discentes) recebendo, de forma contínua e
atualizada, todos os dados relativos à comunidade dos alunos de mestrado e doutorado, desde
a matrícula até a titulação e permitia também a inclusão de textos completos destes trabalhos,
caso estejam disponíveis. Vale lembrar que para participar dos Programas de fomento e
receber bolsas de pesquisas, os programas precisam preencher o Cadastro de Discentes.
O objetivo do Banco é permitir e facilitar o acesso às informações sobre teses e
dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país, fazendo parte do Portal
de Periódicos da Capes/MEC, de modo que a Capes disponibiliza ferramenta de busca e
consulta a resumos relativos a teses e dissertações defendidas a partir de 1987. A pesquisa
587
pode ser feita por autor, título e palavras-chave. O uso das informações da referida base de
dados e de seus registros está sujeito às leis de direito autorais vigentes. O BTC é um banco
de dados multidisciplinar que agrega as grandes áreas do conhecimento, suas divisões,
subdivisões e especificidades. É disponibilizado pela CAPES em seu sítio e contém
informações fornecidas pelos Programas de Pós-Graduação do país, aos quais é atribuída a
responsabilidade pela veracidade do conteúdo cadastrado, cujo acesso é livre e possibilitado
via Internet através do link: http://bancodeteses.capes.gov.br.
Desta forma, para a utilização desse instrumento de pesquisa era necessário a definição
de descritores capaz de nos dar a ver esse cenário, o que, depois de algumas tentativas foram
assim definidos: educação de surdos; Língua de Sinais; Política linguística. Definidos os
descritores observamos que a forma como eram escritos promoviam alterações no número de
publicações apresentadas pelo Banco de Dados. Quando utilizados sem as aspas obtínhamos
um número elevado de publicações (269.336). A partir de algumas verificações percebemos
que a inclusão das pesquisas se dava por cada uma das seis palavras usadas nos descritores e
não apenas pelas palavras-chave usadas, quando usadas entre aspas obtínhamos 1.230
trabalhos.
2.1 UMA VISÃO GERAL DOS DADOS
Excluídas então as produções defendidas em 2017, pelas razões já apresentadas,
tomamos como referência para nossa análise os 1.182 trabalhos encontrados de modo que
entre eles 878 são dissertações de mestrado acadêmico; 250 teses de doutorado e 55 são
dissertações de mestrado profissional. Observando as produções ao longo do tempo,
percebemos um aumento gradual das pesquisas sobre o tema. No que se refere ao nível em
que estas pesquisas têm sido desenvolvidas nos PPG‘s percebemos o aumento maior nos
cursos de mestrado acadêmico.
A produção dos últimos 30 anos encontra-se distribuídas entre oito das nove grandes
áreas do conhecimento definidas pela CAPES. Com exceção da grande área das Ciências
Agrárias em todas as demais, a saber Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exata e da Terra, Engenharias e Multidisciplinar,
verificamos a presença do tema entre as pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-
graduação no país.
588
A área de Ciências Humanas apresenta o maior número de trabalhos (503), seguida de
Linguística, e Artes (448); Multidisciplinar (117); Ciências da Saúde (44); Ciências Exata e
da Terra (38); Ciências Sociais Aplicadas (19); Engenharias (8); e Ciências Biológicas (5). No
que se refere ao nível em que essas pesquisas foram desenvolvidas, observamos a
predominância, quase em todas as áreas, das pesquisas em nível de mestrado, o que, sem
dúvida, é influenciado pelo maior número de alunos nesse nível de ensino. Quando
observamos as produções sobre a temática, observamos que as 1.182 pesquisas se encontram
distribuídas em 59 sub-áreas de conhecimento, divididas em 183 áreas de concentração, com
pesquisas desenvolvidas em 206 Programas de Pós-graduação em 170 diferentes instituições
de ensino e de pesquisas. Com 42% das publicações sobre a temática no período pesquisado,
os trabalhos cadastrados na grande área das Ciências Humanas totalizam 503 pesquisas.
Destes, 109 são teses de doutorado; 390 são dissertações de mestrado acadêmico e 04 são
dissertações de mestrado profissional. Por sua vez as pesquisas foram desenvolvidas em 43
Programas de Pós-graduação, em 82 instituições.
A segunda área com maior número de pesquisas na temática, Linguística, Letras e
Artes apresenta 448 trabalhos, enquanto 338 se constituem em dissertações de mestrado
acadêmico, 06 de mestrado profissional, enquanto 105 são teses de doutorado. As pesquisas
estão distribuídas em 25 áreas de concentração, desenvolvidas em 56 Programas de Pós-
graduação, tendo se apresentado como objeto de pesquisas em 98 instituições brasileiras ao
longo dos últimos 24 anos.
A terceira grande área com pesquisas sobre a temática, denominada pela tabela de
grandes áreas da CAPES como Multidisciplinar, abrange 117 trabalhos catalogados a partir
dos descritores usados em nossa pesquisa. Destes, 66 são dissertações de Mestrado
Acadêmico, 36 são produções dos mestrados profissionais e 15 são teses de doutorado. Por
sua vez, esses trabalhos encontram-se divididos entre 61 Programas de Pós-graduação em 51
instituições de pesquisa.
No que se refere à 4ª grande área de conhecimento, detectamos o desenvolvimento de
43 pesquisas pertencentes à área de Ciências da Saúde. Destes, temos 30 trabalhos de
mestrado acadêmico; 03 de Mestrado Profissional e 10 teses de doutorado. Por sua vez, as
pesquisas encontram-se vinculadas a 18 Programas de Pós-graduação, em 14 instituições
brasileiras.
No que se refere às pesquisas da grande área das Ciências Sociais Aplicadas,
observamos que foram desenvolvidas 19 pesquisas, sendo 16 de Mestrado Acadêmico, 1 de
589
Mestrado Profissional e 2 teses de Doutorado. As pesquisas sobre a temática desenvolvidas na
área de Ciências Sociais Aplicadas estão distribuídas em 14 Programas de Pós-graduação,
desenvolvidas em 15 instituições brasileiras.
Na área de Engenharias observamos o desenvolvimento de 08 pesquisas, sobre a
temática a partir dos descritores utilizados, em que 06 de mestrado acadêmico e 02 teses de
doutorado, vinculadas a 7 instituições.
No que se refere à grande área Ciências Exatas e da Terra, encontramos 38 pesquisas,
sendo 4 teses de Doutorado; 31 de Mestrado Acadêmico e 3 de Mestrado Profissional. No que
se refere à vinculação das pesquisas aos Programas de Pós-graduação, observamos que no que
se refere à área de Ciências Exatas e da Terra, que as pesquisas foram desenvolvidas em 7
diferentes Programas em 21 instituições
A última categoria no que se refere ao número de publicação a partir dos descritores
propostos, apresentou 5 pesquisas. Na grande área das Ciências Biológicas, podemos observar
1 dissertação de mestrado acadêmico e 1 dissertação de mestrado profissional e 03 teses de
doutorado. Por sua vez, podemos perceber que os trabalhos se vinculam a dois Programas de
Pós-graduação tendo sido desenvolvidas em apenas 1 instituição, a saber, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exploração e o domínio do homem sobre o outro e sobre a realidade têm
historicamente se apresentado como um fator importante na divisão social entre explorados e
exploradores, incluídos e excluídos, dominados e dominadores. Essa dominação é feita, entre
outras formas, através da lingua(gem). Como fenômeno essencialmente social e histórico, a
linguagem se apresenta como produto e expressão da consciência real e prática das relações
sociais, o que a coloca definitivamente inserida nos aspectos políticos de funcionamento da
sociedade. A língua se constitui em um palco privilegiado em que se pode observar as lutas
travadas entre dominados e dominadores, ficando registrado nela os sentimentos e os valores
desse embate, por vezes contraditórias de negação e afirmação.
Desta forma, torna-se evidente a condição da lingua(gem) como instrumento de
dominação e, embora circule de forma pouco contestada a ideia de que o mundo globalizado
necessita de uma língua franca, é preciso se ter em mente que a produção de legislações e
políticas linguísticas que fortalecem a língua majoritária, e/ou a variedade de maior prestígio,
590
se constitui em uma ação responsável também pela manutenção das línguas minoritárias e de
seus usuários na condição de subordinação à língua hegemônica. Em alguns casos essas
línguas são relegadas à condição de não língua, ou quase língua e seus usuários à condição de
sujeitos de menos direitos.
Lagares nos lembra que por outro lado, o falante de língua minoritária por causa da
condição de usuário de uma língua de menor prestígio, sofre constantemente a violência
simbólica da língua hegemônica, além da imposição normativa da língua que se sobrepõe à
sua própria e em alguns casos, se apresenta como inatingível. Nesse sentido, Bourdieu (1994)
nos auxilia na ampliação da compreensão acerca do papel da língua como mero instrumento
de comunicação e meio de conhecimento, para analisa-la enquanto importante instrumento de
poder.
Ao falar não buscamos apenas ser compreendidos, mas ser reconhecido e respeitado
em nossa fala. Nesse sentido o conceito de competência, compreendido enquanto direito à fala
legitima e autorizada, nos auxilia a perceber que não basta ser falante de uma língua para ser
ouvido, é preciso ser falante autorizado de uma língua capaz de ser ouvida. Como nos lembra
o sociólogo francês, é preciso que os falantes considerem os que escutam dignos de escutar e
os que escutam considerem os que falam dignos de falar. Por sua vez, James Milroy (2011)
argumenta que as variedades de língua adquirem prestigio quando seus falantes têm prestígio
elevado, de modo que esse prestígio é atribuído por seres humanos a grupos sociais e objetos
abstratos e/ou inanimados e depende dos valores que são atribuídos a esses objetos. Para
Lagares (2011) a língua ou a variedade minoritária se apresentaria como um conjunto
desarranjado de falas diversas que jamais se constituiriam em uma unidade normativa, como
acontece com as línguas hegemônicas, e fortalece ainda mais a relação que se estabeleceu
entre língua hegemônica e norma. A naturalização dessas relações é tamanha que para muitos
falantes, torna-se impossível transformar a posição social que elas ocupam.
Todavia, diante da multiplicidade de situações sociolinguísticas as expectativas e os
desejos dos falantes também são diferentes e múltiplos. De um lado pode-se observar o direito
de todas as comunidades linguísticas ao planejamento do corpus de suas próprias variedades,
como garantindo pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, com todos os impasses
e conflitos inerentes ao processo, que como nos chama atenção Lagares (2011), em muitas
ocasiões se constituem na única, e talvez a última, chance de sobrevivência destas
comunidades usuárias de línguas minoritárias na sociedade contemporânea.
591
Desta forma, a condição minoritária das línguas não se relaciona apenas com aspectos
da quantidade de falantes, mas, sobretudo, refere-se às questões qualitativa dos falantes, como
nos lembra Aracil (1983). Estas questões estão diretamente relacionadas às possibilidades ou
impossibilidades de uma língua ou variedade linguística exercer determinadas funções sociais
em uma sociedade em um dado momento sócio-histórico. Por sua vez Lagares (2011) nos
chama a atenção para o fato de que a língua ou a variedade linguística que exerce
determinadas funções sociais na sociedade, em geral, se beneficia das intervenções políticas e
acaba por passar a impressão a seus usuários de que se constitui como uma língua mais útil e
completa, enquanto, ao contrário, a língua minoritária justamente por não estar submetida a
essas intervenções, muitas vezes, é representada como uma língua incompleta e até como não
língua.
Observamos que historicamente os homens têm desenvolvido ações de intervenção
sobre as línguas e as situações linguísticas, legislando ou tentando legislar sobre elas, ditando
o uso correto e intervindo tanto no seu uso quanto na sua forma. Não há dúvidas de que a
aprovação de leis promova a garantia do uso de línguas minoritárias, contudo, a ação se
constitui apenas como o primeiro passo para a manutenção das línguas em condição
minoritária, mas não garante a conquista de espaços que histórica, política e culturalmente,
pertencem à língua majoritária. Na mesma medida, podemos observar tentativas de
intervenção por parte do poder público privilegiando uma língua em detrimento de outras e
impondo à maioria a língua de um grupo minoritário numericamente, mas com maior poder e
prestígio. Para Aracil (1983) essas regularidades percebidas nas situações minoritárias,
embora muitas vezes pareçam naturalizadas e atemporais, não nos parecendo possível
recuperá-las pela memória, podem ser situadas histórica e politicamente.
Quando propomos lançar luz sobre a Língua de Sinais (LS) e a condição a que estão
submetidos seus usuários enquanto falantes minoritários de uma língua sem prestígio histórico
e político, propomos auxiliar na desconstrução das representações que constituem o
imaginário coletivo que compreende a surdez como ―deficiência‖, e consequente o indivíduo
surdo como um sujeito da falta. Os discursos sobre surdez têm sido construídos no interior de
campos discursivos distintos e por vezes antagônicos, derivados do estatuto ao qual foram
submetidos tanto a língua quanto seus usuários. Enquanto, de outro lado, eles sofrem a
influência da forma como relacionamos a Língua de Sinais (LS) ao processo de construção da
identidade do sujeito surdo, são atravessadas também pela forma como a sociedade
historicamente trata as questões relativas à normalidade, a diversidade e a diferença. Para
592
alterar essa lógica torna-se necessário rever a dinâmica sócio histórica que a sustentam
procurando compreender em que medida as interpretações que construímos e dão sustento e
fundamento à nossa organização social se constroem historicamente e como tal se vinculam às
outras compreensões socialmente construídas. Essa compreensão nos levaria a perceber que a
forma como historicamente a sociedade enxerga a LS e seus usuários, decorre de um conjunto
de representações que se sustentam em várias outras representações e consequentemente em
outras inúmeras variáveis sócio-históricas e, de forma alguma, se constitui em uma
representação isenta e neutra em si mesmo.
REFERÊNCIAS
ARACIL, L.V. Sobre la situación minoritária, in: Dir la realitat. Barcelona: Edicions Paisos
Catalans, 1983, p.171-206.
CALVET, Louis-Jean. As políticas linguísticas. Trad. Isabel de Oliveira Duarte; Jonas
Tenfen; Marcos Bagno. São Paulo, Parábola Editorial: IPOL.2007.
CARBONI, Florence; MAESTRI, Mario. A linguagem escravizada: língua, história, poder e
luta de classes. 3ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
COOPER, Robert. Language planning and social change. Avon: Cambridge University Press,
1989.
FELIPE. T. De Flausino ao Grupo de Pesquisa da FENEIS – RJ. Anais do V Seminário
Nacional do INES. Rio de Janeiro: INES, 2008.
GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. 5ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2009.
GUESPIN, Louis; MARCELLESI, Jean-Baptiste. Pour la glottopolitique. In: Langages, 83,
1986, p. 5-34.
LAGARES, Xoan Carlos. Minorias linguísticas, políticas normativas e mercados: uma
reflexão a partir do galego. IN: LAGARES, Xoan Carlos e BAGNO, Marcos (orgs). Políticas
da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: Editora Parábola, p.169-192. 2011.
MILROY, James. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. IN:
LAGARES, Xoan Carlos e BAGNO, Marcos (orgs). Políticas da norma e conflitos
linguísticos. São Paulo: Editora Parábola, p.49-85. 2011.
PAGNEZ, Karina Soledad e SOFIATO, Cássia Geciauskas. O estado da arte de pesquisas
sobre a educação de surdos no Brasil de 2007 a 2011. Educ. rev. [online]. 2014, n.52, p.229-
256.
IMPLICAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS DOS DIAGNÓSTICOS: DE RETARDO
MENTAL À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Sabrina Lourenço Teles (UFG)
593
Resumo
Conhecer as características da Deficiência Intelectual assim como as implicações diagnósticas
influenciantes na prática escolar e na vivência pessoal constitui uma necessidade quando
consideramos a existência de diversos transtornos cognitivos na sociedade. Objetivamos neste artigo
fazer um levantamento dos conceitos de Deficiência Intelectual desde 1908 a 2002, considerando seus
efeitos para o desenvolvimento do sujeito histórico-social. Primeiramente, intentamos demonstrar
quais definições lideravam em determinada época e qual a perspectiva atribuída ao deficiente
intelectual a partir dos déficits apresentados. As diversas implicações conceituais expressam um
posicionamento social com o objetivo de caracterizar um funcionamento intelectual abaixo da média a
partir de testes psicométricos. Estes testes resultam na definição das capacidades cognitivas a partir do
quociente de inteligência que se recebe. Posteriormente, observamos como as práticas educacionais
podem influenciar no processo de desenvolvimento do deficiente intelectual e como a inversão no
enfoque da deficiência para o sujeito influencia nas perspectivas escolares. Segundo Fierro (2004), o
que se deve avaliar são as competências, as capacidades e os conhecimentos, ou seja, o que a escola
deve e pode fazer com o aluno. Para a confecção do artigo, fizemos uma pesquisa bibliográfica
constituída principalmente dos estudos de Almeida (2012), o qual discute a respeito dos diversos
termos e conceituações de Deficiência Intelectual conhecidos até o ano de 2002; Vygotsky (2007) e
suas considerações sobre a constituição do sujeito no meio ambiente social; Fierro (2004) e as suas
observações no que tange aos testes psicométricos e a sua pouca eficiência na escola. Os resultados
obtidos mostram que, apesar dos avanços acerca do entendimento sobre o seja realmente a Deficiência
Intelectual, ainda não há limites fixos para ela, pois faltam dados precisos e mais atenção de
pesquisadores e da sociedade. Contudo, o que se sabe é que a sua incidência na população é alta.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Desenvolvimento. Deficiente Intelectual.
Abstract
Getting to know the characteristics of Intellectual Deficiency and the implications caused by its
diagnosis and how they influence in the school practice and daily life is necessary when one considers
the existence of many cognitive disorders in contemporary society. This article aims to survey the
origins of the term Intellectual Deficiency from 1908 to 2002, taking into consideration its effects to
the development of the social-historical subject. Firstly, it demonstrates which denomination
predominated in a certain period of time and which perspective was attributed to the intellectually
impaired from the deficits usually presented by such a definition. The many conceptual implications
express a social positioning that aims to characterize an intellectual functioning that is lower than the
average in psychometric tests. These tests end up defining the cognitive abilities based on the quotient
of intelligent given by their results. Later, it was observed how educational practices can influence in
the development of the intellectually impaired and how the inversion of focus – from the deficiency
itself to the subject – influences school practices. According to Fierro (2004), the competences,
capabilities and knowledge are what should be evaluated at school, which means what the school
should and must really do with the student. To the write this article, there was a bibliographical
research based mainly on the studies by Almeida (2012), who discusses about the terminology and
concepts regarding Intellectual Disability till the year of 2002; Vygotsky (2007) and his considerations
about how the subject is constituted in their social environment; Fierro (2004), regarding how
psychometric tests have little efficacy at the school daily life. The results indicated that, although there
were improvements about the understanding of what Intellectual Disability is, there are no fixed limits
for it, because of the lack of data and attention from researchers and society itself. Even though there
is a lack of data, the incidence of Intellectual Disability in the population is high.
Key-words: Intellectual Deficiency. Development. Intellectually Impaired.
594
Introdução
A Deficiência Intelectual (DI) tem recebido pouca atenção de pesquisadores e da
sociedade em geral. Em função disso, segundo Oliveira e Silva (2012), apenas 0,9% dos
trabalhos acadêmicos realizados estão relacionados diretamente ao tema DI, o que representa
uma demanda latente. De acordo com os referidos pesquisadores, 4% da população total é
composta por deficientes intelectuais que necessitam de maior atenção dos agentes envolvidos
no processo de desenvolvimento humano.
Neste artigo, inicialmente fazemos uma abordagem histórica dos conceitos de DI a
partir das conceitualizações realizadas por estudiosos integrados à Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a atual Associação Americana para a Dificuldade Intelectual e
Desenvolvimental (AADID). O levantamento histórico foi pensado com o objetivo de
evidenciar o olhar sobre o deficiente ao longo dos séculos, também para refletir sobre como a
conceitualização influenciava diretamente nas atividades diárias, na vida prática, social e
educacional dos sujeitos com DI.
Será utilizada a expressão deficiência intelectual, primeiramente pelo sentido expresso
pela palavra deficiência. De acordo com o Dicionário Unesp, o termo deficiência designa
entre outras coisas, insuficiência, carência, falta e falha, revelando o que apresenta falha no
deficiente. Intelectual, por sua vez, refere-se ao intelecto, ao mental. À medida que nos
reportamos à DI, estamos falando de ―falha‖ ou de diferenças significativas no
desenvolvimento intelectual se o compararmos a um indivíduo sem DI.
O conceito de DI é difuso e sem limites determinados, entretanto, a partir das
observações e pesquisas da comunidade científica e acadêmica, surgem novas contribuições
para definir melhor o que é DI. Essas definições, todavia, servem para ajudar a combater a
prática histórica de segregação dos deficientes. Com o auxílio dos diagnósticos e dos novos
conceitos, o deficiente começa a ser inserido na sociedade como um sujeito capaz de
desempenhar com êxito alguma função na vida prática pessoal, profissional e em sociedade.
Assim, os grupos sociais acabam aceitando que o DI pode ter um caráter mais independente,
embora ele seja uma pessoa que quase sempre necessita de apoio para realizar bem atividades
mais complexas.
Segundo Vygotsky (2007), através da ―mediação social planejada e intencional é
possível formar socialmente a mente de maneira inter-relacionada com o contexto histórico e
social‖, ou seja, uma pessoa quando submetida a práticas interventivas corretas consegue se
desenvolver melhor em seu ambiente. Nessa perspectiva, a família, os psicólogos, os médicos
e a escola têm juntos a tarefa de serem iniciadores do processo desenvolvimental do
595
deficiente. Entretanto, a maior parte desse trabalho cabe à escola, pois é dela a função de
incrementar o potencial cognitivo sem deixar de lado a relação social. Fierro (2004, p. 208)
afirma que se deve insistir em toda pessoa, mesmo aquela afetada por alguma deficiência
mental.
Como dissemos, nosso objetivo neste texto é fazer um levantamento dos conceitos de
Deficiência Intelectual para, a partir daí, pensar como os efeitos do diagnóstico interferem na
vida do deficiente, especialmente na vida escolar desse sujeito. A seguir, apresentamos um
breve panorama histórico das elaborações de diagnósticos e conceitos de DI.
1 Panorama histórico: conceitos de deficiência intelectual
Com relação às terminologias que designam DI, o que se sabe é que não há um
consenso na classificação do grupo humano por ora. O que nos parece é que as frequentes
mudanças nas terminologias podem estar fundamentadas na tentativa de diminuir a dor e o
sofrimento que termos causam de acordo com o enfoque que se dá à doença e ao deficiente
em determinado momento histórico. O panorama que apresentamos confirma essa nossa
hipótese. Todavia, não é só esse motivo que desencadeia um sem número de tentativas de
classificar e categorizar o DI.
Segundo Vergueiro (2001, p. 41), ―a existência da deficiência, da incapacidade e da
desvantagem é tão dolorosa que cada cultura e período histórico tentam desviar-se do
sofrimento pela frequente mudança de termos‖. Cada novo termo surgido traz em si um jogo
disputadíssimo na tentativa de compreender mais e melhor as causas das desvantagens
conceptuais, sociais e práticas no sujeito. Sinason (1992) se desdobra para explicar o porquê
das diversas modificações na literatura da DI.
Curiosamente todos os termos revelam a batalha que existe para se
compreender o sentido de handicap. O que ocorreu para tornar as pessoas
diferentes especialmente dessa forma? Eles perderam cor ou vivacidade
(escuro, turvo), receberam um terrível susto (estúpido), são lentos (retardado,
atrasado) ou estão perdendo algo que não vão nunca recuperar (deficiente)?
A sua simplicidade é honorável (simples, tolo) ou há algo agressivo que faz
com que se recusem a entender e fiquem estúpidos (doente, envelhecido) ou
eles são mais fracos que os outros? (débil mental). Os termos também
revelam quando há algo orgânico ou perverso, trágico ou sádico. Há que
distinguir quando são cunhados honoravelmente de quando são destinados
ao abuso. Uma inteligência similar deve ser utilizada para compreender
quando uma palavra é empregada erradamente de quando é um termo
abusivo. (SENASON apud VERGUEIRO, 2001, p. 41)
596
O que se percebe a partir das ideias de Senason (1992) é a presença de toda a carga
semântica que pode estar por traz de uma palavra, seja ela positiva ou negativa. O preconceito
que emana das palavras está nas relações entre os indivíduos a partir de uma dada
conceituação. De qualquer maneira, as mudanças surgem pela necessidade de explicar um
novo olhar que se tem sobre determinado fenômeno.
É importante frisar que todos os autores por nós pesquisados terão seus conceitos
citados de acordo com os termos utilizados em seus trabalhos de pesquisa. Sendo assim,
retardo mental, incapacidade intelectual, deficiência mental, dificuldade Intelectual e
dificuldade desenvolvimental podem aparecer e serão enquadrados na categoria de portadores
de DI, uma vez que assumimos que essa nomeação (esse conceito) se mostra mais abrangente
e capaz de envolver todos os outros termos.
As revisões de nomenclaturas levaram em consideração quatro fenômenos:
A maior compreensão da causa da condição; a melhoria das práticas
profissionais em relação aos indivíduos com ―deficiência‖; a mudança de
atitudes sociais em relação à diferença (e.g.: novas terminologias, novos
paradigmas); e mais recentemente, a reforma de alguns movimentos e
valores, que estimularam aspectos como a igualdade, inclusão,
funcionalidade e qualidade de vida. (SCHALOCK apud VALENTE, P.;
SANTOS, S.; MORATO, 2011, p. 2).
De acordo com Tredgold (1937, apud ALMEIDA, 2004, p. 34), a definição de 1908
contatava que ―deficiência mental era um estado de defeito mental a partir do nascimento ou
idade mais precoce em função do desenvolvimento cerebral incompleto e, em consequência
disso, a pessoa afetada se tornava incapaz de desempenhar suas tarefas como membro da
sociedade‖. Nesse momento, DI era classificada como um estado permanente incurável e que,
consequentemente, dispensava a atuação das práticas profissionais, pois era um estado
finalizado em si mesmo.
Diferentemente do que veremos, as definições mais recentes retiram o sujeito desse
estado vegetativo ao levarem em consideração na classificação da deficiência o meio social;
as práticas profissionais que visam melhorar significativamente à qualidade de vida dos
portadores de DI; a compreensão das causas da DI; e a inserção de pessoas com DI no
mercado de trabalho, em escolas e em outros diversos meios sociais através de políticas de
igualdade, de inclusão, de funcionalidade e de qualidade de vida. Logo, dá-se à pessoa com
DI um caráter atuante e funcional em alguma esfera da sociedade.
Até se chegarem aos novos conceitos, pesquisadores atribuíram à DI um caráter de
incurabilidade e limitação permanente, que se mostrava irremediável perante tratamentos e
597
treinamentos, causando dependência extrema e incompatibilidade com o meio social, como
podemos observar abaixo:
Segundo Tredgold (1937), deficiência mental era um estado de
desenvolvimento incompleto, em nível tal que a pessoa era incapaz de
adaptar-se ao ambiente normal de seus amigos de maneira a manter
existência independente de supervisão controle e suporte externo.
De acordo com Doll (1941), deficiência mental é um estado de
incompetência social obtido na maturidade e resultante de um
desenvolvimento aprisionado na origem constitucional (hereditário ou
adquirido), sendo essa condição, essencialmente, incurável por meio de
tratamento e irremediável por meio de treinamento. (Apud: Almeida, 2004,
p. 34)
A partir dessas definições pode-se notar a ineficácia da tentativa de gerar
conhecimento no outro, uma vez que a DI era um estado acabado em si mesmo,
consequentemente, compreendiam que o DI não necessitava de práticas interventivas com
finalidades de melhorar qualquer tipo de desempenho em qualquer esfera da vida dos DI.
Já a quarta definição, proposta por Herber em 1959, afirmava que o ―retardo mental se
refere a um funcionamento intelectual geral abaixo da média, que se origina no período de
desenvolvimento e está associado a deficiências em uma ou mais das seguintes condições:
maturação, aprendizagem e ajustamento social‖ (Herber apud Almeida, 2004, p. 34). Neste
caso, temos um funcionamento intelectual abaixo da média, associado à maturação, à
aprendizagem e ao ajustamento social, termos esses que não são explicados por Herber.
Todavia, conforme Almeida (2004), em 1961 Herber propôs uma nova definição e inseriu nas
variáveis do seu estudo o ―comportamento adaptativo‖, excluindo as palavras maturação,
aprendizagem e ajustamento social. A introdução do novo conceito não classifica DI como
sendo uma deficiência geral, mas abaixo da média, de acordo com as escalas de teste de
inteligência. Sobre o ―comportamento adaptativo‖ não são dadas explicações sobre o que
realmente ele seja, mas entendemos que há uma diferença significativa nesse novo conceito
de Herber.
Na tentativa de analisar a definição de 1961, é possível dizer que o comportamento
adaptativo pode referir-se as dificuldades que o deficiente tem em relação à adaptação no
meio social, como, por exemplo, a capacidade de compreensão e expressão, a capacidade de
usar os objetos, a autonomia, as habilidades domésticas, as capacidades de participar de
discussões que emitam opinião, respeitando as ordens e os turnos de fala. Contudo, essas
deficiências em relação ao comportamento adaptativo ainda não estão evidentes na definição
598
de Herber, tampouco deixam sugerir possíveis mudanças do funcionamento intelectual a
partir de intervenções adaptadas.
De acordo com Almeida (2004, p. 35), embora houvesse avanços significativos quanto
ao grau de deficiência, a classificação de 1961 foi bastante criticada por se pautar apenas nos
testes de inteligência, nada muito diferente do que acontece atualmente em testes de
psicometria. Para Almeida (2004), isso poderia trazer dois problemas:
O primeiro é que a definição poderia ameaçar o conceito de que retardo
mental como uma condição inalterada e imutável, pois embora os resultados
pudessem permanecer estáveis ao longo dos tempos, era possível que
mudanças ocorressem em muitos comportamentos e que não aparecessem
nos testes de inteligência. A segunda crítica estava relacionada a uma
definição psicométrica em que muitas crianças provenientes de diferentes
backgrounds poderiam ser erroneamente diagnosticadas como retardadas
mentais. Também ficou reconhecido, como a definição proposta por Herber
em 1961 indicava um desvio padrão abaixo da média, estatisticamente
estaria indicando que 16% da população apresentavam deficiência mental.
Dessa forma, Clausen (1972a) sugeriu uma definição mais rigorosa em
termos de dois desvios padrões abaixo da média, ao invés de um.
(ALMEIDA, 2004, p. 35)
Para Almeida (2004), as observações de Clausen ganharam reforços e em 1973 uma
nova comissão chefiada por Crossmam foi organizada pela Associação Americana de
Deficiência Mental (AADM). Segundo Almeida (2004), foi criada, então, a seguinte definição
mais bem aceita: ―retardo mental se refere ao funcionamento intelectual geral abaixo da
média, existindo concomitantemente com déficits no comportamento adaptativo e
manifestada no período de desenvolvimento‖ (Grossmam apud Almeida, 2004, p. 35). De
acordo com Almeida (2004, p. 35), na nova definição, pelo menos dois padrões precisavam
estar abaixo da média no que se refere ao funcionamento intelectual. Sendo assim, apenas
2,28% da população em geral poderia ser identificada como deficiente intelectual. Em relação
ao comportamento adaptativo, o que se considera é o grau e a eficiência com que o indivíduo
consegue alcançar os ―padrões de independência pessoal e responsabilidade social esperados
para sua idade e grupo cultural‖ (Almeida, 2004, p. 35).
Ainda com base em Almeida (2004), sabe-se que na definição de 1973, feita pela
AADM, é notória a ideia de que o deficiente intelectual pode alcançar algum nível de
independência e responsabilidade pessoais, o que nos faz crer que, a partir desse novo
enfoque, a educação passa a ser vista de fato como uma das instituições responsáveis por
desenvolver certa autonomia pessoal do deficiente.
599
Também nos informa Almeida (2004) que, em 1983, a Associação Americana de
Retardo Mental (AAMR) publicou outro manual sobre classificação e terminologia. A nova
definição foi assim estabelecida: ―retardo mental se refere ao funcionamento intelectual geral
abaixo da média resultante ou associado a deficiências no comportamento adaptativo e
manifesto no período do desenvolvimento‖ (GROSSMAN apud ALMEIDA, 2004, p. 35).
Nessa nova definição não houve mudanças em termos de comportamento adaptativo, também
os documentos analisados não nos possibilita inferir nada sobre uma possível mudança do
nível DI a partir de intervenção educativa.
De acordo com Almeida (2004), na definição de 1983, continua-se a ver o período de
desenvolvimento como um processo que se culmina até a idade de 18 anos, que é quando
normalmente o indivíduo deve finalizar o ensino médio. Também, o julgamento clínico a
partir do escore do Quociente de Inteligência (QI) continuou sendo utilizado, sobretudo
porque se viu a necessidade de escalas padronizadas para mensuração de comportamentos
adaptativos, uma vez que o examinador poderia decidir se classificava ou não o indivíduo
como deficiente intelectual a partir de condições como déficits no comportamento adaptativo
ou diferenças culturais associadas ao nível de desempenho com escore 72, que corresponde ao
QI entre 69 e 75, recebido num teste de inteligência realizado por uma criança.
Almeida (2004, p. 37) considera, por outro lado, que a definição de 1992, feita por
Luckasson, tinha caráter mais funcional e enfatizava a interação entre a ―capacidade da
pessoa, ambiente onde a pessoa funcionava e a necessidade de vários níveis de suporte‖,
ficando assim estabelecida:
Retardo mental se refere a limitações substanciais no funcionamento atual
dos indivíduos, sendo caracterizado por um funcionamento intelectual
significativamente abaixo da média, existindo concomitante com relativa
limitação associada a duas ou mais áreas de condutas adaptativas indicadas a
seguir: comunicação, autocuidado, vida no lar, habilidades sociais,
desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e
segurança, habilidades acadêmicas funcionais, lazer e trabalho. O retardo
mental se manifesta antes dos 18 anos. (LUCKASSON et al apud
ALMEIDA, 2004, p. 37)
De acordo com a nova proposta, DI é a ―dificuldade fundamental em aprender e
desempenhar certas habilidades da vida diária‖ (ALMEIDA, 2004, p. 37). As áreas afetadas
na DI são as de ordem conceitual, prática e de inteligência social. Nesse conceito, segundo
Almeida (2004), o funcionamento intelectual abaixo da média é caracterizado com escore
padronizado de QI entre 70 e 75 ou abaixo da média, baseando-se em um ou mais testes de
inteligência realizados individualmente com o objetivo de avaliar o funcionamento intelectual.
600
Está associado às limitações em habilidades adaptativas relacionadas à limitação intelectual.
A conduta adaptativa também apresenta déficits.
De acordo com Luckasson, comunicação, autocuidado, vida no lar, habilidades
sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança,
habilidades acadêmicas funcionais, lazer e trabalho eram fatores consideráveis para o
desenvolvimento funcional e pessoal e, em alguns casos, necessitavam de apoio para a
realização‡‡‡‡. A idade cronológica também precisava ser levada em consideração, porque o
desempenho na realização das atividades vai depender da idade do indivíduo. Contudo, a
manifestação da DI antes dos 18 anos está associada ao fator cultural e à passagem para a fase
adulta, dando ênfase às atividades que deveriam ser realizadas por um adulto.
Para a aplicação da definição de 1992 era necessário levar em consideração quatro
pressupostos que apresentavam implicações claras para posteriores avaliações e intervenções.
São eles:
Uma avaliação válida deveria considerar diversidades culturais e linguísticas
bem como diferenças na comunicação e fatores comportamentais. A existência de limitações em condutas adaptativas ocorre dentro do
contexto de ambientes comunitários típicos da idade dos pares de indivíduos
e estão indexadas às necessidades de ajuda individual da pessoa. Limitações adaptativas específicas coexistem com certa frequência com os
pontos fortes de outras habilidades adaptativas ou outras capacidades
pessoais. Com suporte apropriado por um determinado período de tempo, a vida
funcional de indivíduo com deficiência mental, geralmente demonstrará
melhoras. (ALMEIDA, 2012, p. 39)
As implicações para as avaliações e intervenções levam em consideração fatores
multidimensionais, ou seja, a cultura, as diversas manifestações linguísticas e o
comportamento adaptativo em meio a gama de exigências do ambiente. Percebe-se que as
maiores dificuldades estão dentro de um contexto social e, para amenizar os impactos
causados pelas limitações intelectuais e adaptativas, é necessário suporte de acordo com a
necessidade de cada indivíduo.
Conforme Almeida (2004, p. 40), o manual da AAMR, de 1992, chefiado por
Luckasson, sugeriu a adoção de suportes para o desenvolvimento dos indivíduos dentro de
cada área de conduta adaptativa. Os possíveis níveis de suporte são assim classificados: apoio
intermitente, apoio limitado, apoio amplo e apoio permanente.
‡‡‡‡ Para melhor compreensão das habilidades adaptativas, Almeida (2004) faz definições de comunicação, de autocuidado, de vida
no lar, de habilidades sociais, de desenvolvimento na comunidade, de auto direção, de saúde e segurança, de habilidades acadêmicas
funcionais, de lazer e de trabalho para esclarecer cada uma delas em termos práticos.
601
O apoio intermitente varia de acordo com a necessidade da pessoa e é necessário em
momentos cruciais da vida do indivíduo como, ―perda de um emprego ou uma crise médica
aguda‖. Já o apoio limitado é feito a longo prazo, contudo, o tempo é limitado. Um exemplo
são os treinamentos com objetivos específicos, como os que visam desenvolver a capacidade
de leitura e escrita; inserir pessoas no mercado de trabalho, etc. O terceiro modelo, apoio
amplo, é caracterizado pela necessidade de apoio em alguns ambientes mais desafiadores para
o indivíduo, na escola, no trabalho, ou em algumas atividades que exijam mais do intelecto. O
outro suporte, apoio permanente, deve ser realizado constantemente. É oferecido em todos os
ambientes onde a pessoa se encontra e é necessário para a manutenção da vida do indivíduo.
Esse tipo de apoio envolve mais membros, como acompanhantes em tempo integral,
professores e pessoas da família, por isso é mais intenso.
A definição mais recente, segundo Almeida (2004), acontece no novo milênio. Em
2002, a AAMR, diante de insatisfações das comunidades acadêmicas e científicas quanto à
definição de 1992, se viu diante da necessidade de formular uma nova definição mais precisa.
Assim foi definido:
Retardo mental é uma incapacidade caracterizada por limitações
significativas em ambos, funcionamento intelectual e comportamento
adaptativo e está expresso nas habilidades sociais, conceituais e práticas. A
incapacidade se origina antes dos 18 anos. (LUCKASSON et al apud
ALMEIDA, 2004, p. 42).
Pautada na análise de Almeida (2004, p. 43), sabe-se que para a definição de 2002 as
explicações pertinentes são: a DI está expressa na incapacidade caracterizada por limitações
no funcionamento intelectual, que influenciavam diretamente no comportamento adaptativo.
―A incapacidade da pessoa, no entanto, deve ser considerada dentro do contexto do ambiente,
de fatores pessoais e necessidade de suporte individualizado‖. O segundo ponto considerável
diz respeito ao diagnóstico: dependendo dos objetivos do diagnóstico, a DI pode ser
caracterizada das seguintes formas: pelo suporte utilizado, pela variação de quociente de
inteligência, ―pelas limitações no comportamento adaptativo, etiologia, categorias de saúde
mental, etc‖ (ALMEIDA, 2004, p. 43).
O sistema de 2002 na verdade é uma ampliação do sistema 1992 devido aos avanços
de estudos na área de DI. De acordo com Almeida (2004), observa-se a maior ênfase na
orientação funcional e suporte. Incorpora também novos critérios de desvio para o
comportamento adaptativo; o envolvimento de participações, interações e papéis sociais; a
sugestão de habilidades conceituais e práticas, podendo representar o componente
602
multidimensional da definição; pesquisas sobre os níveis de suporte e determinação da
intensidade de suporte, entre outros fatores resultantes de pesquisas nas áreas de medicina.
A definição de 2002 demonstra maior preocupação do indivíduo em relação à
interação, aos papéis sociais, à participação, à saúde mental e à cultura, que é um dos fatores
importantes para o diagnóstico de DI. Para a compreensão de DI e funcionamento do
indivíduo, o suporte e as dimensões, como habilidades intelectuais; comportamento
adaptativo; participação, interação e papéis sociais; saúde e contexto foram mantidos,
privilegiando um modelo mais ecológico e reforçando o modelo multidimensional de 1992. O
papel do suporte é enfatizado para o desenvolvimento do funcionamento do indivíduo e
melhoria na execução de atividades diárias.
No campo educacional, o suporte precisa estar munido do currículo adaptado,
elaborado por professores, especialistas e pela participação do suporte, que é quem possui
maior conhecimento do que o aluno consegue executar com eficácia a partir da convivência
direta com este no contexto escolar. Uma possível adaptação curricular é que irá definir o
nível de participação efetiva em sala de aula e a proporção de interação com os demais
colegas da turma ao realizar as atividades propostas.
Pensando nessas ações, sistematizamos uma pequena reflexão sobre o papel da
educação na melhoria de vida do DI, a qual apresentamos a seguir.
2 A EDUCAÇÃO
A medição da inteligência ou a psicometria está constantemente associada à
escolarização para diferenciar pessoas capazes das aparentemente incapazes de beneficiar-se
do conhecimento disponível pela escola. A psicometria leva em consideração a idade mental e
o quociente intelectual. Na idade mental envolvem as capacidades gerais e as aptidões que um
indivíduo consegue desempenhar de acordo com o esperado para a sua idade. De acordo com
Fierro (2004, p. 193), o QI resulta da divisão da idade mental pela idade cronológica
multiplicada por 100. Contudo, segundo o autor, esse modelo de medição de inteligência é
pouco efetivo para a utilidade educacional e prática, por não apontar ―indicações proveitosas
acerca do que fazer, de como intervir, educar e reabilitar‖ a partir do diagnóstico.
As definições de DI encontradas até o momento também caminham apenas para a
classificação pautada no QI e na idade mental, não apontam medidas interventivas de como
proceder a partir do momento que se detecta um quadro de deficiência em sala de aula.
603
Parecem estar apenas preocupadas em traçar a justificativa conceitual da terminologia a partir
de testes psicométricos. Tal fato pode ser constatado pela dificuldade em encontrar materiais
que lidem diretamente com práticas educacionais e interventivas a partir da conceituação de
DI.
Fierro (2004) defende uma ―dupla máxima‖ que serve para o tratamento e para a
educação das pessoas com deficiência:
Nenhuma intervenção será acertada sem a oportuna avaliação; nenhuma
avaliação tem sentido se não estiver relacionada a uma intervenção. A
avaliação, por sua vez, deve referir-se não apenas à(s) pessoa(s) com a(s)
quais intervém, mas à própria atividade, ao processo e aos resultados da
intervenção. (FIERRO, 2004, p. 202)
Para o autor, na ―dupla máxima‖ há uma ênfase capaz de possibilitar a junção das duas
características, na qual é possível avaliar ―o potencial de aprendizagem do sujeito ao mesmo
tempo em que se avalia o programa de instrução ou de ensino‖ (FIERRO, 2004, p. 202).
A hipotética classificação de QI deve estar associada à avaliação do potencial de
aprendizagem a partir de práticas educativas ou de instrução. Para a avaliação exterior ao
campo escolar, o nível da prova precisa estar adaptado de acordo com o sujeito a ser avaliado,
ou seja, ele deve ser ―testável‖ e capaz de compreender os sentidos das atividades propostas
pela prova. Por esta razão, é que há grandes quantidades de testes, como a Escala
Wechsler§§§§
, que varia de acordo a idade do indivíduo, sendo que as provas devem ser
aplicadas de acordo com uma idade inferior à do sujeito avaliado.
É importante ressaltar, segundo Fierro (2004), que o diagnóstico de DI não pode ser
feito em caráter definitivo, sendo necessária de tempos em tempos uma avaliação com a
finalidade principal de orientação de práticas educativas adaptadas a partir dos resultados de
avaliação das capacidades básicas que o sujeito pode desempenhar.
No âmbito escolar o que se avalia são os conhecimentos, capacidades e competências
que formam todo o currículo escolar, o qual deve ser adaptado às necessidades dos alunos e
não o inverso. Primeiramente é uma avaliação que cabe ao professor realizar, sem diferenciar
dos critérios de avaliação dos diversos alunos. Contudo, antes circulava por esferas escolares
que algumas pessoas são possivelmente capazes de serem ―educáveis‖ e outras não. Mas o
fato é que mesmo aquelas pessoas dotadas de grau de dificuldade extrema são capazes de
aprender alguma coisa. Vygotsky (2007, p. 46) afirma que ―o que decide o destino da
§§§§
Mais informações sobre a Escala Wechsler podem ser encontradas na obra Retardo Mental: uma deficiência a ser compreendida e
tratada, de Pietro Pfanner e Mara Marcheschi.
604
personalidade, em última instância, não é o defeito em si, senão suas consequências sociais,
sua realização sócio-psicológica‖.
Percebe-se, na afirmação de Vygotsky que a deficiência já não é mais um problema,
mas sim as exigências básicas que a sociedade faz do sujeito, como saber ler, poder
comunicar-se com os outros, garantir o seu alimento, saber identificar perigos mais comuns da
vida e relacionar-se com outro. Todas essas exigências envolvem a abstração, o raciocínio e
capacidade de interpretação de informações para o melhor desempenho do indivíduo no seu
entorno.
Hoje, é possível aceitar com mais naturalidade que todo o sujeito seja educável,
independente das suas limitações, entretanto, é necessário focar em necessidades educativas
especiais que atendam uma demanda ou exigência e que contribuam para a educação
minimamente desejável e executável.
Para Fierro (2004, p. 209), o conceito de necessidades educativas especiais ―enfatiza a
relação aluno-professor e também a atividade do professor, e não apenas a do aluno‖. Por
outro lado, outros termos e conceitos, como os listados abaixo, servem de norte para
pensarmos a educação para um DI:
Deficiência, diminuição, atraso, etc. referem-se a qualidades intrínsecas à
pessoa, como se tais qualidades não tivessem nada a ver com a consideração
social, com as relações do indivíduo com o meio e com as reações do meio
diante de tal indivíduo. Em comparação com esses conceitos, o de
necessidades educativas especiais tem não somente a vantagem, mas
também o rigor e a honestidade de colocar em primeiro plano não um
aspecto apenas interno, inerente à pessoa, e sim um fato relacional: uma
condição do indivíduo, mas precisamente ligada a alguma coisa no seu
entorno, em relação com o ambiente educativo. (FIERRO, 2004, p. 209)
No conceito de necessidades educativas especiais o enfoque está no que a ―escola deve
e pode fazer com o aluno‖ (FIERRO, 2004, p. 209). A escola é quem deve dar uma resposta
sobre o que se espera dela. São necessidades pautadas na ―inter-relação com o meio escolar‖,
ou seja, na interação do sujeito com o meio no qual se encontra inserido. Nessa concepção, a
estratégia e a prática são de extrema relevância, consequentemente chegam a suscitar
questionamentos, como: ―Que resposta educativa é preciso dar? Que estratégias de atuação
educativas são necessárias? Que desenvolvimento e quais adaptações curriculares?‖
(FIERRO, 2004, p. 209). Segundo Fierro (2004, p. 209), essa perspectiva preocupa-se em
―atender às dificuldades na atividade de ensinar, mais do que apenas de aprender. A lógica
desse enfoque pede que, em vez de falar de dificuldades dos alunos, ou além disso, fale-se de
dificuldades de seu ensino‖.
605
O novo conceito entrelaça perfeitamente aos pressupostos vygotskyanos ao deixar de
se preocupar com a deficiência e focar nas práticas e modos de intervenção destinados a
superá-la. Um enfoque ―positivo dos programas, das práticas, das estratégias didáticas e da
educação específica que é preciso oferecer aos alunos‖ (FIERRO, 2004, p. 209).
Nas dificuldades de aprender e ensinar nos casos de deficiência faz-se necessário a
consideração dos estudos vygotskyanos sobre a zona de desenvolvimento proximal. Para
Vygotsky (2007, p. 103), ―o aprendizado adequadamente organizado resulta em
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de
outra forma, seriam impossíveis de acontecer‖. Os processos de desenvolvimento estão
imbricados na socialização, aquisição de habilidades sociais, culturais, de educação e domínio
de atividades básicas do dia a dia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acerca do panorama histórico das definições de DI, não há uma solução fixa para essa
questão nem em níveis de termos e tampouco em conceituação fixa. O que se têm de certo é
que se trata de um funcionamento intelectual abaixo da média nos níveis conceituais sociais e
práticos, dependendo do nível de QI.
O que se observava no início do século XX, com Tredgold, se distancia muito da visão
atual acerca da DI. Deslocaram o deficiente intelectual do diagnóstico de total incurabilidade
e incapacidade em desempenhar atividades diversas dentro da sociedade para um caráter de
limitado intelectualmente, que pode se desenvolver quando estimulado adequadamente e com
a ajuda de suportes adequados ao seu grau de necessidade. De acordo com Fierro (2004), o
diagnóstico de DI não pode ser tido como algo definitivo e sim de extrema importância com
avaliações constantes para identificação ou não de possíveis avanços cognitivos com
finalidade de verificação de práticas educacionais.
Segundo Almeida (2004), os avanços científicos, em especial no campo da psicologia
e da medicina, considerando que quase não há estudos sobre o tema na área da educação,
possibilitaram inserir deficientes intelectuais em ambientes antes inimagináveis, como o
escolar. A partir da inserção do deficiente na escola é possível notarmos a evolução
considerável no que diz respeito ao desenvolvimento, à funcionalidade do sujeito nos diversos
meios sociais e como o diagnóstico precoce e as práticas educacionais interventivas e
adequadas podem ser definidoras no processo evolucional do quadro de DI. Como exemplo
606
de práticas educacionais interventivas, podemos considerar os estudos realizados por
Shimazaki (2006), no qual adultos portadores de DI se mostraram capazes de desenvolverem
a linguagem escrita, a oralidade e de desempenharem uma função no mercado de trabalho a
partir de intervenções adequadas para uma dada realidade.
Sendo a escola uma das instituições em que o deficiente pode se desenvolver
significativamente independente das justificativas conceituais obtidas após o diagnóstico de
DI ou do nível de QI, todas as pessoas podem e devem beneficiar-se dela. Todavia, dentro do
âmbito escolar, o professor necessita compreender que o aluno que não se desenvolve no
mesmo ritmo dos demais colegas almeja uma relação aluno-professor mais produtiva, uma
relação que leve em consideração as ações do aluno e do professor concomitantemente a
partir da inter-relação com o ambiente escolar comprometido em aliviar as dificuldades do
ensino para com o deficiente intelectual.
Em meio às relações produtivas na escola, a adaptação curricular de acordo com o
sujeito a ser avaliado pode surgir como uma prática interventiva que visa educar e reabilitar a
partir de uma situação específica. De acordo com Blanco (2004), as adaptações curriculares
devem considerar não apenas um produto, mas um processo que serve para refletir
conjuntamente e unificar critérios com respeito à resposta educativa de um aluno, a fim de
que a escola cumpra as demandas do deficiente.
Por outro lado, a escola pode se questionar sobre a qualidade do que é ensinado para
desenvolver aquilo que o deficiente intelectual é capaz de aprender e apreender. De acordo
com Fierro (2004), os envolvidos no processo educacional devem se preocupar com os
processos, as atividades e não com os produtos. Constata-se que a educação preocupada com
os processos e as atividades torna possível o desenvolvimento e a capacidade do sujeito em
executar certas tarefas por si mesmo sem estar a todo instante dependendo do outro para
torná-las exequíveis. Não é o caso de querer tratar o deficiente intelectual de igual para igual
com um sujeito que não tem DI e sim de proporcionar ao DI o direito de ser reconhecido
como pessoa dotada de vontades, sejam elas educacionais, profissionais e afetivas. O que se
deve preservar acima de tudo é o ser humano e não a manutenção de um quadro causador de
dor e sofrimento, tanto para o deficiente quanto para os seus familiares.
Em suma, as movimentações do campo da saúde e da educação em torno da DI
possibilitaram a esperança de melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas
com deficiência intelectual, de possibilitar mais autonomia numa sociedade moderna que a
607
cada dia incentiva mais a disputa pela dominação entre os seus os sujeitos e também de
transformar o rol de diagnósticos feitos em algo mais humanizado.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, MARIA AMÉLIA. Apresentação e análise das definições de deficiência mental
propostas pela AAMR- Associação americana de retardo mental de 1908 a 2002. Disponível
em: Revista de educação PUC-Campinas 16 (2012).
BLANCO, Rosa. A atenção à diversidade em sala de aula e as adaptações do currículo. In:
COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e
educação. Porto Alegre: Artmed, 2004, 3v. pp. 290 – 308.
BORBA, Francisco S. Dicionário unesp do português contemporâneo. Curitiba: Piá, 2011.
CARNEIRO, Maria Sylvia Cardoso. A deficiência mental como produção social: de itard à
abordagem histórico-cultural. In: Inclusão e escolarização múltiplas perspectivas/
organização BAPTISTA, C.R.; MACHADO. A. M. (et al). Porto Alegre: Meditação, 2006.
FIERRO, Alfredo. Os alunos com deficiência mental. In: COLL, César; MARCHESI, Álvaro;
PALACIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artmed, 2004,
3v. pp. 193 – 214.
OLIVEIRA, V. H.; SILVA, M.C.V.Deficiência intelectual a partir da abordagem histórico-
cultural. Anais XIV Semana da Educação - Pedagogia 50 anos: da faculdade de filosofia,
ciências e letras À Universidade Estadual de Londrina. 2012. Disponível em:
ht t p : / / w w w . u e l . b r / e v e n t o s / s e m a n a d a e d u c a c a o / p a g e s / a r q u i v o s / a n a i s /
2 0 1 2 / a n a i s / e d u cacaoespecial/deficienciaintelectual.pdf Acesso em 20 maio de 2014.
Deficiência intelectual a partir da abordagem histórico-cultural. Disponível em:
http:<//www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/pages/arquivos/anais/2012/anais/edu>. 2012
Acesso em 20 mai de 2014. Acesso em: 28/07/2016.
PFANNER, Pietro; MARCHESCHI, Mara. Retardo mental: Uma deficiência a ser
compreendida e tratada. São Paulo: Paulinas, 2008.
SHIMAZAKI, Elsa Midori. Letramento em jovens e adultos com deficiência mental. 2006.
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-05062007-102.
Acesso em: 11/07/2016.
TREDGOLD, A. E. A textbook of mental deficienct. Baltimore: Wood: 1937.
VALENTE, P.; SANTOS, S.; MORATO, P. A Intervenção psicomotora como (um sistema
De) apoio na população com dificuldade intelectual e desenvolvimental. Disponível em: A
Psicomotricidade. nº15, 2012.
608
VERGUEIRO. Vieitas Paola. Deficiências e doenças mentais: um estudo. São Paulo:
Editora Mackenzie: Fapesp, 2001.
VIGOTSKI, Lev Semenovitch. A Formação social da mente. 7ª ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.
O ESPERANTO COMO PROJETO DE EXTENSÃO EM ENGENHARIA
Luiz Claudio Oliveira (CEFET-MG)
Resumo: O esperanto é uma língua internacional, falada por milhares de pessoas em todos os
continentes. Mais de cem anos de utilização prática fizeram do esperanto uma língua viva, capaz de
exprimir quaisquer nuances do pensamento humano, aplicada a todas as áreas do conhecimento. No
CEFET-MG, campus Divinópolis, está em andamento um Projeto de Extensão para o aprendizado do
esperanto. Tem-se como objetivo um curso presencial de língua, aliado a recursos computacionais
variados e interligados, para fornecer ao aluno recursos didáticos e meios de comunicação
internacional através da Internet. O curso presencial parte de um nível zero de conhecimento, até um
nível básico, em quatro meses, com uma aula semanal de 50 min. Este nível corresponde ao A2 Básico
do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. O curso conta com livros, material de leitura
geral e especializado (técnico) gratuitos da Internet. Este curso é incrementado através de recursos de
informática: -material virtual armazenado em nuvem, -blog do curso com informações básicas,
links, -página no Facebook com informações atualizadas e contato entre os alunos, -aplicativo para
android como central de informações e recursos, -Moodle (central de atividades), -dicionários
eletrônicos no celular (Android e Google Chrome). O foco é como atividade complementar para
alunos do curso superior de Engª Mecatrônica (10 vagas), mas ainda extensivo aos demais alunos,
servidores do campus e comunidade em geral (10 vagas). O curso tem apresentado boa aceitação por
parte dos alunos da Engª Mecatrônica, com 4 formandos em 2015, 5 em 2016 e 11 em 2017 (1º
semestre). Um segundo nível iniciou-se no 2º semestre de 2017, como língua instrumental.
Palavras-chave: Curso de Extensão Universitária. Ensino de Línguas. Esperanto.
Abstract: Esperanto is an international language, spoken by thousands of people on every continent.
More than one hundred years of practical use have made Esperanto a living language capable of
expressing any nuances of human thought applied to all areas of knowledge. At CEFET-MG, Campus
Divinópolis, an Extension Project is under way to learn Esperanto. The aim is to have a face-to-face
language course, coupled with varied and interconnected computational resources, to provide the
student with didactic resources and international means of communication through the Internet. The
face-to-face course starts from a zero level of knowledge, up to a basic level, in four months, with a
50-minute weekly lesson. This level corresponds to the Basic A2 of the Common European
Framework of Reference for Languages. The course counts on free books, general reading material
and specialized (technical), all from the Internet. This course is enhanced by computer
resources: -virtual material stored in the cloud, -a course blog with basic information, links, -a
Facebook page with updated information and contact between students, -an android applicative as an
information and resource center, -Moodle (activity center), -electronic dictionaries on mobile phone
(Android and Google Chrome). The focus is as a complementary activity for Eng. Mechatronics
undergraduates (10 places), but also extended to other students, campus employees and community in
general (10 places). The course has been well accepted by Eng. Mechatronics students, with 4 students
finishing the course in 2015, 5 in 2016 and 11 in 2017 (1st semester). A second level began in the
second half of 2017 as an instrumental language.
609
Keywords: University Extension Course. Teaching of Languages. Esperanto.
INTRODUÇÃO
O esperanto é uma língua internacional, falada por milhares de pessoas em todos os
continentes. Seu primeiro manual foi publicado na Polônia em 1887, por Lázaro Luís
Zamenhof (SUTTON, 2008; HOLZHAUS, 1969), e a língua consolidada no Fundamento de
Esperanto (ZAMENHOF, 1905).
Mais de cem anos de utilização prática fizeram do esperanto uma língua viva, capaz
de exprimir qualquer nuance do pensamento humano, aplicada a todas as áreas do
conhecimento. O número mínimo de falantes fluentes varia de 2 a 3 milhões, e daqueles
afeitos somente à leitura/escrita é bem maior. Este número de falantes colocaria o esperanto
entre as línguas minoritárias, se os esperantistas estivessem restritos a uma única região ou
país. Porém, estes milhares de esperantistas estão espalhados por todo o Planeta, sendo
nativos das mais diversas línguas e culturas. Basta digitar ―esperanto‖ num aparelho de busca
na Internet para constatar. Sendo assim, ao aprendermos esperanto temos acesso direto a
inúmeras culturas dispersas pelo mundo, tornando-nos parte de uma comunidade multi-
cultural internacional.
O esperanto é consideravelmente mais fácil de aprender do que as demais línguas, já
que seu mecanismo é bem mais simples e completamente regular (MAXWELL, 1988).
Assim, em pouco tempo consegue-se atingir o nível de fluência necessário para a
comunicação com pessoas de todo o mundo. Na Internet, o esperanto é uma das línguas
utilizadas pelo Google. Como referido acima, digitando-se a palavra "esperanto" num
aparelho de busca pode-se ter uma idéia não só da extensão do idioma, como também da
diversidade de países com sites relacionados.
Estes dois aspectos —comunidade multi-cultural internacional e maior facilidade de
aprendizagem— tornam o esperanto atrativo para muitas pessoas, e esta foi uma oportunidade
explorada com o projeto de extensão "Esperanto Padrão Internacional: Curso Presencial e
Interação Virtual" no curso de Engª Mecatrônica do campus V do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (OLIVEIRA, 2015).
610
1 OBJETIVO E METODOLOGIA
O objetivo do projeto de extensão ―Esperanto Padrão‖ é promover um curso presencial
de língua esperanto, aliado a recursos computacionais variados e interligados, para fornecer
ao aluno tanto conhecimentos de língua quanto recursos didáticos e meios de comunicação
internacional através da Internet. O foco é como ‗atividade complementar‘ para alunos do
curso superior de Engª Mecatrônica (10 vagas), extensivo aos demais alunos e servidores do
campus, além da comunidade em geral (10 vagas).
O curso presencial parte de um nível zero de conhecimento, até um nível básico, em
quatro meses, com uma aula semanal de 50 min. Este nível corresponde ao A2 Básico do
Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001).
Um nível intermediário, também em quatro meses, correspondente ao B1 Intermediário, está
previsto mas não foi implementado. Em seu lugar está sendo realizado um curso de esperanto
instrumental para engenharia. O curso presencial conta com livros, material de leitura geral e
especializada (técnica) gratuitos da Internet. Seguindo tecnologias atuais de informação,
comunicação e também educação, o curso presencial é incrementado através da utilização de
recursos computacionais e da Internet. Por exemplo, o material didático é armazenado em
nuvem, figura 1, e o curso tem um blog, figura 2, com informações, links sobre o esperanto e
esperantistas, e ainda associações. Além disso, uma página no Facebook, figura 3, mantém
informações atualizadas sobre o dia-a-dia do curso e contatos entre os alunos e o instrutor,
contando também com um aplicativo android, figura 4, como central de informações e
recursos,. A plataforma Moodle, figura 5, é a central de atividades do curso, onde há um
cronograma de aulas e material a ser descarregado, estudado e depois recarregado como
exercícios resolvidos.
613
Ao final do curso, o ―esperantista‖ deverá ser capaz de: -ler textos, com ajuda de
dicionário, sobre temática qualquer, porém não muito especializada; -compreender e elaborar
frases orais, bem como elaborar frases escritas, sobre temas comuns do dia-a-dia —por
exemplo apresentação e informações pessoais, assuntos da imprensa, de interesse geral, etc—;
-iniciar-se na literatura técnica especializada, com ajuda de dicionário.
Figura 4: Aplicativo Android.
Justifica-se o curso básico em um semestre já que as estruturas gramaticais da língua
esperanto são absolutamente regulares e extremamente simples, sendo então possível
introduzir toda a gramática e um vocabulário básico geral neste período.
614
A denominação "Esperanto Padrão Internacional" provém do fato de seguir-se
estritamente o "Fundamento de Esperanto" de Zamenhof. Algumas variações, utilizadas por
alguns autores, serão mencionadas, porém o curso se norteará pelo uso do "Fundamento de
Esperanto" como instrumento verdadeiramente universal e intemporal para o esperantista
(OLIVEIRA, 2009).
Figura 5: Curso na paltaforma Moodle do CEFET-MG.
2 PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
Como atividades do curso destacam-se as práticas de conversação, programadas num
intervalo de 3 em 3 aulas (aulas 3, 6, 9, 12). Isto permite a utilização do pouquíssimo tempo
de aula (50 min. por semana) tanto para explicações —aulas 1, 2, 4, 5 etc. —, quanto para a
prática de conversação dentro da sala. Em duas destas aulas são trabalhadas músicas. A
introdução da base gramatical é subordinada à inicialização informal por atividades orais de
comunicação, na forma de um diálogo ou uma pequena estória. Em todas as aulas há
exercícios escritos, realizados oralmente na aula e programados para entrega em datas
específicas, na plataforma Moodle.
O livro didático utilizado é o Zagreba Metodo (TIŠLJAR et alii, 2006), com vasto
material na Internet. A sedimentação e aprofundamento do uso do vocabulário e das
estruturas gramaticais deverão ser feitos no nível intermediário.
Distribuição das aulas: ٠14 semanas, ٠1 aula de 50 min. por semana: -12 aulas; -1
exame final; -1 encontro de conversação/confraternização, exclusivamente em esperanto
(geralmente uma competição de karaokê). Uma série de atividades e exercícios são coocados
615
na plataforma Moodle como exercícios avaliativos e complementares. As aulas são
ministradas pelo prof. Luiz Claudio Oliveira, do Depto. Engª Mecatrônica (Divinópolis),
coordenador do Projeto de Extensão. O curso resulta da experiência do prof. como instrutor
de língua esperanto em cursos livres oferecidos na Sociedade Esperantista de Minas Gerais
(Belo Horizonte) por vários anos (atualmente descontinuados).
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso se desenvolve em 14 semanas, com uma aula de 50 minutos por semana e
mesma quantidade de trabalho extra-classe, totalizando 20 horas de trabalho semestral. É
realizado um encontro de confraternização final, com uma competição de karaokê em
esperanto. Há uma série de atividades e exercícios na plataforma Moodle como exercícios
avaliativos e complementares.
Este curso de extensão (curso livre) foi aprovado pela Direção de Extensão e
Desenvolvimento Comunitário do CEFET-MG através da Portaria DEDC-093 de 9 de julho
de 2015. Conforme mencionado, as aulas são ministradas pelo prof. Luiz Claudio Oliveira,
docente do Deptº de Engª Mecatrônica (Divinópolis), coordenador do projeto de extensão, o
qual já ofereceu um curso semelhante no campus Divinópolis (programa "Espaço Livre" do
campus) e cursos livres de esperanto na Sociedade Esperantista de Minas Gerais (Belo
Horizonte) por mais de 10 anos.
O curso tem apresentado boa aceitação por parte dos alunos da Engª Mecatrônica, com
4 formandos em 2015, 5 em 2016 e 11 em 2017 (1º semestre). Estes alunos utilizam suas
horas de trabalho como ‗atividades complementares‘, obrigatórias para a Engª Mecatrônica.
Por sua vez, os alunos dos cursos técnicos apresentam um grande interesse pela língua, e tem-
se uma procura de 6 a 10 alunos todo início de semestre. No entanto, no período das primeiras
provas bimestrais, estes alunos do técnico desaparecem e não voltam. O incentivo de um
certificado de extensão para estes alunos não se mostrou suficiente, mas no contexto do
segundo grau ainda não foi encontrado um outro atrativo para mantê-los até o final. Como
paliativo, estes alunos são colocados na página do Facebook e continuam recebendo
informações do curso e sobre o esperanto. Além disso, nas aulas iniciais são apresentados os
616
recursos conputacionais e de Internet citados acima, além de diversas opções de outros cursos
na Internet, para que o aluno, mesmo saindo do curso presencial, possa de algum modo
continuar seus estudos da língua.
Com relação a outros interessados, alguns servidores do campus se mostraram
interessados, e também pessoas da comunidade em geral, mas não houve ainda participação
efetiva destes dois setores nos cursos presenciais. Uma dificuldade para o comunidade é a
localização do campus, longe do centro, e temos também dificuldades de divulgação
(propaganda) do curso na cidade.
Um segundo curso iniciou-se no 2º semestre de 2017, como língua instrumental
(engenharia), também com interesse pelos alunos, com 4 concluintes no segundo smestre de
2017. O nível intermediário ainda não foi implementado.
REFERÊNCIAS
CONSELHO DA EUROPA, Quadro europeu comum de referência para as línguas:
Aprendizagem, ensino, avaliação. ALVES, J.M. (org.). EDIÇÕES ASA, 2001. (Col.
Perspectivas Actuais/Educação). Disponível em:
<http://area.dge.mec.pt/gramatica/Quadro_Europeu_total.pdf >. Acesso em: 20ago. 2018.
HOLZHAUS, A. Doktoro kaj Lingvo Esperanto. Helsinki: Fondumo Esperanto, 1969.
MAXWELL, D. On the acquisition of Esperanto. Studies in Second Language Acquisition,
[S.l], n. 10, p. 51-61. 1988.
OLIVEIRA, L.C. Esperanto Fundamental: Proposta de uma metodologia para o estudo, uso
e ensino do esperanto segundo o Fundamento e as demais obras de Zamenhof. Belo
Horizonte: Sociedade Esperantista de Minas Gerais, 2009. (Col. Esperanto Fundamental, vol.
1). Disponível em: < https://esperantofundamental.blogspot.com/>. Acesso em: 20ago. 2018.
OLIVEIRA, L.C. Esperanto padrão internacional: Curso presencial e interação virtual.
2015. Projeto de Exensão. Deptº de Engenharia Mecatrônica, Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.
SUTTON, G. H. Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto 1887-
2007. New York: Mondial, 2008.
TIŠLJAR, ZLATKO, ŠTIMEC, SPOMENKA, ŠPOLJAREC, IVICA, IMBERT, ROGER. La
Zagreba Metodo. Zagreb, 2006. Disponível em: <https://lernu.net/pt/biblioteko/117>.
Acesso em: 20ago. 2018.
ZAMENHOF, L.L. Fundamento de Esperanto: Gramatiko, Ekzercaro, Universala Vortaro.
Hachette: Paris, 1905. Disponível em:
<https://archive.org/details/fundamentodeesp00zamegoog> e