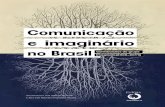Anais CIENAGRO 2016 - UFRGS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Anais CIENAGRO 2016 - UFRGS
Kelly Lissandra Bruch (coordenadora)
Arthur Blois Villela (organizador)
Giovanna Isabelle Bom de Medeiros Florindo (organizadora)
Thiago José Florindo (organizador)
Anais do 4º Simpósio da Ciência do Agronegócio
7 e 8 de outubro, 2016
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
CEPAN/UFRGS
Porto Alegre – 2016
Comissão Organizadora do Evento – 2016
Coordenação:
Profª. Kelly Lissandra Bruch
Organização:
Adriane Regina Garippe Johann
Aline Silva de Lima
Anelise Daniela Schinaider
Profª. Angela Rozane Leal De Souza
Antonio Luiz Fantinel
Arthur Blois Villela
Bibiana Melo Ramborger
Bruna Bresolin
Cláudia Brazil Marques
Claudinei Crespi Gomes
Cristian Rogério Foguesatto
Debora Mara Correa De Azevedo
Denise Saueressig
Prof. Edson Talamini
Fernando Pellenz
Giovanna Isabelle Bom de Medeiros
Florindo
Gleicy Jardi Bezerra
Gustavo Barboza De Melo
Prof. Homero Dewes
Jaqueline Fernandes Tonetto
Jessica Moreira Maia Souto
José Antonio Simões Pires
Karla Faccio
Profª. Leticia De Oliveira
Marcela Machado
Prof. Marcelino De Souza
Marcos Vinicius Araujo
Marielen Aline Costa da Silva
Thiago José Florindo
Vinicius Dornelles Valent
I M P O R T A N T E
Todo conteúdo, direitos autorais, formato de publicação, eventuais erros e divergências de
conceitos são de plena responsabilidade dos autores. A comissão organizadora deste evento está
apenas reproduzindo de forma integral os arquivos submetidos.
SUMÁRIO
ANÁLISE CVL EM PROPRIEDADE RURAL: ESTUDO DE CASO EM GRANJA DE SUÍNOS.........................10
INDICADORES NÃO FINANCEIROS DO MÉTODO UEP APLICÁVEIS À GESTÃO FABRIL DE
FRIGORÍFICO..............................................................................................................................................................18
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: UM MODELO
ANALÍTICO SOB A ÓTICA DA AÇÃO COOPERATIVA.......................................................................................26
A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A ECONOMIA DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO NO
AGRONEGÓCIO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA......................................34
O PAPEL DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS PARA O AGRONEGÓCIO: O CASO DA CAMNPAL............41
DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DE UMA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA RS E A PRÁTICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA REFLEXÃO NA COMPREENSÃO DE SUA CONCEITUAÇÃO................................................................................................................. ......................................48
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR............................................................57
SOBERANIA ALIMENTAR E A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR TRADICIONAL: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.............................................65
SUPERESTIMADA E SUBESTIMADA, AFINAL QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA AGRICULTURA URBANA?......................................................................................................70
CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO DO FUMO NA COREDE RIO DA VÁRZEA..............................................78
ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS LATICÍNIOS DA REGIÃO DO VALE DO BRAÇO DO NORTE........................................................................................................................ .................................................86
A DINÂMICA DA BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA OROZÍCOLA: UM ESTUDO COMPARATIVO....94
COMPARAÇÃO ECONÔMICA ENTRE A COMPRA DE ALEVINOS E JUVENIS DE TILÁPIAS DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS) – UMA ALTERNATIVA PARA O PEQUENO PRODUTOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL........................................................................................................... ..............................102
CONTABILIDADE DE CUSTOS NO AGRONEGÓCIO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DOS ARTIGOS PUBLICADOS NO PERIÓDICO CUSTOS E @GRONEGÓCIO ONLINE............................................................109
O AGRONEGÓCIO EM ARTIGOS VEICULADOS EM PERIÓDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (2005-2015): TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS.............................................................................................. ......117
ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA ERVA-MATE EM PALMEIRA DAS MISSÕES – RS.....................125
ALIMENTOS REGIONAIS E GASTRONOMIA: O CASO DA ASSOCIAÇÃO BROTOS FRUTOS CULINÁRIA DO CERRADO..........................................................................................................................................................133
QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DA ERVA-MATE.............................................141
CADEIA PRODUTIVA DO TABACO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO............................................................................................................................................................149
ÉTICA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO: ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM RONDÔNIA......................................................................................................157
AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOTÉCNICAS NA CADEIA DE PRODUÇÃO CONVENCIONAL DE OVOS: UM OLHAR A PARTIR DE DUAS EXPERIÊNCIAS........................................................................................... ..165
EFEITO DA VOLATILIDADE DO PREÇO DO MILHO........................................................................................173
O PERFIL DOS CONSUMIDORES DAS FEIRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JÚLIO DE CASTILHOS...............................................................................................................................................................181
MODERNIZAÇÃO RURAL DO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2006.................................................................................................................... ..........189
A ESPECIALIZAÇÃO NA CULTURA DO TABACO............................................................................... .............197
PERCEPÇÕES DO VAREJO SUPERMERCADISTA SOBRE SUSTENTABILIDADE: EVIDÊNCIAS/ANÁLISE DO SETOR NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL....................................202
AS DIVERSAS FACES DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES........................................................................210
DESDOBRAMENTOS DA QUESTÃO AMBIENTAL NO AGRONEGÓCIO: A RELAÇÃO SOCIEDADE/NATUREZA EM DISCUSSÃO...................................................................................... ...................217
VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO, PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS E EDUCACIONAIS DO ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO IFRO – CAMPUS ARIQUEMES.................................................225
PREÇOS AGRÍCOLAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR................................................................................233
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA: VALORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN.............................................................................. .........................................................................241
AGRICULTURA URBANA: SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL ................................................................................................................................ .....................................................246
A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS EM PORTO ALEGRE ATRAVÉS DOS CIRCUITOS CURTOS....................................................................................................................... ..............................................251
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO SOBRE AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL: INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA WEB OF SCIENCE (2005-2015)...............258
A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NUMA PERSPECTIVA BIOECONOMICA...........................266
PRINCIPAIS DIMENSÕES DA AGRICULTURA URBANA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA.......................................................................................................... ............................274
AS TRANSFORMAÇÕES NA CADEIA PRODUTIVA DA SERICICULTURA NO ESTADO DO PARANÁ: 2006-2014...................................................................................................................................... .............................280
A PERCEPÇÃO SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PELOS FEIRANTES DE CAMOBI EM SANTA MARIA – RS................................................................................................................................ ..............................287
O AMBIENTE INSTITUCIONAL NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR..292
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE PARA LEVANTAMENTO DA ÁREA IRRIGADA POR PIVÔ-CENTRAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL...........................................................................................298
O PAPEL DA POLÍTICA AGRÍCOLA DE SEGURO RURAL NA PRODUÇÃO DE MILHO NO RIO GRANDE DO SUL (RS).................................................................................................................. ...........................................306
GERENCIAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES: ESTUDO DE CASO DOS ESFORÇOS DE UMA INDÚSTRIA FRIGORÍFICA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO E A QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA........................................................................................................................................................................314
O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES NA CONSERVAÇÃO DE UMA RAÇA OVINA AUTÓCTONE ESPANHOLA .....................................................................................................................................................................................322
AGRICULTURA URBANA: REFLEXÕES EMBASADAS EM CASOS BRASILEIROS E MUNDIAIS............329
DIÁLOGOS ENTRE STAKEHOLDERS: UM OLHAR SOB A ECONOMIA DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO 337
A EMERGÊNCIA DAS CADEIAS CURTAS E A RELOCALIZAÇÃO DO SISTEMA AGROALIMENTAR: JUSTIFICAÇÃO, VALORES E IDEOLOGIAS QUE MOVEM OS ATORES.......................................................343
DESVENDANDO OS SINAIS CARACTERÍSTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE FOMENTAM O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL..................................................................................................................351
A QUALIDADE DAS CERVEJAS ESPECIAIS COMO ESTRATÉGIA DE MERCADO DAS MICROCERVEJARIAS DE PORTO ALEGRE............................................................................ ............................359
A DINÂMICA DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA USUÁRIOS DA AGRICULTURA INTELIGENTE......367
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PRODUTORES DE VINHO COLONIAL NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES E GARIBALDI PARTICIPANTES DO 3º FESTIVAL NACIONAL DO VINHO COLONIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....................................................................................................................374
SETOR AGRÍCOLA BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE A DIVERSIFICAÇÃO DO USO DA TERRA NO ESTADO DE SANTA CATARINA............................................................................................................. ..............382
PAPEL DO AGRONEGÓCIO NA AGRICULTURA FAMILIAR...........................................................................389
A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA GESTÃO RURAL: UM ESTUDO DE CASO DA VS AGRO.........................................................................................................................................................................397
O DESENVOLVIMENTO DA OLIVICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL: ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA...............................................................................405
AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE DO PRONAF NO VALE DO TAQUARI..................................413
CARACTERÍSTICAS E ESTRATÉGIAS PRODUTIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA MENSAL ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES.............................................................................................................................421
A EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA NO BRASIL, APÓS AS REFORMAS ECÔNOMICAS E INSTITUCIONAIS ADOTADAS NA DÉCADA DE 1990 432 TRAJETÓRIA DE UMA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR INSERIDA NA ROTA DAS SALAMARIAS – MARAU- RS..................429
TRAJETÓRIA DE UMA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR INERIDA NA ROTA DAS SALAMARIAS - MARAU-RS................................................................................................................................................................437
VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO COMO ALTERNATIVA VIÁVEL AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR DE CACAU.........................................................................................................................................445
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Análise CVL em propriedade rural: estudo de caso em granja de suínos Lucas Meurer1, Rodney Wernke2, Mariélly Warmeling Laucsen Martins3 e Ivone Junges4 1Administrador/UNISUL 2Contador, Doutor em Eng. de Produção/UFSC, Professor no PPGCCA/UNOCHAPECÓ 3Administradora, Mestranda do PPGCCA/UNOCHAPECÓ 4 Economista, Doutora em Eng. de Produção/UFSC, Professora no Curso de Administração/UNISUL. Resumo: A Análise CVL pode fornecer informações úteis à gestão de empreendimentos diversos. Nesse sentido, este estudo pretendeu responder questão de pesquisa relacionada à evidenciação dos benefícios do uso da Análise CVL na gestão de uma granja de suínos e teve o objetivo de elaborar planilha de custos aplicável ao contexto desse tipo de empreendimento. Após breve revisão da literatura que priorizou pesquisas assemelhadas, foram mencionadas as características metodológicas e, posteriormente, descritos os passos percorridos para atingir o objetivo estipulado. Assim, com base no relato efetuado os autores concluíram que a aplicação da análise Custo/Volume/Lucro no âmbito da granja de suínos citada proporcionou o conhecimento do desempenho econômico desse empreendimento rural, proporcionando informações como a margem de contribuição (unitária e total), o ponto de equilíbrio operacional (em número de animais e em valor do faturamento mensal), a margem de segurança das operações, a apuração do resultado do período e permitiu simular alterações nos fatores envolvidos no cálculo. Por último foram elencadas algumas limitações associáveis à Análise CVL no contexto pesquisado.
Palavras-chave: Análise CVL. Granja de suínos. Estudo de caso.
CVP Analysis on rural property: a case study in swine farm Abstract: CVP Analysis can provide useful information to the management of various projects. Thus, this study sought to answer the research question related to the disclosure of the benefits of using CVP analysis in managing a pig farm and aimed to prepare cost sheets applicable to the context of this type of venture. After a brief review of the literature that resembled prioritized research, methodological characteristics were mentioned and subsequently described the steps you took to achieve the stated goal. Thus, based on the report made the authors concluded that the application of analysis Cost/Volume/Profit under the aforementioned pig farm provided knowledge of the economic performance of the rural development, providing information such as the contribution margin (unit and total) the operating breakeven point (in number of animals and amount of the monthly billing), the margin of safety of operations, the calculation of income for the period and allowed simulate changes in the factors involved in the calculation. Finally they were listed some limitations assignable to CVP Analysis of the search context. Keywords: CVP Analysis. Swine farm. Case 1 - Introdução
Santa Catarina é, atualmente,, o maior produtor e exportador nacional de carne suína. São 10 mil criadores integrados às agroindústrias e independentes que produziram em 2015 cerca de 2,1 milhões de toneladas (RIBEIRO, 2016). Contudo, parcela expressiva desses produtores rurais provavelmente não tem afinidade com os conceitos da Análise Custo/Volume/Lucro (CVL) e, por isso, esses empreendedores tendem a desconhecer os benefícios dessa ferramenta gerencial.
Por ser um tema recorrente na literatura voltada para o segmento empresarial, há diversas pesquisas relatando aplicações da Análise CVL em organizações industriais, comerciais e de prestação de serviços. Entretanto, artigos voltados especificamente para o uso dessa ferramenta de custos em empreendimentos rurais são menos frequentes em periódicos e eventos científicos da área contábil. Nesse ponto emerge a questão que se pretende abordar neste estudo: como evidenciar os benefícios de utilizar a Análise CVL na administração de uma granja de suínos de pequeno porte? Para tanto, foi estipulado como objetivo de pesquisa elaborar uma planilha de custos aplicável ao contexto de uma pequena propriedade onde a suinocultura é a atividade principal.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Estudos com esse enfoque se justificam por dois ângulos. O primeiro se relaciona à importância econômica da atividade suinícola, cuja relevância é corroborada pelas exportações brasileiras de carne suína em 2015. Conforme dados do MDIC/SECEX, reproduzidos no site da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS, 2016), as vendas externas atingiram o valor de US$ 1.168.415.152 e volume de 472.710.458 kg. Desses totais, Santa Catarina foi o estado que teve a maior participação (US$ 412.732.448 e 169.479.272 kg), seguida pelo Rio Grande do Sul (US$ 398.457.275 e 159.237.143 kg). O segundo motivo relaciona-se com a escassez de obras enfatizando a utilização da Análise CVL nesse segmento, especialmente no que concerne às pequenas propriedades rurais. 2 – Revisão da literatura
Em virtude da exiguidade de espaço para atender às normas do evento, optou-se por restringir a revisão da literatura a pesquisas anteriores que abordaram a aplicação da Análise CVL no âmbito do agronegócio. Nesse rumo é pertinente mencionar as pesquisas de: a) Fiorin, Barcellos e Vallim (2014): aplicação da Análise CVL em agroindústria de pequeno porte produtora de queijos; b) Tavares e Mazzer (2014): utilizaram o custeio variável (margem de contribuição) em miniusina de beneficiamento de leite de cabra; c) Santos, Marion e Kettle (2014): fizeram uso da relação CVL como subsídio ao processo decisório da produção leiteira de fazenda pertencente a um centro universitário; d) Gollo, Cordazzo e Klann (2014): mencionam que vários estudos foram desenvolvidos para analisar as diversas possibilidades de integração entre os produtores de suínos e as agroindústrias, visando analisar os resultados e compará-los entre os diferentes modelos, com ênfase para os custos de produção. e) Kruger et al. (2012): compararam uma granja produtora de leitões (UPL) com outra que adotava o sistema de desmame precoce segregado; f) Süptitz, Woberto e Hofer (2009): adotaram enfoque comparativo entre o modelo UPL e as unidades de terminação; g) Ostroski, Petry e Galina (2006): fizeram análise comparativa entre ciclo completo e fase de terminação.
Por outro lado, no que tange especificamente à aplicação da Análise Custo/Volume/Lucro em empreendimentos voltados à suinocultura é válido salientar os estudos elencados a seguir.
Camargo, Wernke e Zanin (2016) abordaram questão relacionada a como utilizar os conceitos da Análise CVL (margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança) na gestão de duas granjas que atuam como “Unidades de Terminação (U. T.)” de suínos. Concluíram que esses instrumentos podem ajudar os proprietários rurais a conhecer melhor o desempenho de suas propriedades.
Wernke, Lembeck e Heidemann (2008) aplicaram a Análise CVL em granja de suínos mantida por agricultor catarinense, com abordagem assemelhada àquela empregada também por Wernke, Bornia e Meurer (2002). Essas duas pesquisas corroboraram a aplicabilidade da Análise CVL em empreendimentos voltados à suinocultura, mas com a necessidade de adaptação de alguns fatores à realidade dessa modalidade de agronegócio e registraram a existência de algumas limitações associáveis.
3 – Metodologia utilizada No que tange à metodologia empregada nesta pesquisa, em relação à tipologia quanto aos objetivos, esta
pode ser classificada como descritiva, pois referida modalidade visa, segundo Gil (1999) descrever características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre as variáveis. Nessa direção, Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva se preocupa em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem a interferência do pesquisador. Pelo aspecto dos procedimentos adotados, a pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, de vez que se concentra especificamente numa propriedade rural e suas conclusões limitam-se ao contexto desse objeto de estudo. No âmbito da forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como “qualitativa”, pois é assim que Richardson (1999) denomina os estudos que descrevem a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos vividos por grupos sociais.
4 – Apresentação dos dados e análise dos resultados O estudo de caso foi realizado em granja de suínos da cidade de Jaguaruna (SC), no mês de junho de 2015.
Esse estabelecimento rural produzia somente suínos sevados para fornecê-los aos frigoríficos da região e o produtor
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
rural não conhecia os conceitos e as vantagens da utilização da Análise CVL. Por isso, o mesmo aquiesceu em fornecer os dados necessários para concretizar este estudo, que serviu como trabalho de conclusão de curso de especialização de um dos autores deste artigo. As próximas seções relatam os principais aspectos da pesquisa. 4.1 – Levantamento dos dados necessários
Inicialmente foram coletados os dados pertinentes ao faturamento no período de estudo, bem como a tributação incidente sobre as vendas, conforme descrito na Tabela 1. Tabela 1 - Faturamento e tributos incidentes sobre vendas
Itens Valores
a. Número de animais/mês 453 b. Preço de venda unitário médio (R$) 297,00 c=a*b) Faturamento total do período (R$) 134.541,00 d. Alíquota F. Rural (%) 2,30% e=c*d) Valor do F. Rural (R$) 3.094,44 Fonte: elaborada pelos autores.
O número de animais do mês (item “a”) foi obtido nos controles internos mantidos pela gerência do
empreendimento e totalizou 453 unidades. Por sua vez, no item “b” da Tabela 1 consta o preço de venda unitário médio de mercado (R$ 297,00) no mês, o que permitiu calcular o faturamento total respectivo (R$ 134.541,00). Ou seja, os preços de venda utilizados referem-se aos “preços líquidos de mercado”. Sobre esse valor total de vendas incide a alíquota de 2,30% a título de “F. Rural”, como informado pelo setor de apoio aos produtores da prefeitura municipal. Portanto, esse tributo atrelado às vendas totalizou R$ 3.094,44 no período estudado.
No segundo passo foi priorizada a determinação do custo da ração produzida por fases, de vez que existem dois tipos de ração para as fêmeas e seis tipos de ração para os leitões que são consumidos de acordo com a fase de vida dos suínos.
Quanto às fêmeas, no processo adotado pela granja em estudo, estas consomem esses dois tipos de insumos nas etapas “1-Gestação” (durante 114 dias) e “2-Maternidade” (por 28 dias). No caso dos leitões, esses animais consomem rações nas fases “3-Creche” e “4-Engorda” por 42 e 85 dias, respectivamente. Para cada uma dessas etapas o responsável técnico elabora rações com ingredientes específicos, como exemplificado na Tabela 2 para o período de gestação. Tabela 2 – Custo da Ração Produzida para etapa “1-Gestação”
Itens Composição Kg
Custo/kg na fórmula R$/Kg
Custo da fórmula R$
Custos dos Ingredientes R$/Kg
Farelo de arroz 120,000 0,078 38,986 0,325 Farelo de soja 60,000 0,139 69,257 1,154 Milho 302,500 0,302 151,25 0,500 Nutripig Reprod./Lact.
17,500 0,110 54,970 3,141
Total 500,000 0,629 314,463 5,120 Fonte: elaborada pelos autores.
Ou seja, a fórmula citada gastou R$ 314,463 no total e produziu o equivalente a 500 quilos, acarretando custo de R$ 0,629 por quilo desse tipo de ração consumido pela fêmea no período de 114 dias de gestação. Procedimento semelhante foi adotado nas demais fases de desenvolvimento do leitão, conforme exposto resumidamente na Tabela 3.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 3 – Resumo do custo das formulações de ração
Fases Comp. Custo/kg Custo/Fórm. Custo/Ingred.
(em kg) (em R$) (em R$) R$/Kg Lactação 500,00 0,75 372,52 5,12 Pré-inicial 301,23 1,99 598,51 146,88 Inicial A 500,00 1,22 608,77 7,78 Inicial B 501,66 0,94 473,73 107,86 Crescimento 1 500,00 0,78 389,70 76,67 Crescimento 2 500,00 0,70 348,36 53,57 Engorda 500,00 0,66 327,34 11,32
Fonte: elaborada pelos autores.
As formulações citadas são utilizadas por períodos distintos. Nesse sentido, na fase de “Lactação” esse tipo de ração é consumido no período de 28 dias de amamentação; a “Pré-inicial” é consumida por 14 dias e a “Inicial A” por oito dias. Por sua vez, a ração “Inicial B” é utilizada pelo período de 20 dias; enquanto que as rações “Crescimento 1”, “Crescimento 2” e “Engorda” são ofertadas aos leitões por 20, 30 e 35 dias respectivamente.
Como visto, a granja em tela emprega diferentes tipos de rações que são consumidas pelas fêmeas e leitões em determinadas fases da vida. Essas modalidades de rações foram listadas porque é comum a utilização de mais de um tipo de ração em determinada etapa, além do gasto previsto com outros insumos (como medicamentos).
A partir do levantamento de dados ao consumo previsto para as fêmeas e para os leitões durante o ciclo de vida destes, foi determinado o consumo total de insumos para cada tipo de animal no período estudado. Nesse contexto, a Tabela 4 apresenta os gastos totais relacionados com as fêmeas, bem como o rateio destes pelo número médio de leitões “produzidos” no mês.
Tabela 4 - Consumo de insumos das fêmeas, por leitão e total do período
Itens Valores
Etapa “1-Gestação” 247,283 Etapa “2-Maternidade” 134,234 1) Total de insumos consumidos - fêmeas (R$) 381,517 2) No. médio de leitões por gestação
3=1/2) Custo por leitão (R$) 37,403
4) Total de leitões do período 453 5=3*4) Consumo total do período (R$) 16.943,56
10,20
Fonte: elaborada pelos autores.
O contexto representado na Tabela 4 evidencia o gasto mensurado para as fêmeas na etapa 1 e na etapa 2 na granja em estudo. No caso do “Leitão Desmamado” as fêmeas estão envolvidas na “Etapa-1-Gestação” e “Etapa-2-Maternidade”, onde consumiram um total de R$ 381,517 (conforme linha “1” da Tabela 4). Como cada fêmea gerava 10,20 leitões (em média) por gestação, estimou-se que o custo de gestação e maternidade por leitão seria de R$ 37,403 (R$ 381,517 / 10,20 leitões). Como no período foram “produzidos” 453 leitões, o consumo total de rações e insumos dessas etapas foi estimado em R$ 16.943,56.
Na sequência foi calculado o gasto com insumos somente com os leitões (etapas 3 e 4), conforme resumido na Tabela 5.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 5 – Gasto com o consumo de insumos por leitão e total do período
Itens Valores
Etapa “3-Creche” 40,927 Etapa “4-Engorda” 131,807 A) Total de insumos consumidos/leitão (R$) 172,734 B) Percentual de perdas na etapa (%) 1,00% 1) Consumo de insumos (R$) por leitão (a - b) 171,006 2) Total de leitões do período 453 3=1*2) Consumo total do período (R$) 77.466,01 Fonte: elaborada pelos autores.
O leitão, depois de desmamado, entra na etapa “3-Creche” e, posteriormente vai para a fase “4-Engorda”. Nesse contexto, considerou-se que o custo era acumulado à medida que o animal mudava de categoria. Por exemplo: para chegar ao peso de 110 quilos, o leitão consumia ração, medicamentos e vacinas nas fases denominadas “3-Creche” (R$ 40,927) e “4-Engorda” (R$ 131,807), cujo valor total de insumos consumidos por leitão chegou a R$ 172,734 (linha “A” da Tabela 5). Como havia um histórico de perdas da ordem de 1,0%, segundo o veterinário responsável pela granja, o consumo final chegava R$ 171,006 por leitão, em média. Esse valor por animal foi multiplicado pela quantidade de leitões dessa categoria (453 unidades), acarretando gasto total de R$ 77.466,01 no mês em lume.
Então, com fulcro nos dados coligidos, conforme exposto nos parágrafos precedentes, foi possível aplicar a Análise CVL como descrito nas próximas seções. 4.2 – Margem de contribuição dos produtos
Conhecidos os valores de faturamento, de tributos incidentes e consumo de rações, vacinas e medicamentos por leitão, foram efetuados os cálculos relacionados à aplicação da Análise CVL que iniciaram com a determinação da margem de contribuição total e unitária, como exposto na Tabela 6. Tabela 6 - Margem de contribuição total e unitária
Itens Valores
1. (=) Faturamento total (R$) 134.541,00 2. (--) Tributos sobre vendas (R$) -3.094,44 3. (--) Insumos consumidos – fêmeas, por leitão (R$) -16.943,56 4. (--) Insumos consumidos - leitões (R$) -77.466,01 5. (=) Margem de contribuição total (R$) 37.036,99 6. Quantidade de animais 453 7. (1/6) Preço de venda unitário (R$) 297,00 8. (2/6) Tributos s/vendas unitário (R$) -6,83 9. (3/6) Insumos cons. - fêmeas - unitário (R$) -37,403 10. 4/6) Insumos cons. - leitões - unitário (R$) -171,006 11. (5/6) Margem de contribuição unitária (R$) 81,76 12. (11/7) Margem de contribuição unitária (%) 27,53% Fonte: elaborada pelos autores.
Ou seja, a margem de contribuição total foi de R$ 37.036,99. Para chegar a esse valor, do faturamento total de R$ 134.541,00 foram descontados os valores de tributos sobre vendas (R$ 3.094,44), de insumos consumidos pelas fêmeas subdivididos por leitão gerado (R$ 16.943,56) e de insumos relacionados aos leitões (R$ 77.466,01).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Ao dividir esses valores totais pela quantidade de animais “produzidos” no período, foi possível calcular a margem de contribuição unitária dos animais. Assim, ao vender o leitão pelo preço unitário médio de R$ 297,00 e descontar os valores unitários de R$ 6,83 (tributos sobre vendas), R$ 37,403 (consumo das fêmeas por leitão gerado) e R$ 171,006 (consumo dos leitões), concluiu-se que a margem de contribuição unitária foi de R$ 81,76 (conforme linha “11...” da Tabela 6). 4.3 – Ponto de equilíbrio e margem de segurança
O segundo conceito da Análise CVL utilizado neste estudo foi o ponto de equilíbrio. Acerca disso, foi elaborada a Tabela 7 com cálculo desse indicador no contexto da granja pesquisada.
Tabela 7 – Cálculo do ponto de equilíbrio em unidades e valor (R$)
Itens Valores
A) Gastos fixos mensais (R$) 31.016,00 B) Lucro desejado no período (R$) - C) Pagamentos a efetuar no período (R$) - [ 1 = A+B+C ] Total de gastos fixos a cobrir no Ponto de Equilíbrio (R$)
31.016,00
2) Margem de contribuição total (R$) 37.036,99 3) Quantidade vendida/produzida (animais) 453,00 [ 4 = 1 / (2/3) ] Ponto de equilíbrio (animais) 379,36 5) Preço de venda médio por animal (R$) 297,00 [ 6 = 4 * 5 ] Ponto de equilíbrio (R$) 112.669,92 Fonte: elaborada pelos autores.
No âmbito da Tabela 7, para apurar o nível de equilíbrio operacional inicialmente foi levantado o valor total dos gastos fixos mensais (como folha de pagamentos, energia elétrica, responsabilidade técnica, manutenção, depreciações, pró-labore do granjeiro e outros itens não diretamente proporcionais ao volume faturado), cujo montante do mês chegou a R$ 31.016,00 (linha “A” da Tabela 7). As linhas “B” e “C” estão zeradas porque caberiam ser utilizadas somente para o caso de se pretender calcular outras modalidades de ponto de equilíbrio (como o econômico e o financeiro) e, por isso, o total a cobrir no Ponto de Equilíbrio é de R$ 31.016,00 (linha “1”). Na sequência foram coligidas as informações relacionadas à margem de contribuição total (linha “2”) e à quantidade de animais “produzidos” ou vendidos no período (linha “3”). Esses dados foram suficientes para aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio (adaptada de Assaf Neto e Lima, 2009) para apurar na linha “4” o volume de animais necessário para não ter lucro ou prejuízo (379,36 animais). Ao multiplicar essa quantidade pelo preço de venda unitário médio (em R$) de cada animal obteve-se o ponto de equilíbrio em valor monetário (R$), onde consta que o nível de equilíbrio da granja em estudo era um faturamento da ordem de R$ 112.669,92 naquele período pesquisado (linha “6” da Tabela 7).
Como o ponto de equilíbrio era de 379,36 unidades e as vendas totalizaram 453 animais, é pertinente considerar que a granja foi superavitária nesse período, visto que apresentou nível de vendas que superou o ponto de equilíbrio. Essa realidade pode ser atestada pelo cálculo da margem de segurança, conforme exemplificado na Tabela 8, a seguir. Tabela 8 - Margem de segurança em unidades e valor monetário (R$)
Itens Valores
(+) Vendas efetivas do período (R$) 134.541,00 (--) Vendas no ponto de equilíbrio (R$) -112.669,92 (=) Margem de segurança (R$) 21.871,08 (+) Vendas efetivas do período (unidades) 453
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
(--) Vendas no ponto de equilíbrio (unidades) 379,36 (=) Margem de segurança (unidades) 73,43 Fonte: elaborada pelos autores.
Portanto, é correto supor que a granja obteve resultado positivo (lucro operacional) nesse período em estudo, visto que as vendas superaram o nível de equilíbrio. Os valores mencionados nas tabelas anteriores foram utilizados também para elaborar uma Demonstração do Resultado, com o intuito de determinar o resultado do período. Contudo, em virtude da restrição de espaço, omitiu-se essa parte neste resumo. 5 – Considerações finais
O estudo pretendeu responder questão de pesquisa relacionada à evidenciação dos benefícios do uso da Análise CVL na gestão de uma granja de suínos. Nesse rumo, objetivou a elaboração de uma planilha de custos aplicável ao contexto desse tipo de empreendimento.
Com base no relatado nas seções precedentes os autores consideram ter respondido tal pergunta de forma adequada, bem como terem atingido o objetivo estabelecido. Nessa direção, a aplicação da análise Custo/Volume/Lucro no âmbito da granja de suínos citada proporcionou o conhecimento do desempenho econômico desse empreendimento rural, considerando a realidade de Junho de 2015. Ou seja, a ferramenta de gestão de custos disponibilizada ao proprietário da granja permitiu o conhecimento de informações gerenciais relevantes como ( i) a margem de contribuição (que representa a rentabilidade alcançada pelo tipo de suíno visado em termos unitário e total); ( ii) o ponto de equilíbrio (que evidencia o volume mínimo de produção/vendas, em número de animais, ou o montante em valor (R$) que a granja pesquisada deve comercializar/produzir mensalmente para que possa ser lucrativa) e ( iii) a margem de segurança em unidades e valor (que expressa o volume, em quantidades ou em valor monetário, que as vendas da propriedade superam o ponto de equilíbrio e evidencia o quanto o faturamento pode baixar sem que o negócio passe a operar com prejuízo operacional.
Além disso, pela limitação de espaço no texto não foram evidenciadas outras informações relacionadas com a Demonstração do Resultado do período, que faculta conhecer a receita total obtida e a participação percentual dos custos e despesas no resultado das operações mensais, bem como o valor do lucro (ou prejuízo) gerado pela atividade. Ainda, foi efetuada a determinação do resultado econômico do empreendimento, visto que ao deduzir o valor do custo de oportunidade do capital investido (R$ 31.454.78) do resultado operacional mensurado, apurou-se resultado de R$ -25.433,79 (prejuízo econômico). Ou seja, concluiu-se que, do ponto de vista dos investidores, a atividade de suinocultura não é capaz de remunerar o capital aplicado pelos sócios, representado pela Taxa Mínima de Atratividade de 1,00% ao mês. Convém destacar, ainda, que a planilha de Análise CVL proposta também permitiu que fossem simulados contextos díspares para períodos posteriores, levando-se em conta possíveis alterações nas variáveis envolvidas. Com isso, o gestor pode antecipar os efeitos de modificações no volume comercializado/produzido, no preço de venda dos suínos, no custo de compra dos insumos e nos demais gastos da atividade operacional da granja.
Em sentido contrário, é interessante salientar a presença de limitações atreladas aos resultados mencionados. O primeiro aspecto é que o modelo da Análise CVL possui algumas restrições que devem ser observadas. Ou seja, os fatores envolvidos no cálculo realizado foram considerados como “estáveis” em termos de valor e volume, com base nos dados coligidos nos controles internos da granja e em estimativas do responsável técnico. Entretanto, inclusive dentro do próprio período podem ocorrer variações nos preços praticados (como reajustes nos preços de venda), aumento do custo de compra dos insumos, modificações nos gastos fixos (como folha de pagamento, energia elétrica etc.) e mais esporadicamente mudanças na legislação tributária que regula o setor. Além disso, o comportamento dos custos (quer sejam fixos ou variáveis) pode apresentar alterações quando considerados os diversos níveis de ocupação da capacidade instalada. Em virtude disso, o gestor da granja deve procurar conhecer de forma mais aprofundada os efeitos das possíveis modificações nos custos e preços com a formulação de hipóteses sobre o mix de produção e venda previsto para determinado período. Referências
ACCS (Associação Catarinense dos Criadores de Suínos). Exportações. Disponível em: <http://www.accs.org.br/arquivos_internos/index.php?abrir=exportacoes > Acesso em: 27/06/2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
ANDRADE, M. M. de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Curso de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2009. CAMARGO, T. F.; WERNKE, R.; ZANIN, A. Análise da eficiência do uso de indicadores de custos para tomada de decisão em atividade suinícola de terminação: estudo multicaso. In: Congresso de Gestão e Controladoria da UNOCHAPECÓ - COGECONT, 2016, Chapecó, SC. COGECONT. Chapecó: UNOCHAPECÓ, 2016. v.1. FIORIN, I.; BARCELLOS, S. S.; VALLIM, C. R. Gestão de custos através da análise CVL: Um estudo de caso em uma agroindústria de laticínios. In: Congresso Brasileiro de Custos, 21, 2014, Natal. Anais... Natal: ABC/UFRN, 2014. CD-ROM. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. GOLLO, V.; CORDAZZO, E. G.; KLANN, R. C. Análise dos custos e resultados em unidades produtoras de leitões (UPL): um comparativo entre diferentes modelos de contrato. Custos e @gronegócio Online, v. 10, n. 2, p.229-250, Abr./Jun., 2014. KRUGER, S. D.; PISSAIA, J. E.; ZANIN, A.; BAGATINI, F. M.; MAZZIONI, S. Análise comparativa de custos entre os sistemas de desmame precoce segregado (DPS) e de unidade de produção de leitões (UPL) na atividade suinícola. Custos e @gronegócio Online, v. 8, p. 71-95, 2012. OSTROSKI, D. A.; PETRY, D.; GALINA, F. R. Análise dos modelos de integração suína ciclo completo e terminação: um estudo de caso. Custos e @gronegócio Online, v. 2, ed. Especial, 2006. RIBEIRO, G. C. Suinocultura e meio ambiente. Diário Catarinense, p. 29, 25 de junho de 2016. RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. SANTOS, L. A. dos; MARION, J. C.; KETTLE, W. M. Gestão estratégica de custos: um enfoque gerencial utilizando análise CVL na produção de leite da fazenda UNASP EC. Custos e @gronegócio Online,v. 10, n. 3, p.24-37, Jul./Set.,2014. SILVA, C. A. T.; RESENDE, A. L.; FREIRE FILHO, A.A. de S. Aplicação de um modelo da análise custo/volume/lucro na criação de suínos. Custos e @gronegócio Online, v.1, n. 1, p.9-20, Jan./Jun., 2005. SÜPTITZ, L. A. S.; WOBERTO, M. C. R.; HOFER, E. Gestão de custos na suinocultura: um estudo de caso. Custos e @gronegócio Online, v. 5, n. 1, 2009. TAVARES, V.B.; MAZZER, L.P. Gestão de custos em uma mini usina de beneficiamento de leite de cabra: um estudo de caso na AGUBEL. Custos e @gronegócio Online, v. 10, n. 4, p. 289-322, Out./Dez., 2014. WERNKE, R.; BORNIA, A. C. MEURER, M. Análise de Custo/Volume/Lucro aplicada na suinocultura: estudo de caso em pequena propriedade catarinense. In: Congresso Brasileiro de Custos, 9, 2002, São Paulo. Anais... São Paulo: ABC/FECAP, 2002. CD-ROM. WERNKE, R.; LEMBECK, M.; HEIDEMANN, J. S. Análise Custo/Volume/Lucro aplicada à suinocultura: estudo de caso em pequena propriedade rural. Revista Brasileira de Contabilidade (RBC). Brasília, v.174, p.25 - 39, 2008.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Indicadores não financeiros do Método UEP aplicáveis à gestão fabril de frigorífico Rodney Wernke1, Ivone Junges2 1 Professor no PPGCCA/UNOCHAPECÓ – [email protected] 2 Professora no Curso de Administração/UNISUL – [email protected] Resumo: A pesquisa objetivou avaliar a viabilidade da obtenção de índices não financeiros do método UEP (Unidades de Esforço de Produção) no setor de salsicharia de um frigorífico que fabrica embutidos (salsichas, presuntos etc.). Foi empregada metodologia do tipo descritiva, no formato de estudo de caso, com abordagem qualitativa. Inicialmente, foi efetuada uma revisão da literatura a respeito desse método de custeio, onde foram evidenciados aspectos como histórico, conceitos, princípios norteadores, etapas a serem percorridas para implementá-lo, benefícios informativos oriundos, limitações associadas e pesquisas anteriores assemelhadas. Em seguida foram apresentadas as principais características do estudo de caso realizado, por meio de breve descrição da empresa analisada e das etapas seguidas para aplicar o método UEP. Posteriormente foram determinadas as unidades equivalentes em UEP dos produtos e o potencial produtivo dos postos operativos, além da comparação da produção de períodos distintos e da mensuração da eficiência e da eficácia dos postos operativos (entre outros indicadores não financeiros). Concluiu-se pela aplicabilidade do método no contexto desta empresa estudada, com destaque para as métricas de avaliação do desempenho da produção proporcionadas pelo UEP e a viabilidade do uso desses parâmetros no gerenciamento do negócio. Palavras-chave: UEP. Indicadores não financeiros. Frigorífico de suínos. Nonfinancial indicators of the PEU Method applicable to the production management fridge Abstract: The research aimed to value the viability of obtainment of indexes nonfinancial of the PEU Method (Production Effort Units) in the sector of sausages in a fridge that manufacture embedded (sausages, ham etc.). It is employed the descriptive methodology, in case study format, with qualitative approach. Initially, it was made a lecture review about this defrayal method, where ware evidenced aspects like history, concepts, guiding principle, steps to be done to implement them, coming information benefits, associated limitation and previous researches resembled. Then, were presented the main characteristics of the case study realized, through a brief description of the company analyzed and the followed to apply the PEU method. Posteriorly were determined the equivalents units in PEU of the products and the productive potential of operational post, beyond the comparison of production of distinction periods and the efficiency measurement and the excellence of operation posts (among others indicators nonfinancial). Concluded through the applicability of the method in the context of this studied company, highlighting the metrics of performance evaluation of the production provided by PEU and the viability of use of these parameters in the business management. Keywords: PEU. Nonfinancial indicators. Refrigerator swine. 1. INTRODUÇÃO
Além de subsídios para calcular o valor dos custos dos produtos fabricados, seria interessante que o sistema de custos adotado propiciasse informações para auxiliar o gestor industrial a aperfeiçoar o desempenho da fábrica que dirige. Caberia, então, que essa ferramenta proporcionasse informes acerca da capacidade produtiva instalada da fábrica e dos setores que compõem o processo industrial; da utilização efetiva do potencial produtivo e da capacidade fabril ociosa, entre outras possibilidades (WERNKE; JUNGES; CLÁUDIO, 2012).
Corroborando a importância desse tipo de informação, Bettinghaus, Debruine e Sopariwala (2012) aduzem que o custo da capacidade ociosa é uma informação relevante para gestores e investidores, sendo que algumas
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
empresas calculam essas informações para fins internos, enquanto que analistas externos também tentam estimar os custos da capacidade ociosa.
Atribuem como motivo para tal interesse a combinação do valor preditivo associável com a materialidade clara dos custos dessa ociosidade.
Mesmo que o conhecimento desses aspectos de cunho não financeiro (como ociosidade e produtividade fabril, por exemplo) seja considerado relevante para a maioria das fábricas, o busílis da questão situa-se em “como” obter essas informações no âmbito das indústrias que fabricam grande variedade de itens e com quantidades produzidas distintas desse mix a cada período. Com esse cenário é difícil efetuar uma avaliação do desempenho industrial no sentido de identificar, por exemplo, se ocorreram ganhos ou perdas de produtividade entre os meses, além de prejudicar a mensuração do nível de utilização da capacidade produtiva da companhia.
Contudo, entre as diversas metodologias de custeamento existentes na literatura, o método UEP (Unidades de Esforço de Produção) se destaca também por proporcionar ao gestor industrial uma gama de indicadores não financeiros úteis para avaliação e aperfeiçoamento do desempenho da produção. Acerca disso, Souza e Diehl (2009) registram que alguns dos principais usos do método UEP estão relacionados à gestão da fábrica. A possibilidade de usá-lo como base de comparação da eficiência e da taxa de ocupação de processos produtivos torna-o um instrumento auxiliar muito útil para o gestor da fábrica, especialmente se forem priorizadas iniciativas para melhoria dos processos, eliminação de desperdícios, conhecimento do grau de ocupação e eficiência operacional. Corroborando esse posicionamento, Bornia (2009) registra que na atualidade as empresas têm que se preocupar com a melhoria da eficiência e da produtividade, destacando que por intermédio do UEP é possível acompanhar a evolução da produção com o uso de medidas físicas.
Em razão dessa possibilidade, neste artigo se pretendeu responder à seguinte questão de pesquisa: quais os benefícios informativos que as medidas não financeiras do método UEP proporcionam no contexto de um frigorífico que fabrica alimentos embutidos (salsichas, presuntos etc.)? Para essa finalidade estipulou-se como objetivo principal avaliar a viabilidade da obtenção desses índices fabris não financeiros no setor de salsicharia da empresa em lume. Estudos com esse foco se justificam pela importância econômica da cadeia produtiva do agronegócio (que envolve produtores e companhias fabris, como o frigorífico onde foi realizado o estudo), que se caracteriza pela grande geração de renda e empregos no Brasil. Portanto, a evidenciação da aplicabilidade de dos indicadores não financeiros relacionados ao método UEP pode contribuir para aprimorar a gestão fabril e melhorar a competitividade dessas agroindústrias. 2. REVISÃO DA LITERATURA Quanto a pesquisas acadêmicas acerca do UEP, Zanievicz et al (2013) fizeram levantamento sobre os artigos que trataram de métodos de custeio nos Congressos Brasileiros de Custos até 2010 e encontram 40 publicações sobre o método UEP. Nos eventos posteriores, até 2015, foram identificados apenas mais três artigos que versaram sobre esse tema, conforme busca realizada no site da Associação Brasileira de Custos (ABC). Por sua vez, Walter et al (2009) pesquisaram sobre as publicações acerca do método UEP também nos ENEGEPś, onde identificaram 19 artigos aprovados nesse evento até 2008. Ainda, Walter et al (2016) fizeram pesquisa bibliométrica, no início de 2015, sobre artigos com ênfase em estudos de caso na lista dos periódicos avaliados na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e classificados entre os estratos A1 e B5, onde encontraram somente 23 artigos sobre UEP nessas revistas, sendo 13 classificáveis como estudos de caso. Na mesma pesquisa, identificaram 16 artigos sobre o tema no Congresso Brasileiro de Custos (entre 1994 a 2014) e cinco publicações no ENEGEP (entre 1996 a 2014) e destacaram não terem encontrado artigos sobre UEP no Congresso USP (entre 2001 e 2014) e no Congresso ANPCONT (entre 2007 e 2014). Portanto, com base nessas pesquisas bibliométricas pode-se dizer que é um tema bastante explorado em termos de eventos, mas com reduzido número de publicações em periódicos, especialmente nas revistas brasileiras sobre contabilidade.
Essa escassez de publicações em revistas científicas foi identificada também a partir de buscas on-line, em abril de 2016, nas plataformas de pesquisa “Portal de Periódicos Capes”, “EBSCO ( Business Source Complete)”, “Web of Science” e “Science Direct”. Nessas pesquisas foram empregadas as palavras-chave “Unidade de Esforço de Produção*”, “Método UEP*”, “Effort Production Method*” e “UP Method*”, onde a inclusão do asterisco (*) visava ampliar a busca para derivações das palavras (como “Cost”, “Costing” ou “Methodology”, por exemplo). Das buscas nas bases de dados citadas resultaram somente 20 artigos, dos quais os cinco com alguma ligação ao agronegócio foram os seguintes: Cambruzzi, Balen e Morozini (2009); Kunh, Francisco e Kovaleski (2011); Milanese et al (2012); Belli et al (2013) e Wernke et al (2015).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Sobre pesquisas anteriores com foco específico em indicadores não financeiros relacionados ao método UEP, cabe salientar os estudos de Wernke, Junges e Cláudio (2012) e Wernke, Junges e Lembeck (2013). Embora não tenham abordado o contexto das agroindústrias, referidos estudos averiguaram a aplicabilidade dos indicadores não financeiros do método UEP em empresas industriais de porte e segmentos distintos. O primeiro artigo investigou a aderência desses indicadores do UEP no âmbito de pequena indústria de resistências elétricas e o segundo texto abrangeu o contexto de uma companhia de médio porte que produzia bandejas plásticas para alimentos. Com base exposto, entende-se que há uma lacuna de pesquisa em relação ao método UEP, principalmente no que se refere aos indicadores não financeiros no âmbito de empresas agroindustriais, que caberia ser melhor explorada na literatura contábil brasileira. 3. METODOLOGIA EMPREGADA
De forma resumida, é possível caracterizar este estudo pelos diferentes ângulos. Quanto à natureza da pesquisa é aplicada ou empírica, de vez que objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA e MENEZES, 2005).
Em termos de seus objetivos é descritiva, visto que envolve descrição, registro, análise e interpretação do fenômeno, sendo que, em sua maioria, se utiliza da comparação e contraste (SALOMON, 1999). Em termos dos procedimentos adotados é um estudo de caso, pois concentra-se em única empresa e suas conclusões limitam-se ao contexto desse objeto de estudo (YIN, 2005). Sobre a forma de abordagem do problema é qualitativa, pois concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado, visando destacar características que não são passíveis de observar através de um estudo quantitativo, conforme Raupp e Beuren (2010). 4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa foi realizada na empresa “Frigorífico ABC” (nome fictício utilizado por solicitação dos administradores), que atua na produção de linha diversificada de alimentos industrializados (como salsichas, presuntos, linguiças e afins), geralmente comercializados para supermercados, lanchonetes e panificadoras. Essa empresa está situada em município do sul de Santa Catarina, tendo sido fundada no início da década de oitenta. Por ocasião do estudo (março e abril de 2016) tinha pouco mais de 100 funcionários, dispersos nos setores fabris, administrativos e de transporte/entrega. Contudo, quanto ao foco específico deste estudo, foi priorizada a unidade fabril “Salsicharia”, que contava com nove etapas de produção e cerca de 22 funcionários. A opção por esse setor ocorreu porque o gestor da empresa afirmou que havia maior necessidade de informações de melhor qualidade a respeito da produtividade dessa parte da fábrica, tida como a mais importante para a competitividade do negócio. Em relação à gestão de custos, em ano anterior essa empresa implementou uma planilha baseada no método UEP como forma de aprimorar suas informações sobre custos e preços de venda. Tal ferramenta facultou o conhecimento dos valores de custos unitários de transformação (em R$) do mix de produtos existente, além de proporcionar uma base de dados para adotar indicadores não financeiros relacionados ao desempenho mensal da produção, conforme exposto a seguir. 4.1. Equivalente em UEP dos produtos
Uma das etapas do método UEP leva à determinação de unidade abstrata representativa do esforço de fabricar cada produto. Com isso, os produtos são convertidos para um valor “equivalente em UEP”, o que transforma uma empresa que é multiprodutora (produtos fabricados em diferentes tamanhos, formatos, unidades, quilos, metros etc.) em monoprodutora (passa a fabricar apenas UEPs). Esse equivalente em UEP indica o grau de dificuldade que a empresa se depara para transformar as matérias-primas em produtos prontos para serem enviados aos clientes (externos e internos, como no caso desta empresa). No âmbito da organização em tela, por exemplo, evidenciou a diferença existente entre a fabricação de uma caixa do produto “1.045” (Apresuntado 2,5 kg) e a mesma quantidade dos produtos “10.404” (Linguiça Toscana 3kg) e “1.097” (Mortadela de Frango 2 kg). Com isso, permitiu que os gestores conhecessem, posteriormente, quanto (em R$) se gasta em termos de custos fabris para transformar as matérias-primas utilizadas em apresuntados, linguiças, salsichas, mortadelas etc.
Outro aspecto que merece ser salientado é a possibilidade de se efetuar uma análise de consistência dos valores resultantes da planilha de custos elaborada por esse método de custeamento. Nesse sentido, é pertinente que os responsáveis pelos setores fabris avaliem a adequação dos equivalentes em UEP calculados para cada produto, visando identificar alguma distorção causada pela incorreta alimentação de dados (como o tempo de produção em
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
cada etapa) ou a inadequada formatação da planilha de custos utilizada. Assim, tendo por referência o produto-base (“1.045”, que equivale a 1,0000 UEP), cabe aos encarregados das seções fabris compararem esse com os demais produtos. Aqueles mais fáceis de produzir devem ter um equivalente em UEP menor que o produto-base e produtos com maior grau de dificuldade para fabricar devem ter um equivalente nessa unidade maior que a referência utilizada (por exemplo: produto “10.404”, que vale 0,36269167 UEPs). Referida análise foi efetuada na empresa e não foram identificadas inconsistências na proporção da dificuldade de fabricar do mix produzido. 4.2. Capacidades instalada, utilizada e ociosa
Segundo a concepção teórica dessa forma de custeamento, por converter todos os produtos fabricados para um valor equivalente em UEP (ao ponderar o ( i) tempo de fabricação pelo ( ii) valor do custo/hora dos postos operativos) é possível determinar o “Potencial Produtivo” dos postos em termos de UEP a fabricar por hora. Com isso, permite identificar a capacidade instalada da produção horária das etapas do processo fabril para todas as nove fases produtivas da unidade abrangida. A partir dos cálculos realizados para implementar o UEP inferiu-se que havia desbalanceamento na capacidade de produção de UEPs por hora ao longo do fluxo de fabricação dos produtos. Ou seja, o posto operativo “6-Embut.-Amar.” conseguia produzir a cada hora 591,8887895 UEPs; enquanto que no posto “3-Pesagem” o potencial produtivo era de apenas 77,4628153 UEPs por hora de trabalho. Com isso, constatou-se uma não-uniformidade na capacidade produtiva dessa indústria, pois o posto operativo “6-Embut.-Amar” processava os itens 7,640940844 (591,8887895 / 77,4628153) vezes mais rápido que o posto “3-Pesagem”. Ainda, capacidades de produção distintas também foram verificadas nos demais integrantes do processo fabril, visto que somente dois postos operativos conseguiram produzir mais que 200 UEPs por hora, cinco postos tinham capacidade de produzir entre 100 e 200 UEPs/hora e dois postos fabricavam menos que 100 UEPs a cada hora de trabalho.
Como os postos operativos estão dispostos de acordo com o roteiro pelo qual os produtos percorrem a fábrica, dessumiu-se que medidas para diminuir esse problema eram necessárias no intuito de maximizar a produção final da empresa. Entre as ações que puderam ser estudadas pela administração para melhorar o desempenho dos postos menos produtivos estão, por exemplo, alocar mais pessoas para trabalhar nesses postos de menor capacidade fabril, treinamento dos funcionários para agilizar as atividades, manutenção preventiva para evitar paradas inesperadas etc.
Cabe ressaltar, ainda, que foi identificado por esse procedimento o “gargalo” de produção da empresa, pois esta não conseguiria iniciar e terminar mais do que as 77,4628153 UEPs que o posto “3-Pesagem” tem capacidade de processar por hora. Porém, para validar esse raciocínio era necessário assumir que todos os produtos passassem pela totalidade dos postos operativos para serem concluídos, o que dificilmente ocorre (esse tema será retomado mais adiante). A avaliação das capacidades produtivas também pôde ser executada por outro ângulo.
Ou seja, o conhecimento do potencial produtivo por hora dos postos e o expediente mensal disponível em horas permitiu que o gestor fabril estimasse a capacidade instalada de produção em termos de UEPs por mês. Nesse sentido, com base nas informações obtidas durante a pesquisa, foi possível elaborar a Tabela 1, que expressa o contexto da entidade enfocada.
Tabela 1 - Capacidade instalada, utilizada e ociosa
Postos Horas disp. Potencial Cap.
Instalada Cap. Utilizada
Ociosidade Ociosidade
Operativos por mês Prod.(UEP/h)
por mês (UEP)
por mês (UEP)
no mês (UEP)
no mês (%)
1-Triturador 184,8 135,4312928 25.027,70 17.880,86 7.146,85 28,56% 2-Moagem 184,8 174,4978545 32.247,20 22.664,07 9.583,14 29,72% 3-Pesagem 184,8 77,4628153 14.315,13 7.676,04 6.639,09 46,38% Outros... - - - - - = 9-Pesar/Empac.
184,8 180,0640824 33.275,84 23.716,28 9.559,57 28,73%
Totais - - 336.103,67 214.478,70 121.624,97 36,19% Fonte: Elaborada pelos autores.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Como era conhecido o expediente mensal (184,8 horas para a totalidade dos postos operativos) e o potencial
produtivo em UEPs/hora também já havia sido determinado, bastou multiplicar esses dois fatores para conhecer a capacidade instalada de produção de UEPs/mês. Dessa forma, apurou-se que no total de horas de trabalho disponível nesse período, teoricamente seria possível produzir 336.103,67 UEPs. Contudo, a capacidade de produção efetivamente utilizada foi de 214.478,70 UEPs. Esse montante foi apurado pela multiplicação das quantidades físicas fabricadas dos produtos pelos respectivos equivalentes de UEPs em cada posto operativo. Em seguida, pôde ser calculada também a capacidade ociosa em termos de UEPs no mesmo período. Para tanto, da capacidade instalada foi descontada a capacidade utilizada, chegando-se ao valor de 121.624,97 UEPs (336.103,67 UEPs – 214.478,70 UEPs), que representou ociosidade média de 36,19%.
Ao analisar a Tabela 1 percebe-se que nesse mês apenas três postos operativos tiveram ociosidade superior à média da empresa no período (46,38%, 50,67% e 36,34% respectivamente para os postos operativos “3-Pesagem”, “6-Embut.-Amar.” e “7-Emulsific.”). Destarte, o desempenho dos demais postos operativos evidenciou nível de ociosidade menor que a média do mês em lume. Por outro lado, é pertinente ressaltar que os resultados apresentados na Tabela 1 são os devem ser considerados quando da determinação do “gargalo” produtivo. Isso é recomendado tendo em vista a efetiva utilização dos postos operativos pelos produtos já que nem todos os produtos fabricados passam pela totalidade dos postos operativos. Dessa forma, alguns postos podem ficar mais atarefados em determinado mês em razão dos tipos de produtos fabricados e respectivas fases de fabricação desses itens. Portanto, foi possível concluir que o “5-Embut.-Gramp.” seria o posto operativo com menor capacidade fabril ainda disponível, se mantida a produção média do mês considerado nesta pesquisa, pois apresentou a menor ociosidade no período (22,27%). 4.3. Comparativo da produção de períodos distintos
A gestão da área fabril da empresa que utiliza o método UEP pode efetuar a comparação entre o total produzido num mês com o montante fabricado em outro período. Dessa maneira, tem a possibilidade de identificar se ocorreu aumento da produção no confronto com o mês anterior, independentemente do tipo de produto fabricado. Isso é possível pela unificação dos produtos em termos de equivalentes em UEP, o que permite calcular a produção total dos meses desejados nessa unidade fabril comparável. Esse benefício informativo foi conseguido na empresa pesquisada, conforme demonstrado na Tabela 2, que mostra a comparação entre os meses de fevereiro e março de 2016. Tabela 2 - Produtividade fabril nos meses
Postos Prod. UEP Prod. UEP Variação Variação
Operativos *Fev./16 *Março/16 (em UEP) (em %) 1-Triturador 17.405,23 17.880,86 475,63 2,73% 2-Moagem 20.930,27 22.664,07 1.733,80 8,28% 3-Pesagem 7.369,77 7.676,04 306,27 4,16% Outros... - - - - 9-Pesar/Empac. 22.611,10 23.716,28 1.105,18 4,89% Totais 204.373,99 214.478,70 10.104,71 4,94% Fonte: Elaborada pelos autores.
A situação mencionada na Tabela 2 permite conhecer que a indústria pesquisada conseguiu produzir no mês de fevereiro o total de 204.373,99 UEPs. Já no mês de março a produção passou para 214.478,70 UEPs, com um aumento de 10.104,71 UEPs em relação ao período anterior (ou de +4,94%). Referida análise também pôde ser efetuada para cada um dos postos operativos da unidade fabril em estudo, o que possibilitou concluir quais foram os que mais evoluíram de um mês para outro. Além disso, poderia, excepcionalmente, identificar aqueles que retrocederam em termos de produtividade entre os períodos avaliados. Contudo, a evolução entre os dois meses foi positiva em todos os setores dessa unidade fabril pesquisada.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
4.4. Mensuração da eficiência e da eficácia dos postos operativos Ao implementar uma planilha de custos com base no método UEP a empresa pode fazer uso de medidas de
desempenho fabril como eficiência e eficácia. No caso da eficiência, esse índice pode ser calculado pela divisão da (a) produção mensal em UEPs pelo ( b) total de horas disponíveis. Por sua vez, a eficácia pode ser mensurada dividindo-se a (a) produção total de UEPs do período pelo ( d) consumo efetivo de horas pela produção do mês. Esses indicadores foram apurados no contexto da empresa pesquisada, conforme exposto na Tabela 3. Tabela 3 - Eficiência e eficácia produtiva no mês de março
Postos Prod. UEP Horas Disp. Eficiência Consumo Eficácia
Operativos do mês (a) no mês (b) (C=a/b) hs/mês (d) (E=a/d) 1-Triturador 17.880,86 184,80 96,76 132,03 135,43 2-Moagem 22.664,07 184,80 122,64 129,88 174,50 3-Pesagem 7.676,04 184,80 41,54 99,09 77,46 Outros... - - - - - 9-Pesar/Empac. 23.716,28 184,80 128,33 131,71 180,06 Totais 214.478,70 1.663,20 128,96 1.105,36 194,03 Fonte: Elaborada pelos autores.
O desempenho de março, evidenciado na Tabela 3, aponta que o índice médio de “eficiência” (quarta coluna) desse mês foi de 128,96 (214.478,70 UEPs / 1.663,20 horas disponíveis). Quanto ao parâmetro “eficácia” (última coluna), o resultado médio conseguido pela empresa foi 194,03 (214.478,70 UEPs / 1.105,36 horas efetivamente trabalhadas) no período abrangido.
Outra forma de avaliar a evolução da produção fabril de um mês para outro consiste identificar o desempenho, em termos de eficiência e eficácia, discriminado por posto operativo, nos moldes do demonstrado também na Tabela 3. Com essa informação surge a possibilidade de estipular, por exemplo, premiação por melhoria de performance para cada setor industrial. Uma possibilidade adicional da utilização desses indicadores de desempenho reside no comparativo entre meses, conforme destacado na Tabela 4 para o indicador de “eficiência” produtiva. Tabela 4 - Variação da eficiência entre os meses
Postos Eficiência Eficiência Eficiência Eficiência
Operativos em fev./16 em março/16 Variação Var. (%) 1-Triturador 89,98 96,76 6,77 7,53% 2-Moagem 117,74 122,64 4,91 4,17% Outros... - - - - 7-Emulsific. 48,92 54,96 6,05 12,36% 8-Prep.Temp. 71,35 73,10 1,75 2,46% 9-Pesar/Empac. 118,51 128,33 9,83 8,29% Totais 120,37 128,96 8,59 7,14% Fonte: Elaborada pelos autores.
A Tabela 4 evidenciou que houve melhora nos índices de eficiência de fevereiro para março nos postos operativos de 7,14% (8,59 / 128,96), em média. Ao avaliar os nove postos operativos o gerente industrial poderia identificar aqueles que tiveram maior variação entre um período e outro. Por exemplo: o PO “7-Emulsific.” passou do índice de 48,92 em fevereiro para 54,96 em março (o que representou 12,36% de aprimoramento). Por outro lado, o PO “8-Prep.Temp.” obteve melhoria nesse indicador de apenas 2,46% no mesmo período de análise.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O método de custeio utilizado também permitiu avaliar o desempenho fabril por parâmetros como “rendimento”, “produtividade horária” e “produtividade econômica”, mas em virtude da limitação de espaço às normas do evento, optou-se por não abordá-los neste artigo. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo visava responder questão de pesquisa ligada aos eventuais benefícios informativos que as medidas não financeiras do método UEP poderiam ofertar no contexto do setor de salsicharia de um frigorífico que fabrica alimentos embutidos. Acerca disso, considerou-se que tal pergunta foi convenientemente respondida porque, como visto nas seções anteriores, a gestão de custos pelo método UEP possibilitou a obtenção de medidas de caráter não financeiro que podem ser empregadas para analisar o desempenho industrial no âmbito do frigorífico em tela. Em virtude disso, os gestores passaram a deter informações relacionadas com: o comparativo do grau de dificuldade para elaborar cada produto; o potencial produtivo (em termos de UEPs por hora) de cada posto operativo; a capacidade instalada de produção mensal da empresa e dos POs, bem como a capacidade utilizada e a capacidade ociosa (ambas em UEP); a identificação dos gargalos produtivos; a mensuração comparativa da evolução do desempenho fabril de um mês para outro; a medição de indicadores acerca da eficiência, da eficácia e da produtividade (econômica e horária) fabril dos postos operativos e a absorção dos esforços produtivos necessários para elaborar os lotes de produtos em cada posto de trabalho.
Por outro lado, é pertinente salientar que os achados desta pesquisa corroboram as conclusões dos estudos de Wernke, Junges e Cláudio (2012) e Wernke, Junges e Lembeck (2013), cujos focos se restringiram à obtenção de indicadores não financeiros a partir do método UEP em duas empresas industriais de portes distintos e de segmentos sem ligação com o agronegócio. Ou seja, constatou-se a possibilidade obter indicadores não financeiros que ofertam informações relevantes para o gestor industrial, como os citados anteriormente para o caso do frigorífico em evidência.
Destarte, os autores entendem que ao relatar as informações derivadas das métricas de avaliação citadas considera-se atingido o objetivo do estudo ao atestar a viabilidade do uso desses parâmetros de gerenciamento fabril no frigorífico pesquisado. Constatou-se, então, que essas medidas não financeiras permitiram mensurar a evolução ocorrida naquele ambiente produtivo de um período para outro em vários aspectos relevantes para a gestão das atividades industriais da empresa em tela.
Porém, em que pese os diversos benefícios proporcionados, cabe ressaltar que o método UEP possui as limitações destacadas na revisão da literatura, o que deve ser considerado pelo gestor quando cogitar implementá-lo ou utilizar as informações dele provenientes. Além disso, no caso da empresa pesquisada é válido salientar que a qualidade de todas as informações erenciais obtidas está atrelada à maior ou menor exatidão dos tempos de passagem atribuídos para cada produto nos postos operativos. Se os tempos inseridos na planilha de custos não correspondem à realidade da indústria em tela, o aspecto qualitativo dos resultados oriundos seria afetado de maneira significativa.
Por último, é pertinente ressalvar que um estudo de caso, por sua natureza, circunscreve as conclusões oriundas ao âmbito da entidade pesquisada. Contudo, os procedimentos adotados e a descrição efetuada ao longo do texto permitem que pesquisas posteriores sejam aplicadas a outros contextos empresariais. Por isso, recomenda-se que futuros estudos abordem esse tema em empresas de outros segmentos e portes, a fim de corroborar ou negar os achados relatados neste artigo. Além disso, que aplicação semelhante seja feita com outros métodos de custeio, de forma comparativa nesse tipo de agroindústria. Referências BELLI, A. P., ANDRUCHECHEN, J. R., RICHARTZ, F., BORGERT, A. Structuring of a hybrid costing system in a service provider company to forest harvesting. Custos e @gronegócio on line. v. 9, n. 3, p. 174-195, Jul./Sep. 2013. BETTINGHAUS, B.; DEBRUINE, M.; SOPARIWALA, P. R. Idle Capacity Costs: It Isn't Just the Expense. Management Accounting Quarterly, v.13, n.2, winter, 2012. BORNIA, A. C. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. CAMBRUZZI, D.; BALEN, F. V.; MOROZINI, J. F. Unidade de esforço de produção (UEP) como método de custeio: implantação de modelo em uma indústria de laticínios. ABCustos – Associação Brasileira de Custos, v.4, n.1, p.84-103, 2009. KUNH, P. D.; FRANCISCO, A. C. de; KOVALESKI, J. L. Aplicação e utilização do método Unidade de Esforço de Produção (UEP) para análise gerencial e como ferramenta para aumento da competitividade. Revista Produção Online. Florianópolis, SC, v.11, n.3, p.688-706, jul./set., 2011.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
MILANESE, S.; SALAZAR, M. C.; CITTADIN, A.; RITTA, C. de O. Método de custeio UEP: uma proposta para uma agroindústria avícola. Revista Catarinense da Ciência Contábil – CRCSC. Florianópolis, v.11, n.32, p.43-56, abr./jul. 2012. RAUPP, F.; BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. In: BEUREN, I. M. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade, 3a. ed. São Paulo: Atlas, 2010. SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins, 1999. SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia de pesquisa e elaboração de dissertação. 4a. ed. Florianópolis: LED, 2005. SOUZA, M. A. de; DIEHL, C. A. Gestão de custos: uma abordagem integrada entre contabilidade, engenharia e administração. São Paulo: Atlas, 2009. WALTER, F.; SCHULTZ, C. A.; DANTAS, Y. G. C.; CONFESSOR, K. L. A. O perfil dos artigos sobre o Método das UEPs nos anais do Congresso Brasileiro de Custos e do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. In: Congresso Brasileiro de Custos, 16, 2009. Fortaleza. Anais... Fortaleza: ABC/UFC, 2009. CD-ROM. WALTER, F.; CONFESSOR, K. L. A.; BEZERRA, F. G.; MACIEL, B. S. L.; AMORIM, B. P. Método das Unidades de Esforço de Produção: um perfil dos estudos de caso. Espacios, v.37, n.3, p.4, 2016. WERNKE, R.; JUNGES, I.; CLÁUDIO, D. A. Indicadores não-financeiros do método UEP aplicáveis à gestão de pequena indústria. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, v.4, p.125-145, 2012. WERNKE, R.; JUNGES, I.; LEMBECK, M. Comparativo entre os métodos UEP e TDABC: estudo de caso. Revista Ambiente Contábil – UFRN – Natal-RN. v. 7. n. 1, p. 51 – 69, jan./jun. 2013. WERNKE, R.; JUNGES, I.; LEMBECK, M.; ZANIN, A. Determinação do custo fabril pelo método UEP: estudo de caso no setor de salsicharia de frigorífico. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, Ano 10, nº 1, jan-mar/2015, p. 139-156. DOI: 10.15675/gepros.v10i1.1227. YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 2005. ZANIEVICZ, M.; BEUREN, I. M.; SANTOS, P. S. A. dos; KLOEPPEL, N. R. Método de custeio: uma meta-análise dos artigos apresentados no Congresso Brasileiro de custos no período 1994 a 2010. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. São Paulo, FECAP, v.15, n.49, p.601-616, out./dez. 2013.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: UM MODELO ANALÍTICO SOB A ÓTICA DA
AÇÃO COOPERATIVA Victor Fraile Sordi1, Erlaine Binotto2, Marina Keiko Nakayama 3
1Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), [email protected] 2Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) ³Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Resumo. As organizações do agronegócio necessitam inovar para suprir a crescente necessidade de processos produtivos mais eficientes e atender a alta e crescente demanda por alimentos e combustíveis. Compartilhar conhecimento de maneira eficiente se torna essencial neste contexto, pois é a partir de novos conhecimentos que as inovações fundamentalmente são concebidas. Neste estudo realizamos uma revisão integrativa dos antecedentes literais sobre o compartilhamento de conhecimento nas organizações, que permitiu a construção de um modelo de análise do compartilhamento de conhecimento. Apresentamos também uma nova abordagem do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, expondo exemplos de possíveis casos e situações em que organizações do agronegócio podem utilizar os elementos de análise do modelo para planejar futuras ações.
Palavras-chave. Agronegócios, Cooperação, Gestão do Conhecimento, Confiança.
KNOWLEDGE SHARING IN AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS: AN ANALYTICAL MODEL UNDER THE PERSPECTIVE OF
COOPERATIVE ACTION
Abstract. The agribusiness organizations need to innovate in order to meet the increasing need for more efficient production processes and meet the high and growing demand for food and fuel. Effectively sharing knowledge is essential in this context, once new knowledge fundamentally conceives innovations. In this study, we conducted an integrative review of the literal history of knowledge sharing in organizations, which has allowed the design of an analytical model of knowledge sharing. We also present a new approach of knowledge sharing as a cooperative action, exposing examples of possible cases and situations in which agribusiness organizations can use the model elements of analysis to plan future actions.
Keywords. Agribusiness, Cooperation, Knowledge Management, Trust.
Introdução
Estima-se que o agronegócio mundial terá o grande desafio de alimentar mais de nove bilhões de pessoas até 2050 (CONNOLLY; PHILLIPS-CONNOLLY, 2012). Neste contexto a produção de alimentos terá que aumentar em cerca de 70%, disputando espaço com a necessidade de aumento de produção de combustíveis e com áreas produtivas cada vez mais escassas (DILL et al., 2012). Este contexto exige das organizações do agronegócio uma maior eficiência em seus processos produtivos, pois com ainda menos recursos disponíveis, terão que produzir ainda mais para
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS suprir a demanda supracitada. Uma alternativa para suprir esse gap seria buscar inovar em todo o processo produtivo, desde os insumos, produção, distribuição, até a disponibilização desses produtos ao consumidor final. Buscando novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas soluções para suprir essas necessidades latentes. A inovação é alcançada, fundamentalmente, por intermédio da criação de novos conhecimentos (POPADIUK; CHOO, 2006). E para criar novos conhecimentos, as organizações necessitam disponibilizar aos seus funcionários, de forma sistemática e continua, os conhecimentos necessários (NONAKA, VON KROGH, 2009). Uma das formas de se disponibilizar tais conhecimentos é investindo em processos de compartilhamento de conhecimento entre pessoas, setores, departamentos, elos de uma cadeia produtiva. No ambiente de trabalho o compartilhamento de conhecimento, mesmo com as facilidades emergentes das novas tecnologias, ainda é um desafio (HONG et al., 2011). Estima-se que as 500 empresas listadas pela revista Fortune perdem ao menos 31,5 bilhões de dólares por ano ao não compartilhar o conhecimento de forma eficaz (ABDUL-CADER; JOHAR, 2015). Neste contexto, as organizações do agronegócio, que necessitam inovar para suprir a crescente necessidade de processos produtivos mais eficientes, necessitam se preocupar também em como compartilhar conhecimento. Por intermédio de uma revisão integrativa da literatura sobre o compartilhamento de conhecimento nas organizações, apresentamos neste estudo, um modelo de análise do compartilhamento de conhecimento que pode auxiliar no entendimento destes processos e permitir às organizações do agronegócio, a proposição de intervenções que visem facilitar o compartilhamento de conhecimento entre os envolvidos.
Um modelo analítico baseado em antecedentes
Ao analisarmos os antecedentes na literatura sobre o compartilhamento de conhecimento nas organizações, percebemos algumas tendências comuns como: (1) o foco em fatores que podem influenciar o compartilhamento de conhecimento positivamente, no caso dos facilitadores, e negativamente, no caso das barreiras (WITHERSPOON et al., 2013) e (2) a classificação recorrente destes fatores em fatores individuais, organizacionais e tecnológicos (LIN, 2007; RIEGE, 2005; YUSOF et al., 2012). O modelo analítico proposto neste estudo surgiu justamente da análise destas tendências sob a ótica do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa. A inter-relação entre os fatores identificados na literatura, conjuntamente analisados sob a ótica do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, nos forneceu amparo teórico para propor o modelo analítico do compartilhamento de conhecimento conforme representado na Figura 1. Figura 1: Modelo de Análise do Compartilhamento de Conhecimento
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O modelo de análise (Figura 1), apresenta seis elementos principais a serem analisados quanto ao compartilhamento de conhecimento nas organizações: (1) Características do conhecimento a ser compartilhado, (2) Características do Ambiente Organizacional, (3) Oportunidades para compartilhar, (4) Barreiras ao compartilhamento, (5) Condições para a existência de cooperação e (6) Motivações para compartilhar.
Características do conhecimento a ser compartilhado
Percebemos nos antecedentes consultados que um aspecto essencial para analisarmos o processo de compartilhamento de conhecimento é sabermos as características do conhecimento a ser compartilhado (IPE, 2003). De quais conhecimentos estamos falando? Qual o valor desse conhecimento? Tratam-se dos conhecimentos essenciais para o processo produtivo da organização? De qual tipo de conhecimento se trata? Como podemos compartilhá-lo? A qualidade destes conhecimentos é adequada aos objetivos da organização? Onde está esse conhecimento? Na perspectiva adotada neste estudo, dependendo das características do conhecimento a ser compartilhado, os custos envolvidos nas interações serão maiores ou menores que os benefícios, viabilizando ou não a escolha por uma interação cooperativa, ou seja, a opção pelo compartilhamento do conhecimento por parte das fontes e receptores envolvidos no processo. Os conhecimentos explícitos, como os descritos em manuais de manejo de equipamentos agrícolas, livros com técnicas e procedimentos para a utilização de agrotóxicos, relatórios de produtividade das diferentes pastagens compilados em programas de computador, são mais facilmente compartilhados, exigindo menos esforço para a organização armazenar e compartilhar com seus colaboradores. Já os conhecimentos tácitos, incorporados às pessoas, como a maneira com que o operador da caldeira aprendeu a regular seu equipamento, o tempo certo de motivar ou chamar a atenção de seus funcionários na execução de uma colheita, são de difícil verbalização, necessitam de maior esforço organizacional, podendo ser compartilhados face-a-face, por intermédio da observação por exemplo. Em síntese, este elemento de análise visa oferecer ao analista a possibilidade de caracterizar os conhecimentos a serem compartilhados e avaliar se a organização oferece as condições
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS necessárias para que os envolvidos compartilhem tais conhecimentos. Além das características do conhecimento a ser compartilhado, as características do ambiente organizacional também podem ser fundamentais no condicionamento da cooperação entre os envolvidos e, por consequência, no compartilhamento de conhecimento entre eles.
Características do Ambiente Organizacional
Estudos anteriores sugerem que a cultura (KIM; LEE, 2006), o clima (BOCK et al., 2005), as normas subjetivas (WITHERSPOON et al., 2013), os incentivos (HE; WEI, 2009), o apoio da gestão (LIN, 2007), a estrutura organizacional (RIEGE, 2005), o layout (YUSOF et al., 2012), dentre outras características do ambiente organizacional, impactam direta ou indiretamente nos processos de compartilhamento de conhecimento. Tais aspectos, na perspectiva do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, fornecem o contexto, o ambiente e as condições necessárias para que as pessoas envolvidas optem por interações cooperativas com seus pares e compartilhem seus conhecimentos. O ambiente organizacional está favorecendo ou prejudicando o compartilhamento de conhecimento? No caso de uma agroindústria que busca incentivar através de premiações novas ideias para a redução do desperdício de matéria prima, ao buscar e incentivar o compartilhamento de novas ideias (HE; WEI, 2009), provavelmente está facilitando o compartilhamento de conhecimento. Assim como uma prestadora de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas, que tem por prática de seus gerentes o rotineiro apoio ao compartilhamento de técnicas e melhores práticas aos funcionários responsáveis pela manutenção, está muito provavelmente criando um ambiente propício para o compartilhamento destes conhecimentos por intermédio do apoio da gestão (LIN, 2007). Por outro lado, um frigorífico que apresenta uma estrutura organizacional muito hierarquizada, com pouca comunicação entre o “chão de fábrica” e a “gestão de topo”, provavelmente está dificultando o compartilhamento de conhecimento úteis oriundos da prática nas operações do “chão de fábrica”. Em síntese, este elemento de análise pode oferecer ao analista um panorama da organização focalizada quanto ao contexto atual do ambiente de trabalho. Possibilitando assim, a visualização de quais características do ambiente estão prejudicando ou beneficiando os processos de compartilhamento de conhecimento. E, consequentemente, onde a gestão da organização pode interferir positivamente.
Oportunidades para compartilhar
As oportunidades de compartilhamento, sua forma, qualidade e quantidade podem definir se os envolvidos nos processos de compartilhamento de conhecimento irão compartilhar ou não com seus pares (IPE, 2003). Quando e como o conhecimento está sendo compartilhado? A organização oferece oportunidades para o compartilhamento? A organização utiliza canais adequados para o tipo de conhecimento a ser compartilhado? As pessoas envolvidas nesses processos possuem tempo e recursos adequados para compartilharem conhecimento? Na perspectiva do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, essas oportunidades além de funcionarem como custos (quando problemáticas) e benefícios (quando
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS bem construídas), também podem criar as condições para a cooperação entre os indivíduos fomentando a confiança (IPE, 2003), a reciprocidade (NOWAK, 2006) e as relações de dependência (VILPOUX, 2014), por intermédio de interações frequentes e duradouras (AXELROD, 1997). Essas oportunidades podem ser via mecanismos formais como reuniões, sessões de brainstorming, avaliação de projetos anteriores, treinamentos, workshops, intranet e portais corporativos, ou via mecanismos informais como confraternizações, cafés, happy hour, comunidades de prática, fóruns, redes sociais e plataformas wiki (LAWSON et al., 2009). Seja através de algum tipo de canal de relacionamento (IPE, 2003) ou com a utilização de plataformas de interação (NONAKA; KONNO, 1998), a organização pode analisar qual a melhor forma para compartilhar os conhecimentos que necessita, oferecendo sistematicamente oportunidades e recursos adequados para efetivação dos processos de compartilhamento. Uma rede varejista de alimentos pode utilizar mecanismos formais e plataformas de interação virtuais, como um sistema digital acessível por computador, onde são registrados os relatórios com as preferências de consumo e tendências de mercado (conhecimento explícito). Todavia, se quiser compartilhar o conhecimento tácito de um gerente com mais de vinte anos de experiência na formação de equipes de vendas, provavelmente não poderá utilizar essa mesma plataforma virtual, mas sim fornecer outras oportunidades de compartilhamento, como mentoria e coaching interno. Em síntese, este elemento de análise busca oferecer ao analista a possibilidade de mapear as oportunidades de compartilhamento disponíveis, assim como verificar a adequação às necessidades de compartilhamento atuais, para futuras intervenções.
Barreiras ao compartilhamento
Os antecedentes consultados sugerem a existência de uma série de barreiras ao compartilhamento de conhecimento nas organizações, tanto para quem busca ou recebe conhecimento, quanto para quem disponibiliza (RIEGE, 2005). Sob a ótica do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, tais barreiras compõem parte dos custos envolvidos no ato de compartilhar conhecimento e devem ser mitigadas para que os indivíduos envolvidos, optem mais facilmente por interações cooperativas com compartilhamento de conhecimento. O que pode estar dificultando o compartilhamento? O que a organização pode fazer para mitigar essas barreiras? Há obstáculos para as fontes de conhecimento compartilharem? Há problemas para os receptores de conhecimento buscarem e assimilarem os conhecimentos? Em síntese, este elemento de análise pode oferecer ao analista uma visão das possíveis barreiras existentes no contexto estudado. E em quais barreiras a organização pode interferir no intuito de reduzi-las ou eliminá-las.
Condições para a existência de cooperação
Sob a ótica do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, é oferecendo condições para a existência de cooperação entre os indivíduos, que a organização irá possibilitar o compartilhamento de conhecimento entre eles. O contexto estudado oferece as condições para a cooperação? Como a organização pode oferecer essas condições? Pela perspectiva adotada
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS neste estudo, a existência destas condições viabilizará o compartilhamento de conhecimento entre os envolvidos. Desta maneira, a existência frequente de interações entre os atores e a valorização de interações futuras (AXELROD, 1997), sinais de reciprocidade entre os mesmos (NOWAK, 2006), garantias, relações de dependência e arranjos institucionais (VILPOUX, 2014), são condições que favorecem a cooperação. E a organização pode criar mecanismos para oferecer essas condições visando facilitar a opção por interações cooperativas, com compartilhamento de conhecimento entre os envolvidos. Se em uma vinícola há interações entre o pessoal da produção e os responsáveis pela comercialização dos vinhos, na perspectiva de Nowak (2006), se frequentes e repetidas, provavelmente essas interações permitirão a existência de uma reputação entre os envolvidos e, no caso de uma reputação positiva, para Axelrod (1997), há a possibilidade de geração de confiança para futuras interações. A confiança entre esses indivíduos, pode minimizar os riscos inerentes as interações e servir como garantias informais para futuras interações. Ou seja, havendo interações frequentes entre colaboradores do setor de produção e do setor de comercialização, a chance do desenvolvimento de relações de confiança entre eles, favorece o compartilhamento de conhecimentos, por condicionar interações cooperativas, maximizando os benefícios percebidos em cooperar. Em síntese este elemento de análise pode oferecer ao analista uma oportunidade de avaliar se o contexto analisado oferece as condições necessárias para a cooperação entre os envolvidos, possibilitando a reflexão desse contexto e o planejamento de intervenções. Este elemento de análise fundamenta a perspectiva adotada neste estudo e busca reforçar a visão adotada do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, por intermédio das possíveis sobreposições com os antecedentes consultados que compõem os demais elementos de análise tratados no modelo.
Motivações para compartilhar
Estudos anteriores sugerem que, tanto as fontes, como os receptores de conhecimento, necessitam estar motivados para que ocorra o compartilhamento. A motivação capta a disposição do indivíduo em compartilhar (SIEMSEN et al., 2008) e está relacionada a personalidade dos indivíduos (CABRERA et al., 2006), suas atitudes diante do compartilhamento de seus conhecimentos (CABRERA; CABRERA, 2005), às intenções de compartilhar ou não determinados conhecimentos (WITHERSPOON et al., 2013), aos seus comportamentos tanto como fontes ou receptores (BOCK et al., 2005) e aos seus interesses relativos ao compartilhamento (HEW; HARA, 2007). As pessoas estão motivadas a compartilhar? O que se pode alterar para aumentar essa motivação? O que pode estar desmotivando as pessoas a compartilhar seus conhecimentos? A organização de alguma forma motiva o compartilhamento? Na perspectiva adotada neste modelo, a motivação trata da percepção do ato de compartilhar conhecimento pelos envolvidos (SIEMSEN et al., 2008) no que se refere às expectativas individuais tanto da fonte como do receptor, dos custos e benefícios percebidos por ambos em relação ao ato de compartilhar (CABRERA; CABRERA, 2005). Desta maneira, um funcionário de uma cerealista que visualiza mais custos em compartilhar seus conhecimentos sobre o
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS mercado de commodities com seus pares, do que benefícios em os compartilhar, provavelmente estará desmotivado a compartilhar. No entanto, uma organização varejista de produtos orgânicos que busca constantemente facilitar e oferecer benefícios para quem compartilha conhecimento, fatalmente estará motivando seus funcionários a optar pelo compartilhamento de seus conhecimentos. Em síntese este elemento de análise oferece a possibilidade de análise das motivações dos envolvidos nos processos de compartilhamento de conhecimento, permitindo a avaliação do que pode estar motivando e do que pode estar desmotivando esses atos e comportamentos cooperativos.
Considerações Finais
Os resultados do estudo (1) reúnem os principais fatores individuais, organizacionais e tecnológicos identificados na literatura sobre a temática, (2) apresentam uma nova abordagem do compartilhamento de conhecimento como ação cooperativa, (3) propõem um modelo analítico emergente da revisão proposta sob a perspectiva adotada da ação cooperativa e (4) expõem exemplos de possíveis casos e situações em que organizações do agronegócio podem utilizar os elementos de análise do modelo para planejar futuras ações visando a promoção do compartilhamento de conhecimento. Por se tratar de uma revisão integrativa dos antecedentes literais quanto ao compartilhamento de conhecimento nas organizações, o modelo emerge e está limitado ao conjunto de evidências empíricas e teóricas disponíveis na literatura consultada. Desta maneira, sugerimos para estudos futuros a aplicação tanto do modelo analítico proposto, quanto da perspectiva adotada neste estudo, com o intuito de contribuir com evidências empíricas para o aprofundamento da temática. Estudos de multicasos, qualitativos e quantitativos, podem ser métodos a serem utilizados para este fim.
Referências Bibliográficas
ABDUL-CADER, Khwaja M.; JOHAR, Gapar Md. A Comparison of Factors Influencing Knowledge Sharing through EKR among Sri Lankan and Singaporean Knowledge Workers. management, v. 4, n. 6, 2015.
AXELROD, Robert M. The complexity of cooperation: Agent-based models of competition and collaboration. Princeton University Press, 1997.
BOCK, Gee-Woo et al. Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, p. 87-111, 2005.
CABRERA, Angel; COLLINS, William C.; SALGADO, Jesús F. Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, v. 17, n. 2, p. 245-264, 2006.
CABRERA, Elizabeth F.; CABRERA, Angel. Fostering knowledge sharing through people management practices. The International Journal of Human Resource Management, v. 16, n. 5, p. 720-735, 2005.
CHEN, Cheng‐Wu; CHANG, Min‐Li; TSENG, Chun‐Pin. Human factors of knowledge‐sharing intention among taiwanese enterprises: A model of hypotheses. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, v. 22, n. 4, p. 362-371, 2012.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS CONNOLLY, Aidan J.; PHILLIPS-CONNOLLY, Kate. Can Agribusiness Feed 3 Billion New People… and Save the Planet? A GLIMPSE into the Future. International Food and Agribusiness Management Review, v. 15, n. B, 2012.
DILL, Matheus Dheim et al. Intensificação com Equilíbrio: Desafios da Produção Sustentável de Alimentos. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 6, n. 2, 2012.
HE, Wei; WEI, Kwok-Kee. What drives continued knowledge sharing? An investigation of knowledge-contribution and-seeking beliefs. Decision Support Systems, v. 46, n. 4, p. 826-838, 2009.
HEW, Khe Foon; HARA, Noriko. Empirical study of motivators and barriers of teacher online knowledge sharing. Educational Technology Research and Development, v. 55, n. 6, p. 573-595, 2007.
HONG, Daegeun; SUH, Euiho; KOO, Choonghyo. Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company. Expert systems with Applications, v. 38, n. 12, p. 14417-14427, 2011.
KIM, Soonhee; LEE, Hyangsoo. The impact of organizational context and information technology on employee knowledge‐sharing capabilities. Public Administration Review, v. 66, n. 3, p. 370-385, 2006.
LAWSON, Benn et al. Knowledge sharing in interorganizational product development teams: the effect of formal and informal socialization mechanisms*. Journal of Product Innovation Management, v. 26, n. 2, p. 156-172, 2009.
LIN, Hsiu-Fen. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of information science, 2007.
LIN, Hsiu-Fen. Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of manpower, v. 28, n. 3/4, p. 315-332, 2007.
NONAKA, Ikujiro; VON KROGH, Georg. Perspective-tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization science, v. 20, n. 3, p. 635-652, 2009.
NOWAK, Martin A. Five rules for the evolution of cooperation. Science, v. 314, n. 5805, p. 1560-1563, 2006.
POPADIUK, Silvio; CHOO, Chun Wei. Innovation and knowledge creation: How are these concepts related?. International journal of information management, v. 26, n. 4, p. 302-312, 2006.
RIEGE, Andreas. Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of knowledge management, v. 9, n. 3, p. 18-35, 2005.
SIEMSEN, Enno; ROTH, Aleda V.; BALASUBRAMANIAN, Sridhar. How motivation, opportunity, and ability drive knowledge sharing: The constraining-factor model. Journal of Operations Management, v. 26, n. 3, p. 426-445, 2008.
VILPOUX, Olivier F. Agrarian reform and cooperation between settlers in the Midwest of Brazil: An institutional approach. Land Use Policy, v. 39, p. 65-77, 2014.
WITHERSPOON, Candace L. et al. Antecedents of organizational knowledge sharing: a meta-analysis and critique. Journal of Knowledge Management, v. 17, n. 2, p. 250-277, 2013.
YUSOF, Zawiyah M. et al. Knowledge sharing in the public sector in Malaysia a proposed holistic model. Information Development, v. 28, n. 1, p. 43-54, 2012.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A Nova Economia Institucional e a Economia de Custos de Transação no
Agronegócio: uma Revisão Bibliométrica na Produção Científica
Anelise Daniela Schinaider1, Leonardo da Silva Xavier2, Alessandra Daiana Schinaider 3,
Gleicy Jardi Bezerra4, Marielen Aline Costa da Silva5
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 4Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 5Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
Resumo. Este artigo revisita os principais autores da Nova Economia Institucional (NEI) ligados à Economia
de Custos de Transação (ECT), trazendo o agronegócio e sua evolução. Por volta da década de 60, o
agronegócio tornou-se um sistema cada vez mais complexo, competitivo e dinâmico entre seus agentes
envolvidos, gerando a incerteza e o oportunismo. Para diminuir a incerteza, o oportunismo e melhor detalhar a
especificidade dos ativos, ocorre a institucionalização de regras, através da efetivação de contratos, formais e
informais, tornando as transações mais eficientes. Neste sentido, tem-se como objetivo analisar a produção
científica da NEI e da ECT. A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliométrica, com base no Portal
Periódicos da CAPES onde foram encontrados 51 artigos científicos. Os resultados mostram que há uma
evolução linear no período de 1998 a 2016, e verificou-se, ainda, que apenas 31% relatam a NEI ou a ECT no
agronegócio. Conclui-se que os estudos sobre a NEI e a ECT no agronegócio são aplicáveis, porém incipientes,
abrindo um caminho a ser trilhado para novas pesquisas.
Palavras-chave. Agronegócio, Ambiente Institucional, Economia de Custos de Transação, Nova Economia
Institucional, Revisão Bibliométrica.
The New Institutional Economics and Transaction Cost Economics in
Agribusiness: A Bibliometric Review on Scientific Production
Abstract. This article revisits the main authors of the New Institutional Economics (NEI) linked to the Economy
of Transaction Costs (ECT), bringing agribusiness and its evolution. By the 60s, agribusiness has become a
system increasingly complex, competitive and dynamic among its stakeholders, generating uncertainty and
opportunism. To reduce uncertainty, opportunism and better detail the specificity of assets, is the
institutionalization of rules by execution of contracts, formal and informal, making more efficient transactions.
In this sense, we have to analyze the scientific production of the NEI and ECT. The survey was conducted from a
bibliometric review, based on the CAPES Journal Portal where they found 51 scientific articles. The results
show that there is a linear evolution from 1998 to 2016, and it was also only 31% reported the NIS or ECT in
agribusiness. It is concluded that the studies on the NIS and ECT in agribusiness apply, however inchoate,
opening a way to go to new research.
Keywords. Agribusiness, Institutional Environment, New Institutional Economics, Review Bibliometric,
Transaction Cost Economics.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 1 Introdução
A Nova Economia Institucional e, especialmente, com a Economia de Custos de Transação enfatizam as organizações e as instituições inseridas no mercado, trazendo as organizações como um conceito de firma; e as instituições como um modo de regulamentar as relações contratuais a fim de minimizar o oportunismo e a incerteza gerada pela racionalidade limitada dos agentes envolvidos. A NEI e a ECT também enfatizam a especificidade do ativo e a frequência dele, sendo as dimensões das transações que ocorrem no ambiente incerto do mercado.
A partir dessa consideração, os principais autores que deram suporte à teoria da NEI foram Ronald Coase, Oliver Williamson e Douglass North, sendo Coase considerado o precursor dessa escola (CONCEIÇÃO, 2002). Coase, por meio de seu artigo The Nature of the Firm, publicado em 1937, destaca que as instituições são as que guiam o desempenho de uma economia, dando-se ênfase ao conceito da NEI para a economia. Posteriormente, Williamson traz a Economia dos Custos de Transações (ECT) propondo que a estrutura de governança se desenvolve dentro dos limites inseridos pelo ambiente institucional, pelas dimensões fundamentais (especificidade de ativos, frequência e incerteza) e pelos pressupostos comportamentais dos indivíduos (oportunismo e racionalidade limitada). E North aborda as instituições como pressupostos fundamentais para organizar a vida na sociedade (STRASSBURG; OLIVEIRA; ROCHA JR., 2015).
O proposto por Coase, e em seguida por Williamson e North, problematiza que a eficiência está relacionada ao comportamento oportunista, o qual ocorre em razão dos contratos incompletos resultantes da racionalidade limitada dos gestores, quando as transações envolvem ativos específicos. A ideia de incerteza do gestor potencializa a ocorrência de comportamentos oportunistas, à medida que dificulta a previsão das condições futuras do ambiente.
No contexto do agronegócio, uma vez que as atividades agrícolas possuem um alto grau de incerteza, seja por condições climáticas ou até mesmo pelo sazonalidade do produto, são complexas, competitivas e dinâmicas entre seus agentes envolvidos, gerando assim o oportunismo e o ambiente incerto, ressalta-se com a mesma exatidão este comportamento oportunista no mercado. Dessa forma, uma maneira de diminuir essas barreiras, é a realização de contratos formais ou informais, ou seja, a institucionalização de regras como forma de tornar o mercado mais eficiente na atividade agrícola.
Este artigo tem como objetivo analisar a produção científica na NEI e na ECT, por meio do Portal de Periódicos da CAPES, a partir de uma revisão bibliométrica, a fim de analisar os seguintes indicadores bibliométricos: a evolução temporal; as palavras-chave mais citadas; os principais periódicos encontrados e seu qualis; as técnicas de pesquisa; e o número de artigos que abordam a NEI ou a ECT no contexto do agronegócio.
2 Procedimentos Metodológicos
O estudo é caracterizado por ser descritivo. Nesse aspecto, propõe-se descrever as produções científicas do Portal de Periódicos da CAPES levando em consideração as seguintes abordagens teóricas: NEI com a ECT.
Quanto à técnica de pesquisa, o artigo classifica-se como uma revisão bibliométrica, utilizada para expressar em números os processos de interlocução/escrita e a aplicação de indicadores bibliométricos para mensurar a produção científica. Conforme Araújo (2006), a revisão
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS bibliométrica consiste no uso de técnicas estatísticas e matemáticas para relatar características da literatura e de outros meios de comunicação. Na cienciometria, os indicadores bibliométricos, ou seja, as medidas quantitativas pressupostas na produção científica realizada por pesquisadores e grupos de pesquisa, têm um papel de destaque e passam a ter importância crescente dentro de sistemas nacionais de indicadores em Ciência &Tecnologia (MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004).
Quanto aos procedimentos operacionais, pretendeu-se seguir duas etapas, conforme descrito abaixo:
(I) Primeira etapa: Inicialmente, houve a definição da base de pesquisa para o rastreamento dos artigos, onde foi utilizado o Portal de Periódicos da CAPES. O Portal de Periódicos da CAPES fornece acesso a textos completos disponíveis em mais de 37 mil publicações periódicas, de nível internacional e nacional, e às diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento científico.
Posteriormente, foram inseridas as palavras-chave com as aspas “Nova Economia Institucional” or “Economia de Custos de Transação”, totalizando em 157 resultados. Entretanto, foram delimitadas as estratégias de busca avançada, com o seguinte filtro de refinamento no site de busca: tipo de material onde selecionou-se “artigos”, gerando novamente um resultado de 51 artigos.
(II) Segunda etapa: Após a realização das buscas na primeira etapa, foram definidas as regras para a seleção dos artigos, conforme os objetivos da pesquisa em relação às abordagens da NEI e da ECT. O último passo foi organizar os dados, a partir da análise bibliométrica, com o propósito de construir um banco de dados próprio para desenvolver tabelas, gráficos e figuras para demonstrar os seguintes indicadores bibliométricos: a evolução temporal; as palavras-chave mais citadas; os principais periódicos encontrados e seu qualis; as técnicas de pesquisa; e o número de artigos que abordam a NEI ou a ECT no agronegócio.
3 Resultados e Discussão
Foram identificados 51 artigos que atendessem ao objetivo proposto. Na metodologia empregada não houve a determinação de uma série temporal como um dos critérios da pesquisa, deste modo a Figura 1 apresenta a evolução temporal dos artigos que foram publicados sobre a Nova Economia Institucional ou a Economia de Custos de Transação no Portal de Periódicos da CAPES.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figura 1 – Evolução temporal dos artigos
Fonte: Elaborado pelos autores.
Conforme a Figura 1, percebe-se que os artigos relacionados à NEI ou à ECT começaram a ser publicados a partir do ano de 1998, entretanto, foi a partir de 2002 que a teoria começou a ter destaque na produção científica nas pesquisas voltadas ao agronegócio de forma geral. Por outro lado, em 2005, não houve publicações de artigos nesse contexto; porém, estima-se que em média eram publicados 3 artigos anualmente num período de 15 anos (2000 - 2015). O ano de destaque nas publicações foi 2012, com 9 artigos vinculados à NEI ou à ECT. Ainda, verifica-se que linearmente está havendo uma ascensão em pesquisas motivadas à teoria institucional, demonstrando a relevância deste tema em pesquisas acadêmicas.
A Figura 2 demonstra as palavras-chave que foram mais citadas nestes 51 artigos encontrados no Portal Periódicos da CAPES.
Figura 2 – Palavras-chave mais citadas
Fonte: Elaborada pelos autores. Na Figura 2, foram mensuradas as palavras-chave da pesquisa em si: Nova Economia Institucional e Economia de Custos de Transação. Sendo assim, verifica-se que a palavra-chave Nova Economia Institucional foi citada 28 vezes. Já a palavra-chave Economia de Custos de Transação foi quantificada 25 vezes. Presume-se que os 51 artigos tiveram as palavras-chave NEI ou ECT na sua produção científica. Ainda percebe-se que essas palavras
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS são muito utilizadas não somente em palavras-chave, mas em títulos ou no próprio resumo, ou seja, elas já introduzem e resumem a ideia do que será estudado no artigo. Ainda, o termo agronegócio foi abordado em poucos artigos, visto que pressupõe tal termo seja julgado muito amplo, sendo muitas vezes substituído pelos objetos de pesquisa que o compõem como, por exemplo, soja, sistemas agroindustriais, cadeia, transgênicos.
A Figura 3 destaca as estratégias metodológicas que foram utilizadas quando abordadas as teorias: Nova Economia Institucional e Economia de Custos de Transação.
Figura 3 – Técnicas de pesquisa
Fonte: Elaborada pelos autores.
Verifica-se que 55% dos artigos encontrados tiveram como procedimento metodológico um ensaio teórico; 15% dos autores fizeram entrevista, 14% fizeram uma pesquisa exploratória e descritiva, 10% realizaram um estudo de caso e apenas 4% aplicaram questionário ou não discorreram sobre a metodologia. Essa mesma constatação é encontrada por Barbosa Neto e Colauto (2010) onde a mensuração das técnicas de pesquisas são por ensaio teórico. Partindo dessa análise, pressupõe-se que os estudos voltados à NEI ou à ECT nos últimos 15 anos ainda são de ensaios teóricos, ou seja, de revisão bibliográfica embasada pelos autores mais citados nesta temática.
A Tabela 1 traz os principais periódicos encontrados nesta revisão bibliométrica, seu qualis e sua frequência.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 1 – Revista, qualis e quantidade em que foram encontradas
Fonte: Elaborada pelos autores. *Qualis analisado nas suas respectivas categorias. **Qualis analisado na categoria interdisciplinar.
Nota-se que as revistas que tiveram mais publicações em relação à NEI ou à ECT foram a Revista de Economia e Sociologia Rural, onde aborda questões agroindustriais e agrícolas, sendo sustentada pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER), com 8 publicações, a RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo com 5 artigos e a Revista Estudos Econômicos com 4 publicações. Outras revistas como a Gestão & Produção, Ciências da Administração e a Brazilian Journal of Business
Management tiveram de 3 a 1 artigo publicado sobre essa temática.
Além disso, foi verificado o qualis das revistas, levando em consideração o qualis* como da categoria de sua área e o qualis** como da categoria interdisciplinar. Nota-se que as três primeiras revistas que tiveram um número maior de publicações relacionadas ao assunto de pesquisa, possuem qualis* e qualis** A2 e B1, presumindo que as publicações nestas revistas são de fontes fidedignas e de estudos relevantes. Dos 28 periódicos encontrados, 19 são de qualis B, 6 de qualis A e apenas 2 são revistas internacionais com outro fator de impacto.
Outro indicador bibliométrico analisado foi verificar se a NEI e a ECT estão de fato envolvidas com o agronegócio ou agribusiness. Diante desses dados, percebe-se que 69% dos artigos encontrados relatam a NEI ou a ECT, porém apenas 31% citam a NEI ou a ECT juntamente com o agribusiness, ou seja, esta teoria institucional, vinda para regulamentar e diminuir a incerteza e o oportunismo gerado pelas partes contratantes, no agronegócio ainda está em processo de construção e de estudo no ambiente acadêmico.
4 Considerações Finais
O estudo teve como objetivo observar a produção científica com enfoque para as teorias na NEI e ECT no panorama do agronegócio, por meio do Portal de Periódicos da CAPES, a partir de uma revisão bibliométrica, colocando na busca avançada as palavras-chave: NEI ou ECT, encontrando 51 artigos.
O agronegócio é um complexo que envolve toda uma questão de interesse financeiro sendo caracterizado como uma empresa capitalista, logo as suposições da NEI são aplicáveis neste setor. Além disso, o agronegócio é caracterizado como um sistema onde os elos se transacionam entre si, deste modo, os contratos, os agentes coordenadores e as instituições exercem uma função importante para conduzir e desenvolver este sistema. Entretanto, uma das falhas da NEI é enfocar apenas alguns pontos importantes do comportamento humano, como a racionalidade limitada e o oportunismo dos agentes, não constando questões culturais
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS e de relação de poder. Dessa forma, a teoria não consegue gerar uma resposta completa do ambiente organizacional e não há incentivos para mensurar os custos de transação.
Como sugestão de estudos, há algumas preocupações que precisam ser aprofundadas, como a análise dos pressupostos comportamentais, da dimensão das transações, das formas de governança e das relações contratuais, com a finalidade de evitar a superficialidade dessas análises.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, C.A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Revista em Questão, PortoAlegre, vol. 12, n. 1, p. 11-13, 2006.
BARBOSA NETO, J. E.; COLAUTO, R. D. Teoria institucional: estudo bibliométrico em anais de congressos e periódicos científicos. ConTexto, Porto Alegre, v. 10, n. 18, 2010.
CONCEIÇÃO, O. A. C. O conceito de instituição nas modernas abordagens institucionalistas. Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v.6, n. 2, p. 119-146, 2002.
MUGNAINI, R.; JANNUZZI, P. M.; QUONIAM, L. Indicadores bibliométricos da produção científica brasileira: uma análise a partir da base Pascal. Ciência da Informação, Brasília, v. 33, n. 2, p. 123-131, 2004.
STRASSBURG, U.; OLIVEIRA, N. M.; ROCHA JR.W. F. Cadeia do Biogás no Oeste do Paraná: à Luz da Nova Economia Institucional. Revista de Estudos Sociais, v. 17, n. 34, 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O papel das cooperativas agrícolas para o agronegócio: O caso da
CAMNPAL
Antonio Luiz Fantinel¹; Yesica Ramirez Flores²; Silvia Cristina Ferreira Iop²
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; e-mail: [email protected]
² Universidade Federal de Santa Maria- UFSM.
Resumo. O trabalho aborda o tema do cooperativismo no âmbito do agronegócio e das pequenas propriedades
rurais da Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana. A partir de um estudo de caso da Cooperativa Mista
Nova Palma Ltda., (CAMNPAL), o artigo procura mostrar os principais fatores que tornam a CAMNPAL uma
organização de grande importância para o agronegócio regional e consequentemente para os pequenos
produtores rurais. A pesquisa foi conduzida através de pesquisa exploratória, por meio de questionário
semiestruturadas aplicado aos dirigentes da cooperativa. Posteriormente utilizou-se também de dados
secundários, obtidos no site. No caso estudado a Cooperativa Mista Nova Palma Ltda. possui grande importância
para o agronegócio da Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, devido ao fato de priorizar o pequeno
produtor rural. Aliado a forte atuação a montante e a jusante da produção agrícola, pincipalmente nos elos de
insumos, armazenamento, industrialização e comercialização da cadeia produtiva agroindustrial, promovendo o
desenvolvimento do setor agrícola nacional e regional.
Palavras-chave. Cooperativismo; Quarta Colônia; agricultura Familiar.
The role of agricultural cooperatives in agribusiness: The case of CAMNPAL
Abstract. The work addresses the theme of cooperatives within the agribusiness and small farms in the region of
the fourth colony of Italian Immigration. From a case study of Joint Cooperative Nova Palma Ltda., (CAMNPAL),
the article seeks to show the main factors that make CAMNPAL an organization of great importance for the
regional agribusiness and consequently for small rural producers. The survey was conducted through exploratory
research through semi-structured questionnaire applied to cooperative leaders. Later it was used also to
secondary data, obtained on the site. In the case studied the New Joint Cooperative Palma Ltda. holds great
importance for agribusiness in the region of the fourth colony of Italian Immigration, due to the fact that prioritize
the small rural producer. Combined with strong performance upstream and downstream of agricultural
production, watching us links inputs, storage, industrialization and commercialization of agro-industrial
production chain, promoting the development of national and regional agricultural sector.
Keywords. Cooperatives; Fourth Colony; family agriculture.
Introdução
Cooperativas são organizações de caráter permanente, criadas por um agrupamento de indivíduos com interesse comum, visando à realização de atividades econômicas relacionadas com o progresso econômico e o bem-estar dos associados que, ao mesmo tempo são os
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS proprietários e os usuários da organização. Possuem uma organização descentralizada cuja principal função é manter uma relação contínua e estreita com os associados.
Para Ferreira (1999), as cooperativas apresentam características específicas as que diferencia das outras organizações econômicas. São empresas de participação, ou seja, os cooperados participam tanto das operações, como nas decisões da cooperativa. A interação entre o cooperado e a cooperativa promove maior confiança do associado e a crença de que os objetivos serão alcançados e de que haverá avanços, com a união e a participação de todos (RICCIARDI, 1996)
O Brasil perdeu cerca de 192 cooperativas entre 2001 e 2012, caindo de 7.261 para 6.835 cooperativas, queda de 2,72%. Apesar de ter havido estagnação no número de cooperativas, houve um crescimento no número de cooperados de 4,78 milhões em 2001, para 9.54 milhões no ano de 2012, praticamente 100% maior. Já o número de empregados em cooperativas no ano de 1001 era de 175,4 mil, passando para 2.04 milhões 2012, aumentando 1.063% entre os períodos (Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, 2012).
No Rio Grande do Sul, estão cadastradas no Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs), 606 cooperativas, com cerca de 2 milhões de associados, 50 mil empregos diretos gerados e um faturamento anual de R$ 21 milhões (em 2010), movimentando a economia com 10,11% do PIB gaúcho (HAMM, 2011). De acordo com Hamm (2011), no Rio Grande do Sul há 179 cooperativas agropecuárias, com 284.606 associados, representando 14,61% do total de associados no Estado e oportuniza mais de 27.161 empregos, representando 56,45% do total de empregados em cooperativas gaúchas.
Considerando as características de relação comercial, as cooperativas podem ser classificadas em cinco tipo, assim denominadas: i) cooperativas locais, que atingem economias de escala e escopo na comercialização de commodities e, normalmente, são monopolistas/monopsonistas no mercado local; ii) cooperativas regionais multifuncionais, que focam na competitividade trabalhando em vários setores, como compra de insumos, prestação de serviços e venda de produtos dos agricultores; muitas são integradas, podendo ser organizadas em centrais ou federações, e dificilmente são monopolistas e/ou monopsonistas nos mercados em que atuam; iii) cooperativas de barganha, que se dirigem a falhas de mercado através de integração horizontal com o intuito aumentar as margens dos produtores e garantir mercado para seus produtos; produtores de commodities perecíveis, em que a especificidade de ativo temporal cria uma situação de oportunismo pós-contratual potencial; iv) marketing cooperatives, que é uma forma de integração vertical que compete com firmas não cooperativas com o objetivo de aumentar as margens e os preços pagos ao produtor e evitar firmas com poder de mercado e, v) nova geração de cooperativas, onde é obrigatória a capitalização do empreendimento pelo próprio associado, proporcionalmente à produção a ser entregue pelo associado no futuro. Desse modo, tem-se uma cota de participação que dá direito ao associado de transacionar com sua cooperativa certa quantidade pré-estipulada de produto com determinada qualidade também pré-estipulada, o que é chamado de delivery right passível de transferência. Assim, há a garantia de que os investimentos efetuados sejam uma reserva de valor para os produtores rurais, ou seja, é possível transacionar “em balcão” os direitos de entrega na cooperativa processadora. (JERÔNIMO; MARASCHIN; SILVA, 2006).
Para Zylbersztajn (2002), as cooperativas agrícolas podem ser consideradas como arranjos contratuais que possuem características únicas, distinguindo de arranjos alternativos vistas como uma rede de contratos, com a vantagem de coordenar complexos sistemas produtivos. Essas cooperativas são parceiras atraentes para as empresas originadoras e para as corporações produtoras de insumos agrícolas. As razões são similares, sempre baseadas na capilaridade e na capacidade de coordenar grande número de contratos, reduzindo os custos de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS venda para as empresas produtoras de insumos e os custos de aquisição, no caso das empresas exportadoras. Nos dois casos, pode-se considerar o papel redutor nos custos transacionais representado pelas cooperativas (ZYLBERSZTAJN, 2002).
A Região da Quarta Colônia de imigração Italiana, apresenta forte característica agrícola, sendo na maioria pequenos agricultores, com média de 15 a 20 hectares, com propriedades bastante diversificadas: cultivam feijão, milho, soja, trigo, fumo e leite, entre outros. Esta Região possui como elo integrador entre produtores e mercado, a Cooperativa Mista Nova Palma Ltda, que surgiu como uma alternativa para resolução de problemas relacionados à agricultura, como preços baixos, logística inadequada e altos custos de produção, na década de 60. Desse modo, o presente trabalho pretende mostrar os principais fatores que tornam a Cooperativa Mista Nova Palma Ltda., uma organização de grande importância para o agronegócio e consequentemente para os pequenos produtores rurais. Metodologia
A área de estudo está localizada na Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana localiza-se na Região Central do Rio Grande do Sul, englobando nove municípios: Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Silveira Martins, São João do Polêsine e partes dos atuais municípios de Santa Maria (Arroio Grande e Itaára) e de Restinga Seca (Três Vendas, São Rafael, Santuário e Várzea do Meio), somando uma área de 2,5 mil quilômetros quadrados e com uma população total próxima de 65 mil habitantes, destes, 74,4% residem no meio rural (Figura 1).
Figura 1- Mapa de Localização da Quarta Colônia de Imigração Italiana-RS.
Fonte: Elaborado pelos autores
A investigação é definida por Gil (1994), como um processo formal e sistemático do desenvolvimento do método científico. O principal objetivo da pesquisa é encontrar respostas
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS para o problema usando procedimentos científicos. O presente trabalho apresenta caráter exploratório, através de um estudo de caso.
Para Yin (2001), estudo de caso, é uma estratégia de pesquisa abrangente, envolvendo vários métodos tanto de coleta de dados quanto de análise, abordando evidências qualitativas e quantitativas podendo promover uma visão diferenciada do fenômeno a ser estudado.
Foi conduzida uma pesquisa exploratória, através de entrevista guiada por questionário, com perguntas semiestruturadas, aplicados ao Presidente e Vice-presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Nova Palma (CAMNPAL). A coleta dos dados secundários foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e documental em artigos, boletins, publicações acadêmicas especializadas e site. Foram visitadas as Unidades de Nova Palma (sob responsabilidade do Presidente da CAMNPAL) e de Dona Francisca (sob responsabilidade do vice-Presidente da Instituição). Resultados e discussão
Segundo o então Presidente da CAMNPAL, atualmente, são cadastrados cerca de 5.433
cooperados, espalhados em diversos municípios da Região, sendo, a maioria da Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana. Do total dos associados, mais de 70% são classificados como agricultores familiares, tendo financiamento do PRONAF.
Com relação à divisão das Unidades, na Cooperativa, esta é feita em decorrência dos produtos com maior expressão local. A sede em Nova Palma está situada na cidade onde a Cooperativa foi criada e as demais filiais localizam-se em: Dona Francisca, São João do Polêsine, Val de Serra (distrito de Júlio de Castilhos), São Cristóvão, Caemborá (distritos de Nova Palma) e Estrela. A CAMNPAL, possui também parcerias para recebimento de grãos nas demais cidades da região.
Segundo os dirigentes o quadro social está organizado em núcleos de produtores. Cada núcleo possui um representante eleito, formando um Conselho de Representantes por 31 membros. Sendo o Conselho de Administração formado por 12 conselheiros, eleitos nos núcleos pelos associados, além do Presidente e Vice-Presidente eleitos na Assembleia Geral, e o Conselho Fiscal é formado por 3 membros titulares e 3 suplentes. São realizadas miniassembleias nos núcleos, sempre antecedendo à Assembleia Geral Ordinária anual, com o objetivo de prestar contas das atividades desenvolvidas, possibilitando assim uma maior participação dos associados na Cooperativa. Os critérios para se associar são: i) ser produtor ou filho de produtores, como cita o vice-presidente “o futuro da propriedade” e, ii) possuir talão de produtor e terras para produção, podendo ser própria ou arrendada.
Verifica-se a atuação da Cooperativa a montante e a jusante da produção agrícola, nos diversos elos da cadeia produtiva agroindustrial, desde insumos até o consumidor final. A montante, a CAMNPAL disponibiliza aos seus associados todos os insumos necessários para a formação da lavoura, com produtos de excelente qualidade, como sementes, fertilizantes e defensivos: calcário, adubos, herbicidas, inseticidas, fungicidas, micro-elementos, entre outros. O objetivo é oferecer todas as condições para o plantio oportuno e cultivo adequado. A qualidade, vigor, pureza e germinação são garantidos pelos procedimentos adotados durante a produção e beneficiamento das sementes e, no caso das sementes certificadas, pela parceria mantida com a Fundação Pró-Sementes e pelo IRGA (http://www.camnpal.com.br).
Aliado a existência de assistência técnica gratuita, possuindo um Departamento Técnico formado por Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas/Agropecuários que prestam assistência técnica gratuita ao produtor rural associado da CAMNPAL. São 12 profissionais capacitados com atuação específica de forma a possibilitar que o produtor obtenha maior
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produtividade e rentabilidade na sua atividade. Prestando serviços de elaboração de projetos, nivelamento e medição de áreas, regulagem de máquinas e equipamentos, interpretação dos laudos de análise de solo, orientações técnicas e prescrição de insumos, tratamento de sementes, entre outros. Além disso, possui equipamentos necessários para os Serviços de Agricultura de Precisão, desde a coleta das amostras do solo, interpretação dos dados e elaboração dos mapas de fertilidade até a aplicação dos insumos a taxa variada.
Para a CAMNPAL este Departamento é um setor estratégico para a cooperativa, especialmente para o associado, e este não pode estar sujeito a interferências externas, por isso a assistência técnica é mantida pela própria cooperativa. Desde 2003, a CAMNPAL vem desenvolvendo, em parceria com o IRGA, o Projeto 10. Inicialmente, contava com 9 agricultores produtores de arroz que produziam em média 8.000 kg/há, passando para 27 agricultores que cultivaram 930 ha, com média de 10.030 kg/ha na safra 2011 (http://www.camnpal.com.br).
A jusante verifica-se o recebimento, armazenados e industrialização de produtos agrícolas, tais como: feijão, milho, soja, arroz e trigo para mercado interno. Entre os grãos, o soja é responsável pelo maior volume de recebimento pela cooperativa, sendo este o único produto que não é industrializado pela cooperativa, sendo exportada ao mercado externo, principalmente para o mercado chinês. A mesma, possui certificação da CONAB, tornando-se assim armazenadora de produtos agrícolas.
Esse leque de opção de produtos agrícolas recebidos pela cooperativa proporcionam uma maior diversificação na cadeia agroindustrial da região, não deixando o produtor refém a um único produto ou a não comercialização deste. Segundo os dirigentes a cada safra é maior o volume de grãos recebidos (Figura 2) e de produtores buscando se associar à CAMNPAL em função da confiança que a cooperativa transmite, pela situação econômica/financeira da empresa, pela garantia da comercialização a qualquer momento, pelo pagamento realizado sempre na data acordada, pela assistência técnica disponibilizada, entre outros fatores.
Figura 2- Evolução na Quantidade Total Recebida de Grãos
Fonte: Dados de campo (http://www.camnpal.com.br/).
545052
1084534
3131100
4285693
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 3
VO
LU
ME
EM
SA
CA
S (
50K
G)
PERÍODOS
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Essas entregas são realizadas via contrato de deposito, para posterior comercialização com a própria cooperativa. Para Zylbersztajn (2002), os membros das cooperativas podem fazer contratos formais com a cooperativa, da mesma forma que podem fazer tais contratos com outras organizações. A quebra contratual ex-post leva à perda de valor dos ativos investidos, dificultando o planejamento de longo prazo e a estabilidade das relações entre as partes.
A CAMNPAL possui também em sua linha de produção a fabricação e entrega de rações na forma ensacada ou a granel na intenção de atender as necessidades crescentes dos criadores de bovinos de corte e leite, criadores de suínos e aves, atividades em expansão na região de abrangência da cooperativa.
Verifica-se também a industrialização de produtos de origem animal, tais como leite e carne suína, sendo realizado na própria Cooperativa. A cadeia produtiva leiteira conta atualmente com 370 produtores próprios que juntos somam aproximadamente 15 milhões de litros de leite entregues ao ano. Além disso, a CAMNPAL recebe de terceiros, elevando a quantidade para 18 milhões de litros de leite ao ano.
As vantagens aqui apresentadas vão de encontro àquelas citadas por Ferreira e Braga (2004), ao relatarem que “as cooperativas agropecuárias exercem um importante papel socioeconômico, especialmente pelo fato de representarem em muitas regiões, uma das poucas possibilidades de agregar valor à produção rural, bem como da inclusão de pequenos e médios produtores em mercados concentrados”.
Considerações finais
A partir dos dados obtidos pode-se concluir que a Cooperativa Mista Nova Palma Ltda., apresenta inúmeros fatores que a tornam de grande importância para o agronegócio da Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, e para o produtor rural, principalmente da agricultura familiar, no qual representa 70% de Pronafianos associados a cooperativa.
Verificar-se que a cooperativa CAMNPAL apresenta forte atuação a montante e a jusante da produção agrícola. A montante verifica-se a venda de insumos, sementes, agrotóxicos e equipamentos agrícolas em crédito na conta corrente dos associados, aliando a assistência técnica gratuita, bem como as sobras do exercício anterior. A jusante destaca-se a industrialização e armazenamento de diversos produtos agrícolas (milho arroz, feijão, carnes e leite) para o mercado interno e soja para exportação, principalmente para o mercado asiático. Aliado a logística eficiente no recebimento, armazenamento, secagem e beneficiamento. Suas unidades estão instaladas estrategicamente para a cultura de maior produção local, proporcionando competitividade junto ao mercado local e externo. Proporcionando diversificação na cadeia agroindustrial da região, fortalecendo o agronegócio e desenvolvimento das famílias rurais
Porém, muito tem-se para pesquisar sobre a importância das cooperativas agrícolas para o desenvolvimento do agronegócio e dos próprios agricultores rurais, necessitando-se também trazer a visão dos produtores rurais e não somente dos gestores, como no caso apresentado, não devendo ser generalizada. Referências bibliográficas CAMNPAL. Dados de pesquisa. Disponível em:<http://www.camnpal.com.br/>. Acesso em 2016.
FERREIRA, Marco Aurélio Marques; BRAGA, Marcelo José. Diversificação e competitividade nas cooperativas agropecuárias. Revista de Administração Contemporânea, v. 8, n. 4, p. 33-55, 2004.FERREIRA, R. N. Índices-padrão e situação econômica, financeira e político-social de cooperativas de leite e café da região sul do estado de Minas Gerais. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG, Brasil. 1999.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed., São Paulo: Atlas, 1994.
HAMM, A. Cooperativismo. Disponível em:<http://www.afonsohamm.com.br/discurso.aspx?discursoID=146,06/07/2011>. Acesso em 2016.
JERÔNIMO, Fátima Behncker; MARASCHIN, A. de F.; SILVA, Tânia Nunes. A gestão estratégica de sociedades cooperativas no cenário concorrencial do agronegócio brasileiro: estudo de caso em uma cooperativa agropecuária gaúcha. Teoria e Evidência Econômica, Passo Fundo, v. 14, n. 26, p. 71-90, 2006.
OCB; Organização das Cooperativas Brasileiras, 2012. Disponível em:< http://www.ocb.org.br/SITE/ramos/index.asp>. Acesso em jul. 2016.
RICCIARDI, Luiz. Cooperativismo: uma solução para os problemas atuais. Lineart, 1996.
YIN, Robert. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2a. Ed. Porto Alegre: Boookman, 2001.
ZYLBERSZTAJN, Décio. Quatro estratégias fundamentais para cooperativas agrícolas. Agronegócio cooperativo–reestruturação e estratégias. Marcelo José Braga, Brício dos Santos Reis (org). Viçosa, 2002.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Discentes do curso de Medicina Veterinária de uma Universidade Comunitária RS e a prática do Desenvolvimento Sustentável: Uma reflexão
na compreensão de sua conceituação.
Ana Paula Alf Lima Ferreira1, Rodrigo Ferneda
2 , Diógenes Silveira³, Daiane Thais de
Oliveira Faoro 4
, Bibiana da Roza Caporal5
1Universidade de Cruz Alta, [email protected]
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, [email protected]
3 Universidade de Cruz Alta,[email protected] 4 Universidade de Passo Fundo, [email protected]
5 Universidade de Cruz Alta, [email protected]
Resumo. Este artigo busca aprofundar o entendimento da percepção de discentes do curso de Medicina
Veterinária, de uma Universidade Comunitária do RS, com relação a concepção do que é o Desenvolvimento
Sustentável. Sendo como base teórica principal do presente estudo a concepção dos Três pilares do
desenvolvimento sustentável apontados por Placet, Anderson e Fowler. (2005) e Ethos (2014). Com relação ao
método de pesquisa, classifica-se a presente pesquisa, como um estudo de Caso, descritivo baseado em uma
pesquisa qualitativa, a qual teve sua análise a partir do método de análise de conteúdo. A pesquisa, foi
realizado na primeira semana do mês de junho de 2015, sendo que dos 32 acadêmicos matriculados no 5º
semestre do curso de Medicina Veterinária, convidados a participarem da pesquisa apenas 26 aceitaram
responder a mesma. Com base na resposta dos entrevistados pode-se verificar, que os mesmos percebem o
desenvolvimento sustentável primeiramente a partir dos Benefícios Econômicos e posteriormente dos Benefícios
Ambientais, nenhum dos discentes fez menção aos Benefícios Sociais, o que é preocupante tendo em vista a
importância da atuação dos mesmo junto ao cenário local.
Palavras-chave. Desenvolvimento Sustentável. Medicina Veterinária. Universidade Comunitária.
Students of the course of Veterinary Medicine of University Community RS and the practice of Sustainable Development: A reflection on the
understanding of its concept.
Abstract. This article seeks to deepen the understanding of the perception of students of the course of
Veterinary Medicine, a Community University of RS, regarding the design of what is Sustainable Development.
It is as the main theoretical basis of this study the design of the three pillars of sustainable development
mentioned by Placet, Anderson and Fowler. (2005) and Ethos (2014). Regarding the research method, ranks this
research, as a study case, descriptive based on a qualitative research, which had its analysis from the content
analysis method. The research was conducted in the first week of June 2015, and the 32 students enrolled in the
5th semester of the course of Veterinary Medicine, invited to participate in the study only 26 agreed to answer
the same. Based on the response of respondents can be seen, that they realize the sustainable development
primarily from the Economic Benefits and later of environmental benefits, none of the students spoke about the
social benefits, which is worrying given the importance of acting the same with the local scene.
Keywords. Sustainable development. Veterinary Medicine. Community College
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
1 – Introdução
Partindo-se da concepção primordial e histórica de que a crise socioambiental a qual atingiu o mundo na década 1960, foi a o estimulo inicial para o debate com relação a emergente temática alusiva ao Desenvolvido Sustentável, tanto que na Assembleia Geral da ONU, que ocorreu no ano de 1983, foi estabelecida a Comissão Mundial, a qual teria como função discutir e estudar ações para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMMAD). A referida comissão, em 1987, elaborou o Relatório Brundtland o qual estabeleceu o compromisso dos governos signatários da ONU, com a preservação do meio ambiente, pré estabelecendo a concepção do Desenvolvimento Sustentável, apontado no relatório como: “desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações” (CMMAD, 1991).
Com relação a atividade da Medicina Veterinária, buscou-se articular a busca pelo desenvolvimento sustentável, definido pela CMMAD, a partir da definição das competências do exercício profissional do Médico Veterinário, estabelecida pela Lei nº 5517/1968, nos seus artigos 5º e 6º (BRASIL,1968). Ou seja, é competência também do o profissional da Medicina Veterinária estar atendo as questões tais como: erosão, a desertificação, a salinização, a contaminação dos recursos hídricos, a destruição da flora e da fauna, a extinção das espécies, os agrotóxicos, os dejetos orgânicos, os inseticidas utilizados nos controles de vetores, devem estar articuladas com os movimentos sociais, organizações comunitárias e o restante da sociedade civil organizada para “realizar a mobilização social necessária ao enfrentamento dos problemas e oferecer as ferramentas para que a população possa exercer sua cidadania. Construir junto com os atores sociais um processo coletivo capaz de transformar as situações nocivas à saúde (FRANCO NETTO; CARNEIRO, 2003, p. 58). Assim o presente estudo, buscou descrever qual a percepção dos discente de Medicina com relação a concepção do que é Desenvolvimento Sustentável, a fim de perceber como os futuros profissionais e agentes de mudança, do cenário rural percebem seu papel frente a tal prática e fazer pré diagnóstico de como será sua atuação junto ao Desenvolvimento Sustentável. 2 - Desenvolvimento Sustentável
A sustentabilidade consiste em um conceito muito crítico, onde a criação dos valores requer por parte das empresas as seguintes medidas: redução dos níveis de consumo de matéria-prima e de poluição; operação com níveis mais amplos de transparência e responsabilidade; desenvolvimento de novas e revolucionárias tecnologias que tenham o potencial para reduzir as pegadas do homem sobre o planeta; atendimento das necessidades daqueles localizados no extremo inferior da pirâmide de renda do mundo, facilitando a criação e distribuição de renda. (KNEIPP et al.,2013).
A questão do desenvolvimento sustentável foi abordada inicialmente no fim do século 20 que tratava principalmente das questões econômicas relacionadas à problemática social devido as grandes questões políticas, assim o tema perdeu destaque nas discussões teve sua virada no inicio da década de 60 em período de pós-guerra marcado pelos altos investimentos em expansão industrial e ambiental, também nesta mesma década trouxe a discussão de que a natureza não seria capaz de absorver qualquer mudança provocada pelo ser humano (ALVES et al., 2009).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A partir da década de 70 foi então que surgiu vários estudos mostrando as diferentes interpretações dos conceitos elaborados em relação a área de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, sendo que o relatório Limites do Crescimento do Clube de Roma foi provavelmente a publicação fundamental que levou o desenvolvimento sustentável ao centro das atenções. Ainda 30 anos atrás economistas se preocupavam com o DS, e o termo, só então começou a se tornar popular a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992 (MIKHAILOVA, 2004; NASCIMENTO, LEMOS e MELLO, 2008). Chega-se então ao conceito de que “Desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades” (MIKHAILOVA, 2004, p. 26).
Desde esta época a definição teve inúmeras e diferentes citações na literatura, passou a ser interpretada com um novo sentido muito mais amplo, em virtude disso surgiu o termo sustentabilidade utilizado como algo inovador nas empresas. No entanto o conceito atual foi formalizado na Cúpula Mundial em 2002, que teve sua concreta definição como objetiva principal de melhoria da qualidade de vidas das pessoas sendo ele: “O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra” (MIKHAILOVA, 2004, p. 27). Segue um histórico sobre os fatos relevantes do Desenvolvimento sustentável:
Quadro 1- Histórico DS Fonte- MADEIRA, 2014
Conforme demonstrado no Quadro 1 é diverso as iniciativas que buscam a
redução dos impactos das ações humanas sobre o ambiente. Assim, a partir dessas ideias sobre desenvolvimento sustentável, alguns autores apresentam propostas sobre quais seriam as dimensões de análise que comporiam essa perspectiva, sendo que para Placet, Anderson e Fowler (2005), com base Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
2002, o Desenvolvimento Sustentável é construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores”, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, proteção ambiental e visão e estratégia (FIGURA 1).
Figura 1- Três pilares do desenvolvimento sustentável Fonte: Adaptado de Placet, Anderson e Fowler. (2005) e Ethos (2014).
Observa-se, desta forma, que o tripé que enfatiza as dimensões econômica, sociais,
ambientais e visão e estratégia prevalecidos na gestão sustentável no qual as empresas buscam o equilíbrio entre o que é socialmente desejável economicamente viável e ecologicamente sustentável (RIBEIRO et al., 2007).
3 - Método
O método é um instrumento básico para a busca e a compreensão do resultado e pode ser considerado como uma contrapartida caracterizada pela utilização dos métodos científicos que permitem alcançar os objetivos com muita segurança e economia, traçando assim o caminho a ser seguido com conhecimentos validos e verdadeiros (RICHARDSON, 1999; LAKATOS, MARCONI, 2003).Desta forma, quanto, ao problema a pesquisa classificou como qualitativa, pois se caracteriza como uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e características, colocação de diversos problemas e limitações do ponto de vista da pesquisa social (RICHARDSON, 1999). Quanto aos objetivos a pesquisa classificou-se como descritiva, visto que tem como finalidade identificar possíveis relações entre variáveis e como objetivo a descrição das características, vai além de ser uma pesquisa simples e traz grandes resultados e acabam servindo como bases para identificar uma nova visão referente aos problemas surgidos (GIL, 2010).
A pesquisa também se classificou como estudo de caso, e seguiu as etapas de formulação do problema; definição da unidade de caso; determinação do número de casos; elaboração do protocolo; coleta de dados; avaliação e análise de dados e preparação do relatório (GIL, 2009; YIN, 2010).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quadro 2: Etapas do estudo de caso Fonte: Adaptado de GIL, 2009 e YIN, 2010.
Optou-se por realizar tal pesquisa junto a discente do curso de medicina veterinária, pois entende-se a importância de se discutir tal temática, com os referidos alunos, uma vez que já em 17 de novembro de 1997, junto a IX Conferência da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), apontou que o desenvolvimento tecnológico e de práticas de plantio e de criação animal para as zonas rurais ao redor do mundo devem, ter um forte viés para as questões da sustentabilidade dos recursos naturais, o que para se ter faz-se necessario educar e estabelecer parâmetros, normas e procedimentos para que profissionais ligados à area, tenham consciência de que o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis no ambiente em que atuam seja encarado como a única forma de progresso possível (ABREU, 2011).
Assim, os profissionais da área da Medicina Veterinária, estão ao longo dos anos, despertando para um novo campo de atuação e de orientação de trabalho, ou seja, o campo da saúde coletiva e da saúde ambiental. Tem-se, conforme Nielsen (2001) de que as relações, para os profissionais da Medicina Veterinária, as quais compreende ações entre a ecologia e saúde, que reúnem a atividade humana com as condições do ecossistema e a saúde, a partir de uma melhor compreensão da prática de desenvolvimento Sustentável, permite uma melhor compreensão dos processos que determinam o bem-estar das populações como um todo.
Vale ressaltar, que as atividades produtivas (agrícolas e pecuaristas) e suas externalidades negativas (poluição do ar, água e solo, devastação de áreas naturais, contaminação por agrotóxicos e medicamentos) provocam sérias consequências na saúde do meio ambiente natural, rural e urbano, incluindo logicamente a população humana, fato que deve ser motivo de preocupação de toda a sociedade. Logo, entende-se como muito relevante, investigar a temática da sustentabilidade junto a esse cenário.
Tanto que para a coleta de dados foi utilizada documentação direta, ou seja, entrevista semi-estruturada junto aos discentes do 5 semestre do curso de Medicina Veterinária, ou seja, acadêmicos que encontram-se com 50% do curso concluido, uma vez que o curso tem 10 semestre.
A pesquisa, foi realizado na primeira semana do mês de junho de 2015, sendo que cada discente, recebeu uma folha de ofício, com a pergunta e posteriormente depositou a mesma em um envelope que foi deixado junto a uma classe, sendo que não foi solicitado dados pessoais dos entrevistados, a fim de não intimidar a resposta do mesmo, pelo temor de ser identificado. Dos 32 acadêmicos matriculados no 5º semestre, convidados a participarem da pesquisa apenas 26 aceitaram responder a mesma. Também, por questões éticas, optou-se por não fazer menção ao nome da instituição a qual foi aplicada a pesquisa, sendo que sempre será feito menção a ela, como uma Universidade Comunitária do Noroeste do RS.
A entrevista semiestruturada é caracterizada pela forma de como ele é aplicada através de perguntas como se fosse um questionário qual o entrevistador terá que responder as questões estruturadas conforme o assunto a ser investigado no tema, tendo como o objetivo principal atingir o máximo possível de clareza nas descrições dos fenômenos que estão sendo tratadas, são perguntas descritivas, partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação de perguntas básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é possível fazer uma análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos de linguagem, estrutura e sequência das perguntas no roteiro (MANZINI, 2003).
As entrevistas ocorreram in loco e o roteiro foi baseado em apenas uma pergunta: O que você considera como desenvolvimento sustentável (o que é para você tal prática)?
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Para Gil (2010) uma vez coletados os dados estes devem ser analisados, a fim de dar sustentação para as respostas ao problema proposto para a investigação, além disso, o autor relata que estes dados precisam ter uma interpretação mais ampla, que por sua vez, depende dos conhecimentos adquiridos anteriormente pelo pesquisador.Assim sendo, a análise dos dados foi essencialmente qualitativa e através da análise de conteúdo, tendo em vista que ao longo do percurso, se obteve um embasamento teórico e científico a respeito da bibliografia relativa ao assunto, facilitando a interpretação e análise dos dados. 4 - Descrição e Análise dos Dados Com base, no instrumento de pesquisa, teve-se como resposta, as informações abaixo descritas no Quadro 3, sendo que foi feito a transcrição de parte da resposta, a qual remeteria a compreensão de Desenvolvimento Sustentável, conforme apontamentos feitos por Placet, Anderson e Fowler. (2005) e Ethos (2014).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quadro 3: Resumo das Respostas dos Entrevistados Fonte: Estudo de Caso Discentes do Curso de Medicina Veterinária de uma Universidade Comunitária, 2016
Com base nas Respostas dos entrevistados, percebe-se claramente a orientação ou
viés, do Beneficiamento Econômico, para os discentes, porém é notório que o desenvolvimento sustentável é um processo para alcançar o desenvolvimento humano, ampliando a variedade das escolhas das pessoas, de uma maneira inclusiva, conectada, equitativa, prudente e segura. Tal resultado torna-se, preocupante, ao refletir sobre o mesmo com base no relatório Brundtland (WCED, 1995), o qual aponta os benefícios ou crescimento econômico como uma “mola”, pois sua alavancagem exige o rápido consumo de recursos finitos, o que envolve e acarreta altos riscos, incluindo novas formas de poluição ou degradações ambientais, por isso, tal orientação deve ser seguida com cautela, e principalmente com o olhar sobre os possíveis e futuros Benefícios Ambientais, que ações econômicas possam trazer.
Os Benefícios Ambientais, também apareceram nas respostas do discentes, o que é muito positivo, uma vez que tal compreensão, permite a suposição da implementação da sustentabilidade, junto as ações dos mesmo, o que é tido como um grande um desafio, pois, para muitas pessoas e em especial para muitas instituições a proteção ambiental é vista como desnecessária e cara (PLACET; ANDERSON; FOWLER, 2005.
Um item, preocupante é com relação aos Benefícios Sociais, uma vez que nenhum dos entrevistados fez menção a esse viés, quando respondeu a pesquisa, o que pode demonstrar duas situações: (1) Falta de compreensão deste item, como componente da prática de Desenvolvimento Sustentável ou (2) Concepção deste item como desnecessário para o sucessor do desenvolvimento Sustentável. O que é muito negativos, para futuros profissionais que tem importante papel frente a prática do desenvolvimento sustentável da nossa região.
5 - Considerações Finais Com base nos resultados da presente pesquisa, pode-se afirmar que os discente do curso de Medicina Veterinária de uma Universidade Comunitária do Noroeste RS, possuem uma forte orientação para os Benefícios Econômicos da prática do Desenvolvimento Sustentável, seguidos dos Benefícios Ambientais, o que está ligado intimamente a função que os mesmos pretendem exercer. Tais achados da pesquisa, demostram que os acadêmicos possuem uma visão de apenas duas partes do tripé que compõem a base da concepção do Desenvolvimento Sustentável, o que denota um sinal de alerta, uma vez que a combinação de apenas parte do que é o Desenvolvimento Sustentável, tende a causar um desiquilíbrio das ações, principalmente uma vez que os mesmos, não fizeram menção nenhuma com relação ao Benefício Social, o que também demostra que não há um total compreensão, dos mesmos sobre a própria definição das competências, inerentes aos profissionais da Medicina Veterinária, o que é um problema ao longo do tempo, uma vez que o mercado carece não apenas de bons profissionais tecnicamente, mas sim de profissionais com uma postura social diferente, ou seja, com um perfil comportamental sensível ao cenário social ao qual está inserido. Logo, faz-se necessário refletir sobre o perfil de profissionais que estão sendo construindo, junto as Universidades, pois como foi mencionado anteriormente, ensinar/ deter a técnica do exercício da profissão é vital, mas saber a forma como conduzir a mesma é questão de sobrevivência. REFERÊNCIAS
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
ABREU, C. Desenvolvimento e Sustentabilidade do Meio Ambiente. Disponível em: www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/desenvolvimentosustentabilidade-meio-ambiente. Acesso em: 08 maio. 2016. ALVES, A. F. et al Gestão para a sustentabilidade das cooperativas da agricultura familiar e economia solidária. Seminário Internacional: Experiências da Agenda 21. Ponta Grossa: 2009. BRASIL. Lei nº 5517 de 23 de outubro de 1968. Dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Disponível em: http://www.crmvrj.com.br/new/ilegislacao/texto/lei5517.htm. Acesso em: 24 maio 2016. FRANCO NETTO, Guilherme; CARNEIRO, Fernando Ferreira. Vigilância Ambiental em Saúde no Brasil. Ciência & Ambiente. n.25, p.47-58, jul-dez, 2003. GIL, A. C. Estudo de caso. São Paulo; Atlas, 2009. __________ Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Fundamentos demetodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 311 p. MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: Evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração praticas. Revista Economia e Desenvolvimento, 2004. MADEIRA, Welbson do Vale. Plano amazônia sustentável e desenvolvimento desigual1. Ambient. soc., São Paulo, v. 17, n. 3, p. 19-34, Sept. 2014 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414- 53X2014000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02/Jun/2016. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2014000300003. MANZINI, E.J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-estruturada. In: MARQUEZINE: M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE; S. (Orgs.) Colóquios sobre pesquisa em Educação Especial. Londrina:eduel, 2003. p.11-25. NASCIMENTO, L. F.; LEMOS, Â. D. C.; MELLO, M. C. A. Gestão socioambiental estratégica. São Paulo: Bookman, 2008. NIELSEN, N. Ole. Ecosystem approaches to human health. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(Suplemento):69-75, 2001. NILSON, B. IVALDO, G. Construção da sustentabilidade em cooperativas agrícolas. In: IV ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, 2012, Belém. PLACET, M.; ANDERSON R..; FOWLER, K. M..Research Technology Management;Sep/Oct; ABI/INFORM Global, 2005. RIBEIRO, M.F.; PEIXOTO, J.A.A.; XAVIER, L.S.; DIAS, L.M.M. Avaliação crítica de indicadores de desenvolvimento sustentável: uma comparação entre a estrutura adotada no Brasil e na Suíça.In: IX Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, Curitiba, PR. 19 a 21 de novembro de 2007.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. WCED, Our Common Future, World Commission for the Environment and Development, Oxford, Oxford University Press, 1991. YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Incorporação tecnológica na agroindústria familiar
Márcio Leandro Kalkmann1, Janaína Ruffoni
2
1Faculdade Horizontina (FAHOR) - [email protected]
2Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) -
Resumo
O objetivo do estudo é caracterizar como ocorre o processo de incorporação tecnológica em atividades
produtivas da agroindústria familiar. Por meio de uma pesquisa de campo realizada em agroindústrias
familiares do município de Crissiumal, no Rio Grande do Sul, pretendeu-se compreender que tipo de
tecnologias foram inseridas, quais foram os elementos que contribuíram para a mudança tecnológica e os
impactos da incorporação. Como principais resultados, destaca-se que as inovações adotadas são relativamente
simples em termos de intensidade tecnológica, mas causadoras de importantes impactos como a manutenção ou
crescimento dos negócios, a conquista de novos mercados, a manutenção ou crescimento do emprego familiar e
de terceiros. Identificou-se que no processo de incorporação tecnológica foram fundamentais a participação de
instituições diversas, o conhecimento tácito do agricultor e a obtenção de recursos financeiros públicos.
Palavras-chave. Incorporação tecnológica; inovação; agroindústria familiar; noroeste do Rio Grande do
Sul/Brasil.
Technological incorporation in family agribusiness
Abstract.
The objective of the paper is to characterize how occur the technological incorporation process in productive
activities of family agribusiness. Through a field research on family farms in the municipality of Crissiumal, in
Rio Grande do Sul, it was sought to understand what kind of technologies were inserted, which were the
elements that contributed to technological change and the impacts of the incorporations. As main results, it was
emphasized that the adopted innovations are relatively simple in terms of technological intensity, but causing
significant impacts to the maintenance or growth of business, the conquest of new markets, the maintenance or
growth of family employment and others. It was identified that the technology incorporation process were
fundamental the participation of several institutions, tacit knowledge of the farmer and obtaining public funds.
Keywords. Technological incorporation; innovation; family agribusiness; northwest of Rio Grande do
Sul/Brazil.
Introdução
A discussão a respeito do processo de geração e de incorporação tecnológica pelas firmas e seus impactos para o progresso técnico de regiões ganhou fôlego com as discussões propostas pela linha teórica neoschumpeteriana, que despontou a partir dos anos 1980 e se mantém atual e em desenvolvimento até os dias de hoje. O processo de incorporação tecnológica pelas firmas exige esforços diversos, seja da própria empresa, seja de outros atores envolvidos, visto que a inovação não ocorre de forma isolada. É um processo complexo que apresenta peculiaridades a depender do setor, do porte das empresas, da localidade e do histórico de desenvolvimento das mesmas, entre outros aspectos. Para contribuir com a compreensão do processo de incorporação tecnológica, realizou-se uma investigação em
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
pequenas propriedades rurais com agroindústrias familiares do município de Crissiumal, no estado do Rio Grande do Sul.
Os objetivos da pesquisa foram os de compreender quais tipos de tecnologia foram incorporadas, quais os principais elementos que contribuíram para esse processo e quais foram os impactos gerados. Considerando isso, destaca-se que uma questão norteadora do estudo foi: a introdução de tecnologias na atividade agroindustrial familiar pode trazer como resultado a manutenção e/ou crescimento desta atividade no campo, contribuindo para redução do êxodo rural?
Desta maneira este estudo visa compreender um processo complexo, não significando que seus resultados são passíveis de generalizações, mas que auxiliam em uma reflexão a respeito dos elementos que, em conjunto, permitiram que o grupo de agroindústrias familiares investigado realizasse um processo de mudança tecnológica e permanecesse com seus negócios no campo, prolongando a permanência das atividades de geração de renda e emprego nas suas comunidades de origem.
Trata-se de uma pesquisa teórico-empírica em que utilizou-se o método de pesquisa de campo aplicada nas agroindústrias familiares do município de Crissiumal, localizado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. As entrevistas foram feitas presencialmente pelo pesquisador e com auxílio de um roteiro de perguntas previamente estruturado. O município de Crissiumal foi escolhido por possuir um grupo de agroindústrias familiares consideradas relativamente bem sucedidas e que tiveram apoio de um programa de governo específico para o desenvolvimento dos seus negócios.
Este artigo está estruturado em mais seis seções, além desta introdução. A segunda seção aborda uma breve discussão a cerca do papel da incorporação da tecnologia na agricultura. O terceira seção apresenta uma contextualização da agroindústria familiar no município de Crissiumal. Na quarta encontra-se um detalhamento da metodologia que foi utilizada no trabalho. Na quinta seção apresenta–se a descrição e análise dos dados. E, por fim, na sexta seção são feitas as conclusões.
2. Breve discussão a cerca do papel da tecnologia na agricultura
O objetivo desta seção é apresentar uma breve discussão a respeito da relação entre tecnologia e agricultura.
Iniciando pelos elementos que parecem justificar ou ainda estimular a introdução de tecnologias e inovações na agricultura, destaca-se que existem algumas dificuldades em manter o negócio da agroindústria familiar. Sales e Watanabe (2011) afirmam que a localização da agroindústria familiar, muitas vezes distante das áreas urbanas, dificulta o acesso para a comercialização dos produtos na cidade. Outro aspecto levantado por esses mesmos autores é que a atividade agroindustrial deve atentar mais para o processo que envolve procedimentos sanitários, visando padronizar processos e produtos gerados nas agroindústrias familiares. Também comentam que é necessário atentar para uma mudança da legislação atual, o que consideram de fundamental importância para a inserção do agricultor familiar no processo produtivo legalizado, bem como melhorar e modificar as estruturas da rede serviços à disposição do produtor. As políticas públicas devem estar mais próximas da realidade dos pequenos produtores, afirmam.
Caruso e Dos Anjos (2008) também afirmam que nas agroindústrias familiares existem problemas relacionados às legislações sanitárias e fiscais. Outra dificuldade relatada pelos autores é com relação ao gerenciamento do empreendimento. Destaca-se que esses mesmos autores concluíram em seus estudos que nenhum programa ou apoio governamental
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
irá atingir seus objetivos sem ter uma articulação com os tramites de financiamento dos empreendimentos, apoio à qualificação dos processos produtivos, formação profissional, bem como um ambiente institucional que favoreça a continuidade destes empreendimentos no mercado.
Em termos de origem das inovações incorporadas na agricultura, Dosi (1988) afirma que as inovações incorporadas na atividade agrícola são provenientes principalmente de outros setores. Ou seja, os equipamentos e componentes seriam comprados e transferidos para o setor agrícola, gerando oportunidades tecnológicas exógenas à esta atividade. Portanto, entende-se que tal afirmação colocava a agricultura como uma atividade muito mais receptora de tecnologias e inovações do que propriamente desenvolvedora e, assim, as oportunidades de mudança tecnológica deste sector eram originalmente exógenas.
O processo de incorporação de inovação na agricultura foi estudado por Silva e Rocha (2007, apud LEFORT, 1990) e esses autores afirmaram que a adoção de uma inovação pode ocorrer em fases - informação, adaptação, adoção, e domínio - e que agricultor se apropria da inovação e a modifica conforme suas percepções e condições estruturais, ambientais e socioeconômicas.
Em termos de impactos da incorporação tecnológica, Kageyama (1990) afirma existir benefícios ao se introduzir tecnologias na agricultura. Dentre estes impactos, cita a geração de empregos, aumento da produtividade, melhoramento e simplificação dos processos, contribuindo também para o aumento da qualidade de vida. Na mesma linha, Ploeg et al. (2000) afirma que a inovação em produtos, serviços e processos é parte importante do desenvolvimento rural e é estimulada pelo interesse em atingir novos mercados.
3. Realidade da atividade agroindustrial familiar de Crissiumal
O município de Crissiumal-RS foi emancipado na década de 1950. Está localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, sendo colonizado por alemães e italianos que receberam pequenos lotes de terras. Estes lotes, raramente atingiam 50 hectares nas regiões em torno deste município (PACTO FONTE NOVA, 2012). Crissiumal faz parte da chamada região Celeiro. Entre os anos de 1991 e 2000, a população desta região diminuiu 13,1%, sendo que a população do RS aumentava em 11,5%; cerca de 22 mil pessoas abandonaram a região Celeiro naquele período, a qual perdeu principalmente jovens e empreendedores que se desinteressaram e transferiram capitais e tecnologia para outros locais. No ano de 1998 surgiu um programa de desenvolvimento agroindustrial, em forma de Cooperativa, chamado Pacto Fonte Nova. Esta cooperativa seria o fruto da mobilização das lideranças locais que entendiam ser necessário implantar um novo modelo de desenvolvimento local, baseado na consolidação de dezenas de pequenas e médias agroindústrias, gerando uma nova alternativa econômica para os pequenos proprietários rurais e fortalecendo a economia local com a produção de alimentos e produtos até então "importados" de outros municípios e regiões (PACTO FONTE NOVA, 2012).
O programa tinha como objetivos principais: a) inserir o produtor rural (pequeno e médio) no processo produtivo, com incentivos à produção e ao processamento dos produtos “in natura” de origem animal e vegetal, assim como em outras atividades agroindustriais afins; b) agregar maior valor à produção, aumentar a renda familiar e a geração de empregos. Conta com um grupo de entidades locais como a Prefeitura Municipal, a Emater-RS, a Associação Comercial e Industrial, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; o Sicredi, entre várias outras (PACTO FONTE NOVA. 2012).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A respeito do Pacto Fonte Nova, Maia (2008, p.90) constatou que a agroindústria
familiar tem sido uma alternativa viável para a persistência e reprodução das famílias no meio rural no município de Crissiumal-RS. O autor concluiu que a atividade agroindustrial proporcionou uma maior estabilidade no que diz respeito à oportunidade de trabalho, geração de renda e emprego e alcance de níveis superiores de qualidade de vida e educação.
Considerando o cenário no qual encontra-se o município de Crissiumal, investigou-se suas agroindustriais familiares com o objetivo de compreender como o processo de mudança foi realizado e o impacto que as incorporações tecnológicas tiveram. A próxima seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.
4. Procedimentos metodológicos
O estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa teórico-empírica de caráter exploratória e descritiva. Utilizou-se a técnica de entrevistas presenciais com base em um roteiro de perguntas previamente estruturado. A pesquisa foi realizada ao longo do segundo semestre de 2012 nas agroindústrias familiares do município de Crissiumal-RS. Para a identificação de qual era a população a ser investigada, buscou-se a lista total de estabelecimentos vinculados à cooperativa Cooper Fonte Nova. O Quadro 1 apresenta a relação destes estabelecimentos, listados com nomes fictícios, e seus principais produtos.
Quadro 1 – Relação dos estabelecimentos associadas à Cooper Fonte Nova em Crissiumal-RS e seus principais produtos.
Nome da Agroindústria Produto Agroindústria A Melado e açúcar mascavo Agroindústria B Melado e açúcar mascavo
Agroindústria C Melado e açúcar mascavo
Agroindústria D Cachaça Agroindústria E Sucos Agroindústria F Embutidos e Defumados Agroindústria G Embutidos e Defumados Agroindústria H Vassouras Agroindústria I Frango caipira Agroindústria J Cortes de gado Agroindústria K Cortes de suíno e gado Agroindústria L Mel e cera Agroindústria M Hortaliças Agroindústria N Hortaliças Agroindústria O Hortaliças Agroindústria P Hortaliças Agroindústria Q Hortaliças Agroindústria R Ovos de codorna Agroindústria S Leite e derivados Agroindústria T Bolachas Agroindústria U Vinhos, espumantes, Agroindústria V Picles, conservas Agroindústria X Flores/artefatos para jardins
Fonte: Elaborado pelos autores
A partir disso, foi definida a população a ser pesquisada, retirando-se da lista acima o
que não se caracterizava como agroindústria familiar, como por exemplo os horticultores por realizarem somente atividade agrícola. Restaram, assim, dezessete agroindústrias familiares, das quais três não quiseram participar da pesquisa e outras duas foram desativadas. Assim, a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
amostra da pesquisa foi composta por doze agroindústrias familiares, conforme apresentado no Quadro 2.
Quadro 2 - Relação das agroindústrias familiares entrevistadas, seus principais produtos e tamanho dos estabelecimentos (em nº de hectares).
Agroindústria Produto Num. de Hectares Agroindústria A Melado e açúcar mascavo 21 Agroindústria B Melado e açúcar mascavo 24
Agroindústria C Melado e açúcar mascavo 11
Agroindústria D Cachaça 26 Agroindústria E Sucos 10 Agroindústria F Embutidos e Defumados 7 Agroindústria G Embutidos e Defumados 3 Agroindústria H Vassouras 4 Agroindústria I Frango caipira 28 Agroindústria J Cortes de suíno e gado 28 Agroindústria K Cortes de suíno e gado 11 Agroindústria L Mel e cera 75
Fonte: Elaborado pelos autores
Por se tratar de agroindústrias familiares, o roteiro de entrevista foi respondido, em grande parte das vezes, pelo próprio dono da propriedade, juntamente com seus cônjuges e filhos. A aplicação do roteiro de entrevista foi feita presencialmente. A próxima seção apresenta os resultados da pesquisa.
5. Incorporação tecnológica na atividade agroindustrial familiar de Crissiumal
A maioria dos agricultores afirmou ter recebido apoio e incentivo por parte das entidades que participam do Programa Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial, o que facilitou o acesso das famílias à compra de equipamentos necessários, repasse de informações a respeito de financiamento, realização de visitas técnicas e palestras, além de receberem auxílios governamentais como o Programa de Manejo dos Recursos Naturais e de Combate à Pobreza Rural - RS-RURAL e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
As agroindústrias familiares incorporaram tecnologias relativamente simples. Entretanto, observou-se que a introdução das tecnologias foi fundamental para a manutenção da atividade produtiva das famílias no campo, pois permitiram agregar valor aos produtos finais, tornando o negócio viável. O Quadro 3 descreve as principais incorporações tecnológicas adotadas nas agroindústrias familiares do município de Crissiumal-RS.
Quadro 3: Agroindústria, tipo de produto e principal inovação tecnológica adotada (continua) Agroindústria Produto Principais Inovações adotadas
Agroindústria A Melado e açúcar mascavo Moedor com motor elétrico / balança eletrônica / mesa
inoxidável.
Agroindústria B Melado e açúcar mascavo Moedor com motor elétrico / balança eletrônica / mesa
inoxidável.
Agroindústria C Melado e açúcar mascavo Moedor com motor elétrico / balança eletrônica / mesa
inoxidável.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quadro 3: Agroindústria, tipo de produto e principal inovação tecnológica adotada
Agroindústria Produto Principais Inovações adotadas
Agroindústria D Cachaça Moedor com motor elétrico Agroindústria E Sucos Despolpadeira / Dosador Agroindústria F Embutidos e Defumados Serra / enchedor, moedor (triturador) de carne Agroindústria G Embutidos e Defumados Serra / enchedor, moedor (triturador) de carne Agroindústria H Vassouras Torno Agroindústria I Frango caipira Escaldador, sangrador Agroindústria J Cortes de suíno e gado Esterilizador de faca / Atordoador Agroindústria K Cortes de suíno e gado Esterilizador de faca / Atordoador Agroindústria L Mel e cera Descristalizadora
Fonte: Elaborado pelos autores
Pode-se notar que as inovações nas agroindústrias familiares que produzem melado
são praticamente as mesmas, mudando apenas as medidas das mesas inoxidáveis. A agroindústria I possui características particulares por se tratar de abate e preparação de frango caipira e, desta forma, necessita de outros equipamentos, que são a escalda e o sangrador, desenvolvidos pelo próprio dono da agroindústria. Nas demais agroindústrias familiares não há como comparar as inovações realizadas por se tratar de agroindústrias de segmentos produtivos distintos.
O proprietário da agroindústria H criou seu próprio equipamento; ele afirma que necessitava melhorar a forma de fazer as amarrações dos suas vassouras pois no processo antigo essa atividade demandava muito tempo. Para resolver esse problema ele desenvolveu um equipamento que mais tarde foi denominado de “amarrador de vassouras”. Da mesma forma, o proprietário da agroindústria I afirmou que não existiam os equipamentos tal como ele necessitava e por isso resolvera adaptar equipamentos por conta própria.
Observa-se que o conhecimento tácito dos agricultores teve uma função importante. O desenvolvimento ou a adaptação de equipamentos foram feitos com base no conhecimento do agricultor (agora agroindustrial) a respeito do processo de transformação do seu produto, mais do que pela participação de engenheiros ou outros técnicos com alguma qualificação formal.
Além desta questão do conhecimento tácito, destaca-se também outro elemento que contribuiu para que as incorporações tecnológicas fossem feitas: financiamento público. Grande parte das agroindústrias familiares utilizaram alguma fonte de financiamento público, sendo que apenas três fizeram uso somente de recursos próprios. As fontes mais usadas foram: o Programa de Manejo dos Recursos Naturais e de Combate à Pobreza Rural (RS-RURAL) e instituições bancárias vinculadas ao Pacto Fonte Nova
A importância das incorporações realizadas nas agroindústrias familiares também pode ser observada no que se refere ao total de pessoas ocupadas. Nota-se, conforme o Quadro 4, que em algumas agroindústrias ocorreu aumento de postos de trabalho após as incorporações tecnológicas e em outros casos manutenção.
Quadro 4 - Total de pessoas ocupadas antes e após as incorporações tecnológicas nas agroindústrias familiares de Crissiumal/RS (continua):
Agroindústria Pessoas ocupadas antes das
incorporações Pessoas ocupadas após as
incorporações
Agroindústria A 2 2 Agroindústria B 3 3 Agroindústria C 2 2
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quadro 4 - Total de pessoas ocupadas antes e após as incorporações tecnológicas nas
agroindústrias familiares de Crissiumal/RS:
Agroindústria Pessoas ocupadas antes das
incorporações Pessoas ocupadas após as
incorporações
Agroindústria D 3 5 Agroindústria E 7 7 Agroindústria F 2 3 Agroindústria G 2 3 Agroindústria H 5 5 Agroindústria I 3 4 Agroindústria J 1 2 Agroindústria K 2 2 Agroindústria L 2 6
Pessoas Ocupadas 34 44
Fonte: Elaborado pelos autores
No que se refere à escolaridade dos proprietários e familiares empregados nas
agroindústrias familiares, tem-se que a maioria possui ensino fundamental, sendo que apenas um membro da agroindústria F possui ensino técnico e o proprietário da agroindústria M possui ensino superior. Isso reforça a idéia exposta acima a respeito da importância do conhecimento tácito.
Neste sentido, vale lembrar que Esposti (2002) afirma que a adoção de tecnologias depende principalmente do estoque de conhecimento de cada agricultor. Pode-se afirmar que para as agroindústrias investigadas este estoque de conhecimento influenciou por terem sido observadas interferências direta de alguns agricultores nas tecnologias adotadas. No caso da agroindústria C, H e I foram constatadas algumas interferências significativas que levaram os agricultores a introduzirem equipamentos e máquinários construídos por eles próprios. No caso da agroindústria C foram realizadas modificações nos tachos da produção de melado. Na agroindústria H foi “contruída” uma máquina pelo próprio agricultor e com recursos próprios. Esta máquina fez com que a produção de vassouras aumentasse em proporções significativas. Na agroindústria I, foram construídos dois equipamentos pelo próprio agricultor, um escaldador e um sangrador utilizados no processo produtivo. Por fim, são apresentadas as considerações finais.
6. Considerações Finais
As incorporações tecnológicas que ocorrem na agricultura interferem no processo de desenvolvimento econômico e social, proporcionando melhorias na distribuição e organização de atividades, oportunizando aumento na renda dos produtores rurais, repercutindo muitas vezes na permanência de famílias no meio rural.
Dentre os pontos a serem considerados temos: a sustentação das atividades nas agroindústrias pelo fato de incorporarem inovações tecnológicas; a manutenção e geração de empregos e, consequentemente, a permanência da família no campo; a importância do conhecimento tácito dos agricultores no processo de incorporação das inovações; melhoramentos nos aspectos comerciais dos produtos. As entidades cumpriram um papel importante, podendo-se concluir que ocorreu a formação de um ambiente institucional propício para a geração da mudança tecnológica das atividades agrícolas para atividades agroindustriais.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Destaca-se neste trabalho que as incorporações tecnológicas obtidas pelos agricultores
familiares em suas agroindústrias (seja através de recursos financeiros próprios ou públicos) permitiram a manutenção desta atividade. De outra forma, poder-se-ia considerar que, sem os devidos investimentos em incorporações tecnológicas, haveria menor possibilidade de sustentar a atividade rural.
Outra importante reflexão a ser considerada é a manutenção de empregos nestas agroindústrias. Muitos filhos de agricultores também se mostraram interessados em continuar as atividades desenvolvidas pelos seus pais. Pode-se perceber a importância de atitudes conjuntas entre órgãos públicos e os agricultores familiares. A Emater, o Sindicato dos trabalhadores Rurais, a Cooper Fonte Nova e a Secretaria da Agricultura somaram esforços a fim de promover o desenvolvimento das agroindústrias familiares. Este trabalho foi analisado em um município com histórico bastante particular, o que significa que foram analisados casos beneficiados por um conjunto de ações de instituições e agricultores que objetivaram desenvolver uma agroindústria. Porém, entende-se que nem sempre é possível observar um conjunto de entidades desempenhando um papel organizado como o ocorrido. Sugere-se portanto, um estudo comparativo entre Crissiumal e outra região do estado que tenha um histórico semelhante de formação agrícola e que também tenha tentado realizar uma mudança tecnológica, para que seja possível comparar elementos determinantes da mudança tecnológica.
Agradecimentos
Agradecemos a todos as entidades de classe de Crissiumal, principalmente a Emater, o Sindicato dos Produtores Rurais de Crissiumal e a Prefeitura Municipal, pelo tempo despendido nas entrevistas e atenção à pesquisa aqui relatada. Também agradecemos a todos os agricultores por terem aceitado o convite em realizar a entrevista e pela disponibilidade em nos recepcionar.
7. Referências Bibliográficas
CARUSO, C. O & DOS ANJOS, F. S. Dificuldades para implementação de agroindústrias familiares no extremo sul do Rio Grande do Sul. Anais do XVII CIC. UFPEL, novembro de 2008.
DOSI, G. The nature of the innovative process. In: DOSI, G. et al., eds. Technical change and economic theory. London : Pinter, 1988.
ESPOSTI, R. Public agricultural R&D Design and Technological Spill-ins: a dynamic model. Research Policy, 3 . (2002) p. 693–717.
KAGEYAMA, A et. al. O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos complexos agroindustriais. In: DELGADO, G. C. el al. (org). Agricultura e políticas públicas. Brasília: série IPEA, n 127, 1990.
LEFORT, J. Inovação tecnológica e experimentação no meio rural. Brasília: DAS/CIRAD/CPAC/Embrapa, 1990.
MAIA, C. M. A agroindústria familiar como estratégia para o desenvolvimento Regional. 2008. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional). – Departamento de Economia, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2008.
PACTO FONTE NOVA. Disponível em: http://www.pactofontenova.com.br/ Acesso em 8 de maio de 2012.
PACTO FONTE NOVA. Regulamento Interno - Programa Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial Pacto Fonte Nova. 2012 (trabalho não publicado).
PLOEG, J. D. Van der; RENTING, H.; BRUNORI, G.; KNICKEL, J. M.; MARSDEN, T.; ROEST, K.;SEVILHA-GUSMAN, E.; VENTURA, F. Rural development: from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, Netherlands, v. 40, n. 4, October, 2000
SALES G. A. & WATANABE, M. Marco regulatório sanitário para a agroindústria rural de pequeno porte: o caso do queijo minas artesanal. Anais do VIII Convibra Administração. Ago. 2011.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
SOBERANIA ALIMENTAR E A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR TRADICIONAL: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE
DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
Gleicy Jardi Bezerra1,Madalena Maria Schlindwein
2, Bibiana Melo Ramborger
3, Anelise
Daniela Schinaider4, Alessandra Daiana Schinaider
5
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, [email protected]
2Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, [email protected]
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, [email protected]
4Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, [email protected]
5Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, [email protected]
Resumo. Dada a relevância da agricultura familiar para a produção de alimentos e as dificuldades
enfrentadas, por essa população, para manter seu sistema produtivo e promover a segurança alimentar de sua
família, além do desenvolvimento de sua propriedade, objetivou-se, com este trabalho, analisar o potencial da
agricultura familiar de Dourados, em Mato Grosso do Sul, para a produção de alimentos. Para tanto, utilizou-
se uma pesquisa de campo, com a aplicação de questionários a uma amostra de 60 agricultores. Foram
calculadas estatísticas e, através de uma abordagem descritiva, analisou-se os resultados. Concluiu-se que
ainda há muita carência financeira para um desenvolvimento sustentável das propriedades rurais. Das quais, a
maior parte são pequenas, e a produção se dá na forma de monocultura. A propriedade não se sustenta, sendo
necessário buscar recursos fora da mesma para manter a família e a propriedade rural.
Palavras-chave. Desenvolvimento rural; Produção de alimentos; Agricultura familiar.
FOOD SOVEREIGNTY AND THE FAMILY FARM PRODUCTION
TRADITIONAL: AN ANALYSIS IN THE MUNICIPALITY OF GOLDEN, MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL
Abstract. A Given the importance of family farming for food production and the difficulties this population has
to go through to maintain its production system and promote family’s food security, in addition to the
development of the property, this work aimed to analyze the potential of family farming in Dourados, Mato
Grosso do Sul, for food production. A field research was conducted with questionnaires given to a sample of 60
farmers. Statistics were calculated and, using a descriptive approach, we analyzed the results. It was concluded
that there is still a lot of financial need for sustainable development of rural properties, which most are small
and have their production based on a system of monoculture. The property does not sustain itself, so it is
necessary to seek resources outside of it in order to preserve the family and the farm.
Keywords. Rural development; Food production; Family farming.
1 Este artigo é parte dos resultados da dissertação de Mestrado.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Introdução
O aumento da renda média per capita em função do crescimento populacional está ocasionando uma maior demanda por alimentos, particularmente nos países em desenvolvimento (FREITAS, 2014). Segundo dados publicados pela Food and Agriculture
Organization of the United Nations FAO, em 2050 haverá 9 (nove) bilhões de pessoas e, para atender essa demanda, a Comissão Europeia (2014) destaca que o aumento da produção de alimentos deverá ser de 70%.
A título de esclarecimento, agricultores familiares, neste trabalho, são aqueles que atendem os requisitos da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que no seu artigo 3º (BRASIL, 2014) destacada algumas características primordiais: (i) não possuir área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; (ii) a mão de obra utilizada nas atividades econômicas ser predominantemente familiar e (iii) o maior percentual da renda ser obtida das atividades econômicas do estabelecimento. Como agricultura familiar tradicional entende-se, neste estudo, os agricultores enquadrados na Lei Federal 11.326, de 24 de julho de 2006, não pertencentes à reforma agrária.
Com base na preocupação em produzir mais alimentos, a FAO (2014a) destaca que o segmento da agricultura familiar é de suma importância, pois, além de proporcionar meios para garantir a soberania alimentar, gera empregos agrícolas, reduz à pobreza, conserva a biodiversidade e mantém as tradições culturais.
Diante disso, em reconhecimento ao seu importante papel desempenhado para alavancar a soberania alimentar do planeta, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2014 como “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, promovendo a divulgação, o desenvolvimento e o fortalecimento político do tema em todo o mundo (FAO, 2014b). A partir dessas considerações, objetiva-se, com este trabalho, analisar o potencial dos agricultores familiares tradicionais de Dourados para a produção de alimentos.
Metodologia
Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de campo, possuindo abordagem descritiva e explicativa. Para tanto, foram aplicados 60 questionários a uma amostra de agricultores familiares de Dourados, em Mato Grosso do sul.
Nesta ótica, para atingir o objetivo proposto, utilizou-se um questionário aplicado pelos servidores da AGRAER a uma amostra populacional de agricultores familiares tradicionais, cujos selecionados fazem parte da Chamada Pública da Sustentabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Além do questionário padrão, acrescentaram-se algumas questões que foram pertinentes para a realização do presente artigo.
A amostra respondente do questionário padrão foi de 182 agricultores familiares tradicionais possuidores da Declaração Anual do Produtor Rural - DAP. No entanto, para responder as questões extras, que foram utilizadas nesta pesquisa, selecionou-se uma subamostra. Nesse sentido, foi utilizada a fórmula de amostragem sistemática apresentada por Barbetta (1994), sendo:
no = 1 n = N . no
Eo² N + no
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Onde:
N – número de elementos da população,
n – tamanho da amostra,
no – primeira aproximação do tamanho da amostra,
Eo - erro amostral tolerável.
Para realizar o cálculo estatístico, foi considerada uma população de 182 agricultores familiares tradicionais (amostra da AGRAER). O valor do erro amostral utilizado para esse cálculo foi de 8,2%, constituindo uma amostra de 81.
A partir da análise do cálculo, fica visível que a amostra selecionada de 60 agricultores, ou 33% da população, é representativa e pode-se inferir algumas informações através de sua análise. Em seguida a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e processados eletronicamente utilizando-se o programa estatístico SPSS (versão 21).
Resultados e discussão
Com base nos resultados da pesquisa, contatou-se que a média de moradores por propriedade é de 3 (três) moradores, sendo 1 (um) morador o mínimo e 7 (sete) o número máximo de pessoas na família.
As propriedades são distantes das cidades, pois identificou-se que a distância das propriedades até o município de Dourados varia entre 2 até 75 quilômetros. Sendo que o maior percentual (58,01%) dos respondentes moram entre 21 até 40 km da cidade. O segundo maior percentual (21,8%) responderam que moram até 20 km da cidade e, 15% entre 41 km até 60 km e, 5,1% moram entre 61 km até 80 km da cidade.
Já com relação ao tamanho (ha) destas propriedades, elas variam de 1 hectare até 72,82 hectares. Sendo que 71,90% possuem entre 1 hectare até 10 hectares. Esse fato certamente influencia fortemente o desenvolvimento agropecuário da propriedade.
No que se refere à participação dos agricultores no cultivo de alimentos e criação de animais, 38,3% dos entrevistados não possuem animais nas suas propriedades, destacando o plantio agrícola sobre essas áreas. Observou-se também que 50% dos agricultores cultivam apenas um tipo de cultura em suas propriedades, com enfoque para a cultura da soja e do milho (Tabela 1).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 1. Cultivos agrícolas nas propriedades familiares tradicionais de Dourados-MS.
Culturas agrícolas Frequência Percentual de respondentes (%)
Porcentagem Acumulada
Milho, soja 14 23,33 -
Hortaliças 11 18,33 41,66
Hortifruti 3 5 46,66
Mandioca 2 3,33 50
Amostra 30 50%
Fonte: Dados da pesquisa.
No entanto, a outra metade dos entrevistados busca diversificar sua produção, sendo as principais atividades, desenvolvidas na mesma propriedade, o plantio de milho (60%), de soja (43%), hortaliças (35%), mandioca (23%), hortifruti (12%) e a plantação de arroz (2%).
No entanto, conforme apresentado na Tabela 1, a monocultura está se tornando uma característica de produção dos agricultores familiares tradicionais pesquisados e, uma das causas para isso ocorrer é o percentual de agricultores com rendimentos externos a propriedade. Neste sentido, constatou-se que dos 98,33% de agricultores que recebem rendimentos externos, as principais atividades geradoras desses rendimentos são: aposentadoria, pensão, auxílio doença, bolsa família, trabalha como analista de suprimentos, diarista, manicure, pedreiro, funcionário público, venda de artesanato e aluguel de salão comercial. Assim, em fase da dificuldade de obter dados concretos para quantificar com precisão a renda mensal do produtor advinda de fora da propriedade, optou-se por enfocar a percepção deles quanto a seus rendimentos, sendo a média de R$ 1.036,73/mês, a renda mínima de R$ 102,00 e máximo de R$ 4.500,00/mês.
Devido à plantação de soja e milho se destacar entre os cultivares dos agricultores pesquisados, a principal forma de comercialização é a venda direta aos cerealistas, totalizando 60%. No entanto, a entrega dos produtos ao PAA e PNAE, sendo estes programas uma das principais políticas públicas de inserção dos produtos dos agricultores familiares no mercado, soma 24% dos respondentes.
No entanto, quando questionados se querem que os filhos continuem na propriedade, 63% apontaram que sim. Destacando que a maioria já ajuda na propriedade, outros responderam que gostam do local e não querem vender a propriedade.
Considerações finais
A ideia central do trabalho foi analisar o potencial dos agricultores familiares tradicionais de Dourados-MS para a produção de alimentos. Diante disso, realizou-se uma parceria com a AGRAER, e utilizou-se parte da amostra de agricultores que foram selecionados para a Chamada Pública da Sustentabilidade, do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, e desenvolvido pela AGRAER. Sendo entrevistados, para este trabalho, 60 agricultores.
Dos principais resultados encontrados, aponta-se que as propriedades são consideradas pequenas, sendo que a maioria dos entrevistados possui até 10 hectares e, a característica dos agricultores pesquisados é o cultivo de monocultura. Um dado interessante e também que
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS pode ocasionar este resultado, foi o percentual expressivo de entrevistados que recebem benefícios advindos da Previdência Social, o que caracteriza uma população mais idosa no meio rural.
No entanto, é necessário olhar para a realidade de cada região e, inserir os questionamentos dos agricultores familiares na agenda decisória dos governantes, pois, este se refere a um segmento com potenciais para abastecimento, produção e distribuição de alimentos para todo o mundo. Sendo necessário, também, considerar o autoconsumo, dado que as famílias utilizam parte da produção na propriedade para o consumo da família.
Destaca-se a necessidade de uma análise mais aprofundada dos dados, bem como a realização de novos trabalhos para contribuir, de forma mais efetiva, com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.
Agradecimentos
À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) pela concessão de bolsa durante a realização do Mestrado da primeira autora.
Referências
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 1. ed. Florianópolis: UFSC, 1994.
BRASIL. Senado Federal. Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 3 mar. 2014.
Comissão Europeia. Segurança alimentar, agricultura sustentável e bio-economia. 2015. Disponível em: <http://science-girl-thing.eu/pt/6-reasons-science-needs-you/food-security-sustainable-agriculture-and-bio-economy>. Acesso em: 26 maio 2014.
FAO – Food and Agriculture Organization. FAO e OMS apelam por forte compromisso político para enfrentar a desnutrição em conferência internacional de alto nível. 2009. Disponível em: <https://www.fao.org.br/FAOeOMSafcpedcial.asp>. Acesso em: 7 jul. 2014a.
______. O que é agricultura familiar? Disponível em: <http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/pt/>. Acesso em: 3 abril 2016.
FREITAS, Rogério Edivaldo. A agropecuária na balança comercial brasileira. Revista de Política Agrícola, ano XXIII, nº 2, abr./maio/jun. 2014.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Superestimada e subestimada, afinal quais são as possíveis contribuições e
limitações da agricultura urbana?
Valéria da Veiga Dias1, Edson Talamini
2, Jean Philippe Révillion
3, Marcelo da Silva
Schuster4
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Doutoranda no curso de Agronegócio (CEPAN),
[email protected] 2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Docente de graduação do Departamento de Economia
e Docente de Pós graduação no curso de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, [email protected] 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Docente de graduação do Departamento de Tecnologia
de Alimentos e Vice Diretor e Docente de Pós graduação no curso de Agronegócio (CEPAN),
[email protected] 4Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Doutorando no curso de Administração,
Resumo. Este artigo objetivou analisar contribuições e limitações (riscos) associadas às práticas de agricultura urbana a partir de estudos publicados em periódicos. Este estudo pretendeu ainda descrever
características das publicações sobre urban farms . A complexidade deste tema se reflete na dualidade dos
argumentos positivos e negativos sobre as fazendas urbanas e justifica a escolha desta discussão. A
metodologia incluiu uma coleta de dados na base de dados Scopus e em dois periódicos reconhecidos (Science
e Nature). Os 88 artigos foram analisados em duas etapas, primeiro de forma descritiva, com a intenção de
caracterizar as publicações e em seguida, uma análise de conteúdo foi usada para classificar os artigos entre mais atuais e mais relevantes. Nesta etapa foram lidos individualmente 33 artigos para identificar os tipos de
fazendas pesquisadas, a relação com outros temas e para elencar, a partir dos achados de pesquisa,
benefícios e riscos associados a agricultura urbana. Notou-se uma diferença entre temas dos artigos mais
atuais e os mais citados. Em termos quantitativos, nota-se que existem mais pontos positivos ou benefícios do
que pontos de ressalva e risco, o que não significa que os mesmos devam ser ignorados. Nota-se uma
convergência nos benefícios para questões sociais e ambientais, também relacionados a segurança
alimentar, visando a promoção da inclusão social, interação entre as pessoas, nutrição adequada e uso de práticas agroecológicas. Outros pontos positivos e negativos são discutidos nos resultados.
Palavras-chave. Agroecologia, Segurança alimentar, Produção de Alimentos
Overestimated or underestimated, after all, what are the possible
contributions and limitations of urban agriculture?
Abstract. This article aims to analyze contributions and limitations (risks) associated with urban agriculture
practices, based on studies published in journals. This study aims too; describe characteristics of publications
about "urban farms". The complexity of this issue is reflected in the duality of positive and negative arguments
about urban farms and justifies the choice of this discussion. The methodology included a data collection in the
Scopus database and two highly recognized journals (Science and Nature). We identified 88 articles analyzed in
two stages, first descriptively, with the intention to characterize the publications and then a content analysis was
used to classify the articles in more current and more relevant. At this stage were read individually 33 articles, to identify the types of farms surveyed, the relationship with other themes and to list benefits and risks associated
with urban agriculture. It was noted a difference between subjects of the most current articles and the most
cited. Quantitatively, it is noted that there are more positives points that risk, which does not mean that they
should be ignored. Notes a convergence in benefits to social and environmental issues, also related to food
security, aimed at promoting social inclusion, interaction between people, proper nutrition and use of
agroecological practices. Other positives and negatives are discussed in the results.
Keywords. Agroecology, Food Security, Food Production
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Introdução
As sociedades globais estão se tornando cada vez mais urbanas, mudando a relação das pessoas com os alimentos, incluindo a forma de fazer compras e o que comprar, bem como idéias sobre saneamento e frescura. Alcançar equilíbrio entre cidade e ambiente, e ótimos níveis de segurança alimentar em uma era de rápida urbanização exigirá muito mais compreensão sobre como áreas urbana e sistemas alimentares estão interligados (SETO; RAMANKUTTY, 2016). A expansão de populações urbanas é uma mudança demográfica que reflete diretamente na redução das áreas agriculturáveis (ROGUS e DIMITRI, 2015), assim como na quantidade de agricultores que estão no campo para cultivar os alimentos da qual as cidades dependem, foi possível identificar um declínio de 20% no número de agricultores ao longo dos últimos 40-50 anos (PORTER, et al., 2011). O cultivo de alimentos em ambientes urbanos pode representar uma proposta atraente devido à inerente sustentabilidade associada a agricultura urbana, principalmente a questões ambientais e sociais (BLACKMORE, 2016). As fazendas urbanas podem se localizar em telhados ou no chão; podem usar estufas; e os alimentos podem ser produzidos no solo ou de forma hidropônica. Essa atividade agrícola inclui uma gama de atividades como hortas comunitárias, fazendas comerciais ou sociais, hortas escolares e em estabelecimentos de ensino (NAPAWAN, 2015; ROGUS e DIMITRI, 2015). O objetivo declarado de alguns para a agricultura urbana é a produção de alimentos, enquanto, para outros o foco esta nas missões socialmente conscientes que incluem construção da comunidade, sensibilização sobre o alimento, e reconectar consumidores com os agricultores e alimentos (GARDINER et al, 2014). Apesar de diversas contribuições, alguns pesquisadores lançam questionamentos sobre a viabilidade da expansão das práticas relacionadas com as fazendas urbanas, ressaltando a necessidade de desenvolvimento de políticas de segurança alimentar e investimentos diversos, além dos riscos iminentes de contaminação. Dito isso, é notável que o equilíbrio entre cidades, meio ambiente e agricultura é bastante complexo, e implica em um grande esforço interdisciplinar. Esta complexidade refletida na dualidade dos argumentos positivos e negativos, manifestada no meio acadêmico e na sociedade como um todo, justifica a escolha deste tema de estudo. Desta forma, este artigo objetivou analisar as contribuições e limitações (riscos), associados às práticas de agricultura urbana e apresentados nos estudos identificados publicados em periódicos. Este estudo pretendeu ainda descrever características das publicações sobre ―urban farms‖.
Metodologia Este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa empírico-analítica, cujo tipo de abordagem pode ser considerado descritiva, já que visou descrever as características das publicações sobre ―urban farms‖ em periódicos. Este estudo objetivou ainda analisar contribuições e limitações (riscos) associadas às práticas de agricultura urbana e apresentados nos estudos identificados. A coleta de dados se deu a partir de artigos publicados na base de dados Scopus. A pesquisa foi realizada sem delimitação de tempo e utilizou as palavras urban farm. Foram encontrados 3.866 estudos, no entanto, ao iniciar a leitura dos artigos verificou-se que a maior parte dos artigos não tratava do tema das fazendas urbanas e sim de aspectos de urbanização e
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produção. Em função disso foi realizada nova busca, utilizando aspas, com a intenção de que as palavras fossem pesquisadas em conjunto (―urban farms‖). Foram encontradas 102 publicações, incluindo livros, eventos, resenhas e artigos. Refinou-se a busca, incluindo apenas artigos e revisões teóricas, e restaram 80 publicações. Além disso, optou-se por realizar uma busca em dois periódicos renomados, Science e Nature, totalizando 88 artigos. A análise dos artigos se deu de duas formas, primeiro os 88 artigos foram analisados considerando determinados parâmetros: i) evolução e país das publicações; ii) método e técnicas de coleta e análise de dados; iii) áreas. A segunda etapa analisou 33 artigos, que correspondem a quase 40% do total de estudos publicados. Os artigos foram classificados em mais atuais (17 estudos), publicados entre 2015 e 2016 e os artigos mais relevantes/mais citados (16 estudos). Neste caso, optou-se pela análise de conteúdo, que consistiu na leitura flutuante dos abstracts, título e palavras-chave visando identificar a coerência com o tema de pesquisa; em seguida foi realizada a leitura individual dos artigos, com intenção de categorizar o conteúdo dos estudos em: i) o tipo de fazendas; ii) o tema de pesquisa e a relação com outras áreas; iii) contribuições e limitações (riscos) da agricultura urbana a partir dos resultados de pesquisa.
Resultados Evolução e país das publicações
A evolução dos estudos sobre o tema revelou que a primeira publicação sobre o mesmo se deu em 1981, publicado na revista Town and Country Planning por Cowan, intitulado Life on the urban farm. Dentre os 80 estudos analisados foi possível notar a evolução do interesse no tema principalmente a partir dos anos 2000. Entre 2000 e 2010 concentram-se 23% do total publicado, nos anos subsequentes houve uma variação entre 9% e 16% do total, destacando que entre 2014 e 2016 (julho) foram encontrados 31% das publicações, o que indica um interesse maior nos últimos anos. No que tange ao local de realização dos estudos, quase 60% das publicações analisadas são provenientes dos Estados Unidos (57%), seguido de estudos realizados em países como a França (7%), Austrália (6%) e Canadá (6%). Outros países que publicaram sobre o tema representam menos de 5% do total de estudos cada um, entre estes estão a Índia, alguns países da África e da Europa.
Métodos e técnicas de coleta e análise de dados
O método escolhido em cada estudo, bem como técnicas de coleta e análise de dados possibilita reconhecer o perfil dos pesquisadores, dos resultados apresentados, bem como da complexidade das análises realizadas. Constatou-se que 90% dos estudos encontrados utilizaram métodos qualitativos, os 10% restantes dividem-se em 5% de estudos quantitativos e 5% de estudos que combinaram análises qualitativas e quantitativas. Entre as técnicas mais utilizadas estão estudo de caso e multicasos (21%), entrevistas (semi estruturadas e em profundidade) (16%), seguida das análises químicas e bioquímicas (11%), análise comparativa de dados (8%), observação (8%). As demais técnicas identificadas foram observação participante, modelo logístico multinomial, dados secundários de censo, triangulação de dados, análise de dados quantitativos, levantamentos etnobotânicos, parâmetros entomológicos, episódios de malária auto-relatados, revisão de literatura e representam cerca de 4% do total cada uma
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Tipo de fazenda estudada
A análise das publicações indica o foco dos estudos sobre fazendas urbanas. A predominância dos estudos foca-se em compreender características das fazendas estudadas (56%), estabelecendo um perfil e defendendo a ampliação das mesmas nos locais mais urbanizados. O segundo tipo de estudo mais encontrado focou-se no desenvolvimento de hortas caseiras e sua contribuição social, para mudança de hábitos e empreendedorismo (17%). As fazendas com orientação para o mercado (VOGEL, 2008; RECASENS, ALFRANCA, MALDONADO, 2016, POULSEN, 2016) aparecem em terceiro lugar, investigando benefícios e oportunidades de mercado, redução de custos, benefícios para produtores e consumidores (10%). O quarto tipo mais pesquisado refere-se a contribuição social para pessoas menos favorecidas (7%), ou ainda com interesse na promoção de fazendas sem a preocupação econômica, e sim para sobrevivência e sustento (NAPAWAN, 2015; TRYBA, 2015, TAYLOR e LOVELL, 2015). De acordo com Recasens, Alfranca, Maldonado (2016) a fazenda com orientação social/comunitária prioriza a participação e acesso cívico para moradores de baixa renda, e se esforça para criar um espaço socialmente inclusivo, no entanto, é um desafio incluir os agricultores. Já a fazenda com orientação de mercado/comercial centra-se na sustentabilidade financeira, refletindo o uso da produção de alimentos como um meio para o desenvolvimento da comunidade, em vez de propagação de uma cidadania alimentar. Ambas as fazendas satisfazem as necessidades autênticas que contribuem para a melhoria da vizinhança exemplificam projetos enraizados no contexto social local, características necessárias para promover o engajamento cívico com o sistema alimentar (POULSEN, 2016). De acordo com Dimitri, Oberholtzer, Pressman (2016) todas as fazendas urbanas, independentemente da sua missão, são relativamente pequenas e enfrentam desafios semelhantes para fornecer alimentos. Fazendas com missões sociais explícitas, em relação àqueles com uma orientação de mercado, doam uma parcela maior de alimentos de sua fazenda e são menos propensos a possuir terras agrícolas. Fazendas com rendimento médio mais baixo são mais propensos a ter metas sociais relacionadas com a construção da comunidade ou melhorar a segurança alimentar (Dimitri, Oberholtzer, Pressman, 2016). Outros estudos exploraram benefícios de fazendas e hortas urbanas (7%) e fazendas verticais (3%). A Figura 3 representa os tipos de fazenda encontrados:
Figura 3: Classificação das tipologias de fazendas utilizadas nos estudos pesquisados:
Elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa
Temáticas e discussões relacionadas as fazendas urbanas a partir dos artigos analisados
56%
17%
7%
10%3% 7%
Fazendas urbanas
Hortas
Fazendas e hortas
Fazendas/mercado
Fazendas verticais e telhadosFazendas social
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Nota-se uma diferença entre os temas abordados nos estudos mais atuais e nos estudos mais citados. Os estudos mais atuais (2015 – 2016) focaram-se em questões de mercado, segurança alimentar, saúde pública, uso dos recursos naturais e na viabilidade das estruturas comunitárias (orientação social). Já os estudos mais citados o foco foi nos sistemas utilizados pelos agricultores urbanos e o impacto que este movimento tem na segurança alimentar (Altieri et al, 1999). Os impactos da agricultura urbana irrigada na transmissão da malária em cidades foi investigada por Afrane, et al (2004), e também na preocupação com a contaminação em áreas urbanas com base em dois estudos de fazendas peri-urbanas. A partir dos resultados dos estudos analisados elaborou-se duas figuras (Figuras 4 e 5), que representam dois grandes agrupamento, apresentando os pontos positivos (benefícios) e negativos (possíveis malefícios/riscos) associados a agricultura urbana. Optou-se pelo agrupamento em categorias/grupos maiores, em função da facilidade de apresentação destes resultados:
Figura 4: Sustentabilidade, recursos naturais e segurança alimentar (dieta e contaminação)
Elaborado pelos autores a partir dos dados de pesquisa
Nota-se uma convergência dos benefícios para questões sociais e ambientais, também relacionados a segurança alimentar, visando a promoção de inclusão social, interação entre as
Benefícios sociais, econômicos, ambientais e de saúde física (Tryba, 2015).
Desenvolvimento de áreas carentes (Tryba, 2015).
Segurança alimentar (Hashim, 2015, Tryba, 2015, Altieri et al, 1999)
Completação das dietas com, frutas e legumes nutritivos a preços acessíveis emuma base sazonal (Blackmore, 2016) e redução de hábitos inadequados (Hashim,2015, Altieri et al, 1999)
Promoção da agroecologia e produção local (Gardiner et al, 2014), eliminação douso de químicos e fertilizantes sintéticos, enfatizando a diversificação, areciclagem e a utilização dos recursos locais (Altieri et al, 1999; Fischetti, 2008).
Conservação da biodiversidade e a culturas ancestrais que suportam alterações doclima (Blackmore, 2016)
Redução drástica do uso de combustível fóssil e das emissões associadas amáquinas agrícolas e caminhões (Fischetti, 2008).
Redução de ilhas de calor em centros urbanos (Blackmore, 2016)
Otimização do uso dos recursos naturais e energias alternativas (Kammen eSunter, 2016; Fischetti, 2008).
Risco de contaminação dos alimentos, água e solo por agrotóxicos efertilizantes, bem como pelos poluentes urbanos (Grova et al, 2000, Vagneron,2007, Meharg, 2016).
A falta de conhecimento das práticas de agricultura urbana segura pode exporpopulações mais vulneráveis aos riscos ambientais, como contaminantes dosolo (Taylor e Lovell, 2015).
A água de irrigação contaminada pode afetar a qualidade de produtos frescos apartir das operações agrícolas (Garcia et al, 2015).
Atração de animais, predadores e risco de doenças como malária(Afrane et al,2004)
Uso de fertilizantes químicos e pesticidas sintéticos, algumas vezes de formaindiscriminada, bem como a aplicação repetida de fertilizantes sintéticos e decompostagem podem contribuir para a carga de nutrientes de escoamento deáguas pluviais urbanas (Taylor eLovell, 2015).
Alto investimento em iluminação e energia artificial e reciclagem de água(Meharg, 2016, Blackmore, 2016)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS pessoas, nutrição adequada e uso de práticas agroecológicas. Já os riscos referem-se principalmente a possível contaminação dos alimentos, solo, água, provocada por químicos e agrotóxicos usados no ambiente rural e poluição urbana Tais questões estão diretamente relacionadas com segurança alimentar.
Figura 5: Questões sociais, de mercado e aspectos visuais
Elaborado pelos autores a partir dos dados de pesquisa
Outros pontos positivos referem-se a melhoria da situação social, renda e possibilidade de negócios a partir da agricultura urbana, acesso aos alimentos, melhoria das paisagens urbanas e entre as questões negativas estão a falta de informações e assistência técnica, falta de incentivos e subsídios e a necessidade de investimento e desenvolvimento de tecnologias. Em termos quantitativos, nota-se que existem mais pontos positivos ou benefícios do que pontos de ressalva e risco, o que não significa que os mesmos devam ser ignorados. Considerações Finais
A quantidade de benefícios é maior que a dos riscos associados a agricultura urbana, no entanto, o descaso ou falta de planejamento relativo a tais questões podem enfraquecer ou prejudicar a expansão de práticas de agricultura urbana. Identificou-se grande quantidade de discussões relacionadas a benefícios sociais, ambientais e de saúde e segurança alimentar. Evidenciou-se que para famílias mais pobres, a agricultura urbana produz renda e colaborar na diversificação da dieta, além de conferir participação no mercado aos agricultores urbanos. Novos negócios podem ser gerados, impulsionando mercados de produção e distribuição local e o desenvolvimento regional. Aspectos associados a sustentabilidade ambiental também são percebidos como pontos positivos, tais como o uso do calor residual gerado pelas cidades, que pode ser aproveitado para geração de energia, aproveitamento de água cinza (águas residuais provenientes de banheiros e chuveiros); uso sustentável de terrenos abandonados, que pode reduzir a pegada de carbono do transporte de alimentos e tornar as cidades mais verdes.
Para os grupos de menor renda ou minorias, a agricultura urbana é uma boamaneira para manter soberania alimentar e para acessar as culturas que podemnão ser capazes de obter em mercearias locais (Blackmore, 2016)
A agricultura urbana se constitui como um modelo tangível do trabalho coletivo,auto-confiança, e agência política (White, 2011).
Bem-estar comunitário e interação social entre vizinhos (Blackmore, 2016)
Participação cívica (Blackmore, 2016)
Reformulação e composição de espaços verdes encontrados dentro de paisagensurbanas (Gardiner et al, 2014)
Oportunidades de mercado e empreendedorismo para agricultores urbanos(Recasens, Alfranca, Maldonado, 2016)
Limitada disponibilidade de informações relevantes e assistência técnica(Surls et al, 2015)
Falta de incentivos e subsídios para agricultura urbana. Necessidade deinvestimentos em programa de segurança alimentar das nações, com focoem agricultura urbana (Fletcher, 2012)
Cultivo de alimentos em ambientes fechados, usando luzes artificiais eoutros equipamentos especiais, significa mais esforço e despesa e anulabenefícios de estar perto dos clientes (Meharg, 2016, Fletcher, 2012).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Além disso, a produção urbana pode ser uma forma de divulgação, educação e disseminação de práticas de agricultura sustentável, agroecológica e orgânica, além de colaborar com a agrobiodiversidade por meio do cultivo de sementes nativas. Apesar dos notáveis benefícios, deve-se considerar possíveis riscos da produção urbana, destacam-se os problemas de contaminação do ar, da água e dos alimentos. A hidroponia pode representar uma solução para cultivo sem uso do solo e com menor risco de contaminação, no entanto, o uso de água pode ser inviável para muitas nações que sofrem para abastecer consumidores e indústrias. Para a generalização de práticas de agricultura urbana, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, seria importante repensar aspectos essenciais das cidades como infraestrutura básica, saneamento, tratamento da água e poluição, assim como o planejamento do crescimento das áreas urbanas. Pode ser possível construir novas cidades e evitar diversos problemas, como a contaminação, mas nas cidades existentes, onde a agricultura urbana é uma reflexão tardia, o planejamento, investimento e a capacitação técnica é essencial. Cabe ainda considerar que a expansão de projetos de agricultura urbana com a finalidade de colaborar com produção de alimentos, deve considerar o desenvolvimento de inovações e tecnologias (iluminação, sistemas de cultivo diferenciados, sensores, etc.); técnicas para melhorar a eficiência na utilização de recursos (água, nutrientes, resíduos); projetos de cidades sustentáveis (projeto arquitetônico, telhado verde, energia, ventilação) e por fim, o planejamento de políticas econômicas e sociais implícitas pela agricultura urbana e de urbanização, desafios colocados pelos limites de recursos, mudanças climáticas e produção de alimentos. Como sugestão de pesquisa fica a proposta de investigar as motivações para o uso da agricultura urbana e o perfil dos agricultores e fazendas em países emergentes, se em geral o excedente produzido é vendido, trocado ou doado. Sugere-se ainda a pesquisa da compreensão de quais seriam as fontes de conhecimento sobre o tema e técnicas de manejo. A investigação da relação entre a produção urbana e a forma de cultivo e comercialização orgânica pode implicar em resultados importantes, já que, apesar de ser uma oportunidade para uso de práticas sustentáveis, nem sempre estes agricultores optam pela produção sem agrotóxicos e químicos. Outra sugestão seria a verificação da relação entre a produção urbana e a produção de produtos minimamente processados ou com pouco processamento como geléias, bolos, doces, etc. Referências
AFRANE, Yaw Asare et al. Does irrigated urban agriculture influence the transmission of malaria in the city of Kumasi, Ghana? Acta
tropical, v. 89, n. 2, p. 125-134, 2004.
ALTIERI, Miguel A. et al. The greening of the ―barrios‖: Urban agriculture for food security in Cuba. Agriculture and Human Values, v. 16, n. 2, p. 131-140, 1999.
BLACKMORE, Willy. Urban Agriculture Can’t Feed Us, but That Doesn’t Mean It’s a Bad Idea. Disponível em < http://www.takepart.com/article/2016/05/10/urban-agriculture> Acesso em julho de 2016.
DIMITRI, Carolyn; OBERHOLTZER, Lydia; PRESSMAN, Andy. Urban agriculture: connecting producers with consumers. British Food Journal, v. 118, n. 3, p. 603-617, 2016.
FLETCHER, Owen. The Future of Agriculture May Be Up. 2012. The Wall Street Journal. Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443855804577602960672985508 >, Acesso em julho de 2016.
FISCHETTI, Mark. Growing vertical. Scientific American, v. 18, p. 74-79, 2008.
GARCIA, Bea Clarise B. et al. Fecal contamination in irrigation water and microbial quality of vegetable primary production in urban farms of Metro Manila, Philippines. Journal of Environmental Science and Health, Part B, v. 50, n. 10, p. 734-743, 2015.
GARDINER, Mary M. et al. Vacant land conversion to community gardens: influences on generalist arthropod predators and biocontrol services in urban greenspaces. Urban ecosystems, v. 17, n. 1, p. 101-122, 2014.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GROVA, Nathalie et al. Gas chromatography-mass spectrometry study of polycyclic aromatic hydrocarbons in grass and milk from urban and rural farms. European Journal of Mass Spectrometry, v. 6, n. 5, p. 457, 2000.
HASHIM, Nadra. Reversing food desertification: examining urban farming in Louisville, Chicago and Detroit. Local Environment, v. 20, n. 6, p. 611-636, 2015.
KAUFMAN, J.L.; BAILKEY,M. 2000. Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States. Lincoln Institute of
Land Policy, Cambridge, MA.
KAMMEN, Daniel M.; SUNTER, Deborah A. City-integrated renewable energy for urban sustainability. Science, v. 352, n. 6288, p. 922-928, 2016.
LARSEN, Tove A. et al. Emerging solutions to the water challenges of an urbanizing world. Science, v. 352, n. 6288, p. 928-933, 2016.
MAYER-SMITH, Jolie; BARTOSH, Oksana; PETERAT, Linda. Teaming children and elders to grow food and environmental consciousness. Applied Environmental Education and Communication, v. 6, n. 1, p. 77-85, 2007.
MEHARG, A. Perspective: City farming needs monitoring, Nature, 531, S60, (17 March 2016) doi:10.1038/531S60a, 16 March 2016.
MEYER, Nanna L. GOOD FOOD, HEALTH, AND SUSTAINABILITY: AN INTRODUCTION FOR HEALTH PROFESSIONALS: Global Challenges—Local Opportunities. ACSM's Health & Fitness Journal, v. 19, n. 4, p. 12-21, 2015.
MUCHADENYIKA, Davison. Land for Housing: A Political Resource–Reflections from Zimbabwe’s Urban Areas. Journal of Southern
African Studies, v. 41, n. 6, p. 1219-1238, 2015.
NAPAWAN, N. Claire. Production Places: Evaluating Communally-Managed Urban Farms as Public Space. Landscape Journal, v. 34, n. 1, p. 37-56, 2015.
POULSEN, Melissa N. Cultivating citizenship, equity, and social inclusion? Putting civic agriculture into practice through urban farming. Agriculture and Human Values, p. 1-14. PORTER, J. R., Deutsch, L., Dumaresq, D., Dyball, R. How will growing cities eat? Nature, v. 469, n. 7328, p. 34-34, 2011.
RAMASWAMI, A., RUSSELL, A. G., CULLIGAN, P. J., SHARMA, K. R.; KUMAR, E. Meta-principles for developing smart, sustainable, and healthy cities. Science, v. 352, n. 6288, p. 940-943, 2016.
RECASENS, Xavier; ALFRANCA, Oscar; MALDONADO, Luis. The adaptation of urban farms to cities: The case of the Alella wine region within the Barcelona Metropolitan Region. Land Use Policy, v. 56, p. 158-168, 2016.
ROGUS, Stephanie; DIMITRI, Carolyn. Agriculture in urban and peri-urban areas in the United States: Highlights from the Census of Agriculture.Renewable Agriculture and Food Systems, v. 30, n. 01, p. 64-78, 2015.
SETO, Karen C.; RAMANKUTTY, Navin. Hidden linkages between urbanization and food systems. Science, v. 352, n. 6288, p. 943-945, 2016.
SEWART, A.; JONES, K. C. A survey of PCB congeners in UK cows' milk.Chemosphere, v. 32, n. 12, p. 2481-2492, 1996.
SURLS, Rachel et al. Gearing up to support urban farming in California: Preliminary results of a needs assessment. Renewable Agriculture
and Food Systems, v. 30, n. 01, p. 33-42, 2015.
TAYLOR, John R.; LOVELL, Sarah Taylor. Urban home gardens in the Global North: A mixed methods study of ethnic and migrant home gardens in Chicago, IL. Renewable Agriculture and Food Systems, v. 30, n. 01, p. 22-32, 2015.
TRYBA, Ashley. Filling the Void with Food: Urban Gardens as Safe Spaces and Alternatives to Vacant Land. In: Enabling Gender
Equality: Future Generations of the Global World. Emerald Group Publishing Limited, 2015. p. 93-110.
VAGNERON, Isabelle. Economic appraisal of profitability and sustainability of peri-urban agriculture in Bangkok. Ecological economics, v. 61, n. 2, p. 516-529, 2007.
VOGEL, Gretchen. Upending the traditional farm. Science, v. 319, n. 5864, p. 752-753, 2008.
WHITE, Monica M. ENVIRONMENTAL REVIEWS & CASE STUDIES: D-Town Farm: African American Resistance to Food Insecurity and the Transformation of Detroit. Environmental Practice, v. 13, n. 04, p. 406-417, 2011.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Cultura e Comercialização do Fumo na Corede Rio da Várzea
Daniele Silva Martins de Oliveira1, Maielen Lambrecht Kuchak
2, Guilherme Moraes Vargas
3,
Mônica Rodrigues Prestes4, Juliana Crema
5.
1Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 2Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 3Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 4Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 5Universidade Federal de Santa Maria, [email protected]
Resumo. Este trabalho tem como objetivo fazer a análise da produção e comercialização do fumo no Corede
Rio da Várzea. A presente pesquisa pode ser caracterizada como quantitativa, com base em levantamento de
dados secundários de diferentes fontes analisadas. Na análise da cadeia produtiva do fumo evidencia-se que
para 2015/2016, a estimativa de produção passa a ser de 607.010 toneladas de tabaco produzido nos três
estados do Sul do Brasil – (529.415 de Virgínia, 66.586 de Burley e 11.010 de Comum), contra a estimativa de
produção da atual safra, que é de 695.850 toneladas (601.610 de Virgínia, 83.230 de Burley e 11.010 de
Comum). No que se refere o volume da produção do fumo em toneladas, os municípios que se destacam são:
Liberato Salzano (803 toneladas), Cerro Grande (203 toneladas), Rondinha (162 toneladas), Jabuticaba (180
toneladas), Constantina (40 toneladas), Três Palmeiras (10 toneladas), sendo que os demais municípios do
Corede Rio Várzea não são produtores desta commoditie ou possuem produção abaixo de 10 toneladas.
Palavras-chave. Fumo, comercialização, produção, corede Rio da Várzea.
Culture and Tobacco Marketing in Corede River Lowland
Abstract. This paper aims to make an analysis of the production and marketing of tobacco in COREDE River
Várzea.A this research can be characterized as quantitative, based on a survey of secondary data from different
sources analyzed. In the analysis of the tobacco production chain is evident that for 2015/2016, the estimated
production is increased to 607 010 tons of tobacco produced in the three southern states of Brazil - (529,415 of
Virginia, Burley 66,586 and 11,010 Common) against the estimated production of the current crop, which is
695,850 tons (601,610 of Virginia, Burley and 83,230 Common 11,010). As regards the volume of tobacco
production in tons, municipalities that stand out are: Liberato Salzano (803 tons), Cerro Grande (203 tons),
Rondinha (162 tons), Jabuticaba (180 tons), Constantine (40 tons ), Three Palms (10 tons), and the other
municipalities of Rio COREDE Lowland are not producers of this commodity or production have less than 10
tons.
Keywords. Smoking, marketing, production, corede River Lowland.
Introdução
Este presente artigo irá tratar da caracterização e comercialização do fumo, com pesquisa de dados feita no site da Corede Rio da Várzea – Palmeira das Missões, Chapada, Nova Boa Vista, Sarandi, Barra Funda, Novo Barreiro, São José das Missões, São Pedro das Missões, Boa Vista das Missões, Jabuticaba, Cerro Grande, Liberato Salzano, Constantina, Lajeado do
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Bugre, Sagrada Família, Engenho Velho, Três Palmeiras, Ronda Alta, Rondinha - e alguns sites das diversas fumageiras que o Rio Grande do Sul possui.
O fumo é denominado de Nicotiana tabacum L., pertence à família Solanaceae e é originário da América do Sul (SOARES, et al. 2008). A folha seca da planta Nicotiana tabacum é usada para fumar, mascar ou aspirar (FIGUEIREDO, 2008). Também possui alguns sinônimos como: Nicotiana chinensis Fisch. ex Lehm.; Nicotiana mexicana Schltdl.; Nicotiana mexicana var. rubriflora Dunal e Nicotiana pilosa Dunal, que revela portanto, que ele é derivado da nicotina.
A produção mundial de fumo é concentrada em poucos países, como, China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Zimbábue e Indonésia que são responsáveis por cerca de 70% da produção, sendo que cerca de 30% é voltado à exportação (TOBACCO ATLAS, 2007 apud FIGUEIREDO, 2008). O Brasil é o maior exportador mundial de fumo e o segundo maior em produção segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2008 apud HEEMANN, 2009). A maior parte da produção é concentrada na região do Sul, onde os agricultores ficam caracterizados por minifundiários.
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção e a comercialização do fumo no Corede Rio da Várzea, identificar a quantidade de fumo produzido e comercializado no estado do Rio Grande do Sul, assim como mapear a concentração da produção e realizar um comparativo centre os municípios deste COREDE Rio da Várzea.
Referencial Teórico
Cultivo Do Tabaco
A planta do tabaco é de aproximadamente dois metros de altura e é coberta de pelos viscosos. Os caules são eretos, robustos, cilíndricos e ramosos. As folhas são alternas, sésseis, ovais, pegajosas, com nervuras muito salientes na página inferior e de cor verde mais carregado na página superior, de cheiro fraco e sabor levemente picante, amargo e nauseoso. As flores são grandes, rosadas, munidas de brácteas dispostas numa espécie de panícula na extremidade dos ramos, tendo cálice tubuloso, esverdeado e o fruto forma uma cápsula ovóide, encerrando com grandes quantidades de sementes muito pequenas, rugosas, irregularmente arredondadas (BOIEIRO, 2008).
O tabaco é cultivado em uma grande amplitude de climas, entretanto, necessita de 90 a 120 dias sem geadas, cobrindo desde a fase de transplantio ao final da colheita.Primeiramente é feito um canteiro de aproximadamente 25 metros de comprimentos por 1,80 metros de largura. O plantio do mesmo ocorre em duas etapas:
• Produção das mudas: essa produção ocorre nos meses de junho e julho, onde germinam após 12 à15 dias. Quando as mudas atingem 7 cm de comprimento é necessário que seja realizado a primeira poda para que assim melhora a uniformidade na altura e diâmetro do caule, e após 60 dias ela atingem um porte ideal para que possa ser transplantadas para a lavoura.
• Cultivo em lavoura: é necessário nesta etapa que o fumicultor lavre e gradei, aduba e prepara as vergas para que possa ser feito então o plantio do fumo; usam plantas de cobertura para aumentar a quantidade de palha na superfície na busca de um ambiente mais favorável à umidade, temperatura e no controle da erosão hídrica do solo. Para isso se faz a construção do camalhão, fazendo com que a água passe pelas vergas que serve de escoador, não afetando assim a planta, outra maneira é o plantio de aveia, que aduba, protege e conserva umidade, pois nesta época as chuvas são de menor intensidade.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS O tabaco possui diferentes espécies, veremos as mais conhecidas que são: tabaco Virginia, tabaco Burley e tabaco oriental. A colheita é feita após 10 dias depois de ser desbrotado (retirada de flores e brotos), considera-se bem maduro quando seu talo fica esbranquiçado, a folha quebra-se facilmente na parte do caule, a presença de manchas necróticas nas folhas e a cor fica verde pálida. Seca ao ar livre, ao sol ou até mesmo na estufa (depende do produtor). Depois de secas, as folhas são classificadas (separadas), por uma classificação pré- estabelecida pela empresa fumageira. Depois disso, são feitas manocas (maços de folhas da mesma classe, amarradas juntas) e vendido o produto. As épocas de realização dessas tarefas variam conforme a região.
Tabaco versus Saúde
O fumo pode causar sérios riscos à saúde dos agricultores que trabalham no cultivo da planta, além da alta quantidade de agrotóxicos utilizada durante o desenvolvimento do fumo, a colheita também pode causar problemas, pois ao arrancar a folha, o agricultor entra em contato direto com a nicotina, sofrendo intoxicações.
Os inseticidas organofosforados e os carbamatos são inibidores de enzimas fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso e essas substâncias são absorvidas pelo organismo através do contato com a pele, por ingestão, ou inalação, atuam no sistema nervoso central, no sangue e em outros órgãos. Seus sintomas são: suor abundante, intensa salivação, lacrimeja mento, fraqueza, tontura, dores abdominais e cólicas, visão turva e embaraçado e em casos mais sérios, a vítima pode ter vômitos, dificuldade respiratória, colapso, e convulsões.
Por outro lado, os agrotóxicos compostos por piretróides são absorvidos pelo trato digestivo, pela via respiratória e pela cutânea, não são muito tóxicos, mas irritam os olhos e mucosas, causam alergias na pele e asma brônquica. Seus sintomas iniciais são: formigamento nas pálpebras e nos lábios, irritação das conjuntivas e mucosas e espirros. Após pode aparecer coceira intensa, manchas na pele, secreção e convulsões.
A comercialização
BRANDT (1980) e MENDES (1994) ressaltam que, comercialização é o desempenho de todas as atividades necessárias ao atendimento das necessidades e desejos dos mercados, planejando a disponibilidades da produção, efetuando transferência de propriedade dos produtos, promovendo meios para a sua distribuição física e facilitando a operação de todo o processo de mercado. No caso da cadeia produtiva do fumo o estudo da comercialização é um importante instrumento de análise, pois possibilita identificar os agentes personagens da cadeia assim como de que forma contribuem ao longo da mesma.
Para MENDES (1994), a Margem (M) de comercialização refere-se à diferença entre preços a diferentes níveis do sistema de comercialização. A margem total (Mt) é a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor, que este instrumento no presente trabalho é um importante componente deste trabalho, pois com ele é possível compreender o processo de reajuste do preço ao longo da cadeia.
Metodologia
A presente pesquisa é caracterizada como quantitativa, com base em levantamento de dados secundários de diferentes fontes analisadas. Para Diehl e Totim (2004) a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações; utilizam-se técnicas estatísticas com o objetivo de encontrar respostas que
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS determinam as relações de causa e efeitos entre as variáveis. Para o levantamento de dados secundários, foram utilizadas as bases de dados do IBGE e AFUBRA.
Os dados foram manipulados com o auxílio do software livre BrOffice/ LibreOffice 2013, a tabulação ocorreu de modo a elaborar tabela e figuras para a melhor compressão das informações obtidas que serão demonstradas na apresentação dos resultados. Diehl e Tatim (2004) acreditam que a análise inclui a constatação, o esclarecimento e a especificação das variáveis e a interpretação busca oferecerem amplamente o significado das respostas.
Resultados
A concentração das principais plantas de processamento das empresas agroindustriais no Rio Grande do Sul está na microrregião de Santa Cruz do Sul, notadamente nas cidades de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz, que processam cerca de 80% da produção de tabaco realizada no Sul do Brasil. O restante do processamento é realizado em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Blumenau, situadas em microrregiões onde não ocorre uma significativa produção de tabaco, e no Paraná em Rio Negro (Conforme Figura 1). Nesses Estados, à distância em relação às principais e maiores usinas de processamento instaladas no Rio Grande do Sul, levou às empresas a instalarem unidades de compra de tabaco próximas às áreas de produção, que depois encaminham o tabaco para o processamento nas usinas gaúchas.
Nota-se também que nesta região estão localizadas as principais organizações políticas e sindicais representantes das empresas, como o Sindicato das Indústrias de Tabaco (SINDITABACO), com sede em Santa Cruz do Sul, e dos produtores de tabaco, como são os casos da Associação dos Fumicultores do Brasil – AFUBRA, com sede em Santa Cruz do Sul-RS, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF – SUL), com sede em Chapecó-SC, e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), organizado nos principais municípios produtores de tabaco.
Tais atores com distintos interesses políticos e estratégias diferenciadas de ação ditadas pela sua posição política na disputa em relação à apropriação e distribuição dos ganhos advindos com a cultura do tabaco, tem participado ativamente do processo de organização espacial e de usos do território na região. Segundo os dados do site da AFUBRA, para 2015/2016, a estimativa de produção passa a ser de 607.010 toneladas de tabaco produzido nos três estados do Sul do Brasil – (529.415 de Virgínia, 66.586 de Burley e 11.010 de Comum), contra a estimativa de produção da atual safra, que é de 695.850 toneladas (601.610 de Virgínia, 83.230 de Burley e 11.010 de Comum).
Figura 1: Região Sul do Brasil: principais microrregiões produtoras de tabaco em folha e unidades de compra e processamento industrial de tabaco – 2006
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. Sites das Empresas e Levantamento de Pesquisa de Campo, 2009.
Org. Mizael Dornelles e Rogério Silveira.
Observando o quadro 1, verifica-se que entre 1996 e 2006, no contexto da região, o principal Estado produtor permanece sendo o Rio Grande do Sul com 43% da produção regional e com 45% da área colhida de tabaco na região. Observa-se também que nesse período tivemos na região Sul um aumento expressivo de 154% na produção de tabaco, resultante do acréscimo de 249 mil novos hectares colhidos com tabaco.
Quadro 1: Brasil, Região Sul e Estados: quantidade produzida, área colhida e produtividade da lavoura de tabaco - 1996 e 2006.
Unidades Territoriais Quantidade Produzida em
toneladas Área colhida em hectares
Produtividade em tonelada/hectare
1996 2006 1996 2006 1996 2006 Brasil 451.418 1.109.036 304.376 567.970 1.48 1.95
Sul 413.342 1.049.724 267.234 516.733 1.55 2.03 Paraná 53.128 294.660 38.160 127.923 1.39 2.30
Santa Catarina 163.310 306.530 101.520 154.702 1.61 1.98 Rio Grande do Sul 196.904 448.534 127.554 234.108 1.54 1.92
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1996 e 2006.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS No entanto, é preciso considerar que esse forte aumento na produção deve-se também ao aumento da produtividade na lavoura de tabaco. Os dados evidenciam que se em 1996, a produtividade era, em média, de 1,55 tonelada/hectare, em 2006 ela ampliou para 2,03 tonelada/hectare.
Figura 2: Produção da fumicultura mundial.
FONTE: ITGA / Afubra
Dentre esses países da figura acima, a China se destaca como maior produtora, tanto crú, quanto processado, se sobressaindo ainda como grande importadora, ficando apenas em último lugar no que se refere à exportação, também é o que mais consome este produto, já o Brasil, é o país que mais exporta. Estados Unidos é o que possui maior quantidade em estoque, mas nos outros quesitos fica em equilíbrio com os demais países.
Quadro 2: Relação das cidades referente à produtividade.
UF CIDADES PRODUÇÃO/TONELADAS
RS BARRA FUNDA 0
RS BOA VISTA DAS MISSÕES 6
RS CERRO GRANDE 203
RS CHAPADA 4
RS CONSTANTINA 40
RS ENGENHO VELHO 0
RS JABOTICABA 180
RS LAJEADO DO BUGRE 0
RS LIBERATO SALZANO 803
RS NOVA BOA VISTA 0
RS NOVO BARREIRO 0
RS NOVO XINGÚ 8
RS PALMEIRA DAS MISSÕES 0
RS RONDA ALTA 4
RS RONDINHA 162
RS SAGRADA FAMÍLIA 0
RS SARANDI 4
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
RS SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 0
RS SÃO PEDRO DAS MISSÕES 0
TRÊS PALMEIRAS 10
Fonte: IBGE
Conforme o quadro 2, a cidade com maior volume em toneladas produzidas é a município de Liberato Salzano, com 803 toneladas ao ano, em seguida, com 203 toneladas fica com Cerro Grande, 180 toneladas em Jaboticaba, e 162 em Rondinha, os demais, produzem menos de 10 toneladas ou não produzem o tabaco.
Para este e o próximo ano a expectativa não será a mesma, pois houve uma queda na produção e comercialização do produto devido ao crescimento da produção em outros países, principalmente no continente Africano, o que preocupa a Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), que incentivou os produtores a reduzir a área plantada, adequando a produção à demanda, pois o que regulamenta o mercado do fumo é a lei de oferta e procura que teve seu preço no ano passado em média de R$115,00 por arrouba, já neste ano sua oferta ficou entre R$40,00 e R$80,00 reais. Desta forma, é possível concluir que o Rio Grande do Sul, é responsável por cerca de 80% do processamento da produção de tabaco do sul do país.
CONCLUSÃO
Nesse presente artigo foi apresentado e analisado a produção e comercialização do tabaco, e a partir dos dados coletados foi possível constatar que os produtores enfrentam vários problemas relacionados desde o plantio até a colheita, ainda como fator prejudicial tem as doenças causadas pela planta, que é ocasionada devido à alta utilização de agrotóxicos e inseticidas, sendo que muito agricultores não utilizam proteção necessária durante a colheita do fumo.
O resultado gerado apresentou ainda que o tabaco possui várias espécies, sendo mais conhecido e produzido o burley, virgínea e o oriental, e esses por sua vez tem concentração nas principais empresas de processamento agroindustriais no Rio Grande do Sul e está na microrregião de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires e Vera Cruz, que processam cerca de 80% da produção de tabaco realizada no Sul do Brasil.
Além disso, de acordo com os resultados foi possível relatar que a produção mundial de fumo é concentrada em poucos países, como, China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Zimbábue e Indonésia que são responsáveis por cerca de 70% da produção.
Sendo assim é possível concluir que o tabaco por sua vez, levou às empresas a instalarem unidades de compra próximas às áreas de produção, que depois encaminham o tabaco para o processamento nas usinas gaúchas, facilitando assim a comercialização da planta, dando maior lucratividade aos produtores.
Referências Bibliográficas
AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil: banco de dados. Disponível em:< http://www.afubra.com.br/blog/?p=9794>. Acesso em: 26 mai. 2015. BOIEIRO, M. Tabaco. Portugal, 2008. Disponível em <http://institutohipocratesonline.com/index.php/medicinas-nao-convencionais/fitoterapia/192-tabaco.html>. Acesso em: 25 mai. de 2015.
BRANDT, S. A. Comercialização Agrícola. Piracicaba: Ed. Livroceres, 1980.
DIEHL, A. A; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS FIGUEIREDO, A. Programa de diversificação de lavouras de tabaco nas encostas da serra geral, atividades e potencialidades . Florianópolis, SC: Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias, 2008.
G1, Cultivo de fumo pode causar riscos à saúde de agricultores, diz estudo. 2014. Disponível em:< http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2014/01/cultivo-de-fumo-pode-causar-riscos-saude-de-agricultores-diz-estudo.html>. Acesso em: 26 mai. 2015. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: banco de dados. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=uf&coduf=43&idtema=137&codv=V76>. Acesso em: 26 mai. 2015. MENDES, J.T. Comercialização Agrícola. Curitiba, Paraná. Ed. Universitária. 100p. 1994.
OLIVEIRA, F; COSTA, M. C. F. Dossiê Técnico: Cultivo do fumo (Nicotiana tabacum L.). São Paulo: Serviços Brasileiros de Respostas Técnicas - Sbrt, 2012. 26 p.
SOARES, E. L. C. et al. Família Solanaceae no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências, v. 6, n. 3, p. 177-188, jul./set., 2008.
TROIAN, A. et al. O uso de agrotóxicos na produção de fumo: algumas percepções de agricultores da comunidade cândido brum, no município de Arvorezinha (RS). Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, v. 4, n. 2, p.1-20, 26 jul. 2009.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Análise da Competitividade dos Pequenos Laticínios da Região do Vale do
Braço do Norte
Ivone Junges 1, Rodney Wernke 2, Guilherme Martins Inácio 3
1Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul, Grupem (Grupo de Pesquisas em Empreendedorismo e Gestão
de Micro e Pequenas Empresas, [email protected] 2Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul, Grupem (Grupo de Pesquisas em Empreendedorismo e Gestão
de Micro e Pequenas Empresas, [email protected] 3Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, Guilherme.iná[email protected]
Resumo. O objetivo da pesquisa é avaliar o desempenho competitivo dos pequenos laticínios da região do Vale
do Braço do Norte, sul de Santa Catarina. O método escolhido foi o estudo de multi-casos, pois trata-se de uma
coleta de dados e informações com o objetivo de traçar um perfil do fenômeno estudado. Para as entrevistas
foram realizadas visitas aos compradores do setor e entrevistas em profundidade com oito gestores de laticínios
com apoio de um formulário roteiro norteador. Em termos qualitativos foi realizada análise dos depoimentos -
percepção dos empresários - e em termos quantitativos utilizou-se a técnica de estatística descritiva,
especialmente média aritmética e frequência de respostas. Alguns resultados: A maior parte dos laticínios investe
no monitoramento das atividades agrícolas por meio de consultorias técnicas de um agrônomo. Essas atividades
são financiadas pelos laticínios, no entanto, três empresas têm financiado o gerenciamento das propriedades
agrícolas em termos de manejo da pastagem, ordenha, saúde do gado leiteiro, entre outros serviços, sendo que
uma empresa financia a compra de bens de capital para os agricultores, sem a cobrança de juros. Uma das
importantes conclusões do estudo é que não existe na região uma vocação para a formação de cluster do
agronegócio em laticínio. As atividades são realizadas individualmente e a cooperação e a formação de parcerias
interfirmas não foram identificadas.
Palavras-chave. Laticínios; Competitividade, Vale do Braço do Norte
Competitiveness Analysis of Small Dairy of Braço do Norte Valley Region
Abstract. The objective of research is to evaluate the competitive performance of the small dairy from of Braço do
Norte Valley Region, south of Santa Catarina. The chosen method was study multi cases, because it is about data
and information collect with the objective of to draw a profile of the phenomenon studied. For the interview were
performed visits to the sectors buyers and performed depth interview with eight dairy gesture with support of a
script quiz to guide. In qualitative terms it was performed statement analysis – business perception – and in
quantitative terms used descriptive statistic technic, specially arithmetic mean and the frequency of the answers.
Some results: The most part of the dairy invest in monitoring of agricultural activities by consulting technic with
an agronomist. These activities are sponsored by dairy, however, three companies have sponsored the
management of agricultural proprieties in terms of pasture management, milking, health of dairy cattle, among
other services, and one company sponsor the buy of capital goods for the farmers without charging of taxes. One
of the important conclusions is that there is not in the region a vocation of cluster formation of agribusiness in
dairy. The activities are performed individually and the cooperation and the formation of partnerships
intercompany were not identified.
Keywords. Dairy products; Competitiveness, Braço do Norte Valley.
Introdução
A indústria catarinense de laticínios, bem como a nacional, está inteiramente voltada
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS para o mercado interno e está concentrada em poucas empresas. Contudo, com pequena participação destacam-se também as agroindústrias de pequeno porte. Prezotto (2002) destaca que em Santa Catarina são 363 agroindústrias de pequeno porte ligadas à produção de leite.
No âmbito catarinense as agroindústrias de pequeno porte não se reduzem à transformação do leite, mas incluem uma ampla variação de produtos e estão tomando cada vez mais vulto. Esta forma de produzir recebeu novo incentivo em 1998, quando foi lançado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. O objetivo de oferecer recursos adicionais para agricultores familiares com a intenção de melhorar inseri-los integralmente na cadeia produtiva, melhorando a sua produção agropecuária, agroindustrializando e comercializando a sua produção. (PREZOTTO, 2002)
Agroindústrias de pequeno porte são geralmente consideradas formas eficientes de desenvolvimento rural no país e possuem muitas vantagens advindas do sucesso desse arranjo produtivo, como redução do êxodo rural, distribuição da renda e melhoria do bem-estar rural. Constata-se que a sobrevivência destas empresas ainda é baixa. Entre as causas identificadas citam-se: baixa escala de produção, alta concorrência, baixa sofisticação tecnológica e focadas em públicos de baixa renda, além de que competem com grandes players multinacionais e nacionais (FARINA, 1999; BATALHA, 2001; BATALHA, 2001, v. 1; BATALHA, 2001, v. 2; CALDAS, 1998).
A formulação de uma estratégia de operações requer a definição prévia de sua estratégia de negócios. Dessa definição decorre a determinação dos critérios competitivos que devem ser priorizados, que constitui o ponto de partida para a realização do diagnóstico estratégico das operações. Critérios competitivos são definidos como sendo um conjunto consistente de prioridades ou fatores competitivos que a empresa tem de valorizar para competir com sucesso (BARROS NETO; FENSTERSEIFER, 2000; CANUDO, 2006; CONTADOR, 2005; HILL, 1995).
Na definição da estratégia de negócios pode haver significativas diferenças na importância atribuída aos critérios competitivos para os diferentes segmentos de mercado em que a empresa atua. Por exemplo: para o segmento “A” o critério mais importante pode ser preço; para o segmento “B” pode ser um critério relacionado à qualidade, o que implica na necessidade de desenvolver estratégias de operações específicas para cada segmento, sob pena de não ser competitivo em nenhum deles. Mas, podem haver elementos comuns entre as prioridades competitivas de cada segmento, ou mesmo entre as estratégias de negócios de empresas diversificadas (ZYLBERSZTANJN, 1993; STAMMER et al, 1995). Neste sentido, é possível identificar políticas amplas a respeito de determinadas decisões de operações que são comuns a vários segmentos de mercado. A essas políticas comuns, Wheelwright (1984) refere-se como estratégias corporativas de operações, pois requerem uma perspectiva corporativa na sua formulação. Na seleção das prioridades competitivas, Paiva, Carvalho Jr. e Fensterseifer (2004) destacam que para uma empresa ser competitiva ela deve focalizar suas operações em um ou poucos critérios competitivos e formular estratégias consistentes de operações. Os trade-
offs que impedem a empresa de competir em um conjunto amplo de critérios nos diversos segmentos devem ser criteriosamente analisados.
Uma vez definidos e priorizados os critérios competitivos, e consequentemente o foco do negócio, faz-se necessário definir como a área de operações dará suporte aos critérios competitivos priorizados. Esse suporte dar-se-á através de um conjunto coerente de políticas para cada categoria de decisão estratégica das operações. As categorias de decisão são divididas em estruturais: capacidade, instalações, tecnologia e integração vertical, que se caracterizam por serem mais onerosas, de longo prazo e de difícil reversão; e infra-estruturais: organização
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS da produção, força de trabalho, gerência de qualidade, relação com fornecedores e planejamento e controle de produção, que se caracterizam por serem decisões menos onerosas, de mais curto prazo que as estruturais e de mais fácil reversão (BARROS NETO; FENSTERSEIFER, 2000).
Com o objetivo de gerar informações capazes de apoiar a melhoria da competitividade dessas empresas dentro desse contexto, fazem-se as seguintes questões de pesquisa: Quais os critérios competitivos do setor? Qual o desempenho das pequenas empresas do setor de laticínios do Vale do Braço do Norte nesses critérios? Em quais critérios competitivos é possível obter vantagem competitiva? Que ações podem ser desenvolvidas, numa perspectiva corporativa para a melhoria da competitividade dessas empresas. Nessa direção, o objetivo da pesquisa é avaliar o desempenho competitivo dos pequenos laticínios da região do Vale do Braço do Norte.
Materiais e Métodos
O método escolhido foi o estudo de multi-casos, pois trata-se de uma coleta de dados e informações com o objetivo de traçar um adequado perfil do fenômeno estudado. Apesar do método ser preferencialmente utilizado para entender situações novas e pouco conhecidas, é utilizado também para desenvolver novas teorias. A metodologia pode tanto validar, explorar ou até mesmo refutar teorias (YIN, 2005).
O estudo de estratégia está fortemente vinculado com o contexto no qual a empresa está inserida e não é possível avaliar as alternativas estratégicas sem o profundo conhecimento do ambiente em torno da mesma. Essa dificuldade em separar o fenômeno do contexto é um importante fator na consideração da utilização do estudo de caso como metodologia de pesquisa (MALHOTRA, 2001).
As formas de coleta de dados utilizadas foram basicamente duas: entrevista em profundidade e a coleta estruturada de dados. A entrevista em profundidade é definida como uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal, em que um único respondente é testado por um entrevistador treinado para descobrir motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico (MALHOTRA, 2001).
Com o objetivo de descobrir novos critérios competitivos, essas entrevistas em profundidade foram realizadas com empresários ligados aos segmentos compradores do setor de laticínios. Por meio desta pesquisa, aliada à revisão de literatura, foi possível gerar os questionários para a coleta estruturada de dados. A coleta estruturada de dados é a utilização de um questionário formal que apresenta questões em uma ordem predeterminada No caso em estudo foram dois, sendo um de importância e um de desempenho, aplicados aos segmentos compradores do setor, após a realização de um pré-teste. Além de obter os critérios mais importantes, possibilitou verificar o desempenho das empresas nesses critérios. O pré-teste do questionário consiste em um teste com uma pequena amostra de entrevistados, visando identificar e eliminar problemas potenciais (MALHOTRA, 2001).
Para a realização das entrevistas em profundidade foram efetuadas visitas aos compradores do setor. Para a concretização do estudo, inicialmente foi realizado um contato telefônico informando da pesquisa e importância de sua participação. Em seguida, foi realizada a entrevista e a visita técnica em oito laticínios da região estudada.
A análise das entrevistas em profundidade foi realizada quali e quantitaviamente, considerando as respostas dos entrevistados ao questionário utilizado para nortear as entevistas. Desse modo, em termos qualitativos foi realizada análise dos depoimentos - percepção dos empresários e em termos quantitativos utilizada a técnica de estatística descritiva, especialmente média aritmética e frequência de respostas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Resultados
A análise segue a ordem de divisão das variáveis que compõem o questionário de pesquisa. Isto significa que a análise dos dados está dividida em quatro partes: caracterização da empresa, competências e critérios competitivos, ferramentas de gestão e visão sistêmica do setor.
As empresas são relativamente jovens, isto é, implantadas nas décadas de 1990 e 2000, com exceção de duas empresas que atuam há mais tempo no mercado: uma iniciada na década de 1960 e outra na década de 1980. Uma característica interessante é que a maioria dos empreendedores era jovem quando iniciou o negócio e todas as empresas ainda são administradas pelos fundadores. Os principais produtos produzidos pelos laticínios da região são “queijo prato tipo colonial”, “queijo mussarella”, “ricota”, “serrano”, “provolone”, “parmesão”, “creme de leite (nata)”, “manteiga”, “bebida láctea (iogurte)”, “requeijão” e “doce de leite”.
A produção mensal de queijos varia de 10 toneladas até 120 toneladas, dependendo da capacidade produtiva do laticínio. A produção mensal de ricota varia de 1 tonelada até 6 toneladas. A produção mensal de creme de leite varia de 2 toneladas até 25 toneladas. A produção mensal manteiga varia de 500 kg até 10 toneladas. A produção mensal de bebida láctea varia de 1000 litros até 10.000 litros. Quanto aos demais produtos, a escala produtiva é em torno de 1 tonelada por mês.
No que se refere ao mercado atendido pelos laticínios da região, a maior parte dos clientes é da região sul do Estado e litoral sul e norte de Santa Catarina.
Um dos grandes ganhos competitivos no setor de laticínios da região estudada foi a adequação ao sistema de inspeção. Atualmente todas as empresas possuem certificado da vigilância sanitária para atuar na área. Analisando os dados, observa-se que 33% das empresas usam o sistema de Inspeção Federal e 67% sistema de Inspeção Estadual. Isto significa dizer que a maior parte das empresas não pode atuar em nível nacional, e mesmo com aporte legal, a maioria atua no litoral catarinense e no sul de Santa Catarina.
Na questão do porte das empresas percebe-se que são, em sua maior parte, micros e pequenos negócios, fortalecendo uma tendência regional de sustentação das economias locais. Em termos de fornecimento todas as empresas de laticínios compram leite da região do Vale do Braço do Norte e de regiões vizinhas. Apenas uma empresa compra leite em outras regiões do Estado, isto é, das regiões norte e sul. A média de leite comprada varia entre 10.000 e 25.000 litros por dia.
Os fornecedores de equipamentos e outros bens de capital, bem como a manutenção dos equipamentos são, principalmente, de Itajaí (SC). Outros equipamentos são adquiridos no estado de São Paulo e em Caxias do Sul (RS), mas a maioria das empresas também utiliza a infraestrutura de fornecimento de equipamentos de fornecedores catarinenses. Os demais insumos são provenientes da região norte catarinense e dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná.
Dando sequência à análise dos dados, discutem-se a seguir as competências competitivas identificadas nos laticínios da região.
A partir da coleta de dados e do depoimento dos empresários do setor analisado, identificou-se que 56% das empresas têm profissionais especializados na administração, permitindo uma melhoria na gerência dos subsistemas organizacionais dos laticínios da região estudada; entretanto, 44% dizem que não existem profissionais qualificados em gestão de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS negócios para atuar na área. Nesse rumo, os gestores contam com a experiência e com métodos intuitivos na administração dos empreendimentos.
Quando entrevistados sobre a motivação dos seus empregados, 67% das empresas afirmam que a motivação pode ser considerada um diferencial. Mas, 33% dizem que a motivação dos funcionários não se caracteriza num diferencial da empresa em comparação com outras companhias do segmento, informando que os empregados não precisam ser motivados para exercer as diferentes funções dentro dos laticínios.
Quando questionados sobre os principais pontos fortes da empresa, a maioria dos proprietários dos laticínios aponta a higiene do processo produtivo e a qualidade dos produtos lácteos. Todos os empresários do setor acreditam que na produção de alimentos é imprescindível a higiene e a rigidez nos controles de qualidade da matéria-prima, incluindo o controle de qualidade e higiene do leite fornecido pelos produtores rurais.
Quando questionados sobre os pontos fracos, os entrevistados mencionam a tecnologia obsoleta, espaço físico e a qualidade do leite, pois nem todos os agricultores que trabalham com ordenha possuem o mesmo padrão de qualidade.
Outra questão apresentada na entrevista refere-se à existência na empresa de algumas atividades ou serviços considerados de referência no Estado de Santa Catarina. Nas empresas pesquisadas, essas atividades têm relação com uma abordagem estrutural no que se refere aos fatores da cadeia de produção. Por exemplo: a avaliação da qualidade do produto realizada pelos laboratórios de análises dos laticínios (06 empresas) e através de laboratórios externos (08 empresas); tempo de maturação maior do processo de produção, tornando o queijo mais leve e mais barato (01 empresa); fomento à melhoria da propriedade rural financiada pelo laticínio (01 empresa); assistência a agricultores controlados pelos lacticínios (01 empresa); acompanhamento na propriedade (05 empresas) e a credibilidade do empresário (01 empresa). O preço dos produtos também aparece como ponto forte para boa parte dos entrevistados (06 empresas).
As informações coletadas sinalizam que 67% das empresas afirmam que existem atividades e serviços que podem ser considerados “referência” no Estado de Santa Catarina e 33% dizem que não existe nenhum tipo de atividade que pode ser caracterizada como destaque na indústria catarinense de laticínios. Muitos dos empreendedores responderam que a qualidade do produto fabricado é um destaque no estado e que o processo também se destaca (40% das respostas).
O preço da concorrência influencia significativamente o preço de mercado. Foi possível observar que na totalidade das entrevistas a concorrência ocorre na compra do leite, isto é, o poder de barganha está com o produtor de leite. Esse é um dos raros casos em que o agricultor possui poder de barganha na cadeia produtiva do agronegócio.
A quantidade vendida tem influência no preço dos produtos lácteos no momento da negociação do preço entre o laticínio e o atacadista ou varejista. Essa prática não é regra geral, mas vem acontecendo em boa parte das transações comerciais.
Um outro ponto forte mencionado pelos entrevistados é o valor agregado dos produtos, especialmente a qualidade do queijo, tornando um diferencial competitivo no mercado. Os dados sustentam que o preço é formulado a partir de uma estimativa dos custos totais (todas as empresas), sendo que nenhum entrevistado afirmou utilizar alguma metodologia de custeio para se chegar no preço do produto. Como resultado da conquista de competitividade, tem-se como primeiro fator o crescimento dos investimentos em tecnologia para oito empresas respondentes. Seguido de sete indicações vem o aumento das vendas e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços, ou seja, empresas investindo em tecnologia e na qualidade dos seus produtos como forma de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS aumentar a competitividade no setor de laticínios. Por fim, a inovação como formar de aumentar o valor agregado dos produtos, sendo apontado por quatro das empresas entrevistadas. As estratégias de redução de custos da produção e de capacitação dos funcionários foram mencionadas por três empresas e duas empresas mencionaram ainda, a capacitação dos proprietários. Entretanto, uma das organizações diz que no setor é difícil reduzir custos.
Em alguns casos, a história da família dos sócios é empreendedora, constituída por comerciantes. Em um caso, um dos sócios tinha experiência no setor de comércio na área de alimentos e um frigorífico antes de implantar o laticínio. Nos últimos dois anos quatro das empresas pesquisadas afirmam que atingiram um montante de aproximadamente R$ 1.500.000,00 de faturamento bruto e duas acima dos R$ 2.200.000,00. Analisando as informações coletadas pode-se dizer que os laticínios têm um ganho médio bruto sobre o queijo na ordem de 30%. Esse é o produto que eles menos ganham, pois o preço médio do leite é elevado para a produção de queijo. A indústria ganha na escala. A ricota, a nata (creme de leite) e manteiga são os produtos com maiores ganhos em torno de 100%. A bebida láctea tem um custo muito baixo em termos de processo produtivo, mas tem custos elevados com embalagem, fazendo com que os empresários do setor não invistam continuamente neste produto.
No tocante aos principais problemas que prejudicam a competitividade, os entrevistados mencionam o alto preço das matérias-primas, especialmente o leite; o custo da mão de obra e a manutenção dos equipamentos. A maior parte dos equipamentos é de material inox e é caro. No que se refere à bebida Láctea, o maior custo é a embalagem. Outro custo bastante elevado é em relação à manutenção da fábrica. Em seguida são discutidas algumas questões referentes às ferramentas de gestão utilizadas pelas empresas estudadas. Todas as empresas pesquisadas apontam a “manutenção técnica” como a principal ferramenta de gestão utilizada, seguida do “teste de qualidade do leite” para oito empresas, da “pesquisa e desenvolvimento” para duas empresas e apenas uma empresa diz que os “entrepostos e outras ferramentas” são utilizados como instrumentos de gestão. Breitenbach e Santos de Souza (2008) pesquisaram sobre as estruturas de mercado e governança na cadeia produtiva do leite em pó no Rio Grande do Sul e chegaram a resultados similares de critérios de competitividade aos relatados neste estudo. De acordo com os depoimentos dos empresários, verificou-se que cinco empresas afirmam que o nível de qualificação do empresariado pode ser uma das principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento cultural da empresa. No entanto, a maior parte não possui qualificação na área de gestão de negócios (07 empresas). Quatro empresas dizem que a adoção de técnicas de gestão também pode ser considerada importante, sendo que três empresas adotam técnicas de planejamento estratégico e informatização dos setores que compõem o cluster. Por fim, apenas uma empresa utiliza técnicas de marketing rural e nenhuma empresa possui marketing internacional e nem certificado ISO 9000. Acerca disso, observou-se resultados similares no trabalho de Paiva, Carvalho e Fensterseifer (2004). As próximas análises dão conta da visão sistêmica do setor, procurando identificar se existe vocação para atuação empresarial na forma de agrupamento empresarial. Nesse sentido, os empresários respondentes acreditam que a região não tem vocação para atuar na forma de agrupamento empresarial e nem conta com as competências essenciais ao funcionamento do cluster. A explicação apresentada nas entrevistas é por causa da fraca cultura de associativismo. Por outro lado, numa visão sistêmica do setor, os empresários acreditam que os laticínios do Vale Braço do Norte melhoraram consideravelmente o desempenho econômico.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Características como aglomeração, crescimento, especialização, reinvestimento, exportações foram as mais citadas pelos entrevistados. Na opinião de um dos entrevistados “o laticínio é o principal crescimento na região e se não fossem os laticínios, o colono ainda estava no fumo e estaria numa situação muito ruim”. Segundo os depoimentos, a cultura local é individualista e não existe predisposição para o trabalho em conjunto, ou seja, não existe a possibilidade de parcerias interfirmas. Conclusões similares constam no estudo de Sicsú (2000), Junges (2004) e Hill (1994). Para cinco empresas pesquisadas, um dos principais mecanismos de inserção das instituições de apoio são os programas institucionais de treinamento e para apenas uma empresa os programas institucionais de pesquisa ou outros tipos de mecanismos.
As principais instituições de apoio técnico atuando na região são a Epagri (apoiando diretamente os produtores rurais), a Fatma (que atua no controle ambiental) e a Cidasc (que também atua com apoio técnico e capacitação dos produtores).
Conclusões
O estudo alcançou o objetivo geral proposto, uma vez que foi possível avaliar a competitividade no segmento estudado. Nesse sentido, é válido ressaltar os principais “achados” da pesquisa realizada, conforme enfatizado a seguir.
O segmento de laticínios pertence a uma cadeia produtiva quase completa na região do Vale do Braço do Norte, com vários “elos” identificados: produtor rural de leite, fornecedor de lenha para as caldeiras, fornecedor de mão de obra, alguns fornecedores de insumos produtivos, transporte, laticínios, atacadista, comerciantes e os consumidores. As empresas do segmento da região são em sua totalidade micros, pequenas e médias empresas e todas têm inspeção da vigilância sanitária, sendo que três têm inspeção federal e o restante tem inspeção estadual. Isso foi uma grande conquista para o segmento, gerando vantagens econômicas importantes. Os empresários são em sua maioria muito jovens e alguns empreendimentos já estão em processo de sucessão empresarial, onde efetivamente quem tem conduzido os negócios são os filhos, sendo que estes estão concluindo o terceiro grau na área de gestão. Entretanto, os fundadores ainda desempenham o papel principal na administração dessas companhias. Um dos pontos importantes da pesquisa é a baixa escolaridade dos empresários e isso explica a reduzida utilização de ferramentas de gestão, principalmente aquelas relacionadas com a gestão financeira do empreendimento. As ferramentas de controle de qualidade do processo produtivo e dos produtos são utilizadas por todos os empresários, principalmente pelo fato de ser uma exigência legal por parte da vigilância sanitária. O queijo é o produto mais produzido pelos laticínios, no entanto, é o que apresenta a menor rentabilidade, sendo que os empresários obtêm resultado positivo utilizando a produção em larga escala. Os demais produtos como ricota, creme de leite, bebida láctea apresentam excelentes margens de lucro e rentabilidade, porém são produtos produzidos em menor escala. A maior parte dos laticínios tem investido no acompanhamento das atividades agrícolas por meio de consultorias técnicas de um agrônomo. Essas atividades são financiadas pelos laticínios; no entanto, três empresas têm financiado o gerenciamento das propriedades agrícolas em termos de manejo da pastagem, ordenha, saúde do gado leiteiro, entre outros serviços. Uma empresa chega a financiar a compra de bens de capital para os agricultores sem a cobrança de juros. Uma das importantes conclusões é que não existe na região uma vocação para a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS formação de cluster do agronegócio em laticínio. As atividades são realizadas individualmente e a cooperação e a formação de parcerias interfirmas não foram identificadas.
Referências Bibliográficas
BARROS NETO, J. P.; FENSTERSEIFER, J. E. O conteúdo da estratégia de produção: as categorias de decisão da função produção e a construção de edificações. In: Anais do XXIV ENANPAD, ANPAD, Florianópolis-SC, Setembro 2000. CD-ROM.
BATALHA, Mário Otávio, et al. Gestão agroindustrial. GRPAI. São Paulo: Atlas, 2001.
______. Gestão agroindustrial. São Paulo. Atlas, v.1: 2001.
______. Gestão agroindustrial. São Paulo. Atlas, v.2: 2001.
BREITENBACH, R.; SANTOS DE SOUZA, R.Estruturas de mercado, governança e poder na cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul. Organizações Rurais & Agroindustriais; 2015, Vol. 17 Issue 3, p336-350, 15p.
CANUTO, M. Competitividade nas empresas. 2006. Disponível em:< www. mbc.org.br>. Acesso em: dezembro de 2010.
CALDAS. R. de A. Agronegócio brasileiro: ciência, tecnologia e competitividade. Brasília: CNPq, 1998.
CONTADOR, J. C. Campos da competição. Revista de Administração. São Paulo, v. 30, n. 1, p. 32-45, jan./mar. 1995.
DIAS, M.F.P; FENSTERSEIFER, J.E. Critérios competitivos de operações agroindustriais: um estudo de caso no setor arrozeiro. Revista
Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 11, n. 3, 2005.
FARINA. E.M.M.Q. O Agrobusiness do Brasil. São Paulo: IPEA-PE FIA, 1999.
HILL, T. Manufacturing strategy: text and cases. Burr Ridge, IL: Irwin, 1994.
JUNGES, I. Metodologia para identificação de cenários tecnológicos de pequenas e médias empresas que atuam em redes interempresariais do tipo topdown. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Engenharia de Produção. 2004.
MALHOTRA, N.K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
NEVES M. F. Economia e gestão dos negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000.
PAIVA, E. L.; CARVALHO JR., J. M.; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de produção e de operações: conceitos, melhores práticas, visão de futuro. Porto Alegre: Bookman, 2004.
SICSÚ, A. B. Inovação e região. (Coleção Neal). Recife: Universidade Católica de Penambuco/UNICAP, 2000.
PREZOTTO, L. L. Agroindústria familiar gerando trabalho e renda no campo e na cidade. Porto Alegre: Emater/RS-Ascar, 2002.
STAMMER, J. M.; ESSER, K.; HILLEEBRAND, W.; MESSENER, D. Competitividade sistêmica: nuevo desafio a las empresas y a la política. Berlin. Ed. Instituto Alemão de Desarrollo. Agosto, 1995.
ZYLBERSZTAJN. D. Estudo de caso em agrobusiness. Porto Alegre: Ortz, 1993.
ZYLBERSZTAJN. D.; NEVES M. F. Economia e gestão dos negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 1988.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 2005.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A DINÂMICA DA BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA OROZÍCOLA: UM ESTUDO COMPARATIVO
Eleonara Becher1, Julio Cesar Zilli2, Adriana Carvalho Pinto Vieira3
1Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, [email protected] 2Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, [email protected] 2Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, [email protected]
Resumo. O agronegócio possui expressiva participação na pauta exportadora do Brasil. Neste setor, se destacam principalmente a exportação de grãos, dentre os quais, se encontra o arroz. No ano de 2015 o Brasil foi o oitavo maior produtor mundial e os Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina são destaques nacionais na produção de arroz. A partir deste cenário, o estudo tem por objetivo identificar a dinâmica da rizicultura Sul catarinense na balança comercial brasileira, considerando a variável temporal de 10 anos (2005 a 2015). Metodologicamente, a pesquisa se enquadrou em descritiva e exploratória, quanto aos fins, e, bibliográfica e documental, quanto aos meios de investigação. A coleta de dados foi feita em publicações específicas relacionadas com o agronegócio, arroz e principalmente no Sistema Aliceweb. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. Foi possível verificar a importância e o impacto do arroz da região Sul na balança comercial catarinense, como um importante produto exportado para diversos mercados mundiais.
Palavras-chave. Balança comercial. Agronegócio. Cadeia Orozicola. Santa Catarina.
DYNAMICS OF RICE TRADE BALANCE: A COMPARATIVE STUDY
Abstract. Agribusiness has significant share in the export of Brazil. In this sector, mainly highlight the export of grain, among which is the rice. In 2015 Brazil was the world's eighth largest producer and the states of Rio Grande do Sul, Mato Grosso and Santa Catarina are national highlights in rice production. From this scenario, the study aimed to identify the dynamics of the rice-growing South of Santa Catarina in Brazil's trade balance, considering the time variable of 10 years (2005-2015). Methodologically, the research is framed in descriptive and exploratory, as to the purposes, and bibliographic and documentary, as the means of investigation. Data collection was done in specific publications related to agribusiness, rice and especially in Aliceweb system. The data analysis was essentially qualitative. It was possible to verify the importance and impact of rice in the South of Santa Catarina trade balance as an important product exported to many world markets.
Keywords: Balança comercial. Agronegócio. Cadeia Orozicola. Santa Catarina.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
1 Introdução O setor de agronegócio é um dos mais importantes do Brasil, sob o de vista econômico, social e ambiental. Ainda, no comércio internacional o setor ocupa lugar de destaque, caracterizando-se como aquele que mais gera divisas, em virtude do saldo superavitário na balança comercial nas últimas décadas (WILKINSON, 2009). Com aproximadamente 38% da mão-de-obra do país e responsabilizando-se por 42% das exportações brasileiras, o agronegócio possui representatividade na balança comercial, caracterizando-se como um importante setor da economia, com um crescimento considerável (MAPA, 2010). Diante deste cenário, observa-se que o agronegócio brasileiro diversificou e modernizou sua agricultura, criou agroindústrias para que seus produtos tenham maior valor agregado, permitiu o aumento das exportações com novos produtos e para novos mercados. Entretanto, o processo logístico para a distribuição da produção, destinada principalmente para o mercado internacional via transporte marítimo, merece investimentos para acompanhar a competitividade de um mercado globalizado (ZILLI; VIEIRA; SOUZA, 2015) O Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz no Ocidente e, atualmente possui destaque mundial na produção (SANTOS et al, 2015). Em nível nacional, destacam-se principalmente os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dos quais são responsáveis por 76,6% da produção total, segundo dados do MAPA (MAPA, 2015). Nas três últimas safras obteve avanços importantes com relação ao mercado, aporte de tecnologias e estabilidade de preço aos produtores O país produz aproximadamente 12,6 milhões de toneladas por ano de arroz, a maior parte do cultivo do grão é realizada no Sul do país e, em menor quantidade, de sequeiro no Centro-Oeste (MAPA, 2010). Nos dias atuais, o país está entre os oito maiores exportadores mundiais e entre os 10 maiores importadores de arroz longo fino (SANTOS et al, 2015). A partir deste cenário, o estudo tem por objetivo identificar a dinâmica da rizicultura Sul catarinense, considerando as regiões da AMREC1 e AMESC2, na balança comercial brasileira, por meio da variável temporal de 10 anos (2005 a 2015). 2 Procedimentos Metodológicos Metodologicamente, quanto aos fins de investigação, trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória. E, quanto aos meios de investigação, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental (GIL, 2002). Os dados referentes à balança comercial e movimentação do NCM 1006 (arroz) foram coletados no Sistema de Análise de Comércio Exterior via Web do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio de uma abordagem essencialmente qualitativa.
1 A Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) foi fundada no dia 25 de abril de 1983, com sete municípios participantes, formada por Criciúma, Içara, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis e Urussanga. Depois foram integrados a associação os municípios de Forquilhinha, Cocal Do Sul e Treviso. No dia 18 de maio de 2004, a cidade de Orleans se integrou na AMREC. E no dia 09 de abril de 2013 Balneário Rincão passou a integrar a associação. Atualmente, a AMREC possui 12 municípios participantes (AMREC, 2016). 2 A Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC) foi fundada no dia 5 de setembro de 1979, com nove municípios integrantes. Atualmente a associação possui quinze integrantes, são eles: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo (AMERC, 2016).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
3 Apresentação e Discussão dos Resultados Nesta seção são apresentados dados comparativos envolvendo a balança comercial do Arroz (NCM 1006) no âmbito nacional, do Estado de Santa Catarina (SC) e das regiões da AMREC e AMESC. O mesmo também foi aplicado para a movimentação em KG. 3.1 Balança comercial do Arroz (NCM 1006) – Brasil versus Santa Catarina (US$/FOB) A Tabela 1 apresenta comparativamente a balança comercial da NCM 1006 (arroz), considerando o Brasil versus o Estado de Santa Catarina. Tabela 1 – Balança comercial do Brasil versus Santa Catarina / Arroz (NCM - 1006) - (US$/FOB Mil) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO BRASIL SC % BRASIL SC %
2005 56.777 343 0,60% 129.459 322 0,25%
2006 59.872 412 0,69% 174.621 1.025 0,59%
2007 53.360 1.282 2,40% 236.802 934 0,39%
2008 311.634 5.868 1,88% 225.703 1.988 0,88%
2009 267.551 17.388 6,50% 272.472 4.460 1,64%
2010 162.758 1.664 1,02% 376.598 6.963 1,85%
2011 612.754 31.883 5,20% 273.050 3.463 1,27%
2012 545.955 20.292 3,72% 341.499 7.053 2,07%
2013 400.593 7.049 1,76% 372.659 7.381 1,98%
2014 396.799 3.850 0,97% 301.617 3.578 1,19%
2015 350.178 4.103 1,17% 157.686 2.353 1,49%
TOTAL 3.218.231 94.134 2,93% 2.862.166 39.520 1,38%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). Considerando o cenário nacional, percebe-se nos primeiros anos um saldo deficitário da balança comercial, algo que foi alterado a partir do ano de 2011. No cenário catarinense, ocorre uma predominância da prática exportadora, porém com alguns anos com destaque para a importação. A participação do arroz catarinense na pauta exportadora brasileira apresenta uma média de 2,93%, alcançando um pico de 6,50 em 2009. Na importação, a representatividade é menor, com uma média de 1,38%, com um bico de 2,07% em 2012. Dentre os principais compradores, se destacam: Cuba, Peru, Senegal, Venezuela e Serra Leoa. E dentre os principais países fornecedores de arroz ao Brasil, se destacam: Paraguai, Argentina, Uruguai, Guiana e Itália (ALICEWEB, 2016). 3.2 Balança comercial do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMREC (US$/FOB) A Tabela 2 apresenta comparativamente a balança comercial da NCM 1006 (arroz), considerando o Estado de Santa Catarina versus a AMREC. Tabela 2 – Balança comercial de Santa Catarina versus AMREC / Arroz (NCM - 1006) - (US$/FOB Mil) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMREC % SC AMREC %
2005 343 0 0,00% 322 307 95,34%
2006 412 0 0,00% 1.025 237 23,12%
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
2007 1.282 0 0,00% 934 55 5,89%
2008 5.868 0 0,00% 1.988 0 0,00%
2009 17.388 47 0,27% 4.460 282 6,32%
2010 1.664 66 3,97% 6.963 762 10,94%
2011 31.883 915 2,87% 3.463 81 2,34%
2012 20.292 1.709 8,42% 7.053 309 4,38%
2013 7.049 351 4,98% 7.381 75 1,02%
2014 3.850 1.176 30,55% 3.578 129 3,61%
2015 4.103 1.060 25,83% 2.353 57 2,42%
TOTAL 94.134 5.324 5,66% 39.520 2.294 5,80%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). A representatividade da AMREC na balança comercial em Santa Catarina possui médias similares para a exportação (5,66%) e importação (5,80%) de arroz. Entretanto, observa-se um incremento bastante expressivo nos anos de 2014 (30,55%) e 2015 (25,83%) para a representatividade da região em estudo. Sob o prisma da importação, observa-se no inicio do período (2005) uma representatividade de 95,34% que foi reprimida nos anos subsequentes, chegando a 2015 com apenas 2,42%. De acordo com o Aliceweb (2016), no ano de 2015, a AMREC exportou arroz para Trinidad e Tobago, Itália e Canadá e importou da Itália, Índia, Tailândia, Paquistão e Uruguai. 3.3 Balança comercial do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMESC (US$/FOB) A Tabela 3 apresenta comparativamente a balança comercial da NCM 1006 (arroz), considerando o Estado de Santa Catarina versus a AMESC. Tabela 3 – Balança comercial de Santa Catarina versus AMESC / Arroz (NCM - 1006) - (US$/FOB Mil). EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMESC % SC AMESC %
2005 343 0 0,00% 322 0 0,00%
2006 412 0 0,00% 1.025 0 0,00%
2007 1.282 0 0,00% 934 524 56,10%
2008 5.868 19 0,32% 1.988 298 14,99%
2009 17.388 3.721 21,40% 4.460 1.976 44,30%
2010 1.664 0 0,00% 6.963 3.094 44,43%
2011 31.883 15.811 49,59% 3.463 1.538 44,41%
2012 20.292 12.655 62,36% 7.053 2.145 30,41%
2013 7.049 5.678 80,55% 7.381 2.501 33,88%
2014 3.850 1.638 42,55% 3.578 588 16,43%
2015 4.103 1.815 44,24% 2.353 63 2,68%
TOTAL 94.134 41.337 43,91% 39.520 12.727 32,20%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). A região da AMESC no início do período (2005 a 2008) não realizou exportações de arroz do NCM 1006. A partir de 2011, as exportações começaram a ser mais significativas e rotineiras. A região é responsável por 43,91% das exportações de arroz realizadas por SC. E quanto às importações, a região é responsável por 32,20% das importações realizadas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Dentre os países em que a AMESC mais realizou exportações foram a África do Sul, Canadá, Panamá e Argentina. E os países fornecedores se destacam a Argentina, Itália, Uruguai e Paraguai. 3.4 Balança comercial do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMREC + AMESC (US$/FOB) A Tabela 4 apresenta comparativamente a balança comercial da NCM 1006 (arroz), considerando o Estado de Santa Catarina versus a totalidade das regiões AMREC e AMESC. Tabela 4 – Balança comercial de Santa Catarina versus AMREC/AMESC - Arroz (NCM - 1006) - (US$/FOB Mil). EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMESC + AMREC % SC AMESC + AMREC %
2005 343 0 0,00% 322 307 95,34%
2006 412 0 0,00% 1.025 237 23,12%
2007 1.282 0 0,00% 934 579 61,99%
2008 5.868 19 0,32% 1.988 298 14,99%
2009 17.388 3.768 21,67% 4.460 2.258 50,63%
2010 1.664 66 3,97% 6.963 3.856 55,38%
2011 31.883 16.726 52,46% 3.463 1.619 46,75%
2012 20.292 14.364 70,79% 7.053 2.454 34,79%
2013 7.049 6.029 85,53% 7.381 2.576 34,90%
2014 3.850 2.814 73,09% 3.578 717 20,04%
2015 4.103 2.875 70,07% 2.353 120 5,10%
TOTAL 94.134 46.661 49,57% 39.520 15.021 38,01%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). As regiões da AMESC e da AMREC são responsáveis por aproximadamente 49,57% das exportações de arroz, NCM 1006 de Santa Catarina, iniciando sua expressiva participação a partir de 2011. Quanto às importações a região é responsável por 38% das importações realizadas pelo Estado. Observa-se que a importação vem diminuindo ano após ano sua representatividade. 3.5 Movimentação do Arroz (NCM 1006) – Brasil versus Santa Catarina (Volume/kg) A Tabela 5 apresenta comparativamente a movimentação/kg da NCM 1006 (arroz), considerando o Brasil versus o Estado de Santa Catarina. Tabela 5 – Volume (kg) comercializado pelo Brasil e Santa Catarina / arroz (NCM - 1006) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO BRASIL SC % BRASIL SC %
2005 272.536.518 1.037.307 0,38% 532.502.959 2.375.650 0,45%
2006 290.440.019 1.048.897 0,36% 652.924.998 5.083.840 0,78%
2007 201.477.019 3.262.837 1,62% 720.683.782 3.046.022 0,42%
2008 518.076.504 8.160.370 1,58% 446.404.328 3.291.660 0,74%
2009 602.120.229 30.723.684 5,10% 674.362.787 11.207.040 1,66%
2010 430.486.361 3.657.730 0,85% 783.542.037 13.792.348 1,76%
2011 1.350.919.124 59.734.024 4,42% 621.838.719 7.154.508 1,15%
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
2012 1.152.705.316 39.512.101 3,43% 740.372.614 14.319.521 1,93%
2013 918.052.928 11.823.461 1,29% 757.183.050 13.479.020 1,78%
2014 929.918.441 6.517.474 0,70% 624.397.446 5.590.753 0,90%
2015 961.542.327 8.829.560 0,92% 376.987.069 3.454.502 0,92%
TOTAL 7.628.274.786 174.307.445 2,29% 6.931.199.789 82.794.864 1,19%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). Em média, Santa Catarina foi responsável por 2,29% do volume exportado de arroz pelo Brasil. O ano com o maior volume exportado foi em 2009, onde o Estado foi responsável por 5,10%. Já as importações, durante o período analisado o Estado foi responsável por apenas 1,19% do volume importado pelo Brasil. 3.6 Movimentação do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMREC (Volume/kg) A Tabela 6 apresenta comparativamente a movimentação/kg da NCM 1006 (arroz), considerando o Estado de Santa Catarina versus a AMREC. Tabela 6 – Volume (kg) comercializado por Santa Catarina e AMREC / arroz (NCM 1006) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMREC % SC AMREC %
2005 1.037.307 0 0,00% 2.375.650 2.319.150 97,62%
2006 1.048.897 0 0,00% 5.083.840 2.250.840 44,27%
2007 3.262.837 0 0,00% 3.046.022 532.720 17,49%
2008 8.160.370 0 0,00% 3.291.660 0 0,00%
2009 30.723.684 152.500 0,50% 11.207.040 1.276.440 11,39%
2010 3.657.730 250.000 6,83% 13.792.348 1.406.000 10,19%
2011 59.734.024 1.775.343 2,97% 7.154.508 192.000 2,68%
2012 39.512.101 2.939.561 7,44% 14.319.521 588.000 4,11%
2013 11.823.461 647.011 5,47% 13.479.020 35.000 0,26%
2014 6.517.474 2.019.330 30,98% 5.590.753 64.700 1,16%
2015 8.829.560 2.071.960 23,47% 3.454.502 32.640 0,94%
TOTAL 174.307.445 9.855.705 5,65% 82.794.864 8.697.490 10,50%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). No início do período analisado (2005 a 2008), a AMREC não participou nas exportações de Santa Catarina. Já as importações de 2005 a 2006 foram bastante significativas, onde em 2005 a AMREC importou 97,62% do volume total de arroz (NCM 1006). Na análise do período total, verifica-se que a AMREC é responsável por 10,50% das importações e apenas 5,65% das exportações realizadas em SC, apesar de ter havido um crescimento na movimentação nos anos de 2014 e 2015. 3.7 Movimentação do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMESC (Volume/kg) A Tabela 7 apresenta comparativamente a movimentação/kg da NCM 1006 (arroz), considerando o Estado de Santa Catarina versus a AMESC.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 7 – Volume (kg) comercializado por Santa Catarina e AMESC / arroz (NCM 1006) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMESC % SC AMESC %
2005 1.037.307 0 0,00% 2.375.650 0 0,00%
2006 1.048.897 0 0,00% 5.083.840 0 0,00%
2007 3.262.837 0 0,00% 3.046.022 1.458.000 47,87%
2008 8.160.370 25.200 0,31% 3.291.660 675.000 20,51%
2009 30.723.684 6.576.096 21,40% 11.207.040 4.664.000 41,62%
2010 3.657.730 0 0,00% 13.792.348 6.418.000 46,53%
2011 59.734.024 29.289.693 49,03% 7.154.508 3.911.000 54,66%
2012 39.512.101 22.172.316 56,12% 14.319.521 4.559.300 31,84%
2013 11.823.461 9.633.900 81,48% 13.479.020 5.376.000 39,88%
2014 6.517.474 2.773.500 42,55% 5.590.753 1.190.000 21,29%
2015 8.829.560 4.455.250 50,46% 3.454.502 77.000 2,23%
TOTAL 174.307.445 74.925.955 42,98% 82.794.864 28.328.300 34,22%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016). No ano de 2012, a região foi responsável por 56,12% das exportações realizadas por Santa Catarina. Percebe-se também um volume significativo em 2013, onde a AMESC foi responsável por 81,48% do volume exportado. No âmbito das importações, o destaque fica para o ano de 2011, alcançando 54,66 % do volume importado. De uma maneira geral, a AMESC é responsável por 42,98% das exportações e 34,22% das importações realizadas por Santa Catarina. 3.8 Movimentação do Arroz (NCM 1006) – Santa Catarina versus AMREC + AMESC (Volume/kg) A Tabela 8 apresenta comparativamente a movimentação/kg da NCM 1006 (arroz), considerando Santa Catarina versus a totalidade da AMREC e AMERSC. Tabela 8 – Volume (kg) comercializado por Santa Catarina e AMESC/AMREC / arroz (NCM 1006). EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
ANO SC AMESC + AMREC
% SC AMESC + AMREC
%
2005 1.037.307 0 0,00% 2.375.650 2.319.150 97,62%
2006 1.048.897 0 0,00% 5.083.840 2.250.840 44,27%
2007 3.262.837 0 0,00% 3.046.022 1.990.720 65,35%
2008 8.160.370 25.200 0,31% 3.291.660 675.000 20,51%
2009 30.723.684 6.728.596 21,90% 11.207.040 5.940.440 53,01%
2010 3.657.730 250.000 6,83% 13.792.348 7.824.000 56,73%
2011 59.734.024 31.065.036 52,01% 7.154.508 4.103.000 57,35%
2012 39.512.101 25.111.877 63,55% 14.319.521 5.147.300 35,95%
2013 11.823.461 10.280.911 86,95% 13.479.020 5.411.000 40,14%
2014 6.517.474 4.792.830 73,54% 5.590.753 1.254.700 22,44%
2015 8.829.560 6.527.210 73,92% 3.454.502 109.640 3,17%
TOTAL 174.307.445 84.781.660 48,64% 82.794.864 37.025.790 44,72%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Aliceweb (2016).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
As regiões da AMESC e da AMREC realizaram juntas no ano de 2013, 86,95% das exportações de Santa Catarina. Durante os dez anos analisado as duas regiões foram responsáveis por 48,64% das exportações que o Estado realizou. Referente às importações, as duas regiões foram responsáveis, no ano de 2005, por aproximadamente 97% do volume total importado pelo Estado. Durante o período total analisado as duas regiões firam responsáveis por 44,72% das importações. 4 Considerações Finais O Brasil tem diminuído a demanda de arroz importado, do qual é percebido um decréscimo da compra do cereal nos últimos seis anos. Na análise efetuada no período de dez anos as regiões da AMESC e AMREC foram responsáveis por 48,64% das exportações que SC realizou. Referente às importações, as duas regiões foram responsáveis, no ano de 2005, por aproximadamente 97% do volume total importado. Durante o período total analisado as duas regiões firam responsáveis por 44,72% das importações. Até 2015, o câmbio comercial foi favorável aos produtores e a exportação do grão permitiu manter o equilíbrio no mercado interno. No entanto, o câmbio valorizado acaba impactando nos custos de produção da safra para aquisição dos insumos atrelados ao dólar. Assim, 2015 foi um ano de bastante cautela para os produtores, em razão do momento econômico que vive o Brasil. O maior entrave para a cadeia orozicola e, consequentemente, para as exportações brasileiras é a questão logística, que é bastante deficitária. De acordo com Santos et al (2015) a orizicultura catarinense tem características peculiares, realizada principalmente por pequenos agricultores, com emprego de mão de obra familiar, sistema de irrigação por gravidade e práticas tradicionais de limpeza de invasoras das lavouras, como p.e. catação manual. O Estado perdeu mercado para o Estado vizinho Rio Grande do Sul proveniente do avanço tecnológico e a conjuntura de mercado. Mas estes fatores já estão sendo revistos, com a introdução de novas tecnologias e inovações no campo, principalmente, no que se refere a melhoria da produtividade, condução da lavoura e a introdução de novas cultivares melhores adaptadas às regiões produtoras. Aproximadamente 80% do grão produzido em SC é dirigido a produção de arroz parboilizado e que abastece internamente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e a região nordeste, bem como as maiores áreas se concentram na região Sul. Referências Bibliográficas AMESC. Associação dos municípios do extremo Sul Catarinense. Municípios da associação. 2016. Disponível em: <http://www.amesc.com.br/municipios/index.php>. Acesso em: 3 maio 2016. AMREC. Associação dos municípios da região carbonífera. Municípios associados. 2016. Disponível em: <http://www.amrec.com.br/index/municipios-associados/codmapaitem/42512>. Acesso em: 3 maio 2016. BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais, 2014. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/7/Perspectivas%20do%20investimento%202015-2018%20e%20panoramas%20setoriais_atualizado_BD.pdf> Acesso em 22 fev. 2016. BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, ALICEWEB. Consultas. 2016. Disponível em: <http://aliceweb.mdic.gov.br//index/home>. Acesso em: 22 abr. 2016. ______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A força da agricultura: 1860 – 2010. Brasília. 2010. Disponível em: <file:///D:/Dados%20do%20Usuario/Downloads/A_Forca_da_Agricultura_2010%20(1).pdf>. Acesso em: 23 fev. 2016. ______. ______. Saiba mais. 2016. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz/saiba-mais> Acesso em: 23 fev. 2016. GIL, A. C Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. SANTOS C.E et al. Anuário brasileiro de arroz. Santa Cruz: Editora Gazeta de Santa Cruz, 2015. WILKINSON, J. (Coord.). Perspectivas do investimento no agronegócio. Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 2009. 306 p. Relatório integrante da pesquisa “Perspectivas do Investimento no Brasil”, em parceria com o Instituto de Economia da UNICAMP, financiada pelo BNDES. Disponível em: <http://www.projetopib.org/?p=documentos>. Acesso em out. 2015. ZILLI, J. C.; VIEIRA, A.C.P.; SOUZA, I. R. Configuração da dinâmica do agronegócio na pauta exportadora e movimentação dos portos de Santa Catarina. Revista ADMpg (Online), v. 8, p. 73-83, 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Comparação econômica entre a compra de Alevinos e Juvenis de Tilápias do Nilo (Oreochromis Niloticus) – uma alternativa para o pequeno produtor do estado de Mato
Grosso do Sul
Alex Ferreira da Silva1, Gleicy Jardi Bezerra
2, Nelson David Lesmo Duarte
3, Wellington
Ferreira Nascimento4
1Mestre em Agronegócios pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e-mail: homoní[email protected]; 2Doutoranda em Agronegócios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e-mail:[email protected]; 3Mestre em Agronegócios pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e-mail: [email protected] 4Mestre em Agronegócios pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e-mail: [email protected] Resumo: O presente artigo trata sobre a viabilidade entre a utilização de alevinos e de juvenis a partir de 30 g
da espécie Tilápias do Nilo (Oreochromis Niloticus) da linhagem GIFT para o pequeno produtor rural do
estado de Mato Grosso do Sul. Objetiva-se apontar qual a vantagem econômica da compra de juvenil de tilápia
em relação ao de alevino para a produção de corte no estado. Para atingir o objetivo proposto, utilizou dados
secundários e contato via internet. Com base nos resultados, foram elencados a compra, o manejo e os custos de
uma produção de tilápias, bem como o custo para aquisição de alevino e de juvenil. Utilizou-se 723 peixes
divididos em três lotes (A, B e C) e cada lote em três viveiros (1, 2 e 3). O lote A recebeu 480 peixes com peso
médio de 1,3g. O lote B teve 192 peixes com médio de 32g, e o lote C com 51 peixes com peso médio de 87g.
Para a resultados, foram comparados a taxa de sobrevivência, o ganho de peso do período, o consumo e o nível
de proteína bruta da ração, a conversibilidade alimentar e a biomassa. Dentre os principais resultados destaca-
se que entre comprar alevinos ou juvenis de Tilápias, a opção por juvenis se destacou, pois apresenta uma taxa
de 86% de sobrevivência, maior ganho de peso, melhor biomassa, além de menor consumo de ração e o menor
tempo para a despesca.
Palavras chaves: Piscicultura, Vantagem Econômica, Desempenho.
Economic comparison between the purchase of fingerlings and juveniles of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) - an alternative for small farmers in
the state of Mato Grosso do SulAbstract
Abstract: This article discusses the feasibility of the use of fingerlings and juvenile fish from 30 g of Nile Tilapia
species (Oreochromis niloticus) of GIFT strain for small farmers in the state of Mato Grosso do Sul. Our
objective is to point out which the economic advantage of tilapia juvenile purchase in relation to the fingerlings
to cut production in the state. To achieve this purpose, we used secondary data and contact via the Internet.
Based on the results, they were listed the purchase, management and the costs of production of tilapia, as well
as the cost for the purchase of fingerlings and juvenile. We used 723 fish divided into three batches (A, B and C)
and each batch of three incubators (1, 2 and 3). Lot A was 480 fish with an average weight of 1.3g. The B batch
had 192 fish with an average of 32g, and lot C with 51 fish with an average weight of 87g. For the results were
compared to the survival rate, the weight gain of the period, intake and protein level in the feed, food and
biomass convertibility. Among the main findings highlight that between buy fingerlings or juveniles Tilapia,
opting for youth stood out because it presents a rate of 86% survival, increased weight gain, improved biomass,
and lower feed intake and the lowest time for fish removal.
Keywords: Pisciculture, Economic Advantage, Performance.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
A produção de pescado movimenta um comércio crescente a nível mundial, nacional e regional e isso fomenta as economias de cada esfera, respectivamente. Com um cenário favorável para a geração de emprego e renda a piscicultura pode ser uma alternativa para pequenas propriedades. Nesses termos, o governo deve subsidiar a aquicultura de porte pequeno para que haja uma boa distribuição equitativa dos benefícios (FAO, 2014).
De acordo com o Banco Mundial, 62% do pescado a ser consumido serão provenientes de aquicultura, com as espécies de rápido crescimento como a Tilápia, Carpa e Bagre (Peixe Gato). Em relação à produção daquela, há previsão de crescimento de 4,3 milhões de toneladas em 2010 para 7,3 milhões de toneladas em 2030 (WORD BANK, 2014). O consumo per capita mundial do pescado é estável no período 2008-2009, oscilando em torno de 17 kg ao ano (peso vivo). Durante esse período o pescado representou cerca de 20% de consumo da população mundial de proteína animal e 6,1% da proteína consumida total (OCDE, 2011).
Segundo Batista (2013), em Mato Grosso do Sul, devido às suas características climáticas, geográficas e recursos hídricos, há um forte potencial para a exploração de atividades aquícolas em especial a exploração da piscicultura. Para que isso se efetive, são necessários a solução de alguns entraves ao crescimento. Na percepção de Carvalho (2010), os custos com ração, a falta de mão de obra qualificada e a ausência de apoio técnico aos pequenos produtores são grandes desafios no setor. Neste sentido, Souza et al (2010) afirmam que entre 40% a 60% do custo da piscicultura são representados pela compra de ração.
Entre as espécies mais cultivadas no estado de MS destaca-se a Tilápia, devido as suas características rústicas, alta taxa de conversibilidade e aceitação no mercado consumidor. No entanto, o produtor não consegue gerenciar efetivamente seus custos com a produção. Nesse sentido, este artigo buscará responder a seguinte questão: Qual a vantagem econômica da compra de juvenil de tilápia em relação ao de alevino para a produção de corte no estado de MS?
Assim, esta pesquisa tem como objetivo comparar a vantagem econômica de juvenil de tilápia em relação ao alevino para a produção de corte no estado de MS. Para atender o objetivo proposto, a estrutura do trabalho segue com esta breve introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão e, por fim, as considerações finais.
Fundamentação Teórica
A produção da pesca a nível mundial está se centrando na aqüicultura, assim, a projeção feita pela Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2011) prevê um aumento de 14,5% da produção de aquicultura até os anos 2020, além de essa atividade produtiva ser superior a produção de todas as categorias individuais de carne.
A aquicultura contribui de forma relevante para a redução de pobreza e a segurança alimentar no hemisfério sul, porém com muitas limitações. Um estudo feito em Bangladesh demonstra que a produção de peixe favorece muito aos mais vulneráveis (TOUFIQUE; BELTON, 2014). Entretanto, a produção aquícola também contribui com impactado ao meio ambiente devido aos fertilizantes misturados a água para aumento da produção dos pescados (COSTA et al, 2014).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Estudo feito pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2009) sobre a aquicultura de pequena escala e com recursos limitados na America Latina e o Caribe traz alguns elementos relevantes para as políticas públicas, ou seja, a manutenção do caráter assistencial pode conduzir ao fracasso e limitar a capacidade e desenvolvimento produtivo nas zonas rurais, o que inibe sua auto eficiência.
Hein (2006) explica que a denominação Tilápia é dada a uma variedade de espécies de peixes ciclídeos distribuídos entre o sul da África até o norte da Síria, onde atualmente existem 22 espécies cultivadas no mundo, porém a que apresenta melhor desempenho em cultivos comparado as demais é a Tilápia do Nilo (Oreochomis Niloticus) ganhando maior destaque na produção de corte.
Prochmann e Tredezini (2008) salientam que no estado de MS a criação de peixes pode ser considerada recente se comparada a outras atividades agropecuárias e em desenvolvimento, tendo à região de Dourados a principal região do estado produtora de peixes, em segundo lugar está a cidade de Campo Grande. O estado é favorecido pelo clima e pelos recursos hídricos, sendo esses elementos vantajosos para a prática da piscicultura. Dados da EMBRAPA (2003) apontam que o estado de MS se destaca na produção de espécies nativas, como pacu, curimbatá, piavuçu e o pintado, além do tambaqui que é de origem amazônica; neste sentido, o estado é o maior produtor de tilápia da região Centro-Oeste.
Metodologia
O município de Dourados possui área territorial de 4.086,237 km², com uma população estimada para 2014 de 210.218 habitantes, possuindo um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,747. O bioma predominante da região é o Cerrado e Mata Atlântica (IBGE, 2015). A região possui cerca de 47 piscicultores associados à Cooperativa de Aquicultores do Mato Grosso do Sul (MSPeixe), dos quais 35 são do município de Dourados e 12 deles são dos municípios vizinhos (Batista, 2013).
Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se dados secundários, onde extraiu-se informações de outros artigos estudados para analisar o desempenho de três grupos de peixes com idades, pesos e tamanhos diferentes. Com base nesses dados, foi elaborado duas tabelas contendo: Peso Inicial - PI; Peso Final - PF; Taxa de Sobrevivência - TS; Ganho de Peso no Período - GPP; Conversão Alimentar (kg ração/ kg peixe) - CA, tamanho e quantidade realizou-se a análise do investimento multiplicando-se a quantidade pelo preço médio praticado atualmente no mercado.
Para coletar os dados dos preços dos alevinos e juvenis de Tilápia do Nilo, realizou-se contato via internet junto a empresas que os comercializam. Os preços foram R$ 0,08 para cada alevino e R$ 0,35 para cada juvenil. Com o resultado monetário do investimento em cada grupo realizou-se a comparação para compreender e identificar a viabilidade mais adequada de cada grupo.
Resultados e discussão
Apesar do estado de Mato Grosso do Sul ser o maior produtor de tilápia da região Centro-Oeste,Vieira Filho (2009) destaca que no estado não há empresas que forneçam alevinos e juvenis de tilápias. Toda demanda é suprida por outros estados, isso encarece o custo de produção. No entanto, o mercado consumidor para a produção é diversificado na região (Batista, 2013).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Diante desse desafio, na tentativa de baratear os insumos, o pequeno produtor opta em comprar alevinos entre 1 a 3 centímetros, pois são de menor valor. Nesse ponto, há o risco de alguns alevinos serem fêmeas e o produtor depositá-los em tanques que impeçam a monitoração se ocorrerá a reprodução de fêmeas. Caso ocorra, haverá um consumo de ração sem a conversibilidade necessária para o peso de abate.
Nesse sentido, Oliveira et al (2013) reforçam que se o mesmo produtor comprasse juvenis de tilápia eliminaria o risco de ter fêmeas no plantel e não seria surpreendido por uma reprodução desordenada e fora de controle, além de trabalhar em uma fase de maior conversibilidade de peso.
Os dados analisados foram extraídos de Hein (2006) resultado da realização de pesquisa em Toledo-PR com três grupos em diferentes estágios separados em 09 (nove) viveiros com 15m2 e 12 m3 com um intervalo temporal de 164 dias. O “Grupo A” conteve 480 alevinos com 1,3 g de peso médio. O “Grupo B” foi formado por 192 juvenis com peso médio de 32g. O “Grupo C” recebeu 51 alevinos com peso médio de 87g.
Foram administradas as rações de acordo com as prescrições de manejo. Para o Lote A, a ração utilizada continha 45% de proteína Bruta. Para os Lotes B e C a ração era composta por 30% de proteína bruta. Durante o manejo, conforme orientações foram anotadas a taxa de sobrevivência (HEIN, 2006). Na Tabela 1 segue a apresentação dos resultados por lotes e dentro de cada lote o desempenho por tanque, onde PI – Peso Inicial; PF - Peso Final; TS – Taxa de Sobrevivência; GPP – Ganho de Peso no Período; CA – Conversão Alimentar (kg ração/ kg peixe):
Tabela 1: Identificação dos lotes, viveiros e números de peixes utilizados no lotação e retirados na despesca.
LOTAÇÃO DESPESCA
Viveiros Peixes (nº)
PI Médio
Peixes (nº)
PF Médio (g)
GPP (g)
Consumo Ração (g)
CA Biomassa Final
TS (%)
Lote A 480 1,3 173 52,8 51,5 8.717 0,96 258,6 36,0 1 160 1,3 39 46,2 44,9 1.991 1,11 149,5 24,3 2 160 1,3 68 55,1 53,8 3.222 0,86 312,2 42,5 3 160 1,3 66 57,1 55,8 3.504 0,93 314,0 41,2 Lote B 192 32 167 115,7 83,7 20.199 1,05 535,0 86,9 4 64 32 57 133,3 101,3 8.035 1,06 631,7 89,0 5 64 32 52 117,3 85,3 5.840 0,96 507,0 81,2 10 64 32 58 96,5 64,5 6.324 1,13 466,4 90,6 Lote C 51 87 49 320,3 233,3 20.318 1,31 434,7 96,0 6 17 87 16 318,7 213,7 6.832 1,34 424,9 94,1 7 17 87 16 315,7 228,7 6.832 1,39 420,9 94,1 8 17 87 17 323,5 236,5 6.654 1,21 458,3 100,0
Fonte: Adaptado de Hein (2006).
As compras de alevinos nas características da Tabela 1 custam em torno de R$ 0,08 e os descritos no Lote B R$ 0,35. Essa diferença induz ao produtor a optar pelo menor preço. Considerando as informações descritas na Tabela 1 acima é possível construir a seguinte Tabela 2.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 2: Investimento em Alevinos e Juvenis de Tilápia. VALORAÇÃO DESEMPENHO
Viveiros Peixes (nº)
Valor Médio R$
Valor Total
GPP (g)
Consumo Ração (g)
CA Biomassa Final
TS (%)
Lote A 480 0,08 38,40 51,5 8.717 0,96 258,6 36,0 Lote B 192 0,35 67,20 83,7 20.199 1,05 535,0 86,9
Fonte: Adaptado de Hein (2006).
Com base na tabela 2 pode-se inferir que a aquisição de alevinos de Tilápia a R$ 0,08 apresenta uma conversão alimentar, ganho de peso no período e biomassa finais menores que os juvenis. A taxa de sobrevivência é quase 3 vezes menor que os juvenis. Para ampliar essa discussão é necessário considerar o tempo que o produtor deve aguardar para que o alevino de 1,3g atinja 30g, que é de 40 dias (KUBITZA, 2012).
A respeito da biomassa, Kubtiza (2012) e Oliveira (2013) explicam que é a capacidade de ganho de peso do peixe. Existe a Capacidade de Suporte (CS) referente às condições do tanque em propiciar o desenvolvimento dos peixes, a Biomassa Crítica (BC) que é a capacidade máxima que cada peixe consegue desenvolver e que após esse ponto ocorre a manutenção e provável perca de peso, haja vista o limite físico do animal. Entre o CS e a BC surge a Biomassa Econômica (BE), representando o ponto ideal de cada peixe para a comercialização.
Souza et al. (2008) e Ayroza et al. (2010), concordam que a BE é o ponto de maior lucratividade para o produtor uma vez que a Tilápia está com a conversibilidade alimentar ideal, ou seja, não há necessidade de aumento de ração e não há necessidade de prolongamento de alimentação. Então a despesca está pronta para ocorrer. O Lote B, com os juvenis, apresentou a melhor condição.
Considerações finais
Após a discussão dos resultados é possível perceber que a Tilápia é uma opção viável para o pequeno produtor devido às características rústicas, adaptabilidade ambiental e a alta produtividade. Existe mercado para consumir a oferta da produção, pois além da carne apresentar baixos índices de gordura, é bastante apreciado por bares e restaurantes. Considerando essas possibilidades, o tilapicultor pode investir no negócio que há mercado consumidor para isso. Mesmo havendo esses pontos positivos, o pequeno produtor deve buscar acompanhamento técnico para assegurar o seu sucesso, desde profissionais capacitados na administração como também profissionais técnicos.
Em relação à melhor opção em comprar alevinos ou juvenis de Tilápias ficou evidente que a opção por juvenis de Tilápias é melhor, pois apresenta uma taxa de 86% de sobrevivência, maior ganho de peso, melhor biomassa, além de menor consumo de ração e o menor tempo para a despesca. Essas qualidades justificam o investimento inicial ser quatro vezes maiores que em alevinos, pois a taxa de sobrevivência dos alevinos gira em torno de 35%, com um maior consumo de ração (ração com mais proteína bruta), com menor ganho de peso, além apresentar menor conversibilidade alimentar e maior tempo até a despesca final. Portanto a compra de juvenis de tilápias é mais viável ao produtor de tilápia de corte.
Dessa forma, vendo a participação dos produtores no cultivo do pescado e analisando a demanda crescente do mercado para este produto, tona-se importante e necessário que empresas se instalem no estado para comercializar alevinos e juvenis de tilápias, assim, o
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS custo de produção reduzirá e consequentemente esse baixo valor na produção será repassado para o consumidor.
Referências
AYROZA, Luiz Marques da Silva; ROMAGOSA, Elizabeth; REZENDE AYROZA, Daercy Maria Monteiro, SCORVO FILHO, João Donato, SALLESFernando André. Custos e rentabilidade da produção de juvenis de tilápia-do-nilo em tanques-rede utilizando-se diferentes densidades de estocagem. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, n.2, p.231-239, 2011. BATISTA, Airson. A contribuição da piscicultura para as pequenas propriedades rurais em Dourados – MS. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Grande Dourados, 2013. CARVALHO, T. R. O programa de desenvolvimento da faixa de fronteira e o Mato Grosso do Sul: discursos e desdobramentos da política governamental na fronteira. Dourados, Dissertação (Mestrado em Geografia), FCH/UFGD, 2010. COSTA, Simone M. et al. Low water quality in tropical fishponds in southeastern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 86, n. 3, p. 1181-1195, 2014. EMBRAPA. Situação da Piscicultura Sul mato-grossense e suas Perspectivas no Pantanal. ISSN 1517-1973 Novembro, 2003. Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/DOC46.pdf>. Acesso em: 08 out. 2015. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. El comercio mundial de pescado apunta
hacia nuevos récords, 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/news/story/es/item/214487/icode/>. Acesso em: 25 jul. 2015. HEIN, Gelson. Verificação da sobrevivência de tilápias (O. niloticus) de tamanhos diferentes no município de Toledo-PR e sua importância pratica na organização da produção. EMATER, 2006. Disponível em: <http://www.emater.pr.gov.br/arquivos/File/Biblioteca_Virtual/Premio_Extensao_Rural/2_Premio_ER/28_Verif_Sobrev_Tilapias_.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2015. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dourados. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil. php?lang=&codmun=500370>. Acesso em: 12 jan. 2015. KUBITZA et al. Particularidades regionais da piscicultura. Espécies cultivadas, sistemas de produção, perfil tecnológico e de gestão e os principais canais de mercado da piscicultura. Panorama da aquicultura, Vol. 22 n. 133 setembro/outubro 2012. Disponível em: <http://www.novaaqua.com.br/site/artigos/Ed.%20133_Panorama_Aquicultura.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2015. MARECO, Edson Assunção. Efeitos da temperatura na expressão de genes relacionados ao crescimento muscular em tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) linhagem GIFT. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Botucatu, 2012 MATSUDA, <http://www.matsuda.com.br/Matsuda/Web/Entrevistas/detalhe.aspx?idnot=H12101114130328&lang=pt-BR>. Acesso em: 11 set. 2015.
OECD - Organization for Economic Co-Operation and Development. Agricultural Outlook. 2011-2020.
OECD. Publishing and FAO 2011. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1787/org-outlook-2011>. Acesso em: 27 out. 2015.
OLIVEIRA, Aline Mayra da Silva. Curvas de crescimento de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) linhagem GIFT. Dissertação de Mestrado. Aquidauana-MS: UEMS, 2013.
OLIVEIRA, Aline Mayra da Silva; OLIVEIRA, Carlos Antonio Lopes; MATSUBARA, Bárbara Joyce Akemi; OLIVEIRA, Sheila Nogueira; KUNITA, Natali Miwa; YOSHIDA Grazyella Massako; RIBEIRO, Ricardo Pereira. Padrões de crescimento de machos e fêmeas de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) da variedade GIFT. Ciências Agrárias, Londrina, v. 34, n. 4, p. 1891-1900, jul./ago. 2013.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS PROCHMANN, Ângelo Mateus; TREDEZINI, Cícero Antônio Oliveira. A piscicultura em Mato Grosso do Sul, como instrumento de geração de emprego e renda na pequena propriedade. SOBER, 2008. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/12/09O416.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2015. SOUZA, Paulo Augusto Ramalho; SPROESSER, Renato Luiz; CAMPEAO, Patrícia; VILPOUX, Olivier Francois; RAMOS, Géssica Genevieve Lopes. Estratégias competitivas na cadeia produtiva de peixe da região de Dourados-MS. SOBER, 2008. SOUZA, Raimundo Aderson Lobão; PERET, Alberto Carvalho; MOLDENHAUER PERET, André; SOUZA SILVA, Alex; RODRIGUES, Maria de Jesus Jorge; PENAFORT, Jefferson Murici. Intercropping Arapaima
gigas with Oreochromis niloticus. Amozonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences. v.53, n.1,
p.46-51, Jan/Jun 2010. Disponível em < www.ajaes.ufra.edu.br>. Acesso em: 06 set. 2015. SOUZA, Rui Alves. Análise econômica da crição de tambaqui em tanques-rede: estudo de caso do projeto de assentamento Santa Felicidade, Cocalzinho de Goiás – GO. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC – GO, 2011. VIEIRA FILHO, Dirceu Deguti. A piscicultura como alternativa de desenvolvimento local na região de Dourados – MS. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande: MS, 2009.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Contabilidade de custos no agronegócio: um estudo bibliométrico dos
artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online
Gabriel Lemos de Moraes1, Ariel Behr2, Everton da Silveira Farias3
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
Resumo. O agronegócio representa uma importante atividade da matriz econômica brasileira, e a
contabilidade de custos é conhecida como uma importante ferramenta de apoio à decisão em diversos contextos
empresariais. O presente artigo tem como objetivo identificar o perfil das pesquisas sobre o tema
“contabilidade de custos no agronegócio” em artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online, no período entre 2011 a 2014. O estudo é classificado como descritivo, quantitativo, com estudo bibliométrico,
tendo a amostra de 63 artigos relacionados ao tema contabilidade de custos no agronegócio. Como resultado
evidenciou-se que a presença de quatro autores é mais frequente, bem como os mais visíveis foram Nuintin,
Bornia, Reis e Tavares. Os primeiros autores em maioria têm formação em “Ciências Contábeis / Ciências
Contábeis e Atuariais / Contabilidade / Contabilidade e Finanças”, titulação de mestre, e está vinculado a instituições públicas. Dentre as instituições, sobressaem-se a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
a Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os temas e focos em maior evidência foram “Custos de Produção” e “Produção de Leite/Laticínios”. Por fim, constatou-se que, quanto aos métodos de pesquisa, têm
destaque os estudos descritivos, quantitativos e os estudos de caso; operacionalizados por análise de
documentos e análise estatística.
Palavras-chave. Custos. Agronegócio. Estudo Bibliométrico. Custos e @gronegócio Online.
Cost accounting in agribusiness: a bibliometric study of the articles
published in the journal Custos e @gronegócio Online
Abstract. Agribusiness is an important activity of the Brazilian economic matrix and cost accounting is known
as an important decision-support tool in many business contexts. The present research aims to identify the
profile of the research on the cost accounting in agribusiness theme in articles published in the periodical
Custos e @gronegócio Online between 2011 and 2014. This study is classified as: descriptive, quantitative, with
bibliometric study using documentary research, having as sample 63 articles related to the topic of accounting
costs in agribusiness. Therefore, as a result it was noticed that the presence of four authors is more frequent,
also the most profitable among all were Nuintin, Bornia, Reis and Tavares. The first authors in most cases have
training in "Accounting / Accounting and Actuarial / Accounting / Accounting and Finance", master’s degree
and that most of them are linked to public institutions. Among the institutions stand to Federal University of
Santa Catarina (UFSC) and the Federal University of Uberlândia (UFU). The theme and the focus on more
evidence were "Production costs" and "Milk production / Dairy". Finally, it was found that, regarding the
research methods used, stood out the descriptive, quantitative and case studies; operationalized by analysis of
documents and statistical analysis.
Keywords. Costs. Agribusiness. Bibliometric Study. Custos e @gronegócio Online.
1 Introdução
A agroindústria vinculada à agricultura e à pecuária representam grande parte da economia do país, sendo uma das principais fontes de riqueza brasileira. Nesse contexto o agronegócio que segundo Marion (2014) é definido como uma junção de atividades produtivas que estão
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS diretamente ligadas à produção de derivados da agricultura e da pecuária representa uma das principais forças de geração de riquezas e bens para a sociedade. No entanto, os produtores rurais que desenvolvem tal atividade enfrentam dificuldades entre outras a falta de práticas contábeis adequadas que possibilitem o gerenciamento do negócio conforme sua realidade (CALLADO; CALLADO, 2011). Deste modo, a boa utilização do suporte dado pela contabilidade de custos permite obter melhores resultados por meio da geração de relatórios contábeis que dêem respaldo para à tomada de decisão de forma consciente e eficiente.
Estudar o suporte dado pela contabilidade de custos passa a ser alvo de interesse dos gestores e acadêmicos (WALTER, 2010) e, desse modo, a presente pesquisa fundamenta-se na seguinte questão problema: qual o perfil das pesquisas sobre o tema contabilidade de custos no agronegócio nos artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online? O periódico destacado é classificado atualmente com Qualis B2 sendo o periódico nacional mais bem ranqueado com foco específico em custos. Em vista disso, o objetivo do artigo é identificar o perfil das pesquisas sobre o tema contabilidade de custos no agronegócio nos artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online, no período de 2011 a 2014. Para atingir tal objetivo, a presente pesquisa analisa: i) a autoria dos artigos; ii) o perfil dos primeiros autores; iii) as instituições de ensino e suas evidências quanto aos primeiros autores; iv) o tema e o foco dos artigos; e, v) os métodos de pesquisa dos artigos.
O presente estudo justifica-se pela realização de um estudo bibliométrico, que segundo Francisco (2011) busca difundir a literatura sobre um tema específico, mapeando o perfil dos pesquisadores envolvidos, a evolução do tema e contribui para o desenvolvimento da ciência e do campo estudado. Ainda, destaca-se que se optou por realizar a pesquisa no período de 2011 a 2014, tendo em vista contribuir com o estudo já realizado por Walter (2010), no qual buscou traçar um perfil dos artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online desde o início da sua circulação, em 2005, até o ano de 2010.
2 Custos no agronegócio
O agronegócio para Callado e Callado (2011) é representado por um conjunto de empresas que produzem insumos agrícolas, por propriedades rurais, empresas de processamento, e por toda a cadeia de distribuição. Assim, representa a totalidade das operações que envolvem a atividade desde a produção à distribuição dos produtos agrícolas e de seus respectivos derivados. Segundo Marion (2014) na agropecuária a contabilidade de custos representa uma ferramenta básica para sua administração, uma vez que, o espaço de tempo entre produção e vendas possui certas particularidades. Dessa forma, segundo Pereira (1996), na gestão do agronegócio, a participação da contabilidade de custos deve observar padrões de eficiência e dos custos das atividades rurais, possibilitando a composição de orçamentos que atendam o planejamento e o controle do negócio.
O relacionamento das informações de custos com as demais informações operacionais e estratégicas de um negócio permite a elaboração de um sistema de informações robustas, e apto à subsidiar diversas decisões do negócio. A partir dos relatórios gerados pelo sistema de informações de custos é possível avaliar a situação da empresa, possibilitando o planejamento da gestão, o estabelecimento de padrões e orçamentos, a formação de preços e a tomada de decisão (CALLADO; CALLADO, 2011). Nesse sentido Santos, Marion e Segatti (2009) afirmam que a relevância da contabilidade de custos no agronegócio está além do registro de fatos. Ou seja, também envolve um sistema de informações para o nível gerencial, orientando a administração para a organização e controle da produção.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Apesar de sua relevância, a contabilidade de custos no agronegócio encontra dois grandes obstáculos: i) a sua complexidade para os pequenos e médios agricultores, que para o correto registro e a futura análise deveriam fornecer dados fidedignos; ii) a extensão das operações rurais, o que acaba dificultando a sua correta contabilização. Contudo, é necessário superar tais dificuldades, uma vez que o agronegócio necessita do controle e dos registros das suas operações, assim para que haja viabilidade o método deve acompanhar a realidade da empresa no que diz respeito ao nível de detalhamento das informações que a empresa tenha capacidade de gerar (CALLADO; CALLADO, 2011). E assim sendo, as peculiaridades do agronegócio, evidenciam de forma ainda mais efetiva a importância do uso de métodos de controle por meio da contabilidade de custos, sejam estes mais ou menos sofisticados, mas que tenham a capacidade de atender as necessidades informacionais do negócio, auxiliando produtores e gestores na correta tomada de decisão (WALTER, 2010; CALLADO; CALLADO, 2011).
3 Procedimentos metodológicos
Quanto ao objetivo, esse estudo dedica-se a constatar as linhas de pesquisas sobre contabilidade de custos no agronegócio, empregando meios descritivos (CERVO; BERVIAN, 1996). No que tange a forma de abordagem do problema, segundo Raupp e Beuren (2003), esse estudo classifica-se como quantitativo, preocupando-se com o comportamento geral dos fatos dada a coleta de informações. Tratando-se dos procedimentos técnicos utilizados, essa pesquisa foi realizada com estudo bibliométrico, que conforme Faro (2007) descreve padrões de publicação em determinado campo, sendo uma técnica de pesquisa que analisa publicações em diversos meios (FERREIRA, 2011) e, por meio de pesquisa documental, a qual utilizou documentos como fonte de dados, informações e evidências.
Logo, com o intuito de cumprir o que foi proposto, a população deste estudo foi composta pelos artigos publicados no período de 2011 a 2014 no periódico Custos e @gronegócio Online. A presente pesquisa justifica-se também pela possibilidade de contribuição com o estudo realizado por Walter (2010) e mostra sua relevância ao delimitar um período recente de documentos coletados, apresentando assuntos mais atuais, e refletindo a realidade contemporânea. Desse modo, a pesquisa aqui apresentada contou com artigos que abordam o tema custos no agronegócio, perfazendo uma população de 172 possíveis artigos, e uma amostra de 63 artigos, constituída apenas por aqueles estudos que diretamente trataram do tema custos no agronegócio (foram descartados artigos que falavam somente sobre custos, ou somente sobre agronegócio; ou ainda artigos que abordavam outros temas exclusivamente).
A seleção dos artigos analisados foi realizada utilizando como ferramenta o próprio portal eletrônico do periódico Custo e @gronegócio Online, analisando título, palavras-chave e resumo dos artigos. Foram inicialmente selecionados os artigos que continham os termos “Custos” ou “Custeio” e “Agronegócio” ou referência a “Agricultura”, “Zootecnia” ou “Agroindústria”. Quando existia dúvida quanto ao foco dado pelo artigo, sua introdução era consultada para escopo abrangido por seus autores. Os 63 artigos selecionados foram lidos e classificados em planilha eletrônica Microsoft Excel de acordo com os objetivos da pesquisa.
4 Apresentação e Análise dos dados
4.1 Autoria dos artigos
Nessa seção apresentam-se os resultados relacionados a autoria dos artigos analisados quanto a quantidade de autores por artigo e os autores com o maior número de produção científica.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Na Tabela 1 é demonstrado o número de autores por artigo e sua representatividade no total.
Tabela 1: Número de autores por artigo Número de autores por artigo Nº de artigos %
1 2 3% 2 11 17% 3 14 22% 4 23 37% 5 9 14% 6 3 5% 7 1 2%
Total dos artigos 63 100% Fonte: Dados da pesquisa.
Percebe-se que há uma tendência em se trabalhar em grupos, ao invés do desenvolvimento individual de pesquisa. Ainda, que a presença de quatro autores por artigo é mais frequente, representando 37% do total, isto é, 23 artigos. Em seguida, representando juntos 39% do total, temos as presenças de três e dois autores por artigo. Os artigos com um autor, o que ocorre em apenas duas publicações representam apenas 3%, sendo muito similar ao que foi observado por Souza et al. (2012). Observou-se que os autores com maior número de publicações no período determinado, levando em consideração todos os 228 autores presentes nos 63 artigos analisados foram Adriano Antônio Nuintin (UNIFAL), Antônio Cezar Bornia (UFSC), Ernando Antônio dos Reis (UFU) e Marcelo Tavares (UFU).
Também é importante evidenciar que por meio da análise realizada constatou-se que apenas 20 pesquisadores aparecem como autores de 2 artigos cada, demonstrando que a maioria dos autores publicou um único artigo, o que remete a Lei de Lotka, a qual busca definir as maiores contribuições de pesquisadores em determinadas áreas, isto é, quanto a produtividade científica (EGGHE, 2005). Ao se analisar apenas os primeiros autores Adriano Antônio Nuintin (UNIFAL), seguido de Carlos Roberto Souza Carmo (UFU) e Martin Airton Wissmann (UNIOESTE) foram os que mais publicaram.
4.2 Perfil dos primeiros autores
Nessa seção procurou-se caracterizar o perfil dos primeiros autores quanto a formação acadêmica e titulação. Desse modo, na Tabela 2 é apresentada a formação acadêmica dos primeiros autores, conforme informado nos artigos selecionados.
Tabela 2: Área de formação acadêmica dos primeiros autores Área de formação acadêmica dos primeiros autores Nº de artigos %
Ciências Contábeis / Ciências Contábeis e Atuariais / Contabilidade / Contabilidade e Finanças
24 38%
Administração 16 25% Engenharia de Produção 9 14% Controladoria / Contabilidade e Controladoria 4 6% Economia 3 5% Zootecnia 2 3% Ciências do Ambiente / Socioambientais 2 3% Contabilidade Gerencial 1 2% Economia Empresarial e Controladoria 1 2% Engenharia de Transportes 1 2%
Total de artigos 63 100% Fonte: Dados da pesquisa.
Conforme é evidenciado na Tabela 2 foi realizado um agrupamento das áreas dos primeiros autores que apresentam uma grande aproximação tendo como objetivo melhor analisar os dados obtidos. Assim, “Ciências Contábeis / Ciências Contábeis e Atuariais / Contabilidade /
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Contabilidade e Finanças” representam o grupo mais evidente com 24 artigos, ou seja, 38% do total, sendo também comprovado por Walter (2010), tendo o mesmo grupo, exceto pela área de “Ciências Contábeis e Atuariais”, como mais frequente. É importante analisar que caso os grupos “Controladoria / Contabilidade e Controladoria” e “Contabilidade Gerencial”, juntos com 5 artigos, fossem incluídos, os três grupos representariam 46%.
Por meio da pesquisa constatou-se também quanto aos primeiros autores que mestres (incluindo doutorandos) tem a maior representatividade no total dos artigos. Esse resultado foi constatado também por Walter (2010) e por Souza et al. (2012), o que indica que no Brasil a produção científica está concentrada em autores pesquisadores, geralmente ligados a instituições de ensino superior que oferecem curso de mestrado e doutorado.
4.3 Instituições de ensino e suas evidências quanto aos primeiros autores
Essa seção tem como objetivo aferir quanto as instituições de ensino e suas evidências, para isso busca analisar a partir da Tabela 3 o número de publicação por instituição de ensino levando em consideração a vinculação dos primeiros autores.
Tabela 3: Publicação por instituição de ensino dos primeiros autores
Instituição de ensino dos primeiros autores Nº de artigos % UFSC 4 6% UFU 4 6%
FURB 3 5% UFLA 3 5%
UNIFAL 3 5% USP 3 5%
Outras 43 68% Total de artigos 63 100%
Fonte: Dados da pesquisa. A partir dos dados levantados dos primeiros autores ressalta-se que tanto a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foram as instituições de ensino que mais publicaram sobre a temática relacionada a custos no agronegócio no periódico entre 2011 a 2014, tendo 4 artigos cada, isto é, representando juntas 12%. É importante destacar também que todas as instituições de ensino que mais publicaram são públicas. Esses resultados são relevantes por determinar a produtividade científica da instituição, o que significa maior reconhecimento no meio acadêmico.
4.4 Tema e Foco dos artigos
Essa seção visa apurar o tema e o foco específico dos artigos. Assim, na Tabela 4 estão presentes os temas de pesquisa dos artigos e as suas quantidades, no mínimo um por artigo, considerando todos os informados, os quais quando muito similares foram agrupados.
Tabela 4: Temas de pesquisa dos artigos analisados Temas de pesquisa dos artigos analisados Qtd. Temas de pesquisa dos artigos analisados Qtd. Custos de Produção 25 Análise Envoltória de Dados 1 Gestão Estratégica de Custos 12 Análise Custo-Benefício Ambiental 1 Custos Ambientais 7 Biodigestão 1 Custeio Variável/Análise Custo-Volume-Lucro/Margem de Contribuição
7 Custo de Controle 1
Custeio por Absorção 6 Custos de Estoque 1 Análise/Avaliação de Investimentos 5 Custo de Geração da Energia 1 Custos Conjuntos 3 Custos Gerenciais 1 Custos/Rentabilidade da Cadeia Produtiva 3 Custos Irrecuperáveis (Sunk Costs) 1
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Método ABC 3 Custos de Logística 1 Viabilidade Econômica 3 Custo da Mão de Obra 1 Análise de Custos 2 Custos da Sustentabilidade 1 Avaliação de Desempenho 2 Custos de Transporte 1 Custo de Capital/Econômico 2 Derivativos 1 Custos de Transação 2 Eficiência Econômico Social 1 Informações de Custos 2 Gestão de Riscos 1 Método Custo-Reposição (MCR) 2 Método UEP 1 Precificação/Estratégia de Comercialização
2 Planejamento Econômico Financeiro 1
Produção Acadêmica em Custos 2 Tributação 1 Sistemas de Custos 2 Total (qtd.) 110
Fonte: Dados da pesquisa. Assim sendo, percebe-se que a temática “Custos de Produção” foi a principal, estando presente em 25 artigos, ou seja, em 40% do total de artigos analisados, o que do mesmo modo foi constatado por Walter (2010), porém com uma representatividade menor de 19,4%. Também ficou em evidência “Gestão Estratégica de Custos” (12 artigos), seguida por “Custos Ambientais” (7 artigos) e “Custeio Variável/Análise Custo-Volume-Lucro/Margem de Contribuição” (7 artigos). Desse modo, por meio dos resultados obtidos nota-se que custos no agronegócio são abordados nas mais diversas áreas temáticas, indicando sua grande variedade, bem como sua importância. A Tabela 5 explora o foco específico dos artigos analisados, representando as áreas do agronegócio de que tratam as publicações (agrupando quando muito similares), assim como as suas quantidades, levando em consideração apenas aquele que se apresenta como o mais evidente em cada obra.
Tabela 5: Foco específico dos artigos analisados Foco específico dos artigos analisados Qtd. Foco específico dos artigos analisados Qtd.
Produção de Leite/Laticínios 10 Agroindústria 1 Cafeicultura 8 Agropecuária 1 Sojicultura 4 Ativos Biológicos 1 Sucroalcooleiro 4 Biodigestores 1 Avicultura/Setor Avícola 3 Cadeia Produtiva do Sisal 1 Bovinocultura de Corte 3 Colheita Florestal 1 Cooperativismo 3 Controle da Mosca Minadora 1 Suinocultura 3 Fibras Vegetais 1 Agronegócios 2 Fumicultura 1 Algodão 2 Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 1 Anais de Eventos e Periódicos Científicos 2 Piscicultura 1 Produção de Grãos (culturas temporárias) 2 Floricultura 1 Vinícola/Mercado de Vinhos 2 Rizicultura 1 Abacaxi 1 Viveiros Florestais 1
Total (qtd.) 63 Fonte: Dados da pesquisa.
Os resultados, conforme a Tabela acima, permitem destacar que o foco específico mais evidente foi “Produção de Leite/Laticínios” com 10 artigos (16% do total), seguido por “Cafeicultura” com 8 artigos (13% do total), representando juntos quase um terço (29%) dos artigos analisados. Segundo os dados obtidos analisa-se também que há uma grande diversidade de focos de pesquisa, assim como foi observado quanto as temáticas na Tabela 4, o que em ambos os casos enriquece o desenvolvimento da ciência contábil.
4.5 Método de pesquisa dos artigos
Essa seção tem como objetivo aferir os métodos de pesquisa, isto é, os procedimentos metodológicos utilizados levando em consideração apenas aqueles informados nos artigos
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS analisados. Dessa maneira, na Tabela 6 estão elencados: o objetivo, a natureza, os meios, assim como as técnicas de coleta e análises dos dados das publicações.
Tabela 6: Métodos de pesquisa utilizados nos artigos analisados Métodos de pesquisa utilizados nos artigos analisados
Objetivo Nº Natureza Nº Meios Nº Técnicas de Coleta e Análises dos Dados
Nº
Descritivo 18 Quantitativo 20 Estudo de Caso 25 Documentos 19 Exploratório 11 Qualitativo 11 Pesquisa Documental 17 Questionário 15 Exploratório-Descritivo 9 Quanti-Quali 9 Pesquisa Bibliográfica 14 Entrevista 13 Explicativo 2 Não informado 23 Pesquisa de Campo 7 Observação 8 Não informado 23 Levantamento (Survey) 4 Formulário 3
Não informado 16 Análise Estatística 20 Planilhas Eletrônicas 16 Simulação 5 Análise de Conteúdo 3 Ensaio Teórico 1 Não informado 8
Fonte: Dados da pesquisa. Assim sendo, quanto ao objetivo de pesquisa ressaltam-se 18 artigos (29% do total) classificados como descritivos, sugerindo o desejo dos autores por descrever as características de determinada população ou fenômeno sem ocorrer interferência por parte do mesmo nos eventos. Logo após, os exploratórios presentes em 11 publicações (17% do total), o que em ambos os casos remete a pesquisa realizada por Walter (2010). É importante apontar também o grande número de 23 trabalhos que não informaram tal quesito, representando 37% do total.
Percebe-se que quanto a natureza dos artigos analisados optou-se em grande escala pelo quantitativo, constante em 20 oportunidades (32% do total), ou seja, em um terço das publicações, indicando a preferência dos autores por trabalhos que há coleta de informações e tratamento delas por meio de análises estatísticas, o que do mesmo jeito foi constatado por Rezende, Leal e Machado (2014). Nota-se também que a análise qualitativa e a quantitativa-qualitativa estiveram muito próximas em valores, com diferença de apenas 2 obras publicadas e que tal atributo não foi informado em 23 ocasiões (37% do total).
É notável quanto aos meios de pesquisa adotados (que poderiam ser mais de um em um mesmo artigo, e por isso não totalizam 63 artigos na Tabela 6), os quais se coletaram todos os indicados pelos autores, que a maioria optou pelo estudo de caso (25 artigos), o qual tem como características principais a exploração de novas pesquisas, variadas hipóteses e diferentes enfoques, sendo verificado também por Rezende, Leal e Machado (2014). Em seguida, em destaque estão a pesquisa documental (17 artigos) e a pesquisa bibliográfica (14 artigos), bem como aqueles em que não foram informados, isto é, 16 artigos.
Evidenciou-se quanto às técnicas de coleta de dados (que poderiam ser mais de uma em um mesmo artigo) que documentos (19 artigos), questionário (15 artigos) e entrevista (13 artigos) foram as mais assíduas, corroborando com o que foi constatado quanto aos meios de pesquisa estudo de caso e pesquisa documental serem os mais empregados, enquanto que para a análise dos dados foram mais utilizadas a análise estatística (20 artigos) e as planilhas eletrônicas (16 artigos), justificando o maior uso do método quantitativo pelos autores. Ainda, vale ressaltar que nesses quesitos foram considerados todos aqueles mencionados nos artigos.
Enfim, conforme é possível perceber, não foi informado em um grande número de artigos dados sobre os procedimentos metodológicos, contudo é importante enfatizar que eles também seguiram métodos de pesquisa para o desenvolvimento do trabalho e, dessa forma, chegaram aos seus resultados como os demais.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 5 Considerações finais
O referido estudo baseou-se nos artigos publicados no periódico Custos e @gronegócio Online, no período de 2011 a 2014, e teve como objetivo identificar o perfil das pesquisas sobre o tema contabilidade de custos no agronegócio deste período. Entende-se ter sido cumprido tal objetivo na apresentação e análise do perfil desses artigos considerando os itens que foram analisados. E para demonstrar os resultados, foi feito um estudo bibliométrico sob aspecto quantitativo, por meio de métodos descritivos e com base em procedimentos técnicos de pesquisa documental.
Acredita-se que o presente artigo esteja contribuindo para o desenvolvimento da temática dos custos no agronegócio, ao evidenciar aspectos positivos e negativos (quando comparados a boas práticas de publicação) presentes no perfil das publicações científicas da área. Os resultados apresentados fornecem subsídio para o entendimento e aprimoramento da produção científica na área, e, ainda, colaboram com o estudo realizado por Walter (2010), dando continuidade e ampliando o mesmo.
Como limitação do estudo verifica-se a análise específica de um periódico e o fato de em muitos artigos os autores não informarem os métodos de pesquisa utilizados. Para futuras pesquisas, sugere-se uma análise consolidada de todos os anos de publicação do periódico Custos e @gronegócio Online, desde o início da sua circulação até o período atual. Também se recomenda que seja feita uma análise da contribuição teórica dos trabalhos publicados, bem como as redes de cooperação entre as instituições de ensino e entre os autores.
Referências
CALLADO, A. A. C.; CALLADO, A. L. C. Gestão de custos no agronegócio. In: CALLADO, A. A. C. (Org.). Agronegócio. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 86 – 104.
___________________________________. Sistemas agroindustriais. In: CALLADO, A. A. C. (Org.). Agronegócio. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 1 – 19.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso de estudantes universitários. 4. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1996.
CUSTOS E @GRONEGÓCIO ON LINE. Disponível em: < http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html> Acesso em: 02 jun. 2015.
EGGHE, L. Zipfian and lotkaian continuous concentration theory. Journal of the American Society for Information Science and
Technology. v. 56, n. 9, p. 935-945, 2005.
FARO, M. C. S. C. Contabilidade gerencial – análise bibliométrica de 1997 a 2007. 2007. 88f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante). Programa de Pós-Graduação em Administração, Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, 2007.
FERREIRA, M. P. A bibliometric study on ghoshal´s managing across borders. The Multinational Business Review, v. 19, n. 4, p. 357-375, 2011.
FRANCISCO, E. de R. RAE-eletrônica: exploração do acervo à luz da bibliometria, geoanálise e redes sociais. Revista de Administração
de Empresas. v. 51, n. 3, p. 280-306, 2011.
MARION, J. C. Contabilidade Rural. 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PEREIRA, E. Controladoria, gestão empresarial e indicador de eficiência em agribusiness. In: MARION, José Carlos (Org.). Contabilidade
e controladoria em agribusiness. São Paulo: Atlas, 1996.
RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. In: BEUREN, I. M. (Org.). Como elaborar
trabalhos monográficos em contabilidade. São Paulo: Atlas, 2003. p. 76 – 87.
REZENDE, M.; LEAL, E. A.; MACHADO, R. P. Custos no Agronegócio: um estudo bibliométrico 20 Anos de Publicações no Congresso Brasileiro de Custos. In: XXI Congresso Brasileiro de Custos, 2014, Natal. Anais... Natal: CBCustos, 2014.
SANTOS, G. J; MARION, J. C.; SEGATTI, S. Administração de Custos na Agropecuária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SOUZA, F. J. V. et al. Perfil dos artigos sobre agronegócio publicados nos periódicos de contabilidade com estrato CAPES. ConTexto. v. 12, n. 22, p. 87-102, 2° semestre, 2012.
WALTER, F. O perfil dos artigos publicados no Custos e @gronegócio Online. Custos e @gronegócio Online. v. 6, n. 3, Set/Dez, 2010.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O agronegócio em artigos veiculados em periódicos nacionais e
internacionais (2005-2015): tendências e perspectivas Vanessa Faedo Serafin1, Vitor Francisco Dalla Corte2, Juliane Ruffatto3
1Faculdade IMED, [email protected] 2 Faculdade IMED, [email protected] 3 Faculdade IMED, [email protected]
Resumo. O Agronegócio tem uma expressiva participação na economia do Brasil, assim como se revela uma área
que, para continuar em expansão, precisa ser acompanhada por um processo contínuo de pesquisas que gerem
inovação e desenvolvimento. Nessa direção, o presente estudo tem como objetivo identificar as tendências e
perspectivas do agronegócio expressas em artigos nacionais e internacionais diversos, a partir dos sistemas Web
of Science e Scopus. Para cumprir com o referido propósito, delineou-se uma pesquisa qualitativa, exploratória,
utilizando-se do método da pesquisa bibliográfica a vinte artigos de maior relevância (mais citados), a partir dos
índices Web of Science e Scopus, num recorte temporal de dez anos (2005 a 2015), tendo-se como indexador o
termo Agribusiness, no resumo/abstract dos mesmos. A partir da definição amostral de artigos, categorizou-se os
mesmos em função da recorrência. Os principais resultados apontam para o fato de que existe uma preocupação
mundial sobre produção sustentável de alimentos, percebida nas discussões dos principais artigos. Ainda, de que
artigos brasileiros não possuem muita representatividade nas publicações onde o tema foco é o Agronegócio. Palavras-chave. Agronegócio; Produção Científica; Tendências e perspectivas.
Agribusiness in articles published in national and international journals
(2005-2015): trends and prospects
Abstract. Agribusiness has a significant stake in Brazil's economy, and reveals an area that to continue
expanding, would need accompanied by a continuous process of research that creates innovation and
development. In this direction, this study aims to identify trends and prospects of agribusiness expressed in various
national and international articles from the Web of Science and Scopus systems. To comply with the said purpose,
outlined-a qualitative, exploratory research, using the method of literature twenty most relevant articles (most
cited) from the databases Web of Science and Scopus, a time frame ten years (2005-2015), having indexed the
term agribusiness, in summary / abstract of them. From the sample definition of articles, is categorized-same due
to the recurrence. The main results point to the fact that there is a global concern on sustainable food production,
perceived in the discussions of the main articles. Still, Brazilian articles do not have much representation in
publications where the focus theme is the Agribusiness.
Keywords. Agribusiness; Scientific production; Trends and prospects.
1 Introdução
O termo agribusiness foi desenvolvido na década de 1950 na Universidade de Harvard
pelos pesquisadores, John Davis e Ray Golberg. Para Brandão e Medeiros (1998), os precursores do agribusiness consideraram na construção deste termo a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles.
De acordo com Belik (2015), o agronegócio pode ser entendido como o conjunto de relações entre os agentes econômicos da cadeia produtiva agrícola e/ou pecuária. Assim sendo, analisa-se as relações, tanto das atividades realizadas pelos produtores rurais (pecuária e setor agrícola, que produzem grãos, cereais, legumes, verduras, frutas, animais de corte, dentre
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS outros), como aquelas realizadas por representantes da indústria (produção de biocombustíveis, fertilizantes, tecidos, processamento de alimentos e bebidas, entre tantos).
O Brasil, até mesmo pelas suas condições climáticas e biodiversas, tem no agronegócio uma das suas principais oportunidades de expansão econômica, mas ainda existem uma gama de fragilidades a serem superadas, o que de acordo com Toloi e Reinert (2011) poderiam ser corrigidas incentivando a produção científica voltada às áreas que se inter-relacionam para dar conta de sua complexidade.
Diante desse cenário, esta pesquisa justifica-se no sentido de buscar elucidar como está a produção acadêmica referente ao agronegócio. Também, está no fornecimento de subsídio à reflexão dos conteúdos e o momento no setor – potencialidades e fragilidades, gerando informações para o desenvolvimento de cursos, atividades de novas pesquisas e extensão. Assim sendo, o presente estudo tem a pretensão de contribuir com as reflexões sobre a produção científica buscando identificar as tendências e perspectivas do agronegócio expressas em artigos nacionais e internacionais diversos, a partir das bases de dados da Web of Science e
Scopus no período de 2005-2015. 2 Metodologia
O delineamento qualitativo desta pesquisa foi buscado em função de ser considerada ideal para identificar no conteúdo dos artigos que serviram de base de dados, quais as principais variáveis trabalhadas até então pela pesquisa acadêmica, por meio da relevância dos artigos. Cresweel (2007) ressalta que uma pesquisa é caracteriza como exploratória quando os pesquisadores a utilizam com o objetivo de explorar um tema, quando suas variáveis e bases teóricas são desconhecidas. Na mesma direção do apontado acima, em função de explorar os artigos produzidos, dentro do indexador ou palavra-chave agribusiness e do recorte temporal dos anos 2005 a 2015, explorando quais os artigos mais relevantes (mais citados) dentro da gama de 9.200 títulos de periódicos com o termo agribusiness na Web of Science e Scopus. Na primeira exploração realizada identificou-se, 2038 artigos publicados. Muitos desses repetiam-se em vários periódicos da base, assim, delimitou-se os 20 mais citados de cada base de busca, totalizando 40 artigos, após tabulação dos dados em planilha excel, observou-se que 12 artigos das duas bases de busca se repetiam, e para amostra final, considerou-se apenas uma vez, totalizando 28 artigos para a amostra final.
Como sequência do estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. Assim, foi possível estabelecer, primeiramente, a ordenação dos artigos de acordo com autores, periódico, ano, e objetivo dos mesmos; posteriormente, fez-se uso da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 3 Apresentação e discussão dos resultados 3.1 Apresentação dos artigos
Apresenta-se por meio do Quadro 1 a seleção de artigos identificados do total de 2038
artigos publicados entre os anos 2005-2015 que traziam como indexador a palavra agribusiness e, portanto, tratavam de alguma forma do agronegócio. Para fins de síntese dos dados, apresenta-se o/os autor/es, seus títulos, o periódico em que foram localizados, o ano, o objetivo do estudo e o número de citações recebidas (os dados completos podem ser obtidos nas referências, ao final deste artigo).
Quadro 1: Resumo dos principais artigos publicados – Web of Science e Scopus (continua)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Autor Título do artigo Revista/ano Objetivo Nº
citações
McMICHAEL, P.
A food regime analysis of the ‘world food crisis’
Agriculture and human values (2009)
Argumentar sobre a crise resultante da dependência de combustíveis fósseis pelo capitalismo industrial a longo prazo.
269
RABALIS, N. N. et al.
Global change and eutrophication of coastal waters
ICES Journal of Marine Science (2009)
Abordar alguns mecanismos importantes pelos quais a mudança global pode afetar a eutrofização dos ecossistemas costeiros e estuarinos.
250
DEININGER, K.
Challenges posed by the new wave of farmland investment
Journal of Peasant Studies (2011)
Identificar as influências negativas sobre a ocupação de terras em políticas mundiais.
209
COTULA, L.
The international political economy of the global land rusch: a critical appraisal of trendes, scale, geography and drivers
Journal of Peasant Studies (2012)
Examinar criticamente evidências de tendências globais para aquisição de terras.
149
ALTIERI, M. A.; TOLEDO, V. M.
The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants
Journal of Peasant Studies (2011)
Fornecer uma visão geral sobre a revolução agroecológica na América Latina.
106
McCARTHY, J. F.
Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia
Journal of Peasant (2010)
Demonstrar como os microprocessos relacionados à produção de óleo de palma estão relacionado com as mudanças agrária de aldeias em Sumatra, Indonésia.
96
CESAR, A. S.; BATALHA, M. O.
Biodiesel production from castor oil in Brazil: A difficult reality
Energy Policy (2010)
Demonstrar as dificuldades enfrentadas pelas empresas na execução de contratos com agricultores familiares, com foco na cadeia do agronegócio do biodiesel no contexto brasileiro.
92
FEARNSIDE, P. M.
The roles and movements of actors in the deforestation of Brazilian Amazonia
Ecology and society (2008)
Discutir as consequências do desmatamento da Amazônia, em função do agronegócio.
91
FACHINELLO, J. et al.
Situação e perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil
Revista Brasileira de Fruticultura (2011)
Discorrer sobre a necessidade de adaptação das espécies frutíferas às mudanças climáticas no contexto brasileiro, levando em considerações a necessidade de reduzir o uso dos agrotóxicos e insumos, os manejos da colheita e a logística para atender os diversos mercados.
85
CARLSON, K. M. et al.
Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2012)
Avaliar os impactos de desenvolvimento de plantações de óleo de palma na cobertura do solo, fluxo de carbono, e terras comunitárias agrárias em Kalimantan Ocidental, na ilha de Bornéu Indonésia.
84
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
JAFFE, D.; HOWARD, P. H.
Corporate cooptation of organic and fair trade standards
Agriculture and Human Values (2010)
Examinar a dinâmica de dois sistemas alternativos de produção agroalimentar, alimentos orgânicos e o comércio justo no contexto norte americano.
80
MACEDO, M. C. M.
Crop and livestock integration: The state of the art and the near future
Revista Brasileira de Zootecnia (2009)
Analisar o estado da arte em pesquisas de sistemas integrados de lavoura-pecuária, aproximando resultados para o Brasil.
79
OLYNK, N. J.; TONSOR, G. T.; WOLF, C. A.
Consumer Willingness to pay for livestock credence attribute claim verification
Journal of Agricultural and Resource Economics (2010).
Determinar o valor que o consumidor atribui a atributos de processo de produção pecuária.
78
FERNANDES, B. M. et al.
Agrofuel policies in Brazil: paradigmatic and territorial disputes
Journal of Peasant Studies (2010)
Verificar as reações do movimento camponês, proposta e disputas territoriais relacionadas à produção de biocombustíveis no Brasil.
72
GRUNERT, K. G. et al.
Market orientation of value chains A conceptual framework based on four case studies from the food industry
European Journal of Marketing (2005)
Verificar o conceito de orientação para o mercado em diferentes níveis da cadeia de valor, tendo como base quatro estudos de caso de indústrias de alimentos.
60
OMETTO, A. R.; HAUSCHILD, M. Z.; ROMA, W. N. L.
Lifecycle assessment of fuel ethanol from sugarcane in Brazil
International Journal of Life Cycle Assessment (2009)
Desenvolver uma avaliação do ciclo de vida do etanol combustível a partir de cana de açúcar em Tucumán (Argentina), avaliando os potenciais impactos ambientais para identificar qual deles causa os principais impactos.
60
DEININGER, K; BYERLEE, D.
The rise of large farms in land abundant countries: Do they have a future?
World Development (2012)
Levantar questões sobre a estrutura agrária e o equilíbrio entre grandes e pequenas propriedades.
58
THOMAS, G. A. et al.
No-tillage and conservation farming practices in grain growing areas of Queensland
Australian Journal of Experimental Agriculture (2007)
Demonstrar a importância relativa de seguir a gestão na produção agrícola na região de grãos do norte.
57
COSTA-NETO, E. M.
Animal - based medicines: biological prospection and the sustainable use of zootheraupeutic resources
Anais da Academia Brasileira de Ciências (2005)
Evidenciar os impactos causados pela zooterapia, quanto à utilização sustentável dos recursos.
55
ALBERSMEIR, F. et al.
The reliability of third-party certification in the food chain: From checklists to risk-oriented auting
Food Control (2009)
Deduzir hipóteses empíricas sobre a confiabilidade da certificação por terceiros e o enquadramento institucional para a cadeia alimentar
54
VAN BERKEL, R.
Cleaner production and eco-efficiency initiatives in Western Australia 1996-2004
Journal of Cleaner Production (2007)
Resumir a evolução da promoção e implementação da produção mais limpa e eco-eficiência na Austrália Ocidental
53
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
NTALIANI, M.; COSTOPOULOU, C.; KARETSOS, S.
Mobile government: A challenge for agriculture
Government Information Quarterly (2008)
Apresentar um quadro para a identificação de serviços adequados e rentáveis de governo Mobile para o setor agrícola e, ilustrar a aplicação do quadro proposto, descrevendo um estudo de caso para um setor do agronegócio particular.
51
McCARTHY, J. F.; GILLESPIE, P.; ZEN, Z.
Swimming Upstream: Local Indonesian production networks in “globalized” palm oil production
World Development (2012)
Analisar os processos de desenvolvimento de óleo de palma em três distritos na Indonésia.
51
MASUDA, T.; GOLDSMITH, P. D.
World soybean production: Area harvested, yield, and long-term projections
International Food and Agribusiness Management Review (2009)
Destacar os cenários para os decisores políticos e gestores do agronegócio a necessidade urgente de investimentos significativos para melhorar a produção.
45
MORE, S. J. et al.
Stting priorities for non-regulatory animal health in Ireland: Results from an expert Policy Delphi and a farmer priority identification survey
Preventive Veterinary Medicine (2010)
Verificar a opinião de especialistas e agricultores sobre as questões relacionadas à saúde.
45
NALLY, D. The biopolitics of food provisioning
Transactions of the Institute of British Geographers (2011).
O estudo explora como a economia moral da fome é gradualmente substituída por uma economia política de segurança alimentar, por meio do agronegócio corporativo.
45
ZHANG, Q.; DONALDSON, J. A.
The rise of agrarian capitalism with Chinese characteristics: Agricultural modernization, agribusiness and collective land rights
China Journal (2008)
Resumir as cinco formas de interacção agribusiness agricultor encontradas no, e analisar cada uma das cinco formas em profundidade.
44
SOARES, A. L. L. et al.
Agronomic efficiency of selected rhizobia strains and diversity of native nodulating populations in Perdões (MG)
Revista Brasileira de Ciência do Solo (2006)
Avaliar a eficiência agronômica em campo de estirpes de rizóbio em simbiose com o caupi, comparadas com as estirpes recomendada até 2004, para produção de inoculantes comerciais.
14
Fonte: dados da pesquisa (2016).
O Quadro 1 permite algumas observações em relação a produção acadêmica sobre o agronegócio no tempo proposto. Primeiramente, dentre os artigos em destaque, torna-se recorrente a produção de Klaus Deininger e John F. McCarthy, que dentre os vinte e oito artigos, tiveram, ambos, duas de suas produções destacadas.
É importante ressaltar que, dentre os artigos analisados, apenas 7 eram publicações de autores brasileiros, e dentre estes, apenas 4 publicados em periódicos nacionais. Independente se a pesquisa referia-se a contextos brasileiros ou não, observa-se que a maioria é estrangeira (86%), enquanto quatro (14%) são nacionais: Revista Brasileira de Fruticultura; Revista Brasileira de Zootecnia; Anais da Academia Brasileira de Ciências e Revista Brasileira de Ciência do Solo.
O baixo impacto da pesquisa brasileira como um todo pode estar associado à indexação, que influencia o número de citações recebidas, o idioma do texto, a área temática, o número de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS autores, o nível de colaboração internacional e autocitações. Para alterar esse cenário, o Brasil terá que fazer um grande investimento para aumentar o ritmo atual de crescimento e qualidade das publicações em inglês ou bilíngue nos periódicos nacionais (PACKER, 2011).
O tema Agribusiness está entre os que os periódicos brasileiros publicam, mas mesmo nos periódicos internacionais, o ranking das citações por artigo brasileiro é muito baixo. Meneghini et al., (2008) entendem que a colaboração internacional em se tratando de autoria também é fator relevante, e que repercute no número de citações recebidas. Os artigos de autores brasileiros exclusivamente recebem menos citações do que se comparados com os que recebem colaboração de autores estrangeiros.
3.1.1 Contextos de pesquisa: nacionais e estrangeiros
O Brasil possui cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial (IBGE, 2016). Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do país um lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados à suas cadeias produtivas, ou seja, diferentes agronegócios. Mesmo com essa perspectiva de crescimento, a pesquisa científica sobre agronegócios ainda carece no Brasil. A amostra de artigos analisados revelou o campo de pesquisa dos mesmos, ora brasileiro ora internacional. Dos 28 artigos mais citados 8 referem-se ao contexto brasileiro, sendo que destes, apenas 1 deles de autoria estrangeira. Os artigos que utilizam o contexto brasileiro sobre o agronegócio atentam para temas como o desmatamento da Amazônia, políticas de agrocombustíveis e biodiesel e fruticultura. Temas de suma importância, discutidos mundialmente e que não esgotam pesquisas. Do contexto internacional, inúmeras pesquisas estão voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta em termos de abastecimento alimentar e da crise alimentar mundial, política de abastecimento alimentar, eficiência agronômica, integração lavoura e pecuária e saúde animal, mas ainda carecem pesquisas integradas que busquem soluções para os diferentes contextos de aplicação.
4 Considerações finais
Existe uma discussão constante em termos da preocupação com a produção sustentável de alimentos sem esgotar a natureza, na tentativa de garantir a segurança alimentar. O Brasil possui uma riqueza natural que ainda pode ser melhor explorada em termos de pesquisa científica.
O levantamento bibliométrico revelou que os artigos brasileiros expressam pouca representatividade nos rankings de mais citados entre os índices de referência mundiais. O desafio que se apresenta é minimizar a assimetria que existe atualmente entre os títulos nacionais e internacionais em relação ao impacto e colaboração internacional nas pesquisas de modo a posicionar as pesquisas com melhor desempenho como referências em suas respectivas áreas. As condições políticas e de infraestrutura estão dadas e os problemas a superar são conhecidos: a dispersão das instâncias de editoração e publicação, a persistência de amadorismo e corporativismo nas políticas, gestão e operação dos processos editoriais, a reduzida cooperação internacional na editoração dos periódicos e autoria dos artigos, bem como a publicação predominante em português.
Referências
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS ALBERSMEIER, F; SCHULZE, H.; JAHN, G.; SPILLER, A. The reliability of third-party certification in the food chain: From checklists to risk-oriented auditing. Food Control, v. 20, n. 10, p. 927-935, 2009. ALTIERI, M. A.; TOLEDO, V. M. The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. Journal of Peasant Studies, v. 38, n. 3, p. 587-612, 2011. BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. BELIK, W. O financiamento da agropecuária brasileira no período recente. Texto para discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, n. 2028, 2015. BRANDÃO, G. E.; MEDEIROS, J. X. Programa de C & T para o desenvolvimento do agronegócio - CNPQ. In: CNPQ. Ciência, tecnologia e agronegócio brasileiro: competitividade. Brasília, 1998. p. 11-26. CARLSON, K. M. CURRAN, L. M.; RATNASARI, D.; PITTMAN, A. M.; SOARES-FILHO, B. S.; ASNER, G. P.; TRIGG, S. N.; GAVEAU, D. A.; LAWRENCE, D; RODRIGUES, H. O. Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 109, n. 19, p. 7559-7564, 2012. CÉSAR, S. A.; BATALHA, M. O. Biodiesel production from castor oil in Brazil: A difficult reality. Energy
Policy, v. 38, n. 8, p. 4031-4039, 2010. COSTA-NETO, E. M. Animal-based medicines: biological prospection and the sustainable use of zootherapeutic resources. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 77, n. 1, p. 33-43, 2005. COTULA, L. The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale, geography and drivers. Journal of Peasant Studies, v. 39, n. 3-4, p. 649-680, 2012. CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. DAVIS, J. H. GOLDBERG, R. A Concept of agribusiness. Division of research. Graduate School ul'Business
Adniinistraitinn. Bu:-stun: Harvard Uni-versity, v. 195, 1957. DEININGER, K. Challenges posed by the new wave of farmland investment. The journal of peasant studies, v. 38, n. 2, p. 217-247, 2011. DEININGER, K.; BYERLEE, D. The rise of large farms in land abundant countries: Do they have a future?. World Development, v. 40, n. 4, p. 701-714, 2012. FACHINELLO, J. C.; PASA, M. D. S., SCHMTIZ, J. D.; BETEMPS, D. L. Situação e perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 33, n. S1, p. 109-120, 2011. FEARNSIDE, P. M. The roles and movements of actors in the deforestation of Brazilian Amazonia. Ecology
and society, v. 13, n. 1, p. 23, 2008. FERNANDES, B. M.; WELCH, C. A.; GONÇALVES, E. C. Agrofuel policies in Brazil: paradigmatic and territorial disputes. The Journal of Peasant Studies, v. 37, n. 4, p. 793-819, 2010. GRUNERT, K. G.; FRUENSGAARD, J. L.; RISOM, J. K.; SONNE, A. M.; HANSEN, K.; TRONDSEN, T.; YOUNG, J. A. Market orientation of value chains: A conceptual framework based on four case studies from the food industry. European Journal of Marketing, v. 39, n. 5/6, p. 428-455, 2005. JAFFEE, D.; HOWARD, P. H. Corporate cooptation of organic and fair trade standards. Agriculture and
Human Values, v. 27, n. 4, p. 387-399, 2010. MACEDO, M. C. M. Crop and livestock integration: the state of the art and the near future. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 38, n. SPE, p. 133-146, 2009.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS MASUDA, T.; GOLDSMITH, P. D. World soybean production: area harvested, yield, and long-term projections. International Food and Agribusiness Management Review, v. 12, n. 4, p. 143-162, 2009. MCCARTHY, J. F. Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. The Journal of peasant studies, v. 37, n. 4, p. 821-850, 2010. MCCARTHY, J. F.; GILLESPIE, P.; ZEN, Z. Swimming upstream: local Indonesian production networks in “globalized” palm oil production. World Development, v. 40, n. 3, p. 555-569, 2012. MCMICHAEL, P. A food regime analysis of the ‘world food crisis’. Agriculture and human values, v. 26, n. 4, p. 281-295, 2009. MENEGHINI, R.; PACKER, A. L.; NASSI-CALÒ, L. Articles by Latin American Authors in Prestigious Journals Have Fewer Citations”, in PLoS ONE. 3(11), p. 3.804, 2008. MORE, S. J.; McKENZIE, K.; O’FLAHERTY, J.; DOHERTY, M. L.; CROMIE, A. R.; MAGAN, M. J. Setting priorities for non-regulatory animal health in Ireland: results from an expert Policy Delphi study and a farmer priority identification survey. Preventive veterinary medicine, v. 95, n. 3, p. 198-207, 2010. NALLY, D. The biopolitics of food provisioning. Transactions of the Institute of British Geographers, v. 36, n. 1, p. 37-53, 2011. NTALIANI, M.; COSTOPOULOU, C.; KARETSOS, S. Mobile government: A challenge for agriculture. Government Information Quarterly, v. 25, n. 4, p. 699-716, 2008. OLYNK, N. J.; TONSOR, G. T.; WOLF, C. A. Consumer willingness to pay for livestock credence attribute claim verification. Journal of Agricultural and Resource Economics, p. 261-280, 2010. OMETTO, A. R.; HAUSCHILD, M. Z.; ROMA, W. N. Lopes. Lifecycle assessment of fuel ethanol from sugarcane in Brazil.The international journal of life cycle assessment, v. 14, n. 3, p. 236-247, 2009. PACKER, A. L. Os periódicos brasileiros e a comunicação da pesquisa nacional. Revista USP, n. 89, p. 26-61, 2011. RABALIS, N. N.; TURNER, R. E.; DÍAZ, R. J.; JUSTIć, D. Global change and eutrophication of coastal waters. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, v. 66, n. 7, p. 1528-1537, 2009. SOARES, A. L. L.; PEREIRA, J. P. A. R.; FERREIRA, P. A. A.; VALE, H. M. M. D.; LIMA, A. S.; ANDRADE, M. J. B. D.; MOREIRA, F. M. D. S. Agronomic efficiency of selected rhizobia strains and diversity of native nodulating populations in Perdões (MG-Brazil): I-cowpea. Revista Brasileira de Ciência do
Solo, v. 30, n. 5, p. 795-802, 2006. THOMAS, G. A.; TITMARSH, G. W., FREEBAIRN, D. M.; RADFORD, J. No-tillage and conservation farming practices in grain growing areas of Queensland–a review of 40 years of development. Animal
Production Science, v. 47, n. 8, p. 887-898, 2007. TOLOI, R. C.; REINERT, J. N. Contribuição do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no desenvolvimento do agronegócio do Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Acta Scientiarum Human and Social Sciences, Maringá, v. 33, n. 1, p. 55-65, 2011. VAN BERKEL, R. Cleaner production and eco-efficiency initiatives in Western Australia 1996–2004. Journal
of Cleaner Production, v. 15, n. 8, p. 741-755, 2007. ZHANG, Q. F.; DONALDSON, J. A. The rise of agrarian capitalism with Chinese characteristics: Agricultural modernization, agribusiness and collective land rights. The China Journal, n. 60, p. 25-47, 2008.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA ERVA-MATE EM PALMEIRA DAS MISSÕES – RS
Maielen Lambrecht Kuchak 1, Daniele Silva Martins de Oliveira
2, Amanda de Souza
Medeiros3, Aline da Silva Fortes Utpadel
4, Luciane Dittgen Miritz
5
1 Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 2Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 3Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 4Universidade Federal de Santa Maria, [email protected] 5 Universidade Federal de Santa Maria, [email protected]
Resumo. O chimarrão é consumido fortemente no sul do país, o qual determina o Rio Grande do Sul como o
estado de maior consumo da erva-mate para chimarrão. Os diversos processos pelos quais a erva-mate passa
até chegar ao consumidor final pode ser denominado como cadeia produtiva. A partir disto, pretende-se
responder o seguinte problema da pesquisa: “Quais as principais dificuldades que ocorre no processo
produtivo e no mercado da erva-mate?”. Partindo do problema de pesquisa, o objetivo geral desse estudo é
compreender melhor a cadeia produtiva da erva-mate em Palmeira das Missões – RS. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas seguindo um roteiro padronizado com os responsáveis de três ervateiras, referente
à caracterização da cadeia produtiva. Indagadas sobre quais fatores dificultam na produção da erva-mate, a E1
enfatiza que não têm dificuldade para produzir, mas sim para comercializar, pela baixa no consumo devido ao
aumento do preço na venda e a diminuição da demanda. Logo, a E2 ressalta que o clima dificulta na produção
da erva-mate e a E3 relata que vender pouco é o que dificulta a produção. Portanto com referência ao futuro da
cadeia produtiva, conclui-se que em curto prazo não haverá mudanças devido à instabilidade econômica, mas
no longo prazo tem-se uma visão de que a cadeia irá melhorar resultando no investimento de maior qualidade e
o aumento da produção.
Palavras-chave. Erva-mate. Produção da erva-mate. Cadeia Produtiva.
ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN HERB MATE PALMEIRA OF MISSIÕES – RS
Abstract. The mate is heavily consumed in the South, which determines the Rio Grande do Sul as the state of
higher consumption of yerba mate to mate. The various processes by which yerba mate passes to reach the end
consumer can be termed as the production chain. From this, we intend to answer the following research problem: "What are the main difficulties that occurs in the production process and yerba mate market?". From
the research problem, the general objective of this study is to better understand the production chain of yerba
mate in Palmeira das Missões - RS. Semi-structured interviews were conducted following a standardized script
with the heads of three ervateiras relating to the characterization of the production chain. Asked about which
factors hinder the yerba mate production, E1 emphasizes that have difficulty to produce, but to market, low
consumption due to the price increase in sales and a decrease in demand. Thus, the E2 points out that the
climate hinders the yerba mate production and E3 reports that sell little is hampering the production. So with
reference to the future of the production chain, it is concluded that in the short term there will be no changes due
to economic instability, but in the long run has a vision that the chain will improve resulting in the investment of
higher quality and increased production .
Keywords. Mate herb. Yerba mate production. Productive Chain.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
O chimarrão é consumido fortemente no sul do país, evidenciando o Rio Grande Do Sul como o estado de maior consumo da erva-mate para chimarrão. A erva-mate foi plenamente incorporada aos hábitos alimentares dos brasileiros, atualmente nas infusões de erva-mate são amplamente consumidas, não apenas nesta forma, mas como chá mate e tererê (mate gelado) (JUNIOR, 2005). Os diversos processos pelo quais a erva-mate passa até chegar ao consumidor final pode ser denominado como cadeia produtiva da erva-mate. A cadeia produtiva da erva-mate é formada por alguns agentes, sendo eles, fornecedores de insumos, produtores rurais, colhedores (conhecidos ainda como tarefeiros), indústrias processadoras e o comércio (PICOLLOTO et al., 2011).
No transcorrer da cadeia produtiva, os produtores usam insumos e equipamentos para ampliar a produção e a qualidade, e para simplificar a manipulação da matéria-prima (RIGO et al., 2014). No Rio Grande do Sul, a produção de erva mate tem sido uma das atividades com forte participação no mercado devido ao aumento do consumo de chimarrão. No decorrer dos anos, Palmeira das Missões é o município que mais tem crescido na produção de erva-mate devido à capacidade produtiva existente na cidade e a economia da cidade girar, basicamente, em torno da agricultura familiar (SINDIMATE, 2014).
A partir disto, pretende-se responder o seguinte problema da pesquisa: “Quais as principais dificuldades que ocorre no processo produtivo e no mercado da erva-mate?”. Partindo do problema de pesquisa, o objetivo geral desse estudo é compreender melhor a cadeia produtiva da erva-mate em Palmeira das Missões – RS. E como objetivos específicos: a) caracterizar o processo de produção da erva-mate em Palmeira das Missões – RS; b) investigar quais são os agentes envolvidos no processo produtivo; c) investigar quais dificuldades ocorrem no processo produtivo e mercado da erva-mate; e d) levantar ações que possam contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva-mate em Palmeira das Missões – RS.
O estudo é importante para compreender quais as principais dificuldades que ocorrem no processo produtivo da erva-mate, caracterizar a cadeia produtiva da erva-mate em Palmeira das Missões – RS e levantar possíveis ações que possam contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva-mate na cidade.
Referencial Teórico
Histórico da erva-mate e consumo
A erva-mate, cujo nome científico de Ilex paraguariensis ST.HILL, é uma planta nativa das regiões subtropicais, desenvolve-se em países como Argentina, Brasil e Paraguai. No Brasil, seu cultivo está dividido entre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (PICOLLOTO et al., 2011). Para Bagatini (2012) a erva-mate é uma planta de grande importância socioeconômica, com ocorrência da espécie de forma nativa ou cultivada. Seu plantio colabora para preservação do solo, no combate à erosão, e na economia contribui como fonte de renda.
Seu cultivo é responsável por aproximadamente 64% da produção regional na Argentina, no Brasil com 31 % e no Paraguai com 5% (RIGO et al., 2014). A utilização do da erva-mate no chimarrão, nos estados consumidores faz parte do cotidiano Graef et al. (2013) é o símbolo da hospitalidade e da força da tradição. O mesmo, sendo, um notório símbolo da cultura do
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS gaúcho, é originado da palavra em espanhol “chimarrón”, com significado de amargo, selvagem (JUNIOR, 2005).
A erva-mate passou com o decorrer dos anos a ser utilizada para fabricação de outros produtos como, na preparação de cosméticos, no preparo de bebidas como o chá e refrigerantes, mas é no chimarrão que ela se populariza (PICOLLOTO et al., 2011). Para aumentar ou até manter o consumo, as indústrias criam ervas com outros ingredientes, como o açúcar ou mistura com outras ervas, no objetivo de propagar sua utilização. A diversificação pode viabilizar a conquista de novos mercados e consumidores (JUNIOR, 2005, p.3).
O consumo da erva-mate pode proporcionar ao organismo alguns benefícios, devido as suas características e propriedades, como a cafeína, por exemplo, que possui funções digestivas e agentes que favorecem o funcionamento do coração e previnem contra o câncer (RIGO et al., 2014). Em função destas características e por ser avaliada como uma das plantas mais ricas em substâncias que favorecem saúde humana, a erva-mate vem sendo alvo de estudos não somente no Brasil, mas inclusive no exterior (MENDES, 2005). Sendo assim, em virtude destes benefícios as instituições econômicas através de suas análises apontam um crescimento no consumo da erva-mate (BAGATINI, 2012).
Cadeia produtiva da erva-mate
Os vários processos pelo quais a erva-mate passa até chegar ao consumidor final denomina-se como cadeia produtiva da erva-mate. A cadeia produtiva da erva-mate é composta por alguns agentes, sendo eles, fornecedores de insumos, produtores rurais, colhedores (conhecidos ainda como tarefeiros), indústrias processadoras e o comércio (PICOLLOTO et al., 2011).
No transcorrer da cadeia produtiva, os produtores usam insumos e equipamentos para ampliar a produção e a qualidade, e para simplificar a manipulação da matéria-prima. Diversos utilizam fertilizantes e adubos químicos e orgânicos para conseguir ter uma alta produtividade. Também, necessitam de defensivos agrícolas para eliminar pragas, e herbicidas e máquinas para monitorar as plantas invasoras, assegurar a manutenção do erval para cortar as árvores (RIGO et al., 2014).
O responsável pela produção da matéria-prima é o produtor rural que está envolvido no setor agropecuário. O setor atinge todas as etapas desde a preparação do solo para o plantio, até o replantio e manuseio da propriedade. O início do processo de produção da erva-mate dá-se pela preparação do solo, por meio de adubação química ou orgânica, e posteriormente planta as mudas. Depois do plantio, alguns cuidados devem ser tomados para garantir que as mudas cresçam. A próxima etapa é o replantio, que se torna necessária para garantir a sobrevivência da muda. O manuseio se estende por todo o processo produtivo, com isso, o segmento da distribuição é o responsável por fazer a erva-mate chegar até o consumidor final (RIGO et al., 2014).
Produção da erva-mate no RS e em Palmeira das Missões
No Rio Grande do Sul, a produção de erva mate tem sido uma das atividades com forte participação no mercado devido o aumento do consumo de chimarrão. Contudo, com base em dados recentes, isso tem mudado, pois o estado vem perdendo uma parcela significativa no mercado nacional, sendo que o estado de Paraná vem se sobressaindo nos últimos anos na produção (OLIVEIRA; WAQUIL, 2014).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Segundo dados do Sindimate (2014), o Rio Grande do Sul possui uma área plantada de 35.240 hectares com colheita anual de 276.232 toneladas de erva mate. Diante disso, tem-se uma área colhida de 28.772 hectares e um valor referente à produção de erva mate de R$ 302.935,00, esse custo refere-se à quantidade colhida de erva mate, sendo que nos estados que o compõe esse valor vem diferindo ao longo dos anos.
A erva mate produzida é destinada a indústria totalizando 89,67% devido à mesma ser um agente transformador (secagem e moagem) para o consumo e os demais é comercializada por intermediários (MORLIN, PEDERIVA; WAQUIL, 2012). De acordo com Bender, Neris e Böttcher (2014), a produção no Rio Grande do Sul está organizada em seis polos sendo eles: Planalto Missões, Alto Uruguai, Nordeste Gaúcho, Alto Taquari, Vale do Taquari e Polo Sul.
No decorrer dos anos, Palmeira das Missões é o município que mais tem crescido na produção de erva mate devido à capacidade produtiva existente na cidade e a economia da cidade girar, basicamente, em torno da agricultura familiar. Em 2014, a cidade possuiu 4,3% por hectares de área plantada, além de, uma colheita anual de 21000 toneladas de erva mate representando 7,6% da produção e a maioria da erva mate produzida é destinada a comercialização e uma parcela significativa à exportação do produto pelas ervateiras da região (SINDIMATE, 2014).
De acordo com pesquisas recentes, em média é destinado 20 hectares por produtor rural para a produção de erva mate convencional e os demais para a produção de erva mate orgânica sendo que os ervais devem ser certificados pela Ecocert, órgão responsável pelo acompanhamento da produção de erva mate. Com isso, estima-se que nos próximos anos a produção e a exportação do produto aumentem significativamente no mercado (ZATT, 2016).
Aspectos Econômicos da Erva Mate
A erva-mate é considerada uma das plantas nativa mais consumida no Brasil, com isso, Ribeiro, Cruz e Urias (2005, p.02) destacam que “a atividade ervateira sempre apresentou grande importância para as regiões sul e centro-oeste do Brasil [...]”. Diante disso, o mercado de erva mate sofre constantemente mudanças devido às necessidades dos consumidores e as técnicas utilizadas no processo produtivo (RIGO et al., 2014).
Matieski et al. (2015, p. 18) afirma que “com a modernização da produção e a diversificação dos produtos oferecidos, é possível que se tenha uma ampliação do mercado”. Assim sendo, a exportação e a importação auxiliam no crescimento das empresas produtoras de erva mate no comércio com o intuito de aumentar a competitividade.
O Brasil e a Argentina são os maiores exportadores de erva mate, totalizando 92% das exportações mundiais, sendo que 49,7% corresponde ao Brasil e 42,3% a Argentina. Dos 110 países que exportam Brasil e Argentina estão nas primeiras colocações do ranking mundial totalizando em torno de US$ FOB 1,1 bilhões, os demais representam 8% das exportações. No período de 1997 a 2011, o maior importador era o Uruguai com 45,8% de erva mate, sendo que o Brasil estava com 5,8%, contudo nos dias atuais a importação brasileira de erva mate caiu significativamente (SCHIRIGATTI, 2014).
No entanto, verifica-se que o Brasil tem uma redução na sua exportação, todavia, ainda que o mesmo seja um dos maiores exportadores é o país que menos importa erva mate, além da, produção ser mais concentrada na região sul. A diminuição da exportação se dá pelo fato de que a indústria ervateira está numa crise e o aumento da concorrência faz com que haja uma oscilação no preço, levando os produtores locais especularem o prejuízo. Apesar dos
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS problemas enfrentados na exportação, a erva mate possui uma quantidade exportada significativa, ano a ano com o intuito de superar os déficits na economia (BOGUSZEWSKI, 2007).
Método do Estudo
Para a construção deste trabalho, o método aplicado foi pesquisa descritiva e exploratória, sendo de acordo com Gil (2009, p.41) a pesquisa descritiva “[...] são aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis”. A pesquisa exploratória se envolve ao trabalho, porque permite ao pesquisador agregar conhecimento e experiência em torno do problema em questão. De acordo com Severino (2007, p.123) “[...] a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre um determinado objetivo”. Sua abordagem é qualitativa, abrange nesse trabalho a qualificação dos fatos observados no transcorrer na pesquisa. De acordo com Diehl e Tatim (2004, p.52) os estudos qualitativos podem:
[...] “descrever a complexidade de determinado problema, e ver a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, [...] e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos”.
Os procedimentos de pesquisa utilizados foram à pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica se emprega ao trabalho, pelo fato de que foram usadas fundamentações teóricas para a complementação do mesmo. Segundo Gil (2009, p.44) “[...] este tipo de pesquisa é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Foram também utilizados a Pesquisa de Campo, sendo essas realizadas visitas diretas com os Produtores da erva-mate. De acordo com Gil (2009, p.53):
No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada importância de uma experiência direta com a situação de estudo. [...] e como o pesquisador apresenta nível maior de participação, torna-se maior a probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas mais confiáveis.
Foi utilizado como instrumento, entrevistas gravadas onde o entrevistador visa apreender o que os entrevistados pensam, sabem, representam e fazem (SEVERINO, 2007). Para Gil (2007) a entrevista é uma maneira de interagir socialmente, em que uma das partes se apresenta como fonte de informação e a outra busca coletar dados. Entretanto essa entrevista é considerada semiestruturada, de modo que é feito um roteiro de questões, conduzidos aos responsáveis pelas organizações pesquisadas, sempre dando a oportunidade de o entrevistado falar sobre tais assuntos que irão surgindo durante a entrevista (PÁDUA, 2009).
O roteiro das entrevistas foi padronizado, sendo planejado com as mesmas questões para cada entrevistado, contendo perguntas relacionadas especificamente ao problema em questão, sempre oportunizando as informações relevantes que ao longo da conversa acabam surgindo, observando assim a opinião de cada entrevistado.
Análise dos Resultados
A seguir são expostos os resultados das entrevistas realizadas com os responsáveis das ervateiras, referente à caracterização da cadeia produtiva da erva-mate em Palmeira das
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Missões - RS, os agentes envolvidos na cadeia produtiva, as dificuldades encontradas na cadeia produtiva e as ações que possam contribuir para a cadeia produtiva. Desse modo, denominaram-se as ervateiras como E1, E2 e E3 visando não expor as mesmas.
Questionadas referente como é desenvolvido o processo da cadeia produtiva da erva-mate. De acordo com o E1, primeiro é feito a colheita da matéria-prima, após isso ocorre a sapecagem da folha, posteriormente ela é cancheada, em seguida passa para a secagem, depois de seca é moída e por fim empacotada. Já a cadeia produtiva da E2 é muito semelhante com a da E1, ocorrendo da seguinte forma: a colheita, sapecagem, secagem, moagem e empacotamento. E por fim, a E3 relatou que a cadeia produtiva de sua ervateira é feita a partir da colheita, secagem e moagem.
Pode-se analisar com base nas informações obtidas a confirmação com a caracterização descrita da cadeia produtiva feita por Rigo et al. (2014) onde diz que inicia com a colheita da erva-mate, vindo após a sapecagem, o cancheamento e posteriormente a etapa de descanso da erva-mate. Com isso, pode-se dizer que o segmento da distribuição é o responsável pela fabricação da erva-mate, assim, possibilitando o envio para o consumidor final.
Ao serem questionadas sobre a produção mensal constatou-se que a E1 produz 1000kg por dia totalizando 25000kg mensal, na E2 15000kg mensal e a E3 3000kg a 4000kg mensal. A partir disso, analisou-se qual a origem da matéria-prima sendo que na E1 são 99,9% compradas de terceiros, E2 a matéria é comprada na região do Paraná e já na E3 é comprado somente matéria-prima da região de Palmeira das Missões. No que se refere aos elos da cadeia produtiva, na E1 representa-se pela ervateira e parcerias, já a E2 corresponde ao produtor e ervateira e a E3 constitui-se entre associação, produtor e ervateira.
E investigadas sobre que fatores influenciam diretamente na cadeia produtiva, a E1 ressalta que o fator principal é o consumo. Já a E2 e a E3 afirmam que são as condições climáticas (geada e sol muito forte). Indagadas sobre quais fatores dificultam na produção da erva-mate, a E1 enfatiza que não têm dificuldade para produzir, mas sim para comercializar, pela baixa no consumo devido ao aumento do preço na venda e a diminuição da demanda. Logo, a E2 ressalta que o clima dificulta na produção da erva-mate e a E3 relata que vender pouco é o que dificulta a produção.
No que diz respeito à utilização de aditivos na erva-mate, a E1 ressalta que produz “erva sem e com açúcar, produzíamos com chá também, mas paramos de produzir devido à vigilância, mas vamos nos adequar para voltarmos a produzir”. A E2 diz que produz erva com e sem açúcar e a E3 produz erva-mate com e sem açúcar, mas não vão mais fabricar com açúcar, até se adequarem nas normas da legislação.
Questionou-se também se as ervateiras produzem só a erva-mate ou a utilizam para a confecção de outros produtos. De acordo ao questionamento a E1 salienta que também produz erva para Tererê a partir da matéria-prima utilizada para a fabricação da erva-mate. Por conseguinte, a E2 e E3 ressaltaram que só produzem erva para o chimarrão.
Quando indagadas sobre os locais de distribuição a E1 relata que “é bastante disseminada na região, exportamos a erva para o Brasil inteiro: em Porto Alegre Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul e em algumas ocasiões enviamos erva-mate para a Alemanha e Estados Unidos". Assim, a E2 destaca que os locais que distribui a erva-mate “em Palmeira das Missões e na região Noroeste, abrangendo as cidades de Três Passos, Santa Rosa, Cruz Alta, Campo Novo, Horizontina e São Martinho”. Desse modo, a E3 ressalta que comercializa para os mercados de Palmeira das Missões e Novo Barreiro.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS E referente à logística da erva-mate a E1 enfatiza que o difícil acesso, os concorrentes, o preço e as despesas é o que dificulta para a distribuição. Segundo a E2 o que dificulta na venda é o preço das concorrentes e para a E3 é a produção não legalizada.
No que diz respeito ao que favorece na venda da erva-mate a E1 afirma que é a “parceria tanto como compra e venda e a seriedade da empresa”. A E2 frisa que é devido à “tradição, gostar do serviço e o consumo das pessoas”. E por fim, a E3 destaca que a venda se favorece por meio da tradição passada de pai para filho. Referente às dificuldades da venda de erva-mate, a E1 ressalva que o preço elevado e o consumo são os fatores principais. Dessa maneira, a E2 refere-se ao preço e as concorrências como fatores principais e segundo a E3 o principal fator que dificulta na venda é o preço.
Interrogadas sobre o que poderia fortalecer a cadeia produtiva a E1 se refere ao “consumidor, pois se não tem consumo, não tem venda, o que melhoraria o consumo está relacionado com propaganda e a qualidade da erva”. Para a E2 o “escoamento da produção e a produção de outros produtos poderia fortalecer a cadeia produtiva da erva-mate”. E a E3 relata que se “aumentasse o consumo e baixasse o preço da venda melhoraria a cadeia produtiva”.
Quando questionadas sobre quais as perspectivas para o futuro da cadeia produtiva da erva-mate, a E1 responde “que sejam boas, nos próximos 15 e 20 anos, pois a erva está ficando nas pequenas propriedades e nas grandes é só um adicional”. A E2 diz que “a curto prazo não tem mudanças devido à instabilidade da economia”. E por fim a E3 afirma que deve ocorrer um “controle de qualidade do produtor na produção, e em relação à ervateira, a mesma pretende aumentar a produção e a qualidade, por ser o motivo de sua permanência no mercado”.
Considerações Finais
A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender melhor a cadeia produtiva
da erva-mate em Palmeira das Missões – RS. Assim, foram levantadas questões
essenciais na busca a esta indagação dada aos responsáveis pela produção de erva-mate
das ervateiras questionadas, por meio de uma entrevista semiestruturada aplicada na
cidade de Palmeira das Missões – RS.
Do mesmo modo, constatou-se que a cadeia produtiva da erva mate de ambas possui praticamente o mesmo processo, colheita, sapecagem, cancheagem, secagem, moagem e empacotamento, sendo que há a existência de diferenciais em cada processo. Indagadas sobre quais fatores dificultam na produção da erva-mate, a E1 enfatiza que não têm dificuldade para produzir, mas sim para comercializar, pela baixa no consumo devido ao aumento do preço na venda e a diminuição da demanda. Logo, a E2 ressalta que o clima dificulta na produção da erva-mate e a E3 relata que vender pouco é o que dificulta a produção.
Por conseguinte, nas ervateiras pesquisadas, analisou-se que todas produziam erva mate com açúcar, mas por conta da não legalização duas (E1 e E3) pararam com a produção devido não estarem adeptas a produzir esse tipo de produto, no entanto, pretendem voltar a fabricação da mesma. Em relação à distribuição, verificou-se que as três ervateiras distribuem para diferentes localidades, sendo que a E1 e E2 abrangem uma maior quantidade de regiões e a E3 possui uma distribuição centralizada em duas cidades.
Portanto com referência ao futuro da cadeia produtiva, conclui-se que em curto prazo não haverá mudanças devido à instabilidade econômica, mas no longo prazo tem-se uma visão de que a cadeia irá melhorar resultando no investimento de maior qualidade e o aumento da produção. Essa pesquisa limitou-se no fato de não coseguir abranger todas as ervateiras da
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS região devido o curto período de tempo. Além disso, pode ser realizado um aumento da amostra com a finalidade de realizar um comparativo entre ambos referentes à produção, a distribuição e os custos agregados à produção e o transporte.
Referências Bibliográficas
BAGATINI, G. Análise da cadeia produtiva da erva-mate na região de Palmeira das Missões. 2012. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012.
BENDER, A. T; NERIS, J. B; BÖTTCHER, P. Importância econômica da cultura da erva mate. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22., 2014, Ijuí. Anais... Ijuí: Salão do Conhecimento, 2014.
BOGUSZEWSKI, J. H. Uma história cultural da erva-mate: o alimento e suas representações. 130 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2007.
DIEHL, A. A; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
GRAEF, C.E.; WITCZAK, P.; SCHERER, M.; MISTURA, F.; LEAL, R.; ZAMBERLN,L. A influência da cultura nos hábitos de consumo de erva-mate entre universitários: Um Estudo No Noroeste Do Rio Grande Do Sul. 2013. Disponível em:<http://sistema.semea+d.com.br/16semead/resultado/an_resumo.asp?cod_trabalho=41..>. Acesso em :12 maio 2016.
JUNIOR, A.M. Análise do pré-processamento da erva-mate para chimarrão. 215 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual de Campinas , Campinas, 2005. Disponível em: < http:// www.ufrgs.br/alimentus1/objetos/erva-mate/Arquivos/MaccariJunior,Agenor.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016.
MATIESKI, T. et al. Análise técnica e estudo da viabilidade econômica de uma agroindústria de processamento de erva-mate no município de Casca – RS. Revista Agropecuária Técnica, v. 36, n. 1, p. 18-23, 2015. Disponível em: <http://www.okara.ufpb.br/ojs/index.php/at/article/view/21538/12790>. Acesso em: 27 mai. 2016.
MENDES, R. M.O. Caracterização e avaliação da Erva - Mate (ILEX PARAGUARIENSIS ST.HILL) beneficiada no estado de Santa Catarina. 119 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis, 2005.
MORLIN, G. S; PEDERIVA, A. C; WAQUIL, P. D. Destino da produção agrícola: uma análise comparada entre o Rio Grande do Sul e o Brasil. In: ENCONTRO DE ECONOMIA GAÚCHA, 6., 2012, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: PUCRS, 2012. Disponível em: <http://www.pucrs.br/eventos/eeg/download/Mesa15/Destino_da_Producao_AgricolaUma_Analise_comparativa_entre_o_RS_e_o_Brasil.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2016.
OLIVEIRA, S. V; WAQUIL, P. D. Dinâmica de produção e comercialização da erva-mate no Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v. 45, n. 4, p. 750-756, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cr/2014nahead/0103-8478-cr-00-00-cr-20140276.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2016.
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico prática. 15. ed. São Paulo: Papirus, 2009.
PICOLLOTO, P.; VARGAS, G.M.; RIGO, L.; OLIVEIRA, S.V. A dinâmica de produção e de comercialização da erva-mate nos cinco polos ervateiros do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria, 2011. Acesso em 15 maio 2016.
RIBEIRO, A. S; CRUZ, A. T; URIAS, V. C. O agronegócio da erva-mate: um grande potencial sul-mato-grossense a ser explorado. In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 7., 2005, São Paulo. Anais... São Paulo: PURCS, 2005. Disponível em: <http://sistema.semead.com.br/7semead/paginas/artigos%20recebidos/Agronegocios/AGRO01-_O_Agronegocio_da_Erva_Mate.PDF>. Acesso em: 27 mai. 2016.
RIGO, L. et al. Análise do mercado da erva-mate no Brasil e no Rio Grande do Sul. In: ENCONTRO DE ECONOMIA GAÚCHA, 7., 2014, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: FEE, 2014. Disponível em: <http://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/201405267eeg-mesa22-analisemercadoervamatebrasilrs.pdf >. Acesso em: 27 mai. 2016.
SCHIRIGATTI, E. L. Dinâmica das exportações e avaliação da competitividade do setor de mate brasileiro . 328 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2014.
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
SINDIMATE, Sindicato da Indústria do Mate no Estado do Rio Grande do Sul: banco de dados. Disponível em: <http://sindimaters.com.br/pagina.php?cont=estatisticas.php&sel=9>. Acesso em: 25 mai. 2016.
ZATT, C. Parceria com produtores resulta em erva-mate de qualidade. Jornal Eco Regional, Rio Grande do Sul, 28 jan. 2016. Espaço Rural, Caderno 125, p. 03. Disponível em: <http://www.ecoregional.com.br/content/noticia/13077/arquivo/17895b4cf2ad15f5519c78a428179444.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Alimentos regionais e gastronomia: o caso da Associação Brotos Frutos
Culinária do Cerrado
Katianny Gomes Santana Estival1, Sonia Maria Leite de Oliveira2, Christiane M. Pitaluga3
Jaqueline Correa Gomes4, Caroline P. Spanhol Finocchio5, Solange Rodrigues Santos
Corrêa6
1. Professora Adjunta da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus-Bahia. Pós Doutoranda em
Administração na UFMS. E-mail: [email protected]
2. Mestre em Ciências Sociais. PUC RS.E-mail: [email protected].
3. Professora Adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E-
mail:[email protected].
4. Mestranda em Administração na UFMS. E-mail:[email protected].
5. Professora Adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E-mail:
6. Professora Adjunta da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus-Bahia. E-mail: [email protected]
Resumo. A riqueza da flora e fauna brasileira revelam oportunidades para os mercados agroalimentares, sobretudo
quanto a agregação de valor aos alimentos regionais, o desenvolvimento de marcas e estratégias de diferenciação.
Nesse contexto, o objetivo geral do artigo foi caracterizar as estratégias de negócio utilizadas pela Associação Brotos
Frutos Culinária do Cerrado, destacando-se seus pontos fortes e fracos. Para atingir os objetivos propostos foram
utilizadas técnicas de observação e entrevistas diretas junto aos representantes da Associação. Os resultados revelaram
a ausência de um plano de negócios capaz de orientar as práticas da organização, o desconhecimento do mercado e do
comportamento do consumidor. Diante disso, sugestões de melhoria são discutidas no decorrer do estudo.
Palavras-chave: criação de valor; empreendedorismo; agronegócio; mercados
Regional foods and cuisine: the case of Brotos Frutos Culinária do Cerrado
Association
Abstract: The richness of flora and fauna reveal opportunities for Brazilian agri-food markets, especially as the added
value of regional foods, brand development and differentiation strategies. In this context, the aim of this study was to
characterize the business strategies used by the Brotos Frutos Culinária do Cerrado Association, highlighting their
strengths and weaknesses. To achieve the proposed objectives we used techniques of observation and direct interviews
with the responsible of the Association. The results revealed the absence of a business plan capable of guiding the
organization's practices, the lack of knowledge about the market and consumer behavior. Suggestions to improve the
management are discussed during the study.
Keywords: value creation; entrepreneurship; agribusiness; markets
Introdução
A riqueza da flora e fauna brasileira revelam oportunidades para os mercados agroalimentares, sobretudo quanto a agregação de valor aos produtos e matérias primas regionais, bem como novas oportunidades de crescimento a partir do desenvolvimento de marcas e de estratégias diferenciação.
Nessa perspectiva, a agregação de valor dos produtos alimentares ocorre observando-se critérios de qualidade mínimos, em que se destacam aqueles relacionados a segurança alimentar, a sustentabilidade, o respeito aos direitos humanos e o bem estar animal (WILKINSON, 2010).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Os novos movimentos sociais dos consumidores e a politização do consumo também fazem parte desse contexto. Sobre isso, Portilho (2009) afirma que os consumidores, ao selecionarem e adquirirem mercadorias, tendem a buscar elementos de consumo responsável às práticas, valores e significados compartilhados pelos grupos e redes sociais de que fazem parte. Assim, verifica-se que a sensibilidade às influências das pressões dos consumidores, tem sido incorporada aos novos mercados de qualidade do sistema agroalimentar.
Em cadeias produtivas dos sistemas agroalimentares, como por exemplo na cadeia produtiva do cacau e chocolates, observa-se o reforço das discussões e pressões para ações das empresas impulsionadas pelos movimentos dos consumidores nas redes sociais virtuais, sobre as questões de gênero, diante do desprezo do trabalho da mulher na produção cacaueira. De acordo com o relatório publicado pela organização OXFAM (2013) as mulheres que trabalham em fazendas de cacau geralmente recebem menos do que os homens; raramente possuem a terra que elas cultivam, mesmo se elas trabalham na atividade durante a vida toda. Também foi identificada a prática da discriminação e assédio no trabalho.
No ano de 2013, a OXFAM (Comitê de Oxford de Combate à Fome), Organização Internacional que atua em prol de causas sociais e desenvolvimento, lançou a campanha: As mulheres e o cacau – um plano de ação, como parte da campanha Por Trás das Marcas. Mais de 100.000 pessoas através da assinatura de um abaixo assinado via redes sociais da internet solicitaram que as empresas globais Mars, Mondelez e Nestlé “vissem, ouvissem e agissem” em prol das agricultoras de cacau e de suas famílias. As três empresas compram mais de 30% do cacau produzido no mundo (BEHIND THE BRANDS, 2015).
Os mercados de qualidades dos alimentos são influenciados atualmente por diferentes fatores, entre eles os “fatores éticos” e os “fatores técnicos”. Os primeiros estão relacionados às práticas sociais e ambientais das organizações, enquanto os fatores técnicos não se limitam a higiene e ao cumprimento às leis de segurança alimentar, envolvendo, por exemplo, a certificação de origem do produto. Na visão de Cruz e Schneider (2010), esse processo endossa o deslocamento dos consumidores na busca pela valorização de produtos regionais, de origem conhecida, tradicionais ou artesanais, em oposição aos alimentos industrializados e aos problemas relacionados a segurança do alimento.
Se por um lado a valorização dos alimentos locais representa vantagem competitiva para as empresas agroalimentares, por outro enfrenta custos elevados no que tange à sua adequação às normas e regras sanitárias. Diante dessas restrições, surge a importância da discussão e adequação em torno dos critérios de qualidade, bem como a necessidade de refletir sobre os processos, escala de produção e distribuição de alimentos (CRUZ; SCHNEIDER, 2010).
Considerando a importância social, econômica e de gestão decorrentes da revalorização dos alimentos produzidos localmente, busca-se neste estudo caracterizar as estratégias de negócio utilizadas pela Associação Brotos Frutos Culinária do Cerrado, com sede na área urbana de Campo Grande/MS, na Incubadora de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, produz derivados de matérias primas de frutos do cerrado como araçá, buriti, baru, bocaiúva, jatobá, guavira, pequi, pitomba, hibisco, entre outros para comercialização no varejo, feiras locais e Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Para atingir os objetivos propostos foram utilizadas as técnicas de pesquisas bibliográficas e documentais sobre qualidade no sistema agroalimentar, economia criativa, gastronomia do cerrado e o método do estudo de caso para o diagnóstico organizacional da Associação. O levantamento das informações apresentadas no estudo de caso foi realizado através de entrevistas diretas com a Presidente, entre os meses de abril e maio de 2016, na sede da Incubadora de Alimentos da Prefeitura de Campo Grande/MS.
1.1 Critérios de qualidade no sistema agroalimentar
Na proposta de Callon, Méadel e Rabeharisoa (2002) sobre a economia das qualidades um produto seria definido pelas qualidades atribuídas a ele durante os ensaios das variáveis de qualidades. As qualidades seriam intrínsecas e extrínsecas. As qualidades intrínsecas seriam definidas por critérios técnicos mensuráveis que responderiam sobre a eficiência ou não do produto. Na visão da qualidade extrínseca a avaliação depende não só dos critérios de qualidade mensuráveis por dispositivos de avaliação, mas também das avaliações e julgamentos dos usuários do produto. A noção ampla da qualidade tem a vantagem de aproximar os dois sentidos e de incluir a questão clássica da economia, sociologia econômica e gestão organizacional.
A economia das qualidades pode ser visualizada nesse contexto como um dos temas centrais da dinâmica e organização dos mercados. Ela propõe visualizar a economia de uma forma dinâmica sob os produtos, levando em consideração a necessidade de adaptação à oferta e demanda, às formas de concorrência e a todas as formas de estratégias organizadas e implantadas pelos diferentes atores para qualificar os produtos. Baseia-se na singularidade dos produtos que leva a busca do estabelecimento de relações mais estreitas entre o que o consumidor deseja e espera e o que é oferecido pelas organizações. Os consumidores influenciam fortemente a qualificação dos produtos e a atribuição da legitimidade (CALLON, MÉADEL E RABEHARISOA, 2002).
Os produtos agroalimentares, como por exemplo, os derivados do cacau e chocolates, são literalmente consumidos pelos clientes, sendo que uma falha na qualidade pode ocasionar graves danos à saúde dos indivíduos. Tanto a garantia da qualidade da segurança alimentar quanto à qualidade da apresentação do produto são fatores que levam o consumidor a construir as suas preferências e definir as opções de compra (TOLEDO et al, 2000). Para Toledo et al (2000, p.99)“Segurança e qualidade são duas dimensões inseparáveis em todas as fases da cadeia agroalimentar. Elas dependem da cultura e do conhecimento de todos para a prevenção e a prática da melhoria contínua, tendo em vista o consumidor final.”
1.2 Economia criativa e a gastronomia
Segundo Costa e Souza-Santos (2011, p.151), a economia criativa está relacionada ao desenvolvimento da economia e das sociedades modernas atuais na medida em que o capital intelectual se torna cada vez mais relevante para o desenvolvimento de novos produtos e mercados”.
Considerando a importância do conceito de economia criativa e da gastronomia do cerrado, encontrou-se o estudo de Zaneti e Balestro (2015). Os autores discutiram a valoração dos
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produtos tradicionais do Pólo Gastronômico de Brasília, que se apresenta como o terceiro maior do Brasil. Os resultados revelaram que os consumidores estão dispostos a pagar um preço premium por produtos que agreguem qualidade e valor simbólico.
O valor simbólico é aquele relacionado aos aspectos socioculturais dos produtores, às formas tradicionais de produção e de consumo. Além disso, os referidos autores verificaram, também, que na alta gastronomia brasileira há uma tendência crescente da agregação e valoração do capital cultural e simbólico aos alimentos tradicionais. No entanto, há uma exigência dos chefs de gastronomia quanto aos critérios relacionados ao sabor, singularidade e qualidade desses produtos. Ainda na perspectiva dos chefs, a garantia da origem e rastreabilidade dos alimentos são atributos associados a qualidade dos alimentos.
Diante da importância desempenhada pelos chefs de gastronomia na formação de opinião e de tendências no agroalimentar, os autores Zanetto e Balestro (2015) destacaram que os chefs de gastronomia são parceiros estratégicos para a construção social e construção dos mercados da inovação e criatividade na gastronomia do cerrado.
2. Estudo de caso da Associação Brotos Frutos Culinária do Cerrado
A Associação Broto Frutos Culinária do Cerrado (ABFCC) foi criada no ano de 2013, por 12 agricultores familiares, 70% mulheres e 30% homens, residentes nas cidades de Campo Grande e Terenos em Mato Grosso do Sul. A ideia surgiu a partir da necessidade dos (as) agricultores (as) ampliarem a renda e a busca pela melhoria da qualidade de vida.
Uma viagem de intercâmbio entre empreendimentos de mulheres em um congresso da ONU em Nova York no ano de 2015, despertou as associadas para a maior valorização das matérias primas da região do cerrado Sul MatoGrossense e para a identificação de ingredientes que poderiam ser utilizados em diversos pratos salgados e doces e a criação de novos aromas e a difusão do conhecimento dos saberes locais.
A missão da Associação é realizar a integração entre o planejamento da produção de plantas nativas do cerrado para ampliar a conservação da sociobiodiversidade e garantir alimentos saudáveis, como forma preventiva de cuidar da saúde das pessoas, gerar trabalho e renda para o campo e a cidade. Faz parte dos objetivos também promover a valorização do ser humano e o resgate do saber e das tradições culturais.
O foco dos associados está em diversificar a produção, ampliar a geração de renda dos agricultores familiares e proteger e ampliar a produção de mudas nativas do bioma Cerrado. O empreendimento encontra-se em fase de incubação na Incubadora Municipal de Campo Grande-MS, Norman Edward Hanson, onde recebe assessoria técnica para a maturidade do empreendimento. A incubação durante 1 (um) ano já possibilitou avanços com relação a diversificação do portfólio de produtos e início de parcerias comerciais, mas ainda há grandes dificuldades para a potencialização da comercialização e consequentemente para a sustentabilidade financeira.
As principais instituições parcerias da ABFCC são: i) SEBRAE-MS que oferece capacitações eventuais e consultorias; ii) Prefeitura de Campo Grande/MS; iii) Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), iv) Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Centro de Tecnologia e Análise do Agronegócio (Ceteagro), v) IFMS através da atuação de seus cursos de graduação e pesquisas para ampliação do conhecimento das frutas do cerrado, envolvendo o plantio, manejo e o aproveitamento integral; vi) Business Professional Woman
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS (BPW) que oferece apoio para divulgação e comercialização dos produtos e vii) SENAR/SESC com orientações para a comercialização e divulgação.
A Associação busca também proporcionar formas de agregação de valor aos produtos, ampliação da geração de renda e qualidade de vida dos fornecedores parceiros da Cooperativa dos Produtos Rurais do Assentamento Nova Aliança (COOPERANA), cooperativa de produtores orgânicos da agricultura familiar, principal fornecedora das matérias primas utilizadas na produção da Associação Brotos Frutos Culinária do Cerrado.
Nas parcerias vigentes e na busca da ampliação dos relacionamentos comerciais pretende-se alcançar a auto sustentabilidade financeira do empreendimento através da potencialização da comercialização nos mercados institucionais como o PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar) e ampliação da inserção nos mercados locais de Mato Grosso do Sul: empórios de produtos naturais, supermercados, feiras, restaurantes e hotéis.
Diante da originalidade da proposta do empreendimento, cujo objetivo é valorizar a produção e beneficiamento de produtos orgânicos e regionais oriundos do cerrado Sul-Mato-Grossense, a Associação recebeu diversos prêmios, entre eles: o Sebrae Mulher de Negócios 2014, 2° lugar na Confam (Convenção anual da BPW Brasil) 2014 em Cuiabá com apresentação do Case de Sucesso em evento internacional da mesma entidade em nova Iorque (EUA) em março de 2015, Prêmio Zumbi dos Palmares (Câmara Municipal de Campo Grande) 2014 e conquista do Prêmio Santander Universidade Solidária 2015/2016 parceria entre UCDB e a Associação.
Com as matérias primas: araçá, buriti, baru, bocaiúva, jatobá, guavira, pequi, pitomba, hibisco, entre outras, produzidas pelas agricultoras e agricultores familiares são produzidos pães, bolos, biscoitos, doces, sucos, tortas, salgados e patês. A receita mensal das vendas é de aproximadamente R$ 4.000,00. Os produtos são comercializados no varejo, feiras locais e Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE). Possuem planos para a ampliação dos canais de comercialização com junto a grandes redes varejistas e programas governamentais como o PNAE – Programa Nacional da Alimentação Escolar.
O público – alvo do empreendimento são os indivíduos com nível de escolaridade médio e superior, pertencentes as classes A, B e C, desportistas e pessoas que buscam a alimentação saudável, agroecológica,com segurança e conhecimento da origem e processo produtivo.
Os resultados das entrevistas realizadas permitiram a identificação de alguns pontos fortes do empreendimento, tais como: utilização de mão-de-obra própria, coleta e processamento dos frutos, localização privilegiada (próxima do centro comercial da cidade de Campo Grande/MS), produto sem agentes químicos, orgânicos (matérias primas adquiridas da cooperativa parceira tem certificação participativa), integrais e enriquecidos com frutos do Cerrado.
Como pontos negativos foram identificados: pequena infraestrutura física para a produção e comercialização, dificuldade na logística para busca das matérias primas junto aos agricultores (as) familiares, ausência de mão de obra qualificada para a produção e comercialização e ausência de capital de giro.
Na região na qual os agricultores (as) familiares estão inseridos (as) há vulnerabilidade de mulheres, jovens e adultos, situação de baixa escolaridade e falta de oportunidades para que se insiram nas atividades da agricultura familiar com perspectivas de renda e qualidade de vida. Diante disso, na opinião dos participantes, a implantação e desenvolvimento da Associação oportunizou a geração de trabalho e renda, a diversificação da comercialização, da
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produção, bem como a melhoria da qualidade de vida e da organização do grupo de agricultores (as).
Por outro lado, mesmo com as diversas parcerias firmadas e prêmios conquistados, vários desafios foram identificados, em que se destacam:
1) Ausência de informações sistematizadas sobre as dinâmicas e as demandas dos mercados consumidores regionais (consumidores finais e food service: bares, restaurantes, meios de hospedagem, escolas de gastronomia), o que se torna um gargalo para a ampliação da comercialização;
2) Dificuldade de acesso aos mercados institucionais, como o PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar), pois apesar de constarem no guia de referência, ainda há resistência para a escolha das matérias primas e produtos devido a falta de conhecimento sobre as formas de uso culinário, sabor e informações nutricionais;
3) Dificuldade para acesso a capital de giro para aquisição de máquinas e equipamentos;
4) Demanda para a organização da gestão administrativa e padronização dos processos produtivos.
3. Considerações Finais
O objetivo do estudo foi caracterizar as estratégias de negócio utilizadas pela Associação Brotos Frutos Culinária do Cerrado. A associação encontra-se na fase inicial das atividades, em um mercado em crescimento, com potencial para a agregação de valor às matérias primas e de sua associação com as atividades de gastronomia e turismo local, por meio da revalorização da culinária e dos produtos regionais.
Ao utilizar do conceito de economia criativa, o empreendimento alia o conhecimento popular tradicional ao desenvolver novos produtos a partir de matérias-primas regionais como a castanha de barú, o pequi, o jatobá e a bocaiuva. Entre os principais benefícios da proposta, destaca-se que o aumento do consumo desses produtos poderá fomentar a conservação ambiental e o atendimento dos desejos dos consumidores que buscam produtos locais da agricultura familiar.
A proposta da Associação também favorece o empoderamento das mulheres e jovens da agricultura familiar, com a criação de oportunidades para a geração de emprego e renda, relacionadas a agregação de valor aos produtos da agricultura do cerrado, com a possibilidade da continuidade dos jovens nas atividades da agricultura familiar no campo e na cidade. Também há projeto para a oferta de serviços de buffet de produtos do cerrado – atividade que já é realizada eventualmente e possibilita o engajamento e a geração de renda para as mulheres e jovens.
As parcerias estabelecidas com instituições de apoio técnico, ensino e pesquisa da região de MS também favorecem o desenvolvimento de inovações em produtos e processos produtivos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS A parceria com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), por exemplo, através do Prêmio Santander 2015, possibilitou a criação de um novo produto: uma barra de cereais composta de matérias primas do cerrado, que está em fase de testes para futura inserção nos mercados consumidores. Possuem também parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para o estudo do comportamento dos consumidores dos produtos do cerrado e alimentos regionais.
No entanto, nota-se que o empreendimento e seus associados ainda carecem de capacitações, tanto no âmbito técnico como gerencial, gestão financeira, melhoria da logística de distribuição, melhor conhecimento do mercado consumidor, desenvolvimento de estratégias de comunicação e plano de negócios. A partir dessas constatações, sugere-se que as novas parcerias com a Associação objetivem o preenchimento dessas lacunas e com isso aprimorar seu desempenho no mercado.
Agradecimentos
A Associação Brotos Frutos Culinária do Cerrado de Mato Grosso do Sul. Sra. Rosa Maria da Silva – Presidente da Associação.
Referências Bibliográficas
BEHIND THE BRANDS. Mulheres e o cacau. Disponível em: http://www.behindthebrands.org/pt-br/not%C3%ADcias/as-mulheres-e-o-cacau,-c-,-um-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 22 de junho de 2015.
CALLON, Michel; MÉADEL, Cécile; RABEHARISOA, Vololona. The economy of qualities. In: Economy and Society. n.2, p. 194–217, 2002.
COSTA, A.D., SOUZA-SANTOS, E.R. Economia criativa no Brasil: quadro atual, desafios e perspectivas. Economia & Tecnologia, v. 27, p. 151-159, 2011.
CRUZ, F. T.; SCHNEIDER, S. Qualidade dos alimentos, escalas de produção e valorização de produtos tradicionais. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 5, p. 22-38, 2010.
ENDEAVOR. Entenda a Matriz Swot e as vantagens para sua empresa. Disponível em: https://endeavor.org.br/entenda-matriz-swot/. Acesso em 14 de abril de 2015.
G1. Laudo confirma líquido corrosivo em embalagem de Ades em Ribeirão, SP. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/04/laudo-confirma-liquido-corrosivoem-embalagem-de-ades-em-ribeirao-sp.html. Acesso em: 05 de abril de 2013.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
KOZINETS, Robert V. Netnografia: realizando pesquisa etnográfica on line. Tradução: Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2014.
OXFAM. Equality for women starts with chocolate: Mars, Mondelez and Nestle and the fight for women’s rights. Disponível em: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/equality-for-women-starts-with-chocolate-mb-260213.pdf. Acesso em 22 de junho de 2015.
PORTILHO, Fátima. Novos atores no mercado: movimentos sociais econômicos e consumidores politizados. Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2009v8n15p199. Acesso em 09 de abril de 2013.
TOLEDO, José Carlos de; BATALHA, Mário Otávio and AMARAL, Daniel Capaldo. Qualidade na indústria agroalimentar: situação atual e perspectivas. Rev. adm.empres. [online]. 2000, vol.40, n.2, pp. 90-101. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rae/v40n2/v40n2a10.pdf. Acesso em 08 de abril de 2013.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS WILKINSON, John. Transformações e Perspectivas dos Agronegócios brasileiros. Revista Brasileira de Zootecnia (Online), v. 01, p. 26-34, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbz/v39sspe/04.pdf. Acesso em: 15 de março de 2013.
ZANETI, Tainá Bacelar; BALESTRO Moisés Villamil. Artigo: Valoração de produtos tradicionais no circuito gastronômico: lições do Cerrado. Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 6, n. 1, p. 22-36, jan/abr 2015.
Anexos e Apêndices
Figura 1: Portfólio de produtos da Associação Brotos Frutos fabricados com o uso de matérias primas do
cerrado oriundas dos fornecedores regionais
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DA ERVA-MATE
Caroline Soares da Silveira¹, Renata Milani
2
¹Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – UFRGS, [email protected]
²Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – UFRGS, [email protected]
Resumo. A segurança dos alimentos atualmente vem sendo objeto de interesse por parte de agentes
econômicos, consumidores, organizações não governamentais e agentes do Estado. Esta preocupação deve-se
principalmente porque a segurança dos alimentos está relacionada com a sua contaminação física, química ou
biológica. A gestão destes riscos de contaminação garante a qualidade dos alimentos, tanto como sinônimo de
inocuidade ou com a finalidade de atender aos requisitos do mercado. A partir da crescente preocupação com a
segurança dos alimentos e o aumento do consumo e uso dos produtos derivados da erva-mate torna-se relevante
investigar quais medidas são tomadas visando garantir a qualidade dos alimentos em todos os elos da cadeia
produtiva. Sendo assim, o presente estudo objetiva investigar as medidas de segurança adotadas na cadeia
produtiva da erva-mate que visam garantir a qualidade do produto final nas diversas etapas de produção no
setor ervateiro. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, com fins exploratórios
e os dados analisados foram baseados na qualidade dos produtos derivados da erva-mate como sinônimo de
inocuidade e conforme as exigências de mercado e por fim os certificados de qualidade existentes nesta cadeia
produtiva. Alguns dos resultados obtidos mostram que o consumidor de erva-mate não tem informações claras
do produto que consome, este problema deve-se principalmente a falta de fiscalização da qualidade dos
subprodutos devido à insuficiência de laboratórios de análise e recursos financeiros. No aspecto legislação,
observou-se que as que existem não tratam especificamente do produto erva-mate e não atendem aos requisitos
se segurança alimentar, na maioria dos casos, a certificação de qualidade alimentícia é dada pela Emater-RS,
na qual apenas agregam valor ao produto e não trazem benefícios para o setor como um todo.
Palavras-chave. Segurança Alimentar, Ilex Paraguariensis, Certificação Ambiental.
QUALITY AND CERTIFICATION IN YERBA MATE PRODUCTION
CHAIN
Abstract. The food safety is currently the object of interest on the part of economic agents, consumers, non-
governmental organizations and state agents. This concern is mainly because food safety is related to your
physical contamination, chemical or biological. The management of these risks of contamination ensures the
quality of food, both as a synonym for safety or in order to meet market requirements. From the growing
concern about the safety of food and increased consumption of products derived from yerba mate becomes
relevant to investigate which measures are taken to ensure the quality of food in all links of the production
chain. Thus, this study aims to investigate the security measures adopted in the yerba mate production chain
aimed at ensuring the quality of the final product in various stages of production in this sector. This study deals
with a literature review on the subject, with exploratory purposes and the data were analyzed based on the
quality of products derived from yerba mate as a synonym for safety and according to market requirements and
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS finally the existing quality certificates this production chain. Some of the results show that yerba mate consumer
has no clear information of the product that consumes this problem is mainly due to the lack of supervision of
the quality of by-products due to insufficient testing laboratories and financial resources. In the aspect
legislation observed that there are not specifically deal product yerba mate, and don’t meet requirements to food
security in most cases, food quality assurance is given by Emater-RS, which add value only the product and
don’t bring benefits to the industry as a whole.
Keywords. Food Security, Ilex Paraguariensis, Environmental Certification
Introdução
Com a existência da probabilidade de risco de prejuízo à saúde devido ao consumo de alimentos adulterados e/ou contaminados, atualmente, o tema da segurança alimentar tem interessado diversos agentes econômicos, bem como consumidores e algumas organização não governamentais. Além disso, existe a preocupação do Estado em garantir o direito de propriedade do bem público e segurança no consumo de produtos alimentícios. Por fim, as empresas privadas que necessita desenvolver ações individuais e coletivas como a criação de marcas e selos que servem para se adequarem às pressões da sociedade e às normas estabelecidas pelo Estado (LIMA, 2005). Neste sentido, para um alimento ou bebida ser considerado seguro, segundo Peretti e Araújo (2010), ao longo da sua cadeia de produção devem ser adotados medidas sanitárias e de higiene efetivas e eficazes, de forma que não apresente risco acima dos níveis tolerados pelo consumidor final. Em se tratando do setor ervateiro, a indústria tem investido cada vez mais em procedimentos fundamentais para o sucesso da atividade em todos os elos da cadeia produtiva, considerando assim a certificação de controle de qualidade, através do selo de qualidade da empresa e do desenvolvimento de novos produtos com maior valor agregado, apesar da produção em muitas regiões ainda ser basicamente proveniente do extrativismo (BALZON, SILVA e SANTOS, 2004).
A variação natural das condições ambientais e do manejo dos ervais determina a diferenciação da matéria-prima erva-mate, bem como a qualidade do produto final. Os produtos derivados da erva-mate são obtidos através dos ramos e das folhas da planta, quando da elaboração da erva cancheada e de subprodutos decorrentes do beneficiamento agroindustrial. (MAZUCHOWSKI, 2004). Segundo Junior (2005), há uma crescente demanda no aumento da produção no setor ervateiro, mas também se observa a necessidade de impor novos padrões tanto de qualidade quanto de preço do produto. O mercado atual requer o fornecimento de produtos padronizados, de maior qualidade e com menor preço, o que representa um desafio ao setor ervateiro, face ao atraso de décadas no desenvolvimento de tecnologia agrícola e industrial (JUNIOR, 2005). Tratando-se de um tema importante para a sociedade como um todo, visto o aumento do uso dos produtos da erva-mate não apenas no consumo do chimarrão, mas também em produtos de maior valor agregado, torna-se relevante investigar quais medidas são tomadas nos diversos elos da cadeia produtiva para garantir a qualidade e segurança dos alimentos até serem destinados ao consumidor final. Com o presente estudo, objetiva-se investigar as medidas de segurança adotadas na cadeia produtiva da erva-mate que visam garantir a qualidade do produto final nas diversas etapas de produção no setor ervateiro e principalmente garantir ao consumidor final um alimento seguro.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 2 Referencial Teórico
2.1 Segurança Alimentar
Conforme Bruno (2010) a segurança de alimentos está diretamente relacionada à possibilidade de sua contaminação física, química ou biológica, provocando doenças de origem alimentar (DOA) – também denominadas doenças transmitidas por alimentos (DTA), ou enfermidades transmitidas por alimentos (ETA).
O conceito de segurança alimentar leva em conta três aspectos principais: quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos alimentos. Os alimentos podem estar disponíveis, conforme pode ser registrado pelas estatísticas que a FAO levanta para o mundo de tempos em tempos, mas as populações pobres podem não ter acesso, seja por problemas de renda, seja devido a fatores como conflitos internos, ação de monopólios ou mesmo desvios (BELIK, 2003). Tomando como referência o conceito de segurança do alimento segundo Peretti e Araújo (2010), na qual trata da proteção e preservação da vida e da saúde humana, dos riscos representados por perigos possíveis de estarem presentes nos alimentos, acredita-se que a gestão da segurança pode ser entendida como a somatória da gestão de riscos e da gestão de perigos. A gestão de riscos consiste em determinar “como” e “em até que nível” a exposição ao risco pode e deve ser gerenciada, uma vez que o risco zero na produção e transformação de alimentos é impraticável. O conhecimento do risco, e das condições que favorecem danos à saúde é essencial para a gestão da segurança do consumidor, bem como da saúde pública. No entanto, a gestão do risco não pode considerar exclusivamente o aspecto da saúde. Outros fatores como o custo do produto seguro, os hábitos de consumo e a disponibilidade de tecnologia também devem ser levados em consideração (PERETTI e ARAÚJO, 2010). A gestão de perigos envolve a determinação de “o quê” deve ser gerenciado. O conhecimento do perigo e de suas características é de extrema importância para uma gestão que visa à saúde do consumidor. São exemplos de gestão de perigos os programas de Boas Práticas, incluindo os Procedimentos Operacionais Padronizados – POP, e o sistema de Análise de Perigos por Pontos Críticos de Controle – APPCC (PERETTI e ARAÚJO, 2010). A gestão da segurança na cadeia produtiva de alimentos ainda tem muito a se desenvolver, tanto por parte dos órgãos reguladores que precisam se antecipar aos problemas sanitários envolvidos com estes produtos e, principalmente, por parte do setor produtivo que precisa se conscientizar de que este é um atributo básico e fundamental para uma relação justa de consumo (PERETTI e ARAÚJO, 2010).
2.2 Qualidade dos Alimentos
Segundo a FAO (2005), para o produtor/ transformador de alimentos, há dois tipos
de qualidade importantes. A qualidade enquanto sinônimo de inocuidade, na qual exige que os alimentos não apresentem níveis inaceitáveis de riscos físicos, químicos ou microbiológicos. E também, a qualidade em termos de conformidade com determinados requisitos de mercado, tais como a superioridade perceptível de atributos ou características desejáveis como o tamanho, a cor ou as propriedades organolépticas.
Os governos de muitos países concentram uma percentagem mais importante dos seus recursos nos aspectos da qualidade relacionados com a inocuidade dos alimentos, com o intuito de proteger o consumidor, facilitar o comércio e preservar a reputação do país
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS enquanto fornecedor de produtos alimentares seguros, o que pressupõe que o produtor aplique controle adequado dos atributos de qualidade dos seus produtos alimentares (FAO, 2005). Quando se fala sobre inocuidade dos alimentos se faz referência a todos os riscos, sejam crônicos ou agudos, que podem fazer com que os alimentos sejam nocivos para a saúde do consumidor (ORTEGA e BORGES, 2012). Conforme a FAO (2005) as primeiras abordagens de garantia da inocuidade dos alimentos baseavam-se exclusivamente em análises do produto final, que já não são suficientes para garantir a inocuidade dos alimentos. Portanto, estão a ser substituída por uma nova abordagem, baseada num sistema de gestão da inocuidade dos alimentos centrado na prevenção dos riscos em toda a cadeia alimentar.
Para se obter um produto de boa qualidade, conforme os requisitos de mercado, o mesmo deve ter aparências, sabor e aroma, alto valor nutricional e ser seguro do ponto de vista da saúde do consumidor (BARIQUELLO, 2003).
Quanto à qualidade dos alimentos consumidos, a alimentação disponível para o consumo da população não pode estar submetida a qualquer tipo de risco por contaminação, problemas de apodrecimento ou outros decorrentes de prazos de validade vencidos. A qualidade dos alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma digna. Dignidade significa permitir que as pessoas possam comer em um ambiente limpo e seguindo as normas tradicionais de higiene (BELIK, 2003). Conforme observado por Cruz, et al., (2006), os consumidores têm aumentado seu grau de exigência em relação às práticas produtivas das empresas. Uma das exigências de grande parte dos consumidores era e, para alguns continua sendo, o preço baixo, o que força as empresas a estruturarem seus custos de forma a atender esta exigência. Com o passar do tempo, o consumidor se tornou mais exigente em termos de qualidade dos produtos e isto fez com que as empresas passassem a buscar, na diferenciação e na inovação, o foco central de suas estratégias.
Segundo Júnior (2013), em relação à qualidade e inocuidade dos produtos, dada as crescentes exigências do consumidor final, diversas empresas passam a implantar sistemas de certificação de padrões técnicos e monitoramento de processos produtivos privados como forma de controle da qualidade ao longo das cadeias produtivas. Padrões técnicos, normas e regulamentações relacionadas à qualidade e inocuidade tornam-se novos elementos estruturais dos mercados alimentícios.
2.3 Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos e Certificação
Conforme Peretti e Araújo (2010), a implantação de sistemas de gestão da qualidade
e a certificação no Brasil ocorreram em função das exigências do mercado externo e das grandes empresas multinacionais que passaram a exigi-las de seus fornecedores e também devido à preocupação com a qualidade dos produtos alimentícios, em especial no que se refere à sua segurança. O sistema de gestão da segurança de alimentos tem como objetivo controlar o processo de produção baseado em princípios e conceitos preventivos, juntamente com os programas de pré-requisitos necessários para a implantação dos mesmos. Através da sua utilização, aplicam-se medidas que garantam um controle eficiente, através da identificação de pontos ou etapas onde se podem controlar os perigos para a saúde dos consumidores (CAPIOTTO e LOURENZANI, 2010). A certificação está fortemente vinculada às dinâmicas do comércio internacional e aos chamados direitos dos consumidores. A evolução dos meios de transportes, a especialização produtiva das regiões, a abertura das economias nacionais, são elementos que
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS estão impulsionando cada vez mais as trocas comerciais entre países e continentes. Neste contexto os sistemas de certificação passaram a ser os mecanismos através dos quais se procura homogeneizar informações confiáveis sobre os produtos e serviços que participam do comércio internacional e nacional (DAMBORIARENA, 2001). Cada sistema de certificação possui órgãos certificadores e auditores específicos. Todo sistema de certificação, na medida em que define atributos e padrões de qualidade sobre produtos e ou serviços, cria instrumentos de seleção, exclusão e diferenciação de produtos, produtores e organizadores. Estes aspectos, quando observados em escalas comerciais, se transformam em fatores de diferenciação entre possuir ou não um determinado tipo de certificação. Do ponto de vista dos consumidores, os sistemas de certificação podem ser considerados elementos informais para orientar a tomada de decisão no ato de consumo (DAMBORIARENA, 2001). Considerando os benefícios e objetivos das certificações para o consumidor, segundo Cruz, et al., (2006), este se sente mais seguro, pois tem a certeza de que terá um alimento com garantia de sanidade e de qualidade. Do ponto de vista das empresas, estas mantêm sua lucratividade e passam a ter um controle mais rigoroso de todo o processo ao longo da cadeia produtiva. Dentre os tipos de certificações, segundo Peretti e Araújo (2010), há aqueles concedidos por associações de produtores na qual podem promover melhorias no respectivo segmento, no entanto, a utilização destes certificados no rótulo dos produtos pode gerar dúvidas quanto aos benefícios do produto com selo. Dada a diversidade de certificados para expressar a conformidade a padrões legais, o consumidor pode interpretar que um produto certificado tem qualidade superior aos demais, quando todos deveriam cumprir as mesmas determinações legais. Existem também os certificados de qualidade que ocorrem fora do âmbito governamental, na qual possui inexistência de análise de riscos para a sua criação. Segundo Peretti e Araújo (2010), os certificados específicos como, por exemplo, o café, arroz parboilizado e massas secas foram criados em função de fatores econômicos e não necessariamente considerando o impacto destes produtos na saúde pública. 3 Materiais e Métodos
O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica com fins exploratórios sobre o tema da qualidade dos produtos derivados da erva-mate e os tipos de certificação implantados nesta cadeia produtiva. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre ele. Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla (GIL, 2008). Esta pesquisa bibliográfica envolveu a busca por materiais disponíveis em artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. A coleta dos dados deu-se através de dados secundários com o uso das seguintes palavras-chaves: qualidade e certificação na cadeia produtiva da erva-mate. Com o uso destas palavras-chaves, foram encontrados apenas oito artigos referentes a este assunto específico, conforme a tabela 1. Os resultados foram baseados na qualidade dos alimentos derivados da erva-mate como sinônimo de inocuidade na qual inclui os riscos químicos, físicos e microbiológicos e a qualidade como requisito de mercado como tamanho, cor e propriedades organolépticas. Foram também identificados os certificados de qualidade existentes na cadeia produtiva da erva-mate no Brasil, concedidos por órgãos do governo ou por iniciativa de associações de produtores e de empresas isoladamente.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 1: Artigos Relacionados à Qualidade e Certificação na Cadeia Produtiva da Erva-Mate Fonte: Dados coletados, 2016
Autor Título Ano da Publicação Balzon, Silva e Santos Aspectos Mercadológicos de Produtos Florestais não
Madeireiros – Análise Retrospectiva 2004
Barriquello Protocolo para a Implantação do Programa APPCC em Agroindústrias Ervateiras
2003
Certi – Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras
Análise Integrada das Cadeias Produtivas de Espécies Nativas da FOM e seu impacto sobre este Ecossistema
2012
Júnior Análise do Pré-Processamento da Erva-Mate para Chimarrão 2005 Lima Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle na
Indústria da Erva-Mate: Uma Visão da Nova Economia Institucional
2005
Londero, Lopes e Saggin Erva-Mate: Legislações Atuais e Futuras em Busca da Segurança Alimentar
2014
Santos O Impacto da Legislação Vigente Sobre a Indústria da Erva-Mate Chimarrão na Região do Alto Uruguai
2002
Schuchmann Ações para a Formulação de um Protocolo de Rastreabilidade de Erva-Mate
2002
4 Considerações Finais
Em relação à preocupação da qualidade dos produtos como sinônimo de inocuidade,
na qual exige que os alimentos não apresentem níveis inaceitáveis de risco, pode-se citar o uso de defensivos (fungicidas, inseticidas e herbicidas) e a contaminação por microorganismos. Segundo Barriquello (2003) e Lima (2005) é necessário a otimização do seu uso, embora as condições de processo minimizem seus efeitos, o excesso do uso deixará resíduos no produto final, no caso da erva-mate observa-se à contaminação excessiva dos ramos e folhas, na qual só podem ser detectados através de testes laboratoriais.
Conforme Lima (2005) estas substâncias podem ocasionar sérios danos a saúde e a integridade do consumidor. Para minimização destes danos, há exigências fundamentais a serem tomadas: a observância dos princípios de boas práticas agrícolas, o uso e o manejo adequado dos defensivos, a observação dos períodos de carência e as disposições do receituário agronômico (BARRIQUELLO, 2003) Considerando o problema dos resíduos de agrotóxicos na erva-mate, Santos (2002) salienta a necessidade de reforçar o monitoramento nas análises dos produtos, nacional ou importado, pois é preciso aumentar o número de laboratórios de análise destes produtos e o número de pessoas responsáveis pela vigilância, pois estes se mostram insuficientes para atender às necessidades da indústria e do consumidor no que tange à segurança do alimento produzido. Em relação à qualidade como requisito de mercado, considerando atributos como cor, aroma e propriedades organolépticas, verifica-se que no caso da erva-mate para chimarrão, estes fatores são influenciados principalmente pela qualidade do erval, dependendo basicamente da característica da matéria-prima (erva-mate plantada ou nativa). Segundo o estudo de Junior (2005), na qual avalia estes atributos conforme a análise sensorial, afirma que a cor e o aroma têm suas características alteradas principalmente pelo método de secagem.
Lima (2005) também constatou que a qualidade da erva-mate é influenciada pela sensibilidade à variação de umidade. Quando a porcentagem de umidade é aumentada altera a cor, o sabor e propicia o desenvolvimento de microorganismos que podem trazer problemas
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS de segurança do alimento, por isso a etapa de secagem é fundamental para a segurança do alimento.
De uma forma geral, segundo Schuchmann (2002), o consumidor de erva-mate não tem informações claras sobre a qualidade do produto que consome, quer sobre a sua qualidade botânica quer sobre a industrial ou a sua segurança, relativa à possibilidade da presença de resíduos químicos provenientes da utilização de agrotóxicos no tratamento das plantas contra as pragas, de agroquímicos utilizados nas culturas, de contaminantes químicos provenientes do processo industrial e da ocorrência de partículas de microorganismos e outros seres vivos, patogênicos ou não.
Bariquello (2003) cita alguns pontos de estrangulamento referentes à qualidade dos produtos derivados da erva-mate. Alguns deles são as fiscalizações da qualidade dos subprodutos de erva-mate pouco atuante e desuniforme entre Estados, decorrentes da insuficiência de laboratórios e recursos financeiros, baixos índices de sanidade nas instalações industriais, inexistência de laboratórios de análise da qualidade nas indústrias beneficiadoras e empacotadoras, bem como de responsável técnico para avaliação da erva-mate adquirida e a falta de monitoramento das análises sobre resíduos de agrotóxicos.
Para garantir a inocuidade dos produtos derivados da erva-mate, foi implantado por Barriquello (2003) no setor, um método considerado eficiente neste sentido, o sistema de gestão de segurança de alimentos. Este sistema denomina-se Sistemas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e aplica-se nas diferentes fases de cultivo e beneficiamento da erva-mate, do campo até o consumidor final.
As vantagens e os benefícios da implantação do sistema APPCC para as empresas ervateiras são a garantia de alto nível de segurança à erva-mate, redução dos custos, aumento da produtividade com qualidade e segurança, contribui para a consolidação da imagem e a credibilidade das empresas junto aos clientes e consequentemente o aumento da competitividade e o aspecto legal que envolve este sistema, na qual futuramente as legislações sanitárias devem tornar obrigatório o uso deste sistema (BARRIQUELLO, 2003).
Sobre a certificação na cadeia produtiva da erva-mate, observou-se a existência da certificação da Emater-RS, na qual é especializada no setor, esta garante o acesso ao mercado de produtos certificados, porém não garante condições de preço melhor ao produtor. Destaca-se também a certificação orgânica, em conjunto com a rede Ecovida, na qual representa uma potencialidade de entrada na indústria alimentícia (CERTI, 2012)
Como forma de prevenção dos riscos sanitários, garantir os padrões de qualidade no setor ervateiro e preservar as áreas com erva-mate, segundo Balzon, Silva e Santos (2004), há uma atual legislação pertinente para o processamento industrial e comercialização, na qual normatiza desde a área produtiva até atingir o consumidor final, sendo determinado por órgãos como Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Conforme Londero, Lopes e Saggin (2014), há também as legislações estabelecidas pelo Governo Federal no setor ervateiro como o Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (SEAPA). Porém, não são legislações que digam respeito especificamente ao alimento erva-mate para o chimarrão, estas são desencontradas e não atendem ao requisito de segurança alimentar aos seus consumidores.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências ANDRADE, J. C., DELIZA, R., YAMADA, E. A., GALVÃO, M. T. E. L., FREWER, L. J., BERAQUET, N. J. Percepção do Consumidor Frente aos Riscos Associados aos Alimentos, sua Segurança e Rastreabilidade. Braz. J. Food Technol, v. 16, n. 3, p. 184-191. Campinas, 2013. BALZON, D. R., SILVA, J. C. G. L., SANTOS, A. J. Aspectos Mercadológicos de Produtos Florestais Não Madeireiros: Análise Retrospectiva. Floresta, Curitiba, v.34, n.3, 2004. BARIQUELLO, A. L. Protocolo para Ampliação do Programa APPCC em Agroindústrias Ervateiras. Dissertação Submetida ao Programa de Pós Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003. BELIK, W. Perspectivas para Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Saúde e Sociedade v.12, n.1, p.12-20. Campinas, 2003. BRUNO, P. Alimentos Seguros: A Experiência do Sistema S¹. B. Téc. Senac: a R. Educ. Prof., v. 36, n.1. Rio de Janeiro, 2010. CAPIOTTO, G. M., LOURENZANI, W. L. Sistema de Gestão de Qualidade na Indústria de Alimentos: Caracterização da Norma Abnt Nbr Iso 22.000:2006. Anais: 48° Congresso da Sober. Campo Grande, 2010. CERTI – Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras. Análise Integrada das Cadeias Produtivas de Espécies Nativas da FOM e seu impacto sobre este Ecossistema, v. 1. 2012. CRUZ, L. B., DELGADO, N. A., BEGNIS, H. S. M., PEDROZO, E. A. Ampliando o Conceito de Rastreabilidade: Em Busca da Sustentabilidade nas Cadeias Produtivas. Anais: XLIV Congresso da Sober “Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento”. Fortaleza, 2006. DAMBORIARENA, E. Certificação e Rotulagem na Cadeia dos Hortigranjeiros no Estado do Rio Grande do Sul: Um Estudo de Caso – Ceasa/RS. Dissertação Submetida ao Programa de Pós Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001. FAO – Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Conferência Regional FAO/OMS sobre Inocuidade dos Alimentos em África Harare, Zimbabué. Outubro de 2005. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. GIL, A. C. Métodos e Técnicas da Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. JUNIOR, A. M. Análise do Pré-Processamento da Erva-Mate para Chimarrão. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005. JÚNIOR, O. M. O Quadro Regulatório dos Mercados Internacionais de Alimentos: Uma Análise de seus Principais Componentes e Determinantes. Economia e Sociedade, v. 22, n. 2 (48), p. 521-545. Campinas, 2013. LIMA, D. P. Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle na Indústria de Erva-Mate: Uma Visão da Nova Economia Institucional. Dissertação Submetida ao Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócios da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Toledo, 2005. SILVEIRA, A. V. M., DUTRA, P. R. S. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – EDUFRPE. Recife, 2012. LONDERO, A. L., LOPES, F., SAGGIN, K. D. Erva-Mate: Legislações Atuais e Futuras em Busca da Segurança Alimentar. Informativo Técnico DDA – n, 12, ano 5. Porto Alegre, 2014. MAZUCHOWSK, J. Z. Influência de Níveis de Sombreamento e de Nitrogênio na Produção de Massa Foliar da Erva-Mate Ilex Paraguariensis St. Hil. Dissertação Submetida ao Programa de Pós Graduação do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2004. ORTEGA, A. C., BORGES, M. S. Codex Alimentarius: A Segurança Alimenta Sob a ótica da Qualidade. Segurança Alimentar e Nutricional, 19(1): 71-81. Campinas, 2012. PERETTI, A. P. R., ARAÚJO, W. M. C. Abrangência do requisito segurança em certificados de qualidade da cadeia produtiva de alimentos no Brasil. Gest. Prod., v. 17, n. 1, p. 35-49. São Carlos, 2010. SANTOS, M., M. O Impacto da Legislação Vigente Sobre a Indústria da Erva-Mate para Chimarrão na Região do Alto Uruguai. Dissertação Submetida ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002. SCHUCHMANN, C. E. Z. Ações para a Formulação de um Protocolo de Rastreabilidade de Erva-Mate. Dissertação Submetida ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
CADEIA PRODUTIVA DO TABACO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO Renata Milani
1, Caroline Soares da Silveira
2, Glauco Schultz³
¹Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – UFRGS, [email protected]
²Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – UFRGS, [email protected]
³ Professor da Faculdade de Ciências Econômicas –UFRGS [email protected]
Resumo. A Economia dos Custos de Transação permite formular e avaliar hipóteses a respeito do arranjo de
sistemas em geral e do agronegócio, possibilitando aplicações na coordenação e competitividade dos sistemas
produtivos. Desta forma o objetivo do presente estudo é analisar a cadeia produtiva do tabaco a partir da
Economia dos Custos de Transação. Para alcançar os objetivos propostos utilizou- se como metodologia a
revisão sistemática da literatura. Foram realizadas buscas através de bases de dados como periódicos Capes,
Cnpq e Scielo, além de teses e dissertações de universidades brasileiras. Desta forma, foram selecionados seis
artigos para responder as questões de pesquisa e alcançar o objetivo do trabalho. Os resultados da investigação
apontam que o Sistema Integrado de Produção de Tabaco é bastante complexo e apresenta algumas
fragilidades. Referindo-se à racionalidade limitada dos fumicultores percebe-se que esta dá- se principalmente
por conta de seu menor nível de informação sobre as condições de mercado que envolve seu produto. Os
trabalhos demonstram que a confiança dos produtores no orientador técnico e na empresa está enfraquecida e
esta relação tem ocasionado um meio para gerar incertezas e oportunismo por parte dos produtores. Os
desajustes de informação entre os componentes podem gerar espaço para os atravessadores, que estimulam os
fumicultores, a agirem de forma oportunista. Se os agentes participantes da cadeia produtiva evitassem as ações
oportunistas talvez em longo prazo as relações do sistema integrado conduziriam a construção de contratos
perfeitos, ocasionando a redução ou diminuição dos custos de transação.
Palavras-chave. Nova Economia Institucional, Sistemas Produtivos, Cadeia Produtiva do Fumo.
TOBACCO PRODUCTION CHAIN: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMICS OF TRANSACTION COSTS
Abstract. The Economics of Transaction Costs allows formulate and evaluate hypotheses about the systems in
general arrangement and agribusiness, enabling applications in coordination and competitiveness of the
productive systems. Thus the objective of this study is to analyze the tobacco production chain from the Economy
of Transaction Costs. To achieve the goals we used as a methodology systematic review of the literature.
searches were conducted through databases such as Capes Periodicals Cnpq and Scielo, and theses and
dissertations from Brazilian universities. Thus, we selected six articles to answer the research questions and
achieve the objective of the work. Research results show that the Integrated Tobacco Production is quite
complex and some weaknesses. Referring to the limited rationality of tobacco growers it is perceived that this
Give mainly because of their lower level of information on market conditions surrounding your product. The
work shows that the confidence of producers in the technical advisor and the company is weakened and this
relationship has caused a means to generate uncertainty and opportunism on the part of producers. Misfits of
information between the components can make room for middlemen that encourage tobacco growers to act
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS opportunistically. If the players taking part in the production chain avoid opportunistic actions perhaps long-
term relations of the integrated system would lead to construction of perfect contracts and a decrease or
reduction of transaction costs.
Keywords. New Institutional Economics; production systems; production chain smoke
Introdução
O tabaco constitui-se como uma cultura agrícola não alimentícia relevante na economia de mais de 150 países, sendo que sua cadeia produtiva envolve, no mundo, 2,4 milhões de pessoas (RUDNICKI, WAQUIL e AGNE, 2014). A indústria do tabaco compõe-se de empresas de pequeno, médio e grande porte, sendo as últimas àquelas que fazem parte de um sistema mundial de produção de tabaco. O setor conta também com a participação crescente de países em desenvolvimento para a sua produção mundial (PERONDI, SCHNEIDER e BONATO, 2008).
Atualmente o Brasil se configura como o maior exportador de tabaco em folhas do mundo e o segundo produtor mundial de tabaco, a maior parte de seus produtores está concentrada na região Sul do país, nesta região estão localizadas 92,7% da área cultivada em grande parte cultivada por pequenas propriedades (DESER, a. III, n. 4, dez. 2003:10- 151).
A cultura do fumo se destaca como relevante em diversos países. De acordo com Greco (2004) são vários motivos que contribuíram para o Brasil alcançar o posto de maior exportador mundial de fumo. Uma delas foi à disponibilidade de área para expansão do plantio. De maneira geral a área destinada para o plantio do fumo ocupa uma área pequena dentro das propriedades do sul do país, ou seja, quando as condições compensam, é relativamente fácil para o agricultor estender a área plantada. Outro fator que se destaca como relevante é a qualidade do produto brasileiro, chamado de “fumo limpo”.
Assim como ocorre em outras estruturas de produção agrícola que envolvem diferentes setores da economia, como de carnes, de frango e, mais recentemente, a suína, a folha do tabaco (fumo) também está inserida no Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT).
De acordo com Dallago Filho (2003, p.08), o SIPT “consiste em um vínculo contratual existente entre a empresa fumageira e o produtor de fumo que deveria estabelecer uma relação de cooperação do tipo usuário-produtor que teria benefícios e obrigações equilibradas”.
Este sistema estabelece relações com o produtor através de um contrato formal que tem como base as relações informais, estabelecidas, a partir de relações de proximidade, na figura do orientador técnico. Este realiza o intermédio das relações, principalmente no que se refere à operacionalização dos contratos formais entre os agricultores e as empresas. Esse vínculo entre os agentes da cadeia acontece com a presença de contratos que vão estar presentes em todos os elos da referida cadeia. (RUDNICKI, 2012).
De acordo com Silva (2002), referindo-se a Zylbersztajn (2000), através da importância dada aos contratos, que explicam o conceito de firma, o autor avaliou que é preciso encontrar uma formatação eficiente para induzir os agentes a cooperem, visando a maximização do valor da empresa e do produto final. Para tanto, Silva (2002), salienta que se torna necessário identificar as variáveis determinantes da produção e da sobrevivência das firmas, para que tais acordos sejam preparados, incorporando inclusive direitos de propriedade sobre os resíduos, formas de monitoramento e cláusulas de rescisão contratual. Isso faz com que se tenha uma consistente teoria dos contratos.
As relações entre dois elos de uma cadeia produtiva que envolve a construção dos contratos deveriam ter como critério a maximização conjunta do lucro (BEGNIS,
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS ESTIVALETE E PEDROZO 2007). A Economia dos Custos de Transação (ECT) tem no contrato um pré-requisito para a confiança, já alguns autores revelam que o alto grau de confiança e os contratos formais podem ser considerados mecanismos complementares (POWELL, 1990), ademais a confiança seria um fator que contribui para a redução da necessidade do uso de contratos (LARSON, 1992).
A ECT está inserida no contexto teórico da Nova Economia Institucional, na qual as bases conceituais tiverem inicio nos anos trinta a partir dos trabalhos realizados por Coase (1988). Neste sentido Langlois e Foss (1997) ressaltam a relevância de Ronald Coase, na qual introduziu em seu célebre artigo “The nature of the firm”, em 1937, uma nova perspectiva para o entendimento das estratégias empresariais ao mostrar que existem outros custos além dos custos de produção, custos estes que estão relacionados ao funcionamento dos mercados: os custos de transação. Estes custos são definidos por WILLIAMSON, (1985) como os custos necessários para o funcionamento do sistema econômico.
Os custos de transação são os gastos que os agentes econômicos enfrentam todas as vezes que recorrem ao mercado, ou seja, são aqueles custos para negociar, redigir e garantir que os contratos sejam cumpridos. O argumento apresentado por Coase (1988) sobre a existência de custos associados ao funcionamento do mercado possibilita ampliar as ideias de minimização de custos, incorporando-se os custos de transação (SILVA, 2002).
A ECT trata de uma teoria que permite analisar as organizações e o seu relacionamento com o mercado e as instituições a partir das características das transações e de pressupostos comportamentais dos agentes envolvidos (Augusto et al, 2014). De acordo com Williamson (1985), os atributos que caracterizam uma transação são três: a frequência, a incerteza e a especificidade de ativos, sendo este último, na visão do autor, o principal determinante da estrutura de governança a ser adotada.
Segundo Silva (2002), o enfoque proposto pela ECT está ligado à contratação e sustenta que qualquer questão pode ser formulada em termos de contratos, para facilitar a sua investigação. Além dos atributos das transações em se tratando de contratos Williamson (1985) afirma a existência de atributos que conduzem a construção e o cumprimento de um contrato. A saber: racionalidade limitada e o oportunismo, sendo estes pressupostos comportamentais que fazem parte da natureza humana (SILVA, 2009).
Neste contexto Silva (2002), salienta que a abordagem dos custos de transação possibilita interpretar as atitudes das instituições que pertencem à cadeia do tabaco, no que se refere às negociações que ocorrem entre os agentes da cadeia possibilitando o aumento da eficiência das atividades envolvidas. As questões norteadoras deste estudo são as seguintes: como ocorrem as relações contratuais entre as empresas fumageiras e os produtores de tabaco no Brasil? Quais elementos da ECT estão presentes nesta relação? Desta forma o objetivo do presente estudo é analisar as relações contratuais existentes na cadeia produtiva do tabaco. 2 Materiais e Métodos
O trabalho desenvolvido trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Para Mancini
e Samapaio (2006), a revisão sistemática da literatura, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura. Tal maneira de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.
Ainda segundo estes autores as revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de estudos realizados que podem apresentar
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras.
Nesta perspectiva utilizou-se a metodologia proposta por este autor, através das seguintes etapas: a) Fontes; b) Coleta de dados; c) Apresentação dos resultados; d) Discussão dos resultados. A estratégia de busca das fontes deu-se através do uso das seguintes palavras e termos de referências: Economia dos Custos de Transação; Cadeia produtiva do tabaco; Cadeia produtiva do fumo. As bases de dados buscadas foram: Web of Science; Scielo; Capes, teses e dissertações de universidades brasileiras, além de artigos publicados em revistas. Após breve análise dos trabalhos, foram selecionados seis artigos que apresentam conteúdo condizente com a proposta deste trabalho capazes de responder as questões anteriormente descritas. 3 Apresentação e Discussão dos Resultados
A seguir é apresentada uma síntese dos resultados da bibliografia analisada. Ressalta-se
que são destacados os resultados que contribuem para responder as questões da pesquisa. De acordo com o artigo 1, Silva e Borges (2010), apresentam e interpretam os contratos entre os participantes da cadeia agroindustrial do Tabaco sul-brasileiro.
O primeiro destaque está no caso do capital financeiro, pois, no início da safra é feito um financiamento para bancar os custos de insumos e equipamentos necessários a produção do fumo que são fornecidos e definidos pelas grandes empresas integradoras que se comprometem em comprar toda a produção do agricultor que está integrado a ela no final da safra. Este financiamento é feito junto às instituições bancárias, como Banco do Brasil, por influência e intermédio das companhias fumageiras.
Tratando- se dos fumicultores ocorre que o Sistema Integrado da Produção do tabaco rege a relação destes com as indústrias de beneficiamento. Concomitantemente com a retirada de financiamento junto às redes bancárias, é feito um contrato entre as partes, através do qual a indústria se compromete em comprar toda a produção de um determinado período e o produtor se compromete em vender somente para ela.
Segundo os autores esse tipo de contrato gera pouco oportunismo por parte dos fumicultores em infligirem às regras contratadas, pois as retaliações são maiores do que os benefícios. Além disso, é uma situação muito cômoda ao produtor, pois ele poupa sua racionalidade limitada ao saber que toda a sua produção será vendida ao final da safra.
Em relação ao artigo 2, Begnis, Estivalete e Pedrozo (2007) expõem que a cadeia agroindustrial do fumo é relativamente curta na qual os elementos principais são os agri-cultores (fumicultores) e a indústria de beneficiamento (fumageiras). Isto significa que existem relações muito próximas entre estes dois elos da cadeia, que vão desde a orientação de base técnica até a comercialização da produção.
De acordo com os autores os contratos de integração na cadeia do fumo não diferem muito entre as empresas, possuindo elementos comuns. Destacam três artifícios contratuais que podem ser facilmente identificados: os compromissos, as salvaguardas e as penalidades.
Os autores ressaltam que neste ponto reside algo importante a respeito destes contratos. O objeto do contrato é um bem inexistente que será produzido e cujo resultado final é especificado, porém incerto. Portanto, a relação contratual é estabelecida sobre um compromisso de produzir. Mas a particularidade está em outro elemento contratual, que permite que o objeto do contrato (o fumo produzido) possa ser redefinido enquanto se processa a produção.
Ainda do lado dos compromissos, os contratos estabelecem que a empresa compradora se comprometa com a venda ou recomendação dos insumos básicos e disponibiliza orientação
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS técnica durante todo o ciclo da cultura. Em contrapartida, o agricultor fica comprometido a utilizar somente os insumos fornecidos ou recomendados pela empresa e a obedecer a sequência correta da colheita. Em relação ao oportunismo, muitas vezes este decorre do desequilíbrio em termos de disponibilidade e qualidade da informação por parte dos agentes envolvidos em uma transação. Na cadeia do fumo, o que se pode observar é a uniformidade de informações entre as organizações representativas de cada um de seus elos principais, ou seja, AFUBRA e SINDIFUMO.
A representação da indústria considera que os agricultores, de forma isolada não percebem os movimentos de mercado e as questões que envolvem a cadeia como um todo. Havendo assim um desnível de informação na relação entre agricultor individual e empresa. É neste contexto existe o elemento que promove o comportamento oportunista por parte do fumicultor, o qual é potencializado pela atuação de agentes atravessadores.
Sobre o comportamento oportunista, por parte dos fumicultores, perante a presença de agentes atravessadores na cadeia do fumo, é importante destacar que a constante intervenção destes agentes pode causar a desarticulação do sistema integrado de produção, o qual representa a principal vantagem competitiva do fumo brasileiro frente ao mercado externo. No caso específico da cadeia produtiva do fumo, a racionalidade limitada do fumicultor manifesta-se principalmente em virtude de seu menor nível de informação sobre as condições de mercado que envolve seu produto.
No artigo 3, Rudnicki, Waquil e Agne (2014), ao analisarem as características da relação de confiança do agricultor e o orientador técnico nas regiões do vale do rio pardo e zona sul do Rio Grande do Sul, obtiveram que o orientador agrícola representa um agente pertinente na cadeia produtiva do tabaco.
Analisando os resultados tem-se que os produtores da região de Santa Cruz do Sul são os que mais valorizam o papel do orientador quando optam por uma empresa em detrimento de outra. Nos demais municípios: Dom Feliciano e Rio Pardo, um número alto de agricultores mencionaram que o orientador é um ator que influencia esta decisão.
O orientador técnico é contratado pela empresa e deve representar a comunidade, os valores e as crenças dos grupos. Apesar disso, os autores encontraram casos de descontentamento dos fumicultores com o orientador técnico. Dessa forma, se no início da relação contratual os instrutores estavam presentes nas propriedades, atualmente, mesmo confiando no orientador, o agricultor considera que os laços vêm sendo enfraquecidos, e alguns comportamentos inadequados vêm sendo praticados.
Essa relação enfraquecida provoca quebras contratuais. Assim, eles dizem desejar burlar os acordos para mostrar o quanto estão insatisfeitos, seja através do não uso de equipamentos, seja a partir da venda do produto ao atravessador. Percebeu-se também a relação direta entre frequência dos encontros sociais (relações face a face) e confiança. Quanto mais os agricultores participam de reuniões presenciais (para obter informações, para participar de questões comunitárias), mais os grupos se fortalecem e menor a confiança nos “estranhos”.
As relações de confiança merecem uma atenção especial do olhar econômico. Isso porque ela vem sendo tratada como um instrumento capaz de reduzir os custos de transação, deixando, assim, de observar que as formas de governanças das firmas se utilizam das relações de proximidade como uma ferramenta complementar de controle.
A confiança, então, se refere a um processo construído socialmente. E, nesse sentido, envolve relações de poder, que podem ser visualizadas tanto nas sanções encontradas nos contratos formais, quanto naquelas construídas pelos atores na comunidade.
Os fatores identificados a partir da análise fatorial dos atributos de relacionamento podem ser considerados como requisitos para o desenvolvimento e ampliação da parceria produtor/empresa e como ferramentas para o gerenciamento deste relacionamento. Segundo a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS literatura consultada pelo autor, pode-se concluir que os fatores identificados correspondem aos constructos: Comprometimento e confiança. O primeiro fator mostra que a percepção de que a empresa ajuda na melhoria da propriedade e na qualidade de vida do produtor leva à confiança no longo prazo da relação e esforço para não terminar o relacionamento, resultando o comprometimento, pois os respondentes demonstram interesse na intenção de manter a parceria por um longo prazo.
De acordo com os resultados encontrados no trabalho 5 (Rudnicki, 2014), a forma contratual estabelecida entre agricultores e empresas também explica as relações de confiança em estudo. Se a não leitura do contrato, por exemplo, se apresenta como prática comum desses atores, isso aponta, em um primeiro momento, um cenário de confiança, mas também pode ser avaliado como decorrência da falta de hábito ou de estímulo do agricultor para questionar as sanções, os direitos e os deveres das partes. De modo geral, observou-se que os produtores não realizam previamente a leitura do contrato firmado com a empresa.
As cláusulas não conhecidas são aquelas que envolvem não só a assinatura de outros documentos, autorizações para as empresas efetuarem empréstimos pelos produtores, bem como autorização para a empresa descontar da venda de sua produção o valor necessário ao resgate entre outras informações relevantes, a empresa fornece autorização para intermediar o financiamento, junto às instituições financeiras, de todos os insumos, materiais, equipamentos e o que mais decorrer desse contrato, o que será utilizado pelo produtor na forma de modalidade de crédito rural, o qual pode, inclusive, se for o caso, firmar contratos e notas de crédito rural correspondentes. No entanto, os agricultores costumam assinar documentos em branco, sem perguntar como, quando e para que serão utilizados.
Os sujeitos não têm condições de prever todos os cenários, mas o comportamento humano não se restringe ao oportunismo. Há também a competência cognitiva (racionalidade limitada), resgatada por Williamson (1985, 1996), a partir de Simon (1965), e retratadas por Ostrom e Walker (2005). No ponto de vista de Ostrom (2003, 2008), existe outra forma de explicar o comportamento humano, que não a partir da maximização de ganhos. Dessa perspectiva, os sujeitos podem ser múltiplos, ou seja, em alguns momentos pessoas guiadas por lógicas egoístas racionais que cooperariam mediante a possibilidade de reciprocidade (desde que recebam algo em troca mediante a cooperação do outro).
Nesse sentido, percebe-se que é exatamente nas relações mais próximas, ressaltadas como aquelas importantes nas relações sociais, as quais são denominadas por Granovetter (1973, 2007) como “laços fracos”, que se percebem a mais alta confiança. Também a universidade apresenta um caráter de proximidade, na medida em que atua diretamente com os produtores, geralmente realizando entrevistas. Por outro lado, a confiança na empresa é a mais baixa, inclusive ao ser comparada com a cooperativa, que, geralmente, não faz parte do cenário do produtor de tabaco.
No artigo 6, de acordo com Silva (2002), as instituições que formam o complexo fumageiro sul-brasileiro possuem inter-relações que o sustentam no longo prazo. Há uma ligação contínua e relativamente estável entre os fumicultores e as fumageiras, que faz com que haja um grande contingente de trabalhadores que estão empregados no complexo, além do mesmo ser significativo em termos da balança comercial brasileira e da arrecadação tributária do País.
A relação de complementaridade e cumplicidade entre os agentes do setor ocorre graças à integração que existe entre as atividades, algo que se retrata na preocupação em sustentar o êxito das transações entre os agentes e em repassar tal resultado para o mercado, além das fronteiras da agroindústria e das regiões produtoras dos fumos claros, no Brasil.
A economia dos custos de transação admite a existência de pressupostos condutores das transações, chamados por de características dos agentes. São eles, o oportunismo e a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS racionalidade limitada aos quais os participantes das trocas estão sujeitos. Baseando-se em Zylbersztajn (2000) o autor afirma que o oportunismo conduz à discussão da realidade dos negócios, em que há situações nas quais os agentes quebram contratos, com o interesse de se apropriar de quase rendas relacionadas à existência de ativos específicos. Três razões apontadas pelo autor explicam a necessidade da continuidade dos contratos, contrariando o oportunismo, são elas:
a) Reputação: representa uma motivação pecuniária, na qual o agente não rompe o contrato por saber que estará com isso mantendo um fluxo futuro de renda. O custo de rompimento supera os benefícios, quando o indivíduo calcula o valor presente da renda futura. Essa justificativa está na manutenção da maioria dos contratos existentes entre fumicultores e fumageiras. b) Garantias Legais: havendo um mecanismo de punição instituído pela sociedade, os agentes econômicos sentir-se-ão inibidos em fazer uma quebra contratual oportunística. As instituições legais são complementadas por códigos informais de conduta, que acabam tendo o mesmo papel da Lei, podendo até mesmo ser mais eficientes. c) Princípios Éticos: Há códigos de conduta, como apontado no item anterior, que os grupos de negociantes definem. Esses funcionam como contratos tácitos entre os agentes e, ainda que sejam de difícil fiscalização e, por vezes, descrição formal, agem como instrumentos de coação, em face dos custos que incidem sobre quem não os cumpre.
Segundo Silva (2002) referindo-se a Williamson (1989), no que tange à racionalidade limitada os agentes conseguem ser racionais somente de forma parcial. Isso ocorre porque a complexidade do ambiente que cerca a decisão dos agentes não o permite atingir a racionalidade plena. Se a racionalidade fosse ilimitada, haveria a possibilidade de se desenvolver um modelo de contratos planejado, sem haver a necessidade de se estruturar formas bem elaboradas de governança, já que seriam hábeis para formular contratos completos.
4 Considerações finais
A partir da proposta desse artigo os principais elementos da ECT encontrados a partir dos estudos são o comportamento oportunismo, confiança e a racionalidade limitada. Os trabalhos analisados demonstram que as relações contratuais no SIPT são complexas e apresentam algumas fragilidades. Tanto pelo fato dos contratos serem regidos pelas empresas quanto pelo fato dos fumicultores, desconhecerem as cláusulas dos contratos assinados.
Referindo-se à racionalidade limitada dos fumicultores percebe-se que esta se dá principalmente por conta de seu menor nível de informação sobre as condições de mercado que envolve seu produto. Além disso, os trabalhos demonstram que a confiança dos produtores no orientador técnico e na empresa está enfraquecida e esta relação se constitui em um meio para gerar incertezas e oportunismo. O contrato entre a empresa integradora com o produtor de fumo ocorre de maneira incompleta. Conforme se dá a produção de fumo ambas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o andamento do mercado. Este desajuste de informação pode gerar espaço para os atravessadores, que estimulam os fumicultores a quebrarem seus contratos, e assim agirem de forma oportunista.
Destaca-se que esta constante intervenção pode gerar a desarticulação do sistema integrado de produção, sendo que esta é a principal vantagem competitiva do fumo brasileiro em comparação ao mercado externo. É possível evidenciar por fim que se os agentes trabalhassem pra evitar as ações oportunistas talvez em longo prazo às relações do sistema integrado conduziriam a construção de contratos perfeitos, isto devido à confiança existente entre os componentes. Com isso ocasionaria também a redução ou diminuição dos custos de transação.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências AFUBRA. Associação dos Fumicultores do Brasil. Fumicultura no Brasil. Santa Cruz do Sul, AFUBRA. 2010. Disponível em http://www.afubra.com.br. Acesso em: 10 jun. 2015. BEGNIS, H. S. M.; ESTIVALETE, V.F.B.; PEDROZO, E.A. Confiança, comportamento oportunista e quebra de contratos na cadeia produtiva do fumo no sul do Brasil. Revista Gestão da Produção. São Carlos, v. 14, n. 2, p. 311-322, maio/ago. 2007. COASE, R. H. The firm, the market and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. 217p. DESER. Contexto Rural – Revista do Departamento de Estudos Sócio -Econômicos Rurais. Curitiba: Gráfica Popular, a. III, n. 04, dez. 2003. DALLAGO FILHO. Avaliação da relação produtor-empresa no sistema integrado de produção agrícola na cultura de fumo. 2003. Dissertação (Mestrado em administração). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. GRECO, M. M. Análise do relacionamento entre uma empresa integradora e seus produtores integrados na cadeia produtiva do fumo. 2004. Dissertação (Mestrado executivo em administração). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. GRANOVETTER, M. Ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. RAE Eletrônica, São Paulo, v. 6, n. 1, jan./jun. 2007. KUPFER, D. Economia Industrial: Fundamentos teóricos e práticos no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. LARSON, A. Network Dyads in Entrepreneurial Settings: A Study of the Governance of exchange relationships. Administrative Science Quartely, Ithaca, v. 37, p. 76-104, March. 1992. NORTH, D. C. Custo de transação, Instituições e Desempenho Econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 2006. NOOTEBOOM, B.; BERGER, H.; NOORDERHAVEN, N. G. Effects of trust and governance on relational risk in aliances Academy of Management Journal, v. 40, n. 2, p. 308-338, 1997. PERONDI, M.; SCHNEIDER, S; BONATO, A. A. Metodologia para Avaliar a diversificação da Produção em Áreas Cultivadas do Tabaco. 2008. In: Sociedade brasileira de economia, administração e sociologia rural, n. 46. Rio Branco, 2008. Anais... Rio Branco: SOBER, 2008. POWELL, W. W. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior, New York, n.12, p. 295-336, 1990. RUDNICKI, C. S. WAQUIL, P. D. ; LEAL, C. As diferentes faces da confiança na produção do tabaco no rio grande do sul, brasil: a relação dos agricultores com os orientadores técnicos agrícolas. Redes (Santa Cruz do Sul. Online), v. 19, p. 224, 2014. SAMPAIO RF, MANCINI MC. Prática baseada em evidência: buscando informação para fundamentar a prática clínica do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Revista. Brasileira. Fisioter. 2002; 6(3):113-8. SIMON, H. A. Comportamento administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1965. SILVA, L. X. BORGES, R. L. A. Interpretações e análise das relações contratuais e da interdependência na cadeia agroindustrial do Tabaco sul-brasileiro. In: Encontro de Economia Gaúcha, 2010, Porto Alegre. 5º Encontro de Economia Gaúcha - EEG. Porto Alegre: FEE/Edipucrs, 2010. v. 1. p. 1-23. SILVA, L. X. TILLMANN, E. A. Exportações e eficiência competitiva da cadeia brasileira do tabaco: Vantagens comparativas reveladas e orientação regional. Congresso da SOBER, 47. Anais... Porto Alegre: SOBER. 2009. SILVA, L. X. Análise do complexo agroindustrial fumageiro sul-brasileiro sob o enfoque da economia dos custos de transação. 2002. 279 f. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Porto Alegre, 2002. ZYLBERSZTAJN, D. A estrutura de governança e coordenação do agribusiness: uma aplicação da nova economia das instituições. 1995. 238 p. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade, São Paulo, 1995. ZYLBERSZTAJN, D. Economia das Organizações. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava (org.) Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São Paulo, Pioneira. 2000. p.23-38. WILLIAMSON, O. 1996. The Mechanisms of Governance. Oxford University Press. 429 p. WILLIAMSON, O. E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: Free Press, 1985. WILLIAMSON, O. E. Transaction cost economics. In: R. Schmalensee & R. D. Willig (eds.). Handbook of Industrial Organizaction (Vol. 1, pp. 135-182). Amsterdam: North Holand (1989).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Ética ambiental e desenvolvimento: alternativas de produção orgânica para a agricultura familiar em Rondônia
Charles Carminati de Lima 1
Luciano Félix Florit 2
1 Doutorando em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) – [email protected]; 2 Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor da Universidade Regional de Blumenau (FURB) - [email protected].
RESUMO: Na Amazônia, com a escassez dos recursos naturais, a preocupação com o meio ambiente, vem estimulando iniciativas de agricultores familiares em Rondônia na busca de alternativas sustentáveis de produção orgânica para um melhor aproveitamento dos recursos naturais na perspectiva de uma sustentabilidade ambiental. Neste sentido, a inter-relação entre a ética ambiental e a reflexão crítica sobre os processos de desenvolvimento, tendo como foco a análise sobre os conflitos entre sistemas de valores e os conflitos ambientais que afetam o meio social vem contribuindo na construção de uma ética ecológica que concilie equidade social e expansão da consideração moral para além dos humanos. Como resultados principais, o estudo demonstra a valorização dos agricultores com a produção orgânica familiar, além da mudança de comportamento cultural no cultivo de uma agricultura mais sustentável e possibilitando retorno financeiro considerável. Envolveu pesquisa de campo em 29 propriedades orgânicas em Rondônia no ano de 2015. Estudo com abordagem qualitativa.
Palavras-chave. Ética ambiental; Desenvolvimento; Produção Orgânica; Agricultura Familiar
Ethics environmental and development: production of alternatives for organic farming family in Rondonia
ABSTRACT: In the Amazon, the scarcity of natural resources, concern for the environment, has been encouraging family farmers initiatives in Rondonia in search of alternative sustainable organic production for a better use of natural resources with a view to environmental sustainability. In this sense, the interrelationship between environmental ethics and critical reflection on the processes of development, focusing on the analysis of conflicts between value systems and environmental conflicts affecting the social environment has contributed in the construction of an ecological ethics that reconciles social equity and expansion of moral consideration beyond human. The main results, the study demonstrates the value of farmers and family organic production, in addition to changing cultural behavior in the cultivation of a more sustainable agriculture and providing considerable financial return. Involved field research in 29 organic farms in Rondonia in 2015. Study with qualitative approach.
Keywords. Environmental ethics; Development; Organic Production; Family farming.
1. Introdução
Nos últimos anos, com a escassez de recursos naturais e a preocupação com o meio
ambiente, os agricultores vem buscando alternativas sustentáveis de produção no aproveitamento
dos recursos naturais provenientes do solo, da água e do ar, de maneira a suprir todas as demandas
da geração atual sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Na perspectiva do
desenvolvimento como estimulo a agricultura no Brasil, a busca pela sustentabilidade ambiental
vem sempre sobreposta às variáveis sociais, econômicas e tecnológicas, envolvendo uma
dimensão valorativa que preestabelece o rumo dos caminhos a serem seguidos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A inter-relação entre a ética ambiental e a reflexão crítica sobre os processos de
desenvolvimento, tendo como foco a análise sobre os conflitos entre sistemas de valores que
subjazem aos conflitos ambientais que afetam o meio social vem se despontando como o da
reflexão das implicações acerca do uso da natureza praticados nos modos de vida tradicional para
a construção de uma ética ecológica que concilie equidade social e expansão da consideração
moral para além dos humanos. Articular as contribuições da ética ambiental com a análise social
implica em trazer importantes e renovados desafios à problemática ambiental. Em particular,
questões voltadas a analisar as implicações ambientais dos processos de desenvolvimento e a
conformação e consolidação de padrões de desenvolvimento no território. No contexto do campo,
a sustentabilidade também pode interagir, além dos aspectos ambientais, mas com a
autossuficiência da agricultura familiar no estimulo de alternativas produtivas que observem os
princípios da ética ambiental e da preservação dos recursos naturais.
Em Rondônia, assim como no Brasil, a agricultura familiar se apresenta como a unidade
de produção familiar que é regida por certos princípios gerais de funcionamento interno que a
tornam diferente da unidade de produção capitalista, e por possuir relevância na produção de
alimentos no Brasil, carece de alternativas sustentáveis de renda e valoração de seus produtos, a
exemplo da produção orgânica. Neste sentido, a produção orgânica familiar na amazônia oferece
uma reflexão considerável para uma mudança de comportamento, visto que compreende os
sistemas produtivos como unidade, respeitando os recursos naturais, e que contribuam de alguma
maneira com o desenvolvimento regional de seus atores sociais.
2. Ética ambiental e desenvolvimento: conceito e implicações
A reflexão acerca da ética ambiental está alicerçada a partir dos fundamentos e dos valores
nos quais se estabelecem as relações com a natureza e os seres vivos não humanos.
Para Florit (2016, p. 259), a ética está relacionada à filosofia da moral como: [...] “a reflexão
sistemática sobre os valores e comportamento dos indivíduos, realizada com o intuito de se chegar
a uma conclusão sobre se uma ação deve ser considerada correta ou incorreta.”
Neste sentido, Florit (2016, p. 259), apresenta o contexto da ética ambiental na perspectiva
do antropocentrismo, “naturalizado na moralidade dominante, que concede reconhecimento moral
apenas aos seres humanos, legitimando [...] práticas especistas”, relacionando a moralidade “aos
processos de reprodução social” e “à natureza no contexto da sociedade capitalista”,
reconhecendo nela apenas “um valor instrumental. A reflexão da ética ambiental analisa
criticamente este entendimento, em muitos casos concluindo que haveria na natureza algum tipo
de valor intrínseco”.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Esta forma de perceber a natureza apenas por seu valor instrumental é reforçada por
Gudynas (2010), ao abordar as grandes consequências do neo-extrativismo com o intuito do
desenvolvimento econômico nos governos progressistas da América do Sul, reforçando a
necessidade de alternativas de produção que preservem os recursos naturais de maneira a
combater a agricultura tradicional baseada na monocultura de grande escala:
De manera similar, estos gobiernos han promovido el sesgo extractivista de una agricultura basada en monocultivos de amplia cobertura geográfica, y orientada a la exportación. El ejemplo más evidente en este caso es la continua expansión de la soja transgénica en los países del Cono Sur, la que en la última zafra 2009/10 ha alcanzado los 55 millones toneladas en Argentina, y los 68 millones toneladas en Brasil (GUDYNAS, 2010 p. 42)
O autor evidencia que tal modelo extrativista contemporâneo de grande escala, nocivo ao
meio ambiente e promovido pelos governos da nova esquerda não é idêntico ao que foi feito em
décadas anteriores, ao contrário do que aconteceu no passado, há maior presença do Estado na
melhor regulamentação nos modelos de exploração capitalistas, aumentando tributações
necessárias ao desenvolvimento além da cobrança dos royalties, mais evidente nos setores do
petróleo, por exemplo, na Bolívia, Equador e Venezuela.
Com relação à ética ambiental, Robert Elliot (2004), a classifica em quatro abordagens: a)
centrada no ser humano; b) centrada nos animais; c) centrada na vida; e d) holismo ecológico.
Embora seja possível encontrar justificativas para lidar com a natureza considerando exclusiva-
mente as necessidades dos seres humanos na perspectiva do desenvolvimento sustentável, existe a
convicção, compartilhada entre muitos pensadores da ética ambiental, de que um dos traços mais
problemáticos do modo como a civilização ocidental vem lidando com a natureza está no seu
exacerbado antropocentrismo, quem está amparado nas suas tradições religiosas (judaico-cristãs)
e filosófico-morais, notadamente as escolas aristotélica, kantiana, utilitarista e contratualista
(FLORIT, GRAVA, 2013)
3. Agricultura orgânica familiar e desenvolvimento
A discussão acerca do desenvolvimento sempre trás a tona a necessidade de criar
condições, que muitas vezes perpassa apenas por alternativas econômicas, que gerem renda e
melhoria na condição social das pessoas e comunidades. Contudo, quando o desenvolvimento
envolve comunidades agrícolas a necessidade desta abordagem se faz em um contexto mais
amplo, pois envolve necessidades que vão além das econômicas e sociais, mas também as
ambientais, ecológicas, culturais e espaciais, conforme evidenciado por Sachs (1993), onde a
reflexão visa uma verdadeira metamorfose do modelo civilizatório atual, buscando entender as
dimensões do ecodenvolvimento, caracterizando o planejamento de estratégias a serem utilizadas,
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
levando em conta as dimensões da sustentabilidade com vistas ao processo de desenvolvimento
regional.
Para Theis (2008), o processo de desenvolvimento de uma determinada região possui
particularidades locais: políticas, econômicas e sociais, somando-se a tudo isso a organização de
seus atores regionais, que em muitas vezes utilizam-se de estratégias de produção que envolvem
ou não a intervenção de políticas públicas que mobilizem as forças locais e a construção de uma
cooperação e uma coesão comunitária do território, seja ele urbano ou rural.
Neste sentido, alternativas de produção voltadas para o meio rural, substancialmente as
que envolvem a agricultura familiar são necessárias, principalmente se levarmos em conta a
discussão acerca da preocupação com a ética ambiental e suas implicações para os seres humanos,
não humanos, para o meio ambiente e suas implicações no desenvolvimento regional. Para melhor
compreensão da importância da agricultura familiar na produção de alimentos, faz-se importante o
entendimento do conceito de agricultura familiar, que Abramovay (2000), apresenta como a
unidade de produção familiar na agricultura que é regida por princípios gerais de funcionamento
interno que a tornam diferente da unidade de produção capitalista.
A agricultura orgânica, conforme Moreira e Carmo (2004), consiste em uma proposta de
agricultura sustentável não apenas como uma simples substituição de agroquímicos por insumos
ecológicos, mas uma possibilidade de mudança de comportamento, especialmente na
implementação de políticas publicas voltadas ao fortalecimento dessa agricultura, além da
preocupação com a ética ambiental e a preservação do meio ambiente, sendo uma alternativa no
debate acerca do desenvolvimento econômico capitalista (PENTEADO, 2000).
Contudo, o desenvolvimento não pode ser entendido apenas na perspectiva econômica,
necessitando de reflexões que vão além dos princípios capitalistas, podendo contemplar também
dimensões que envolvam o meio ambiente, a exemplo de Sachs (1993) e as cinco dimensões do
ecodesenvolvimento: 1. Social, construir uma civilização com maior equidade social. 2.
Econômica, alocação e gerenciamento mais eficiente de investimentos. 3. Ecológica, melhor
utilização do consumo dos recursos naturais. 4. Espacial, obtenção de uma configuração rural-
urbana e territorial mais equilibrada e 5. Cultural, a procura de raízes endógenas de processos de
modernização e de sistemas agrícolas integrados com continuidade cultural para o ecossistema.
A partir das dimensões de ecossistema, e considerando a preocupação e a necessidade de
estratégias de inovação que envolvam o desenvolvimento rural sustentável e seus reflexos na
atividade produtiva familiar, está a agricultura orgânica (AGUIAR, 1986). A seguir as principais
características que diferenciam a agricultura tradicional da agricultura orgânica:
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 01 - Principais características da agricultura convencional e orgânica.
Agricultura tradicional Agricultura orgânica
a Mecanização e aplicação de agroquímicos a Mão de obra familiar e utilização de insumos ecológicos
b Produção em massa b Restauração da fertilidade do solo por processos biológicos
c Aumento da produtividade agrícola c Conservação dos agroecossistemas
d Curto prazo d Incentivo à regionalização da sua produção para mercados locais.
Fonte: Zamberlam e Froncheti (2007)
Zamberlam e Froncheti (2007), caracterizam a agricultura convencional pela eficiência na
aplicação de técnicas ou tratos culturais modernos para o aumento da produção agrícola. Já o
cultivo pela agricultura orgânica, consiste na mudança de um modelo mecanicista para um modelo
sustentável e de transformação de hábitos no trato da agricultura (MOREIRA E CARMO 2004).
A reflexão acerca das possibilidades e alternativas de produção de alimentos, a exemplo
da agricultura orgânica familiar, merece atenção, no contexto do agronegócio, oferecendo uma
ponderação considerável de preceitos éticos, ambientais e comportamentais, visto que
compreendem os sistemas produtivos locais como unidades regionais e ambientais de
desenvolvimento (ALTIERI, 2001).
4. Análise, discussão e metodologia do estudo
O estudo foi realizado em 29 propriedades rurais com atividade produtiva orgânica de
base familiar registradas na EMATER no Estado de Rondônia, nos municípios de Cacoal, Pimenta
Bueno e Rolim de Moura, durante os meses de Agosto a Novembro de 2015, com o objetivo de
investigar a perceção desses agricultores familiares com relação à contribuição da produção
orgânica para o desenvolvimento social e ambiental de suas comunidades e sua relação a partir
dos princípios propostos pela ética ambiental. Em primeiro lugar, serão apresentados o perfil
socioeconômico dos agricultores e o tempo de cultivo dedicado à produção orgânica.
Tabela 02 – Perfil socioeconômico das famílias estudadas
Idade Filhos Sexo Renda familiar
De 15 a 25 (13%) 0 Até R$1.000,00 (13%)
De 26 a 35 (61%) 1 Masculino (37%) De R$1.000,01 a R$2.000,00 (50%)
De 36 a 45 (13%) 2 Feminino (63%) De R$2.000,01 a R$3.000,00 (25%)
Acima de 45 (13%) 3 De R$3.000,01 a R$4.000,00 (12%)
Fonte: Dados da pesquisa
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O gênero feminino prevalece em 63% dos entrevistados, justificado por ser o cultivo de
hortaliças historicamente e culturalmente tarefa das mulheres em Rondônia. No que se refere a
faixa-etária, dos agricultores, 74% possuem idade entre 26 a 45 anos.
Ao analisar a renda familiar proveniente da atividade orgânica, 50% afirmou possuir renda
entre R$1.001,00 a R$2.000,00. Por outro lado, apenas 12% possui renda de R$3.001,00 a
R$4.000,00. Para estes com renda superior, o estudo mostrou que a experiência no cultivo da
produção orgânica auxiliou na melhor qualidade dos produtos e por consequência na melhor
comercialização. Outro aspecto de destaque diz respeito apenas aos 25% (figura 1) que afirmou
que a renda advinda da atividade orgânica é insuficiente para o sustento da família, necessitando
possuir outra fonte de renda que não seja a agricultura familiar, a exemplo da prestação de
serviços em escolas, auxilio na atividade pecuária e transportes rurais coletivos.
Figura 01 – Tempo de produção orgânica e insuficiência da renda pela atividade produtiva
Fonte: Dados da pesquisa
Para Aguir (1986), a preocupação e a necessidade de estratégias que envolvam o
desenvolvimento rural sustentável está nos reflexos da produção orgânica, sendo uma alternativa
que o produtor familiar utiliza para garantir a sustentabilidade da atividade rural e de sua
segurança alimentar e seu aprimoramento acontece com o passar do tempo e pela dedicação à
atividade produtiva. Com relação ao tempo médio em que desenvolvem a atividade agrícola, 60%
está entre 6 a 10 anos, e apenas 20% dos entrevistados estão ligados à produção orgânica a mais
de 20 anos.
Figura 02 – Opção pela produção orgânica e posse da propriedade rural
Fonte: Dados da pesquisa
60%
20%
20% De 6 a 10anos
De 11 a 15anos
Acima de 20anos
25%
75% SIM
NÃO
75%
13% 12% MEIO
AMBIENTE
FILOSOFIADE VIDA
50% 25%
25%
SIM
NÃO
PERTENCEA FAMÍLIA
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A posse da propriedade está relacionada à 50% dos agricultores, enquanto outros 50%
respondeu que a área cultivada é de terceiros (família, parentes e vizinhos). A preocupação com o
meio ambiente (figura 02) foi a motivação de 75% dos pesquisados para o cultivo dos produtos
orgânicos. Outrossim, também foram observados outros fatores influenciadores, como o alcance
de atividades pastorais de interesse em produção sustentável, a exemplo da pastoral da terra e do
movimento terra sem males, ambos ligados à igreja católica, onde grande parte dos agricultores
participam (13%), além do estímulo em cursos de capacitação promovidos pela Empresa Estadual
de Assistência Técnica e Extesão Rural de Rondônia (EMATER), (12%).
Figura 03 – Gerenciamento dos custos de produção e lucratividade dos produtos
Fonte: Dados da pesquisa
Com relação ao gerenciamento dos custos de produção (insumos, irrigação e mão-de-
obra), 37% destes agricultores utilizam estratégias de registro e controle destes gastos (anotações
em cadernos que são usados como livro caixa para mensuração dos custos e no controle dos
gastos com adubos orgânicos produzidos na própria propriedade e no rateio dos gastos com
transporte para a comercialização em feiras livres e mercados), que na percepção destes, tais ações
são consideradas “novas tecnologias” empregadas no campo para auxilio no melhor
gerenciamento da atividade produtiva, e na melhor lucratividade dos produtos, com destaque para
o alface e o cheiro verde, cujos ciclos produtivos são menores e o retorno econômico maior. Já
para outros 63%, o uso de estratégias de gestão de custos, não se mostrou interessante, onde
afirmaram não ter empregado nenhuma forma de registro dos custos por falta de interesse e por
não considerarem que há necessidade de mensuração destes dados financeiros na produção
orgânica.
De forma geral, alternativas de produção orgânica vem se demostrando um caminho
possível de desenvolvimento para os pequenos agricultores, bem como uma alternativa de
mudança comportamental e cultural no trato do cultivo agricola, e na observação dos preceitos
propostos pela ética ambiental (principalmente na preservação dos recursos naturais). Devido o
tema ser amplo e de grande relevância no contexto econômico, social e ambiental, a reflexão aqui
apresentada não é suficiente para explorar todos os aspectos relativos à agricultura orgânica em
37%
25%
38%
NOVASTECNOLOGIAS
NÃO TEREMPREGADOS
NENHUMPROCEDIMENTO
55% 36%
9% ALFACE
CHEIROVERDE
TOMATE
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Rondônia, sendo, portanto, relevante que seja abordado novos estudos de viabilidade econômica e
social entre propriedades orgânicas e não orgânicas, para melhor analisar os indicadores de
crescimento e os principais desafios que serão enfrentados a partir da opção de uma atividade
produtiva mais sustentável.
Por fim, a observação dos princípios propostos pela ética ambiental são importantes no
caminho do desenvolvimento sustentável, pois além de preservar os recursos e os seres naturais
que os habitam (diminuição do antropocentrismo), contribuem na mudança do comportamento
social, cultural e ambiental das gerações futuras, principalmente quando nos referimos à
contribuição da produção de alimentos no Brasil gerados pela agricultura familiar.
5. Referências
ABRAMOVAY, R. O Capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. Economia Aplicada, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 379-397, abr./jun. 2000.
AGUIAR, R. C. Abrindo o Pacote Tecnológico: Estado e pesquisa agropecuária no Brasil. São Paulo: Polis/CNPq, 1986).
ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 3 ed. Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2001. 110 p.
CALLICOTT, J. B. The Land Ethic. In: Jamieson, D. A companion to environmental philosophy. Malden: Blackwell Publishers, 2001. p. 204-217.
ELLIOT, R. La ética ambiental. In: Singer, P. (Ed.). Compêndio de ética. Madrid: Alianza Editorial, 2004. p. 391-404.
FLORIT, L. F. Conflitos ambientais, desenvolvimento no território e conflitos de valoração: considerações para uma ética ambiental com equidade social Ética ambiental, especismo e desenvolvimento territorial sustentável. DeMA – Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 36, p. 255-271, abr. 2016.
FLORIT, L.; SBARDELATI, C. Intensive Speciesism Regions in Brazil. In: Talia R.; Dora M. (Org.). Impact of Meat Consumption on Health and Environmental Sustainability. 1. ed. IGI Global, 2016. p. 277-294.
FLORIT, L. F.; GRAVA, D. S. Ética ambiental, especismo e desenvolvimento territorial sustentável. In: Anais do XXIX Congresso ALAS, Crisis y Emergencia Sociales en América Latina, Santiago do Chile, 2013.
GUDYNAS, E. Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo. América Latina em Movimento - ALAI, 462, 1-20, 2010.
MAZZOLENI, E. M.; Nogueira, J. M. Agricultura orgânica: características básicas do seu produtor. Revista de Economia e Sociologia Rural. Rio de Janeiro, v. 44, n. 2, p. 263-293, 2006.
MOREIRA, Rodrigo Machado; CARMO, Maristela Simões. Agroecologia na construção do desenvolvimento rural sustentável. In: Revista Agricultura. São Paulo, v. 51, n. 2, p. 37-56, jul./dez. 2004.
PENTEADO, S. R. Introdução à agricultura orgânica: normas e técnicas de cultivo. Campinas: Grafimagem, 2000. 110 p.
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: Desenvolvimento e Meio Ambiente. São Paulo: Estúdio Nobel/ Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), 1993.
SANTOS, E. L.; BRAGA, V; SANTOS, R. S; BRAGA, A.M.S. Desenvolvimento: um conceito multidimensional. DRd – Desenvolvimento Regional em debate, Ano 2, n. 1, jul. 2012.
SINGER, P. [1994]. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
SINGER, P. Libertação animal. Tradução de: Animal Liberation. v. XXIV. Ed. rev. Porto Alegre: Lugano, 2004. 357 p., il.
TAYLOR, P. W. [1986]. Respect to Nature: A Theory of Environmental Ethics. Princeton University Press, 2011.
THEIS, I. M. (Org.). Desenvolvimento e território: questões teóricas, evidências empíricas. Santa Cruz: EDUNISC, 2008.
ZAMBERLAN, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Preservação do pequeno agricultor e o meio ambiente. São Paulo, 2007.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
As transformações sociotécnicas na cadeia de produção convencional de
ovos: um olhar a partir de duas experiências
Eng.ª Agrícola Maria Antônia Domingues Ramos Pires
Aluna espec. no PGDR da UFRGS, [email protected].
Resumo. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de ovos. A partir de meados da década de 1990 tal produção
teve um incremento significativo no Brasil, sendo que regiões como o Centro-Oeste brasileiro experimentaram
um crescimento de produção na ordem de 85,79%. Estes resultados foram atingidos em boa parte por mudanças
na forma de produzir, através da importação de tecnologia que automatizaram a produção, desde a recria de
aves até a classificação de ovos. Neste trabalho busca-se relatar duas experiências vividas pela autora, no
período compreendido entre 1999 e 2011 em duas empresas produtoras de ovos de duas regiões diferentes do
Brasil (Nordeste e Centro-Oeste). O primeiro ano analisado (1999) coincidiu com a implantação de duas
granjas totalmente automatizadas nos estados de Minas Gerais e Bahia. A nova forma de produzir resultou em
aumento de produção, mas também na crescente dependência tecnológica e de assistência técnica
especializada, além de mudanças institucionais e adaptação às normas do Ministério da Agricultura. A
transformação na forma de produzir ovos comerciais causou impactos em diversas áreas além da tecnológica,
incluindo a necessidade de treinamento das pessoas envolvidas no processo produtivo, questões ambientais,
gerenciais e financeiras; todos estes fatos tornam esta cadeia interessante como objeto de pesquisa.
Palavras-chave. Ovos comerciais, inovação tecnológica, automação na produção de ovos.
The socio-technical transformations in conventional production chain of
eggs: a look from two experiences
Abstract. Brazil is the 7th largest producer of eggs. From the mid-1990s that production had a significant
increase in Brazil, and regions such as the Brazilian Midwest experienced a production growth of around
85.79%. These results were achieved in large part by changes in production methods, by importing technology
that automated the production, from the rearing of birds to the classification of eggs. This work seeks to relate
two experiences lived by the author, in the period between 1999 and 2011 in two companies producing eggs
from two different regions of Brazil (Northeast and Midwest). The first year analyzed (1999) coincided with the
implementation of two fully automated farms in the states of Minas Gerais and Bahia. The new form of
production resulted in increased production, but also the increasing dependence on technology and specialized
technical assistance, as well as institutional changes and adapt to the Ministry of Agriculture standards. The
transformation in the way of producing commercial eggs caused impacts in several areas beyond the
technology, including the need for training of those involved in the production process, environmental issues,
management and financial; All these facts make this interesting chain as a research object.
Keywords. commercial eggs, technological innovation , automation in the production of eggs .
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 1 Introdução
Este trabalho tem por objetivo analisar as transformações que ocorreram na forma de produzir ovos desde o final dos anos 1990. Até então havia algumas iniciativas de automação na coleta e classificação de ovos, no entanto nenhuma unidade produtiva era totalmente automatizada, desde a recria das aves até a retirada de esterco e classificação dos ovos.
A produção mundial de ovos, segundo dados da FAO (Anualpec, 2012) coloca o Brasil como 7º maior produtor (40.731 milhões de unidades), sendo a primeira posição ocupada pela China (482.974 milhões de unidades), seguida dos EUA (91.855 milhões), conforme a FAO se somadas à produção dos sete países maiores produtores de ovos eles respondem por 66,59% dos ovos produzidos no mundo. No Brasil o período compreendido entre os anos de 2003 a 2011 coincidiu com um crescimento na produção de ovos de 29,62%, passando de 31.423 milhões de ovos produzidos para 40.731 milhões de ovos/ano, isso representa 3,34% da produção mundial de ovos.
Neste trabalho são colocados dois casos de empresas produtoras de ovos comerciais, sendo a primeira situada no Nordeste brasileiro, conforme dados do IBGE esta região teve um crescimento na produção de ovos de 16,92% entre os anos de 2002 até 2011 e foi responsável por 15,14% do total de ovos produzidos no referido período. A segunda empresa, esta localizada no Centro Oeste brasileiro esta região experimentou um crescimento na produção de ovos de 85,78%, sendo responsável por 11,51% dos ovos produzidos no Brasil no período de 2002 até 2011. Este crescimento na produção de ovos comerciais no período de 2002 a 2001 no Brasil deve-se em grande parte à modernização do processo produtivo, ocorrido a partir da década de 90.
Este trabalho não tem intenção de estudar a cadeia de produção de ovos, mas é fundamental abordar algumas características referentes a esta cadeia produtiva e ao mercado no qual ela está inserida. Neste trabalho são estudados dois casos de empresas produtoras de ovos comerciais, em dois estados diferentes e em épocas também diferentes. Segundo as características observadas pela autora e baseada na literatura (Miele, Waquil, Shultz, 2011) podemos dizer que estamos diante de duas estruturas organizacionais diferentes, sendo uma de formato unitário (forma U) em que todas as funções são realizadas em uma única planta (produção, marketing, recursos humanos, finanças, etc.); a segunda como uma estrutura multifuncional (forma M), quando a empresa tem diversas unidades que se organizam por produto, função ou região geográfica. Embora cada unidade operacional seja responsável por decisões locais, geralmente referentes a preço, produção e vendas, as questões estratégicas ficam a cargo de uma direção central.
O mercado de ovos pode ser considerado um Oligopólio Competitivo, com poucas barreiras de entrada, considerando como pequena ou inexistente a de economia de escala e onde a concorrência é através de preços (empresas líderes x seguidoras) e sendo a indústria de bens de consumo não duráveis com menor possibilidade de diferenciação (alimento), conforme Miele, Waquil e Shultz (2011).
Neste trabalho utilizarei o termo Cadeia de produção, conforme define a literatura (BATALHA, 1997). Trata-se de um termo oriundo da escola francesa das Cadeias de Produção Agroindustrial (CPA), a qual propõe estudar os processos de integração dentro do que se convencionou chamar “sistema agroalimentar”. Foca sua análise no itinerário de um produto e no conjunto de agentes envolvidos desde a produção até o consumo. Esses autores ressaltam a heterogeneidade que existe em um sistema agroalimentar devido à diversidade de funções (comercialização, industrialização e produção), à diversidade na localização da
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produção e do consumo e, também, nas técnicas produtivas (LABONNE, 1985; MONTIGAUD, 1991; BATALHA, 1997).
Figura 1 - Fluxograma da Cadeia Produtiva do Ovo.
Fonte: Relatório interno preliminar da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
MARTINS et al. (1996).
2 Metodologia da pesquisa
Durante o período compreendido entre os anos 1999 2011 a autora deste trabalho esteve diretamente ligada à produção de ovos comerciais como supervisora de classificação, sendo responsável pela operação e manutenção de classificadoras de ovos, além de todos os outros aspectos que envolvem o processo, como gestão de pessoas, treinamentos, qualidade final do produto, dados de produção, etc.
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos em conversas informais com produtores, fornecedores de insumos e equipamentos, técnicos internos e externos das granjas, reuniões
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS de trabalho, treinamentos realizados para funcionários das salas de classificação de ovos, bem como outras atividades rotineiras do ambiente de classificação de ovos. Trata-se do relato de duas experiências ou situações empresariais, sem a profundidade acadêmica, mas farto em informações do cotidiano de um processo produtivo inserido em uma cadeia produtiva maior, relativamente pouco estudada na literatura acadêmica.
Neste sentido, busco compreender como aconteceu esta inovação, com grande tecnologia, pouco planejamento coletivo, muitos interesses econômicos, com pouca preocupação com recursos naturais e com os impactos ambientais decorrentes do processo produtivo.
Tomarei como base para este trabalho a perspectiva das mudanças (Barbier, Elsen, 2012), como forma de organizar e analisar as questões envolvidas e as principais interações sócio técnicas. Se avaliada de forma isolada talvez esta cadeia não apresente nenhum problema a ser estudado, no entanto a realidade mostra que nem tudo acontece tão perfeitamente como parece, o deslumbramento causado por grandes e complexos equipamentos parece esconder grandes conflitos sociais e técnicos.
3 Resultados e discussão
3.1 Produção de ovos no Brasil
A frota de Pedro Álvares Cabral que aportou no que é hoje o litoral sul da Bahia em 1500 trazia galinhas, que foram deixadas e parece certo que alguns exemplares destas aves permaneceram com os índios nas terras recém-descobertas, inclusive na companhia dos degredados que Cabral teria deixado no local. O ovo através dos tempos é um alimento que acompanha a evolução da civilização, seja por sua simbologia, seu valor nutricional, seja pela facilidade do transporte e criação das galinhas.
Inicialmente as aves eram criadas tanto para consumo de ovos como da carne. Nesta fase pode-se dizer que o ovo era um subproduto na produção de aves. Com o passar do tempo ocorreu à seleção genética e separação das aptidões, linhagens de aves para produção de carne e aves para postura de ovos. Além da modalidade de “ovos de mesa”, uma parte significativa da produção de ovos é destinada à industrialização, transformando o ovo “in natura” em ovo líquido pasteurizado, ovo em pó, albumina, etc.
Conforme a demanda e a produção de ovos foram aumentando, a comercialização foi se tornando mais especializada. Os produtores começaram a classificar os ovos por tamanho, diferenciando, assim, o seu valor comercial, produção se tornou mais tecnificada e a comercialização foi tornando-se mais especializada.
A seleção e aprimoramento genético das aves poedeiras ocorreram principalmente na França e Estados Unidos. Este cenário ainda hoje se mantém, pois atualmente as avós das linhagens utilizadas no Brasil são importadas. Os equipamentos com maior sofisticação tecnológica utilizados na automação da produção e classificação de ovos são de origem europeia (Espanha e Holanda) e norte-americana. A abertura do mercado para importação de equipamentos, que possibilitaram a automação da produção de ovos, também impulsionou a produção nacional de classificadoras e equipamentos utilizados para a criação das aves. Esta produção acontece principalmente no interior do estado de São Paulo, na região de Bastos (onde houve imigração e colonização Japonesa) e tornou-se uma região tradicionalmente produtora de ovos no Brasil.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
3.2 As duas experiências empresariais analisadas
A produção e classificação totalmente automatizada de ovos no Brasil tem como marco o ano de 1999, coincidindo com a aparição de pelo menos dois grandes empreendimentos, quais sejam, a Granja Mantiqueira (Minas Gerais) e a Granja Avipal Nordeste (Bahia). Ambas as unidades de produção totalmente automatizadas, desde a recria até a classificação dos ovos. Um dos fatos mais significativos para que 1999 tenha esta importância é a estabilidade financeira vivida no Brasil e o cenário positivo para investimentos de maior vulto, além da possibilidade de importação dos equipamentos numa época em que a cotação do dólar era favorável a estas negociações.
A partir deste ano a produção de ovos passou por uma grande transformação exigindo alto investimento financeiro. Esta nova realidade deixou muitos produtores fora do mercado, pois a nova forma de produzir representa também um grande avanço no que se refere à redução de custos pelo ganho de produção, devido principalmente ao adensamento das aves.
Todas estas adaptações foram ocorrendo de forma não muito organizada. A legislação sofreu alterações para adaptar-se à nova realidade. Não obstante, as definições das regras sanitárias para classificação de ovos não eram totalmente claras. Um exemplo é o modelo europeu de classificação que não contemplava a lavagem de ovos e o americano obrigava tal processo. Atualmente estas regras estão definidas pelo ministério da Agricultura, mas a exigência e fiscalização ainda é falha. A maior pressão vem através dos concorrentes, os quais denunciam aos órgãos públicos o não cumprimento de normas. Questões ambientais são preponderantes e decisivas na atualidade, no entanto a consciência da responsabilidade nem sempre é voluntária. Na maioria das vezes a atuação reguladora só é feita por força da exigência dos órgãos fiscalizadores. Uma síntese das transformações observadas em duas empresas que produzem ovos e que são relatadas neste trabalho são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1: Empresas produtoras de ovos estudadas no período de 1999 a 2011
Empresa A
Estrutura organizacional de formato
multifuncional - Bahia
Dados de 1999 até 2005 Empreendedores do Rio Grande do Sul, com experiência anterior na atividade, desde a década de 50. A unidade de produção de ovos foi planejada e aprovada pelo ministério da Agricultura, era parte integrante de um complexo produtivo cujo principal foco era a produção de frangos de corte pelo sistema de integração, teve financiamento e incentivos governamentais para sua implantação. Tecnologia em 1999: Totalmente automatizada. Dois galpões de recria automatizadas (Espanha), 10 galpões para produção de ovos (Espanha), classificadora eletrônica de ovos (Holanda). Capacidade produtiva de aprox.. 1000 caixa/dia
Empresa B
Estrutura organizacional de formato
unitário - Mato Grosso
Dados de 1999 até 2011 Empreendedores do Rio Grande do Sul com experiência anterior na atividade. O investimento foi realizado por três sócios que ampliaram uma unidade já existente, com recursos próprios. Investimento realizado sem um planejamento prévio e sem o aval do ministério da Agricultura. Tecnologia em 1999: maior parte da produção automatizada, com recria e 20% da produção não automatizadas. Quatro galpões piramidais (EUA), classificadora eletrônica de ovos (Holanda) Capacidade produtiva de aprox. 850 caixa/dia (caixa de 360 ovos)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS (caixa de 360 ovos) Em 2001 houve uma grande mudança administrativa do Grupo Empresarial, e o projeto Bahia deixou de ter a relevância que possuía até ali, nesta mudança a produção de ovos deixou de ser uma atividade de interesse da empresa, as unidades produtivas do RS foram desativadas e a Granja de Feira de Santana tornou-se a única do grupo em atividade. A unidade não recebeu os investimentos necessários para manutenção, muitas adaptações foram realizadas, em 2003 toda a unidade estava em estado caótico de funcionamento. Em 2005 a granja foi desativada e posteriormente todo o grupo foi comprado por uma concorrente. Considerações gerais:
Suporte técnico e administrativo estruturado e organizado, como parte integrante de um grande grupo Nacional.
A produção de ovos era uma atividade secundária, sendo a principal a produção de frangos de corte em regime de parcerias.
Morosidade nas decisões devido ao tamanho do grupo.
Entre 1999 e 2003 houve uma ampliação na produção, com a aquisição de quatro galpões climatizados (verticais de origem espanhola), e reposicionamento da máquina classificadora, além da implantação de uma linha paralela para lavagem de parte dos ovos sujos. Em 2005 foi retirada a linha paralela de lavagem e adquirida uma lavadora em linha com a classificadora, para lavagem de todos os ovos produzidos. Em 2007 aconteceu a 1º visita de inspeção do ministério da agricultura, muitas adequações foram exigidas, nesta mesma época um concorrente de grande porte, do grupo Mantiqueira, instalou-se em um município vizinho Primavera do Leste, tornando-se o padrão a ser seguido. A partir de 2010 muitos investimentos que sempre foram deixados para 2º plano não puderam mais ser adiados, devido a fiscalizações ambientais (máquina fermentadora de esterco), trabalhistas e sanitárias. Em 2011 aconteceu à dissolução da sociedade, a empresa continua ativa sob o comando de um proprietário. Considerações gerais:
Constantes adaptações e mudanças, sem um planejamento claro e organizado.
Muito cuidado com a manutenção, investimento em peças de reposição e produtos de limpeza dos equipamentos.
Administração pouco profissional, conflitos de ideias entre os sócios.
Empreendimento realizado com pouco planejamento da estrutura física, sem atender as exigências sanitárias e sem previsão de futuras ampliações.
Fonte: Dados da Autora (2016).
4 Conclusões:
Se levado em conta somente o aspecto financeiro dos empreendimentos, poderíamos chegar à conclusão que se trata de uma mudança planejada conforme a teoria da gestão da transição, pois ocorreu uma grande mudança em um curto período de tempo. Especialmente se considerarmos o planejamento comercial das empresas fornecedoras de equipamentos importados ao mercado nacional e o suporte técnico necessário para viabilizar o bom funcionamento e satisfação dos investidores nas novas tecnologias.
Os dois casos expostos são iguais no aspecto tecnológico, diferentes em concepção e administração.
I. A empresa A mostrou-se um projeto organizado em seu planejamento e implantação não apresentando o mesmo cuidado no decorrer do tempo, e mostrou sua fragilidade maior por não ser a principal atividade do grupo empresarial. Este caso apresenta características de mudança episódica, a considerar que a Granja foi um novo investimento de um antigo produtor, isso representou uma transição na forma de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
produzir, quando comparada às granjas que o grupo possuía no RS, uma unidade compacta e com muitos novos aspectos envolvidos. Este projeto também possui características que remetem a teoria da gestão da transição, pois desde o inicio dos acertos com o governo baiano em 1996 (QUADROS, 2015), foi instituído um gerente para organizar e coordenar todas as atividades referentes ao empreendimento. A teoria organizacional para mudanças contínuas também pode ser identificada, principalmente sob alguns aspectos que foram dimensionados erroneamente, um exemplo é o sistema de coleta e armazenamento de esterco, por tratar-se de uma região de clima quente, as aves tinham necessidade de maior consumo de água, seu esterco tornou-se muito líquido, o sistema era dimensionado para outra realidade climática. Muitos ajustes foram necessários, de manejo e em equipamentos. Por tratar-se de uma unidade com fiscalização direta do Ministério da Agricultura, tendo um inspetor designado, com visitas semanais ordinárias, muitos ajustes foram realizados conforme foram surgindo os problemas.
II. Na empresa B as mudanças ocorreram sem maiores planejamentos, tanto na implantação como na administração da unidade, a granja iniciou suas atividades com produção de forma convencional e galpões manuais e com classificação também manual, a mudanças foram acontecendo de acordo com a oportunidade e desejo de seus sócios. Por um período significativo de tempo, as avalições profissionais foram feitas, em sua maioria, pelos fornecedores de equipamentos, embalagens e outros insumos necessários à produção. Não é uma tarefa fácil identificar a forma como as mudanças ocorreram neste caso, pois aparentemente não houve planejamento, foi um processo de tentativa e erro, sendo o fator financeiro o roteador das mudanças. Podem ser identificadas algumas modificações que poderiam ser classificadas como episódicas, através de intervenções externas, como por exemplo, a exigência de implantação de BPF (Boas Práticas de Fabricação) na classificação de ovos, iniciada em 2008. Para tal tarefa foi contratada uma empresa externa que promoveu grandes modificações, inclusive em decisões administrativas. Um ponto chave neste caso é o PRODUTOR, ele também necessitou passar por profundas transformações, a postura dos sócios de modo geral era de produtor rural familiar, que bruscamente tornaram-se empresários, com um grande patrimônio, muitas pessoas dependendo de suas decisões, pouco ou nenhum conhecimento administrativo, principalmente com a gestão de pessoas e planejamento estratégico de longo prazo. O sucesso financeiro não necessariamente vem acompanhado de formação técnica e acadêmica, tornando um grande entrave para as mudanças efetivas. Ex.: O desejo de treinar os trabalhadores, desde que eles não parem de trabalhar e tampouco tenha que receber hora extra, como fazer? Depois de um longo dia de trabalho, para que qualquer treinamento seja minimamente produtivo, o grupo deve ser preparado para a ocasião, uma forma de fazer essa preparação é oferecendo qualquer mimo, a exemplo de um cafezinho, mas se isso for visto como uma regalia desnecessária, o responsável pelo processo de treinamento perde recursos de trabalho.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
III. O alimento ovo nos últimos anos deixou de ter má fama (bomba de colesterol), pesquisas comprovaram sua importância nutricional. Existirá alguma relação entre sua exaltação e a modernização do processo produtivo? Qual o futuro desta cadeia? A indústria processadora de ovos cresce de forma significativa e também é abastecida por ovos oriundos das grandes unidades produtivas. Quem sabe futuramente, comeremos ovos líquidos pasteurizados, em embalagens do tipo longa vida ou em pó. Será então, um grande luxo comer um ovo frito, com gema mole que escorre e se mistura a um arroz branco?
Referências bibliográficas:
BARBIER, M. and ELSEN, B. (eds), 2012. System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Transitions for Sustainable Agriculture. Inra [online], posted online November 20, 2012.
BATALHA, M. (coord.). Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2001
FARINA, E.; AZEVEDO, P. F. de; SAES, M. S. Competitividade: Mercado, Estado e Organizações. São Paulo: Editora Singular, 1997.
MARTINS, S.S; LEMOS, A.L; DEODATO, A.P; POLITI, E.S.; QUEIROZ, N.M.S. Cadeia Produtiva do Ovo no Estado de São.
Informações econômicas, SP,v.30, n.1, janeiro.2000
PUPPIN, SÉRGIO. OVO, o mito do colesterol. Rio de Janeiro: Editora Rio Sociedade cultural Ltdª. 2004
QUADROS, M.J. Avipal Nordeste inaugura complexo avícola na Bahia. Disponível Avesite http://www.avisite.com.br/, Acesso em
Julho de 2015.
SILVA, ROBERTO. Análise de conjuntura Agropecuária Avicultura de Postura 2012/2013. SEAB - Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento. DERAL - Departamento de Economia Rural. Paraná, Brasil.
VELDEN, F. F. V. As galinhas incontáveis. Tupis, europeus e aves domésticas na conquista no Brasil. Departamento de Antropologia Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Campinas, São Paulo, Brasil. 2012 (artigo)
Versão revista e atualizada de texto apresentado para discussão no Workshop sobre a Cadeia Produtiva do Ovo. Martins, 1997, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em fevereiro de 1997, no auditório do IEA.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
EFEITO DA VOLATILIDADE DO PREÇO DO MILHO Mariza de Almeida¹, Gabriela Ferreira², Eluane Parizotto Seidler³, Amanda Guareschi4
1Graduanda do curso de Ciências Econômicas - Universidade de Passo Fundo. [email protected]
2Graduanda do curso de Ciências Econômicas - Universidade de Passo Fundo. [email protected]
3Administradora e Bolsista - Universidade de Passo Fundo. [email protected]
4Mestre em Desenvolvimento Rural PGDR/UFRGS. Economista. Professora na Universidade de Passo Fundo.
Resumo. A instabilidade enfrentada pelos produtores agrícolas, fez com que surgisse a necessidade de algo que
garantisse que iriam receber, caso a safra de um determinado produto não fosse boa. Por meio dessa demanda,
criou-se as bolsas de valores. Mediante elas tem-se a garantia ao produtor e, indiretamente se tornaram
determinantes dos preços das commodities. Assim, tem-se por objetivo analisar o quanto a volatilidade dos
preços da commodity milho da Chicago Board of Trade (CBOT group CME) gera de efeitos no preço da
commodity milho na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA). Para o desenvolvimento
desta análise utilizou-se variáveis econométricas que tem como propósito testar a volatilidade de preços desta
série histórica atráves do modelo ARCH. Verificou-se que a alta volatilidade de períodos anteriores influencia
na volatilidade dos preços atuais da commodity e que as variações nos preços da CBOT e taxa de câmbio têm
efeitos significativos sobre os preços da commodity na BM&FBOVESPA.
Palavras-chave. Modelo ARCH. Milho. BM&FBovespa. CBOT.
EFFECT OF CORN PRICE VOLATILITY
Abstract. The instability faced by farmers, brought up the need of payment guarantee, in case the harvest of a
certain product is not good. Because of this demand, stock exchanges were created. Through them farmers have
their guarantee and, indirectly they become determinant of commodities prices. Thus, the objective of this
project is to analyze how much the price volatility of the corn commodity of the Board of Trade (CBOT group
CME) affects the price of the corn commodity in the Brazilian mercantile and futures exchange
(BM&FBovespa). Econometric variables that test price volatility of this time series were used for developing
this analysis through an ARCH model. We verified that the high volatility in previous periods affects the current
price volatility of the commodity, and that the vartiations in CBOT prices and in the dollar exchange rates have
significant effects on the commodity price in BM&FBovespa.
Keywords. ARCH model. Corn. BM&FBOVESPA. CBOT.
Introdução No Brasil o mercado de ações é utilizado por uma proporção significativa da
população, para meio de proteção caso a produção física traga algum prejuízo. Países como Brasil e Estado Unidos tem um mercado muito grande de negocição de commodities.
Um dos contratos futuros com grande solicitação nas Bolsas de Valores é o contrato futuro de milho. Esse contrato é um derivativo agropecuário, que geralmente é solicitado para fazer uma proteção tanto na compra quanto na venda do produto físico, ou mesmo para a especulação financeira na tentativa de oriundos lucros na bolsa de valores.
Este mercado no qual são realizados acordos privados de compra e venda para o benefício de uma das partes dos solicitantes, é regulado pelos preços ditados pelo mercado mundial. Uma das responsáveis pela alta volatilidade dos preços dos produtos agrícolas é a taxa de câmbio. Como atualmente o Brasil tem abertura comercial com outros países, a taxa de câmbio determina o valor da moeda do país, e assim, o preço em que o produto será
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS exportado ou importado. Esta, em qualquer momento pode estar valorizada como desvalorizada. Pode-se dizer que o preço é um dos fatores determinantes na hora de comprar e vender um produto (CAMPOS, 2007).
O artigo tem como objetivo principal verificar a influência da taxa de câmbio sobre os preços e, analisar como os preços da commodity milho CBOT geram efeitos nos preços da BM&FBOVESPA.
A partir da comparação entre os preços de uma commodity de duas bolsas de valores, o processo realizou-se com uma análise econométrica da série histórica, por meio do modelo ARCH, que testou a volatilidade dos preços nas bolsas de valores.
Para atingir os objetivos propostos, o artigo está estruturado com a presente introdução, referencial teórico sendo a segunda seção, onde se aborda os contratos futuros, produção de milho e formação de preço. Na terceira seção tem-se os procedimentos metodógicos adotados, na quarta apresenta-se resultados e discussões, e por fim, encerra-se com as considerações finais.
Contratos futuros, produção de milho e formação de preço Os contratos futuros são negociados em Bolsas de Futuros, onde se faz a venda e
compra de contratos, como, a CBOT localizada nos Estados Unidos e a BM&FBOVESPA no Brasil. Ambas são de grande importância no comércio de ações mundial, servindo muitas vezes, de referência para o preço físico de alguns produtos.
Os contratos futuros do derivativo da commodity milho da CBOT e da BM&FBOVESPA, para Marques, Mello e Martines Filho (2008) são compromissos de compra e venda futura, estes indicam, o que será sendo negociado, o prazo do contrato, local de entrega e recebimento e especificações do produto.
Cada bolsa de valores tem as específicas características que um contrato futuro ou de opção deve ter na hora da negociação, conforme Hull (2005) cada bolsa deve detalhar o que irá ocorrer entre as partes que assinarrem o contrato. Para se entender as semelhanças e diferenças do contrato futuro do milho, serão mostradas na Tabela 1, algumas características do contrato da BM&F e da CBOT.
Como consta na Tabela 1, o contrato de milho nas duas bolsas de valores tem algumas características semelhantes, porém existem algumas diferenças. Para Hull (2005), o contrato deve especificar o período de entrega, as cotações de forma que o leitor entenda facilmente. Tem-se como diferenças a cotação, onde em uma Bolsa o preço é em reais e na outra em centavos bushels. A variação mínina na BM&FBOVESPA R$0,01 por 60 quilos líquidos e, na CBOT é ¼ de um centavo por bushel. Em relação às semelhanças, observa-se que na data de vencimento, o último dia de negociação para ambas as bolsas é no dia quinze. Verifica-se que alguns dos meses de vencimento nos contratos são iguais para as duas bolsas de valores. Para a formação de preços de um derivativo como, por exemplo, a commodity milho, os contratos auxiliam por meio de suas características. Pois nos contratos, constam as princípais informações que um especulador, vendedor (produtor) ou comprador (empresa) deve ter sobre a commodity que gostaria de negociar, se protegendo de futuros prejuizos que podem ocorrer no mercado físico.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 1 - Características do contrato de milho da BM&F e da CBOT. Características BM&FBOVESPA CBOT
Produto Milho Milho Unidade de negociação 450 sacas de 60 kg 5.000 bushels (cerca de 127
toneladas métricas). Cotação de preço R$/60 kg Centavos por bushel
Meses de vencimento Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto,
Setembro e Novembro. Março, Maio, Julho, Setembro e Dezembro.
Data de vencimento e último
dia de negociação
Dia 15 do mês de vencimento. Dia útil anterior ao dia 15 do mês do vencimento.
Variação mínima de
apregoação
R$0,01 (um centavo de real) por 60 quilos líquidos.
¼ de um centavo por bushel (US $ 12,50 por contrato).
Fonte: Elaborada pelos autores com base na CBOT e BM&FBOVESPA.
A produção do milho é mundialmente importante, desta forma, apresenta-se na Figura 1, o preço da commodity milho da CBOT e da BM&FBOVESPA, dos Estados Unidos e do Brasil, para os períodos entre 2011 – 2015, com um total de 1151 observações diárias. Para que a unidade monetária fosse dólar (US$), o preço na CBOT que tem cotação em bushels foi convertido para dólar (US$), e o preço da BM&FBOVESPA não se fez a conversão, pois os dados já estavam com unidade monetária US$.
Pode-se dizer que no período de tempo utilizado na Figura 1, há consideráveis altos e baixos no preço da commodity em ambas as bolsas de valores. Percebem-se as variações nos preços tanto na CBOT como na BM&FBOVESPA, destacando grandes oscilações para alguns períodos e para outros calmaria nas osilações. Os preços da commodity milho da BM&FBOVESPA utilizados foram adquiridos no site do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP). Os preços da commodity milho CBOT, foram obtidos através do site Investing.com (historical data).
Figura 1 - Variação da commodity Milho na CBOT e na BM&FBOVESPA.
Fonte: Elaborada pelos autores com base na CEPEA/ESALQ, Investing e IPEA-Data.
No canto direito da Figura 1, encontra-se a taxa de câmbio comercial (R$ / US$) para
os mesmos períodos usados para os preços da commodity, estes valores foram adquirido no
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS site IPEADATA. Para Lopes e Vasconcellos (2014), quando se compara preços de diferentes paises com moedas diferentes utiliza-se a taxa de câmbio, pois esta é quem converte a moeda de um país na moeda do outro. Pode-se identificar por meio do gráfico, que quando a da taxa de câmbio esta baixa o preço as commodity é mais alto, ocorrendo o inverso quando a taxa de câmbio estiver alta. Um dos grandes influenciadores na hora de comprar ou de vender um contrato futuro é o preço.
Uma das variáveis que pode influenciar na formação do preço da commodity milho no Brasil pode ser o preço dos contratos negociados na CBOT e a taxa de câmbio. O presente estudo irá testar por meio da série histórica do milho, com a utilização do modelo ARCH para se analisar a volatilidade dos preços e, se há efeitos da variação do preço de um contrato de milho da CBOT e da taxa de câmbio, no preço de um contrato de milho na BM&FBOVESPA. Procedimentos Metodológicos
Adotou-se o método de caráter descritivo, com análise em uma pesquisa qualitatita e quantitativa. A pesquisa foi elaborada com base em uma série temporal do preço da commodity milho, do período 03 de novembro de 2011 a 09 de setembro de 2015, obtido através de dados secundários, estes sendo da CBOT, da BM&FBOVESPA e da taxa de câmbio. Utilizou-se o período de tempo onde há negociações de contratos nos dias úteis de cada mês, assim ajustou-se os dados para que os dias de negocião fossem de forma semelhante. As variáveis utilizadas no modelo econométrico são: o preço do milho da CBOT, o preço do milho da BM&F Bovespa e a taxa de câmbio.
As variáveis serão utilizadas para fazer a análise de volatilidade, e se as mesmas são estacionárias ou tem raiz unitária. Através da aglomeração por volatilidade identificam-se as grandes oscilações dos preços em determinados períodos e em outros, relativa calmaria nos preços. Reliza-se o Unit Root Test através do teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) para a estimativa de um modelo econométrico, no qual tem-se como resultado a existência ou não de uma regressão espúrias (GUJARATI; PORTER, 2011).
Para se estimar os efeitos dos preços, utiliza-se o modelo Heteroscedasticidade Condicional Autoregressiva (ARCH). “Os modelos ARCH/GARCH servem para corrigir a heteroscedasticidade de uma série pela modelagem de sua variância” (BUSCARIOLLI; EMERICK, 2011, p.109). A heterocedasticidade, segundo Wooldridge (2012) pode invalidar os erros-padrão, as estatísticas t e as estatífticas F, desta forma é necessário testar sua presença, mas antes se faz necessário testar se há correlação serial, pois se este estiver presente o teste de heterocedasticidade será nulo.
Para se medir a volatilidade, segundo Gujarati (2011) considera-se: = Preço do milho BM&FBOVESPA ou CBOT (1)
= Variação relativa nos preços (2) (3) (4)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS é a variação relativa média ajustada nos preços, ao utilizarmos como medida de volatilidade, quando houver grandes oscilações o seu valor será alto, e pequeno quando houver variações modestas.
Assim estima-se o modelo ARCH representado pela equação (5), onde a volatilidade atual é relacionada com seu valor no período anterior.
(5) Após a conclusão do teste de volatilidade através do modelo ARCH, estima-se a
equação (6), para saber se há efeitos da variação do preço de um contrato de milho da CBOT no preço de um contrato de milho na BM&FBOVESPA:
(6)
onde, é o preço do milho na BMF&BOVESPA; é o preço do milho na CBOT; é a volatilidade do período anterior; e, é o termo de erro.
Para se estimar o modelo ARCH e a equação (6) utilizou-se o software Eviews. Portanto, ao utilizar-se uma série temporal de preços, buscou-se entender a volatilidade dos preços em bolsas de valores. Um modelo que se destaca é ARCH, pois ele busca mesurar as oscilações de derivativos negociados em bolsas de valores. Os resultados servem de base para muitos vendedores, especuladores e compradores que no longo prazo podem vir a negociar em commodities, nos mercados futuros.
Resultados e Discussão
Para entender as variáveis analisadas, fez-se uma descrição estatística sobre cada
uma. Por meio desta, apresenta-se a média, o desvio padrão e o máximo e mínimo, estes analisados em pontos percentuais.
A estatística descritiva conforme a Tabela 2, indica que os preços da commodity milho na BM&FBOVESPA, para o período analisado de 2011 a 2015, tem uma média de 2,57%, com um desvio padrão de 0,26%. O ajuste máximo observado em um mês foi de US$ 2,99 e, o ajustamento mínimo foi para as duas variáveis iguais a US$ 2,02. Em comparação, aos preços da CBOT que oscilou, durante o mesmo período, entre um máximo US$ 2,97, com desvio padrão de 0,27% e uma média de 2,54%. Em relação à taxa de câmbio, mostrou-se um desvio padrão de 0,20% e uma média de 0,76%. De modo que, os pontos mínimos e máximos oscilarão entre US$ 0,42 e US$ 1,33.
Tabela 2 - Descrição estatística das variáveis utilizadas (2011-2015)
Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo
BM&FBOVESPA 257 0,26 2,99 2,02
CBOT 2,54 0,27 2,97 2,02
Taxa de Câmbio 0,76 0,20 1,33 0,42
Fonte: Elaborada pelos autores.
De acordo com os testes econométricos utilizados neste artigo, a fim de avaliar se as variáveis são voláteis e se uma gera efeitos na outra, foi realizado o teste de raiz unitária. A
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Tabela 3 mostra os resultados do teste de raiz unitária. A hipótese nula de que as séries testadas têm uma raiz unitária (não estacionária) é aceitada para a variável BM&FBOVESPA, para CBOT e, para a taxa de câmbio.
Tabela 3 - Descrição do teste de raiz unitária.
Variável
ADF
Sem tendência e sem constante
BM&FBOVESPA -1.450375***
CBOT -0.927570***
Taxa de Câmbio 2.880213***
Fonte: Elaborada pelos autores. ***Nível de significância de 1%.
Conforme o teste de ADF, as três variáveis têm raiz unitária com significância de 1%,
assim realizou-se o teste de cointegração Johansen. E, por meio deste, verificou-se que não há cointegração no modelo entre BM&F, CBOT e taxa de câmbio. Mostrando a existência de um equilíbrio entre as variáveis, porém as variáveis não têm tendência e nem constante.
A análise dos resultados econométricos para os efeitos da volatilidade dos preços da commodity e da taxa de câmbio apresentaram os resultados, expressos na Tabela 4, obtidos por meio da utilização dos dados secundários e do software Eviews.
Tabela 4 - Volatilidade dos preços e da taxa de câmbio estimadas por ARCH.
Variável Coeficiente
CBOT 0,358843***
Taxa de Câmbio -0,817485***
Resíduo(-1)^2 1,237718***
Fonte: Elaborada pelos autores. ***Nível de siginficância de 1%.
As variáveis são estatisticamente significativas a 1%, as variáveis foram estimadas
com o uso do log-log. A Tabela 4 mostra os resultados da estimação pelo modelo ARCH. O modelo preve por meio dos resíduos ao quadrado que a volatilidade dos preços da BMF&Bovespa é de até 123%, como o valor é positivo, pode-se dizer que, a volatilidade da série é alta e permanecerá sendo alta, indicando um efeito ARCH. Há a existência de aglomeração por volatatilidade e, por meio dela evidencia-se, que no longo prazo não pode-se fazer previsões do preço da commodity milho.
A Tabela 4 fornece a explicação de um que aumento de 1% na taxa de câmbio, irá diminuir o preço da commodity milho na BMF&BOVEPA em 0,83%. Quando ocorre um aumento de 1% no preço da commodity milho na CBOT, gera um aumento de 0,35% no preço da commodity milho na BMF&Bovepa.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Na escolha desse modelo utilizou-se o critério de informações Akaike, o qual indica que o modelo está bem ajustado, pois os valores das variáveis CBOT e taxa de câmbio explicam 88% da variação dos preços da BM&FBOVESPA.
O teste demonstra que as variáveis, taxa de câmbio e CBOT causam efeitos significativos nos preços da BMF&FBovespa. Chega-se a conlusão que a taxa de câmbio e os preços da CBOT influênciam cada uma de sua maneira nos preços da commodity milho, na BM&FBOVESPA. Pode-se observar também, que por meio dos resultados a volatilidade no longo prazo deixa para os investidores preços incertos, dificultando a negociação nos mercados futuros. Considerações Finais
Por meio desse estudo, estimou-se os efeitos que os preços do millho da CBOT, a taxa
de câmbio e a volatilidade do período anterior tem nos preços do milho cotados na BMF&Bovespa, no período de 2011-2015. Assim, como outros autores os resultados obtidos foram similares, tanto para a commodity milho, como para demais commodities.
Obteve-se os resultados por meio do instrumeto econométrico, que esta bém ajustado. Dessa forma, pode-se dizer que as variáveis explicam sim uma a outra, as mesma geram efeitos positivos e negativos.
O efeito entre as variáveis é comprovado por meio do modelo ARCH, onde a taxa de juros estando cotada em preços baixos aumenta os preços da commodity milho da BM&FBOVESPA e, estando com cotação alta gera uma diminuição nos preços da commodity milho. Os preços da CBOT, quando altos, geram um aumento nos preços da commodity milho na BM&FBOVESPA.
O modelo demostra que quando os preços da commodity milho da BM&FBOVESPA do período analisado oscilão, eles comprovam ser voláteis. Fazendo assim, com que preços atuais tenham grandes oscilações para alguns períodos e para outros, calmaria.
Por fim, pode-se afirmar que as duas variáveis indenpendentes explicaram a variável dependete preços da commodity milho da BM&FBOVESPA, e como suas próprias oscilações do período fizeram efeitos, em si mesma, e demonstrando que no longo prazo não pode-se estimar preços. Tem-se ainda a possibilidade, por meio do modelo GARCH , explicar os riscos de um preço aumentar ou diminuir. Referências Bibliográficas
BOLLERSLE, Tim. GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY. Journal Of Econometrics,
North-holland, v. 31, n. 1, p.307-327, fev. 1986.
BUSCARIOLLI, Bruno; EMERICK, Jhonata. Econometria com EViews: Guia essencial de conceitos e aplicações. São Paulo: Saint Paul, 2011.
CAMPOS, Kilmer Coelho. ANÁLISE DA VOLATILIDADE DE PREÇOS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL. Revista de
Economia e Agronegócio, Viçosa, v. 5, n. 3, p.303-328, ago. 2007.
CEPEA. Indicador de Preços do MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA;. Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/milho/>. Acesso em: 03 set. 2015.
CERETTA, Paulo Sergio; COSTA JUNIOR, Newton C. A. da. MERCADO FINANCEIRO LATINO - AMERICANO. Revista de Administração de Empresa, São Paulo, v. 41, n. 2, p.72-77, jun. 2001.
GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C.. Econometria Básica. 5. ed. Porto Alegre: Amgh, 2011.
HULL, John C.. Fundamentos dos mercados futuros e de opções. 4. ed. São Paulo: Bm&f, 2005.
IPEADATA. Taxa de câmbio - comercial. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 28 nov. 2015.
INVESTING.COM. Corn Futures: Historical Data. Disponível em: <http://www.investing.com/commodities/us-corn-historical-data>. Acesso em: 08 set. 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de Macroeconomia: Básico e Intermediário. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MARQUES, Pedro Valentim; MELLO, Pedro Carvalho de; MARTINES FILHO, João Gomes. Mercados Futuros Agropecuários:
Exemplos e Aplicações para os mercados brasileiros. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
SILVA, Washington Santos da; SÁFADI, Thelma; CASTRO JÚNIOR, Luiz Gonzaga de. Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, Rio de Janeiro, v. 43, n. 01, p.119-134, mar. 2015.
STOCK, James H.; WATSON, Mark W. Econometria. São Paulo: Pearson, 2004.
TEIXEIRA, Elisa Elaine Moreira; BARBOSA, Francisco Vidal; ALMEIDA, Francis Angelo Marques de. Análise do Efeito Dia da Semana e das Modelagens AR CH/GARCH em Séries de Medidas de Liquidez e Retorno do Índice Bovespa. Sociedade, Contabilidade e Gestão,
Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p.133-148, nov. 2010.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M.. Introdução à econometria: Uma abordagem moderna. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
O Perfil dos Consumidores das Feiras dos Agricultores Familiares de Júlio
de Castilhos The profile Consumer Fairs Farmers Family Julio de Castilhos
MELLO1 , Andressa Lúcia Pereira de; ALVES2 , Ethyene de Oliveira; MOREIRA 3, Jordano Pereira; COELHO4 , Juliano de Carvalho; BALEM5 , Tatiana Aparecida, UGALDE6 , Mariana Lobo
Resumo: A pesquisa objetivou o levantamento de dados e informações a cerca dos consumidores das feiras da agricultura familiar do município de Júlio de Castilhos. A metodologia aplicada foi através de questionários com perguntas mistas (objetivas e discursivas), assim tomando caráter de pesquisa qualiquantitativa. Foram aplicados o total de 48 questionários, sendo 23 a consumidores da feira dos agricultores familiares que acontece na sexta feira e 25 aos consumidores da FAPRA que acontece no sábado. Os resultados levantados demonstram que o público que frequenta a feira é composto por pessoas de ambos os sexos, sendo que há uma expressiva participação de pessoas mais jovens. Observouse ainda que 81,25% afirmam preferir produtos orgânicos e agroecológicos. 62,5% frequentam semanalmente as feiras, o que confere uma relação de fidelização entre agricultores e consumidores. A busca por qualidade diferenciada nos alimentos é o principal condicionante do consumo nas feiras de agricultores. Essa qualidade pode ser expressa por questões materiais e imateriais ou simbólicas. A confiança e as relações de reciprocidade entre agricultores e consumidores, também são elementos importantes identificados. Um aspecto que chama a atenção é em relação aos produtos orgânicos e agroecológicos, pois a maioria dos consumidores acredita ter a possibilidade de consumir os mesmos, no entanto apenas alguns agricultores afirmam produzir dessa forma. No caso dos consumidores, as feiras se configuram em um importante espaço de incentivo à alimentação saudável com oferta de alimentos frescos e a propagação dos princípios de uma cultura alimentar ainda não esquecida ou completamente erodida. Por outro lado, para os agricultores representa um importante espaço de comercialização de produtos típicos da produção familiar. Palavras chaves: Mercado de circuito curto, qualidade diferenciada, cultura alimentar, agricultura familiar. Abstract: The research aimed to data collection and information about consumers of fairs of family farming in the municipality of Julio de Castilhos. The methodology applied was through questionnaires with mixed questions (objective and discursive), thus taking quantitative and qualitative character in research. Were applied 48 questionnaires, 23 in consumers of the fair of rural farmers that happened on Fridays and 25 questionnaires in consumers of the fair FAPRA that happened on Saturdays. The results show that the public that frequent the fair is composed of people of both sexes, and there is a significant participation of younger people. It was also observed that 81.25% of the consumers prefer organic and agroecological products. 62.5% of consumers frequent weekly the fairs, giving a loyalty relationship between farmers and consumers. The search for differentiated quality of food is the main determinant of consumption in the fairs of farmers. This quality can be expressed by material and immaterial or symbolic issues. Trust and relationships of reciprocity between farmers and consumers, are also important elements identified. One aspect that stands out is in relation to organic and agroecological products because most consumers believe consume this products, however only some farmers produce that way. For consumers, the fairs are important spaces to encourage healthy eating with supply of fresh food and the spread of the principles of a food culture that has not forgotten or completely eroded. On the other hand, for farmers it is an important local market for typical products of household production. Keywords: short circuit market, differentiated quality, food culture, family agriculture.
1 Autora e Apresentadora, Graduanda de CST em Agronegócio Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos, email: [email protected]. 2 Graduanda de CST em Produção de Grão Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos, Coautora. 3 Graduando de CST em Produção de Grão Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos, Coautor. 4 Graduando de CST em Agronegócio Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos, Coautor. 5 Dr. Professora Orientadora, Docente do Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos. 6 Dr. Professora Coorientadora, Docente do Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos.
Introdução
A agricultura familiar pode ser considera um importante player no cenário nacional de produção de alimentos e abastecimento interno, malgrado os processos históricopolítico de não priorização por parte do Estado brasileiro desse público. As características culturais, produtivas, organizativas e políticas da Agricultura Familiar e a sua importância na produção agrícola nacional, foram determinantes da luta por reconhecimento dessa categoria (PICOLLOTTO, 2015) tanto nos fóruns acadêmicoscientíficos como políticos em nível nacional nas últimas décadas, fato comprovado pelas diferentes políticas agrícolas voltadas para esse público que tem sido implementadas recentemente (GRISA e SCHNEIDER, 2014).
A agricultura familiar brasileira tem suas raízes em diversas formas e evoluções sociais, abrangendo desde os descendentes da imigração europeia até as comunidades indígenas. As diversas formas de AF guardam semelhanças entre si, pois se aproximam nas formas e relações com os agroecossitesmas, propriedade, trabalho e família. Porém, diferenciase na relação econômica e com os mercados e isso principalmente por consequência da modernização que o setor agropecuário sofreu na história brasileira, deste modo, poderseia afirmar que a agricultura familiar modificase conforme a sociedade se transforma (PADILHA, et al, 2005). Desde os meados dos anos de 1980, começaram a surgir grupos de agricultores familiares que passaram a procurar novas alternativas. Essas corresponderam ao desenvolvimento de estratégias de reprodução social, pautadas nas potencialidades endógenas e na realidade vivenciada pelo grupo familiar, diversificando a produção, através da implantação de pomares de frutíferas, bovinocultura de leite, horticultura, entre outros (PERES et. al., 2009).
Segundo Padilha et al. (2005) uma das estratégias produtivas da AF, relacionadas com a cultura alimentar e o saber fazer intrínseco da pequena produção é a agroindústria familiar, artesanal ou de pequeno porte, que no sul do País é uma realidade antiga. Nos últimos anos, a agroindustrialização presente na AF vem envolvendo muitos técnicos e empresas de renome nacional, como por exemplo, a Embrapa, a Fepagro, e a Emater, entre outras, na pesquisa e no treinamento de agricultores e agricultoras (PADILHA et al, 2005).
Desse modo, dentre as alternativas que os agricultores familiares encontraram para melhorar suas condições de vida e de agregar valor à produção está a agroindustrialização da produção agropecuária. Peres et. al. (2009) relata que a industrialização dos produtos agropecuários é uma alternativa para a sustentabilidade da agricultura familiar. Vieira (1998) consta que a agroindustrialização rural se constitui, geralmente, a partir de duas motivações mais comuns: a primeira, e mais frequente delas, é o aproveitamento de excedentes que o agricultor não consegue colocar no mercado, seja por não atender aos padrões de comercialização ou por falta de opções de mercado; a segunda motivação, também bastante frequente, surge quando das conjunturas desfavoráveis de preço para sua produção agrícola e o produtor vê na agroindustrialização a maneira óbvia de lhe adicionar valor.
Em territórios onde há influência da cultura de imigração europeia, os produtos locais são chamados de coloniais, denominada aqui como identidade colonial. Para Guimarães (2011), essas regiões guardam os traços identitários deixados pelos colonizadores europeus e esses ainda repercutem entre os atores sociais, estando expressos no cotidiano das famílias, nas formas de vida, agricultura e gastronomia típica. Ou seja, é o resultado do processo histórico de ocupação territorial. SILVEIRA et al. (2006) caracteriza como colonial o saberfazer passado de geração a geração, transformado e materializado em produtos de significação identitária.
Para Guimarães (2011), a agroindustrialização de alimentos de caráter artesanal, como parte da identidade cultural herdada, tem constituído importante alternativa de renda às famílias em complementaridade às suas atividades agrícolas. Guimarães (2011, p. 30) afirma que a “a valorização das atividades de processamento de alimentos de caráter colonial ocorre de forma dinâmica, onde se combinam a expansão e a diversificação da produção artesanal de alimentos, característica do território, com a “recriação” de agroindústrias artesanais”. A autora salienta que, ao mesmo tempo em que se valorizam saberes tradicionais, passados de geração a geração, “há espaço para criação de novas oportunidades, não necessariamente existentes do ponto de vista intergeracional, mas recriadas em função da existência de um mercado favorável à produção artesanal de alimentos” (p. 30).
Para Estevam et al. (2015) no processo de consumo alimentar moderno, a confiança tem sido um preceito que não se limita à relação de parentesco ou amizade entre produtor e consumidor. Assim, a comercialização em feira se torna uma forma positiva pois permite o contato direto dos produtores com os consumidores, estabelecendo relações de confiança, amizade e respeito, consequentemente de preferência e credibilidade (ESTEVAM et. al. 2015).
Já se tratando do comportamento individual dos consumidores de alimentos, este vem passando por mudanças ao longo dos anos, principalmente relacionado a aspectos sociais e culturais (NEUTZLING, et. al.. 2010). Segundo o autor, diferentes estilos de vida, alterações tanto nas refeições como nos papéis familiares,
além de inovações trazidas pelas ciências como a biotecnologia e a química na composição destes alimentos. Simultaneamente a esses fatores, observase o crescimento de novos tipos de apresentação e de distribuição de alimentos em lojas, supermercados, feiras e diferentes pontos de venda (NEUTZLING, et. al.. 2010).
Neste contexto Neutzling et. al. (2010) afirma que é fundamental que a feira livre passe a ser percebida como uma ação social de grande valor para a comunidade, pois, além de um patrimônio cultural da cidade e um canal de comercialização diferenciado, ainda oferece uma alternativa econômica e social para muitos agricultores familiares.
Algumas peculiaridades fazem das feiras livres um ambiente de comercialização singular, que atrai consumidores até os dias de hoje. Dentre elas, a oferta de produtos diferenciados (produzidos de maneira quase artesanal e em pequena escala) e as relações de amizade e confiança estabelecidas entre vendedores e compradores ao longo do tradicional ato de “fazer a feira” (SALES, et al. 2011).
A forma de mercado de circuito curto da Agricultura Familiar mais presente no município de Júlio de Castilhos são as Feiras Livres, uma acontece na na sextafeira e a outra no sábado, contando com produtores distintos em tais. As feiras acontecem semanalmente. A feira de sextafeira ocorre nas instalações do Centro de Comercialização e Lazer, rua ao lado da Praça João Vieira de Alvarenga, e no sábado nas instalações da Praça Manoel Alvarenga.
Desta forma, por não haver maiores conhecimentos das feiras municipais de Júlio de Castilhos realizamos uma pesquisa que visava o diagnóstico das feiras e a identificação do perfil dos consumidores das mesmas. Esse trabalho é um recorte da pesquisa e visa discutir e identificar o perfil dos consumidores que participam desta forma de comercialização de suma importância para o município. Materiais e Métodos
No levantamento de dados foi utilizado questionários com perguntas mistas (objetivas e discursivas), que abrangiam conhecimentos básicos dos produtos que estariam consumindo, quais características que levavam os consumidores até a feira, e outras mais, que constam no questionário em anexo. Assim a pesquisa do referido trabalho tornou um aspecto quantiqualitativa. A aplicação dos questionários foi realizada nos dias 3 e 4 de junho de 2016, nas feiras de sexta e sábado, respectivamente. A feira da sextafeira é denominada Feira dos Agricultores Familiares de Júlio de Castilhos, nesta foram questionados 25 consumidores, no dia 3. No dia posterior foram aplicados 23 questionários na Feira do Abastecimento Popular da Reforma Agrária (FAPRA) Os consumidores foram escolhidos ao acaso.
A análise qualitativa será orientada pela análise interpretativa. Para Gomes (2012) a análise interpretativa busca a lógica interna dos fatos, dos relatos e das observações e os situa no contexto dos atores. Para essa análise, seguiremos ao que Gomes (2012) recomenda:
1 A montagem da estrutura de análise e categorização dos conteúdos. A separação dos conteúdos das entrevistas será efetuada em quatro grandes blocos, de acordo com os objetivos específicos e, posteriormente, categorizadas em função das categorias de análise estabelecidas. Essa categorização será dinâmica e, em muitos casos, a etapa seguinte de exploração do material será realizada através da interpretação e paráfrase das falas registradas nas entrevistas. 2 Exploração do material. Para esse fim, identificaremos as ideias implícitas e explícitas nas entrevistas, buscando os sentidos mais amplos, atribuídos às ideias, e realizaremos o cotejamento com a teoria estabelecida. Através da análise destes dados possivelmente encontraremos os principais avanços, questões ocultas e, não raro, reformularemos as categorias de análise. 3 A elaboração do documento final. Com o intuito de responder os objetivos propostos sucederemos, de forma a dar corpo e face para o trabalho, respeitando os critérios de cientificidade e a realidade concreta desvendada a partir das lentes estabelecidas. Ou seja, articularemos os objetivos com a base teórica e os dados empíricos, como afirma ser necessário Gomes (2012).
Resultados e Discussões
As estratégias de comercialização de circuito curto, via de regra, são estratégias que possuem características culturais, sociais e de reciprocidade, entremeadas com a relação de mercado. O processo de globalização da economia ocorrido no final do século XX produziu o que Friedmann (1993) chama de consolidação dos impérios alimentares e do modelo da comida global, onde ocorre a concentração do comércio mundial de alimentos nas mãos de poucas empresas. Esse modelo de alimentação, onde vigoram os alimentos processados e ultra processados, aliado ao marketing desenvolvido pelas empresas tem impactado a cultura alimentar.
De acordo com Lang, Barling e Caraher (2009), as características da alimentação industrial foram definidas pela indústria de alimentos. As tecnologias de armazenamento, transporte, embalagens e
processamento (conservação artificial com uso de produtos químicos), segundo os autores, possibilitaram o advento da “comida global”. Assim, com os alimentos cada vez mais processados, as indústrias adquirem o poder de impor aos agricultores as condições de produção e os produtos que devem ser comercializados e aos consumidores, com o uso massivo do marketing, à indução do consumo (Ibidem).
Balem e Silveira (2015) discutem o processo de erosão da cultura alimentar, onde os alimentos cada vez mais industrializados invadem a mesa dos consumidores, e as práticas alimentares tradicionais vão aos poucos sendo substituídas por refeições rápidas e préprontas. Esse processo ocasiona um estreitamento da dieta alimentar.
No entanto, apesar do advento da “comida global”, muitos consumidores ainda preferem consumir produtos dos mercados locais, nesse sentido as estratégias “face a face” de mercado se configuram em uma alternativa de consumo para os consumidores e de renda e atividade para os agricultores. o estreitamento das relações entre agricultores e consumidores é percebido nas feiras estudadas, pois a maioria dos consumidores prefere comprar sempre dos mesmos agricultores. Por outro lado os agricultores, ao conhecer as demandas dos consumidores que atende, tendem a adequar a produção de acordo com os gostos dos mesmos.
Percebemos que o ato de “fazer feira”, discutido por Sales et al. (2011) é realizado por consumidores de ambos os sexos. Embora teve predominância do gênero feminino, 27 entrevistados, o número de pessoas do sexo masculino também é expressivo, ou seja, 21 dos entrevistados. Uma das hipóteses do trabalho era que os consumidores de feira seriam pessoas de mais idade, pois acreditávamos que esse consumo estaria relacionado à antigos hábitos alimentares. Por outro lado, a hipótese também se baseava em uma premissa discutida por Bauman (2001), ou seja, o impacto da modernidade no hábito da vida das pessoas, assim supomos que os consumidores mais jovens estariam menos presentes nas feiras, pois teriam hábito alimentar mais impactado e erodido, utilizando a noção de Balem e Silveira (2015). No entanto, a faixa etária inferior a 50 anos totalizou 28 dos questionados, com destaque que 17 dos entrevistados se encontravam na faixa de 18 a 30 anos, idade esta que apresentou maior densidade de consumidores, o que demonstra que os jovens estão despertando o conhecimento pela alimentação saudável, contrariando nossa hipótese inicial.
Outro aspecto importante evidenciado é que 33, ou seja 68,75%, dos consumidores possuem remuneração inferior a 4 salários mínimos mensais, o que evidencia que se alimentar de forma mais saudável não é mais uma prioridade somente de pessoas com altas remunerações.
As Feiras de Júlio de Castilhos, no seu início, tiveram um maior investimento em marketing , essencialmente na divulgação, via rádio. Talvez esse fato justifique o percentual de 29,16% dos questionados afiermarem que conheceram a feira e foram até ela por meio das propagandas, 27,08% por possuírem residência perto, 22,91% por meio de amigos, e os outros 20,85% representam os conhecedores através da família, vizinhos e outros. Os 44% dos consumidores que conheceram a feira por intermédio de outras pessoas demonstram que os mercados e as interações “face a face” produzem relações para além da feira, funcionando como um modo de divulgação do mercado de circuito curto.
Os consumidores possuem uma fidelidade as feiras, pois 62,5% dos questionados (30 consumidores), frequentam semanalmente as mesmas, assim considerando que a forma de comercialização “face a face” é uma alternativa em municípios pequenos, pois por haver maior familiaridade com os agricultores, desenvolvemse relações de confiança nos produtos a serem adquiridos. Além disso, esses espaços são os únicos onde os consumidores podem adquirir produtos frescos, coloniais e com a identidade e cultura procurada pelos consumidores. Como afirma Guimarães (2011) essas formas de mercado são construtoras de identidades alimentares preservadas e recriadas. Além disso, de acordo com Estevam et. al. (2015), o contato “face a face” reduz os custos de transição ao aproximar o produtor do consumidor, uma vez que é possível conhecer a origem dos produtos.
Os produtos ofertados nas feiras são de grande quantidade e diversidade, como pode ser observado no quadro 01. Observamos, desde a comercialização de hortifrutigranjeiros até agroindustrializados artesanalmente, como panificados, doces, geleias, produtos de origem animal, além disso, a comercialização de grãos como feijão, ovos, mel e carnes. Salientando que é mais expressivo é o consumo de hortifrutigranjeiros, pois se considera que os mesmos recebam tratamento diferenciado aos que estão disponíveis nos mercados convencionais. os consumidores acreditam que esses produtos recebem porções menores de agroquímicos no processo produtivo, o que confere aos mesmos maior qualidade e saudabilidade.
Além disso, os panificados, embutidos e ovos possem uma expressante venda em função da caracterização colonial (Quadro 01). Essa questão dialoga diretamente com o que Guimarães (2011) aponta, ou seja, a preservação da identidade alimentar, expressa através do produto caracterizado como colonial. Ainda há uma procura significativa por mandioca, batata doce e ovos.
Quadro 1: Relação entre o número de consumidores e os produtos produtos adquiridos nas feiras Produtos Consumidos nas Feiras Feira de Agricultores familiares FAPRA Total
Hortifrutigranjeiros 17 23 40
Feijão 7 6 13
Temperos 7 8 15
Pescados 3 2 5
Panificados 12 11 23
Embutidos 7 10 17
Batata / Mandioca 11 4 15
Doces 8 9 17
Conservas 3 3 6
Compotas 3 1 4
Ovos 13 13 26
Leite 4 6 10
Queijo 8 11 19
Milho verde 9 4 13
Outros 2 2 4 Obs: Cada questionado pode assinalar mais de um produto.
Quando abordados sobre quais produtos gostariam de encontrar nas feiras os únicos produtos que obtiveram uma expressabilidade maior foram o mel e melado; a falta ou deficiências destes produtos se dá em função de que nosso município não possui grande expressão no cultivo da canadeaçúcar, no caso do melado. Já o mel são poucos os agricultores que se dedicam a essa atividade, além disso a expressiva presença da lavoura de soja no município (86 mil hectares, segundo IBGE, 2015) confere uma realidade agrícola e de uso de agroquímicos nada favorável a apicultura.
Os consumidores, ao optarem pela consumo de produtos de feira buscam produtos de maior qualidade, com identidade, origem, que transmitam confiança, além disso, consideram o preço. Cabe salientar que 81,25 % dos consumidores afirmaram que o critério principal na escolha da feira em vez de outro mercado é a possibilidade de encontrar produtos de maior qualidade. O critério de qualidade pode ser descrito como orgânicos ou agroecológico, ou com menos agroquímicos, fresco e bem conservado, para os produtos in natura. No caso dos processados a qualidade está relacionada diretamente com as características dos produtos agroindustrializados artesanalmente ou coloniais, como são chamados nessas feiras, nesse caso, além do sabor e das características simbólicas do produto, ainda é necessário considerar a ausência de produtos químicos que são encontrados nos alimentos similares produzidos pelas grandes industrias alimentares. Essa qualidade dialoga diretamente com a produção artesanal e com a característica “caseira”, ou seja, aquela forma de fabricar que pode ser repetida em casa, que é lembrada como o alimento que a mãe ou a vó fazia, presente no imaginário dos consumidores. São alimentos com os quais, de alguma forma cultural, os consumidores se identificam.
De acordo com Friedmann (2005), a completa globalização e transnacionalização da indústria alimentar levam à crença de que todo o mercado seria globalizado e controlado por grandes e poucos complexos transnacionais de controle da alimentação. No entanto, inúmeras iniciativas de mercados que valorizam mais os atributos dos alimentos locais e sustentáveis contrariam essa lógica, a autora chama isso de contramovimento, ou seja, movimentos contrários ao padrão hegemônico. Para Wiskerke (2009), a globalização e a industrialização do abastecimento alimentar não desligaram o alimento por completo do seu contexto sociocultural e territorial, elementos essenciais para a construção de uma proposta de paradigma alternativo. A busca por produtos diferenciados nas feiras corroboram com a discussão da Friedmann (2005) e Wiskerke (2009). Apesar disso, cabe salientar que muitos consumidores acreditam consumir produtos orgânicos ou agroecológicos (98%), no entanto não são todos os agricultores que produzem dessa forma. ainda cabe salientar que 81,25% dos consumidores questionados possuem preferência por produtos orgânicos e até mesmo 66,66% pagariam mais
caro para tal alimento. Essa questão demonstra um consumidor mais consciente, disposto a consumir alimentos livres de produtos químicos e uma agricultura que não está apta a atender esse consumidor.
Ao considerar os critérios elencados como decisivos na compra de produtos das feiras são nítidas as peculiaridades de confiança que os agricultores passam aos consumidores. No entanto, um aspecto negativo é que os consumidores acreditam ter a possibilidade de consumir produtos orgânicos, o que não pode ser comprovado com o instrumento aplicado nos agricultores. No entanto, mesmo ocorrendo essa questão, cabe salientar que os agricultores de modo geral afirmam utilizar poucos produtos químicos na produção. Os agricultores que afirmam não utilizar agroquímicos e produzir de forma orgânica não possuem certificação, como determina o MAPA, de acordo com a Lei 10.831, de 31 de dezembro de 2003 que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Essa questão, novamente vem ressaltar as relações estabelecidas no mercado “face a face”, principalmente a confiança, onde apenas o processo de interação construído basta para o consumidor. Considerações Finais
Afim de não esgotar o presente assunto consideramos que ainda há muitos aspectos que podem ser estudados e analisados nas feiras da agricultura familiar de Júlio de castilhos, pois aqui apenas foi avaliado os consumidores. No entanto, apenas da dimensão estudada é possível considerar sobre a importante função social que a feira possui, tanto para os agricultores envolvidos, como para os consumidores. No caso dos consumidores, as feiras se configuram em um importante espaço de incentivo à alimentação saudável com oferta de alimentos frescos e a propagação dos princípios de uma cultura alimentar ainda não esquecida ou completamente erodida.
É necessário salientar que a busca por qualidade diferenciada nos alimentos é o principal condicionante do consumo em feiras de agricultores. Essa qualidade pode ser expressa por questões materiais e imateriais ou simbólicas.
A qualidade material pode ser traduzida por produtos de sabor diferenciado, alimentos frescos e com maior saudabilidade. A saudabilidade se refere a alimentos que recebem uma quantidade menor de produtos químicos, quando comparados com os alimentos ofertados pelos mercados convencionais. Nesse ponto reside um dos principais problemas observados no ato de “fazer feira”, uma intenção, vontade e às vezes crença por parte do consumidor em consumir alimentos orgânicos e agroecológicos, e uma agricultura familiar que ainda não pode atender esse quesito.
A qualidade imaterial ou simbólica se refere às características do produto colonial e estão diretamente relacionadas à cultura alimentar local e à busca por parte dos consumidores, de alimentos com identidade e diferentes dos alimentos similares encontrados em mercados convencionais. Essa qualidade dialoga diretamente com a produção artesanal e com a característica “caseira”, ou seja, aquela forma de fabricar que pode ser repetida em casa.
Referências Bibliográficas BALEM, T. A. e SILVEIRA, P. R. C. da. A erosão cultural alimentar e os desafios para a segurança alimentar.
In: Guimarães, G. M. et al. O Rural contemporâneo em debate: temas emergentes e novas institucionalidades.
Ijuí: ed. Unijuí, 2015. p 187210.
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BRASIL, LEI Nº 10.831, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras
providências. Disponível em
<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal >
Acessado em 26 de julho de 2016.
ESTEVAM, D.O.; SALVARO, G.I.J.; BUSARELLO, C.S. Espaços de produção e comercialização da
agricultura familiar: as cooperativas descentralizadas do Sul Catarinense. INTERAÇÕES, Campo Grande, v.16,
n.2, p. 289299, jul./dez. 2015. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/inter/v16n2/15187012inter16020289.pdf> Acessado em 26 de julho de 2016.
FRIEDMANN H. After Midas’s Feast: alternative food regimes for the future. In: ALLEN, P. (ed.) Food for the
future: conditions and contradictions of sustainability. California: John Wiley e Sons, Inc., 1993. p. 213233.
FRIEDMANN, H. From colonialism to green capitalism: social movements and emergence of food regimes.
Research in rural sociology and development, v.11, p. 227264, 2005.
GOMES, R. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: DESLANDES, S. F.; GOMES, R.
MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 31. Ed Petrópolis, RJ: Vozes,
2012. p. 79108.
GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três Gerações de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar e Formas de
Interação entre Sociedade e Estado no Brasil. RESR, PiracicabaSP, Vol. 52, Supl. 1, p. S125S146, 2014.
GUIMARÃES, G.M. Racionalidades identitárias na produção e comercialização de alimentos coloniais na
Quarta ColôniaRS. 2011. 208f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, 2011.
IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em:
<http://migre.me/uupk4>. Acesso em: 29 de julho de 2016.
LANG, T., BARLING, D; CARAHER, M. Food policy: integrating health, environment and society. UK:
Oxford University Press, 2009.
NEUTZLING, D.M.; CALLADO, A.L.C.; GAMARRA, J.E.T.; RODRIGUEZ, I.C. Consumidor de alimentos
orgânicos: Um estudo de caso na Feira dos agricultores Ecologistas (FAE) de Porto Alegre. IN.: 48º Congresso
SOBER. Campo Grande, julho de 2010.
PADILHA, P. R. P.; FERREIRA, A. R. M. R.; TRETIN, I. C. L. Viabilidade da agroindústria familiar orgânica.
IN: Artigos Completos do XLIII Congresso da Sociedade Brasileira de economia e Sociologia Rural. Ribeirão
Preto, 2005.
PERES, A.P.; RAMOS, V.G.; WIZNIEWSKY, C.R.F. Aprodução de derivados de canadeaçucar como
alternativa para a agricultura familiar; um estudo de caso na Agroindústria familiar rural Lazzeretti e Picollotto
Constantina/RS. In.: XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária, São Paulo,2009, pp. 119. disponível em
<http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/Peres_PC.pdf>
Acessado em 25 de julho de 2016.
PICOLOTTO, E. L. Os Atores da Construção da Categoria Agricultura Familiar no Brasil. RESR,
PiracicabaSP, Vol. 52, Supl. 1, 2015, p. S063S084.
PREZOTTO, L. L. Uma concepção de agroindústria rural de pequeno porte. Revista de Ciências Humanas.
EDUFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Florianópolis. N.
31, abr. 2002. p.133154.
SALES, A.P.; REZENDE, L.T.; SETTE, R.S.; Negócio feira livre: um estudo em um município de Minas
Gerais. In.: 3º Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. João Pessoa, Novembro de 2011.
Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EnGPR395.pdf> Acessado em 25 de julho de 2016.
SILVEIRA, P.R. C. et al. O Turismo e a recriação das agroindústrias rurais tradicionais. In: CONGRESSO
INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO, 5, Santa Maria. Anais... CITURDES.
Santa Maria: UFSM, 2006.
VIEIRA, L. F. Agricultura e Agroindústria Familiar. Revista de Política Agrícola – Ano VII – No 01 –
JanFevMar 1998.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
MODERNIZAÇÃO RURAL DO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2006 Lauana Rossetto Lazaretti¹, Patricia Batistella², Elen Presotto², Claílton Ataídes de Freitas³ ¹ Discente do Programa de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento (PPGE&D/UFSM). E-mail: [email protected]. ² Discente do Programa de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento (PPGE&D/UFSM). ³ Docente do Programa de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento (PPGE&D/UFSM). Resumo: A modernização rural é sinônimo de aumento da produtividade dos estabelecimentos agrícolas. Assim, ao contribuir para o aumento da produção essas novas técnicas acabam por acentuar as desigualdades econômicas e sociais neste setor. Em função disto, o objetivo do presente trabalho foi analisar o impacto exercido pela modernização rural sobre a renda agrícola, a concentração de renda (Índice de Gini) e o desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul (IDESE). Para tanto, utilizou-se a análise fatorial, para identificar os fatores comuns associados ao grau de modernização do setor agropecuário em cada município gaúcho. Constituídos os fatores, estimou-se três modelos econométricos do tipo cross-section para identificar os efeitos da modernização, mensurados pelos fatores comuns, para cada indicador proposto (renda, Índice de Gini e IDESE). Confirmou-se a hipótese de que um aumento na modernização rural acarreta aumento na renda nos estabelecimentos rurais. Ademais, verificou-se, também, que a concentração de renda aumenta com fatores de modernização, especialmente aos ligados ao crédito rural. E, para com o desenvolvimento, um elevado grau de modernização contribui negativamente para o índice de desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Palavras-chave: Modernização rural; Desenvolvimento; Municípios do Rio Grande do Sul. RURAL MODERNIZATION OF RIO GRANDE DO SUL: A MUNICIPALITIES ANALYSIS OF DEVELOPMENT IN 2006 Abstract: The rural modernization is a synonymous of increased productivity in farms. This contributes to the increased production of these new techniques and end up accentuating the economic and social inequalities in the sector. Because of this, this study has the objective to analyze the impact exerted by rural modernization on agricultural income, the concentration of income (Gini index) and the development of the municipalities of Rio Grande do Sul (IDESE). Therefore we used factorial analysis to identify the common factors associated with the degree of modernization of the agricultural sector in each municipality gaucho. Factors defined, it was estimated three econometric models of cross-section type to identify the effects of modernization, measured by common factors, for each proposed indicator (income, Gini index and IDESE). Was confirmed the hypotheses that an increasement into rural modernization leads increasement into income of rural establishments. Moreover it was also verified that income concentration increases with the modernization factors, especially those related to rural credit. And, about the development, a high degree of modernization negatively contributes to the socioeconomic development index of municipalities. Keywords: Rural modernization; Development; Municipalities of Rio Grande do Sul. 1. INTRODUÇÃO
A adoção de inovações e técnicas avançadas de produção são marcos de vários estudos. O aumento da produtividade, da qualidade e diferenciais de mercado cada vez mais são objetivos do setor produtivo. No setor agropecuário, de modo específico, esses avanços tecnológicos também são difundidos. Os produtores que adotam técnicas modernas em suas propriedades se destacam frente aos produtores que as não utilizam.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE), nos últimos anos o Rio Grande do Sul apresentou aumento no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE1), especialmente porque os municípios das áreas com colonização caracterizado por pequenas propriedades obtiveram desempenho médio superior à média dos demais municípios (FEE, 2016). O município de Carlos Barbosa atingiu o índice de 0,882 em 2013, sendo o município com o maior IDESE do estado, seguido por Água Santa (0,868) e Nova Bossano (0,866).
O Rio Grande do Sul é caracterizado por possuir uma ampla diversidade regional e vasta área rural, responsável por grande parte das exportações gaúchas, somente o complexo soja corresponde cerca de 20% do total das exportações do estado (MDIC, 2016). Os dados do censo demográfico (2010) apontam que cerca de 14,90 % da população do Rio Grande do Sul reside na zona rural.
Sabendo da representatividade do meio rural tanto para fomentar a produção de alimentos, quanto para gerar desenvolvimento econômico e social por meios de suas técnicas de produção e qualidade de vida da população, o trabalho busca analisar a influência da modernização rural na renda, na concentração de renda e no desenvolvimento do estado, adotando como unidades de análise, os municípios do Rio Grande do Sul (RS).
A hipótese principal é a existência de concentração de renda agrícola, vinculada aos municípios com maior índice de modernização, projetando também índices de desenvolvimento socioeconômicos mais baixos. Para a renda agrícola, a hipótese fundamental é que ocorra aumento com maior grau de modernização.
Com isto, o trabalho retrata o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação entre a modernização rural, a renda média, a concentração de renda e o desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul? 2. UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA
Ricardo (1982) relata que o produto da terra consiste no que se obtém da superfície, empregando a combinação de trabalho, maquinários e capital. Para a realização da produção, existem três classes da sociedade envolvidas, o proprietário de terras, o dono do capital e os trabalhadores. Em cada classe da sociedade, o produto é dividido de forma diferente, e dependerá, entre outros meios da habilidade, da engenhosidade e dos instrumentos empregados na agricultura.
Ao tratar do desenvolvimento da maquinaria Marx (2014) relata que ela é um meio de produzir mais-valia. A economia capitalista para o autor é influente para a acumulação de riqueza e consequentemente para a acumulação de miséria. No entanto, após a economia clássica e marxista, a economia neoclássica deteve-se no estudo do mercado, enquanto outras questões ficaram em segundo plano. Foi a partir da Segunda Guerra mundial que retornaram as questões de distribuição de renda e desenvolvimento, período que se destacaram ideias como as de Lewis (1969) de não convergência da renda.
Lewis (1969) foi uns dos primeiros autores a abordar a existência de oferta de mão de obra ilimitada, nos países onde a população é numerosa em relação ao capital e os recursos naturais. Essa oferta se limita ao deparar-se com a mão de obra especializada, visto que em economias mais desenvolvidas o conhecimento é maior. Para o autor, a mudança na implantação de investimentos direcionados para a agricultura, por exemplo, mudará somente quando há conhecimento, caso contrário continua-se usando as técnicas antigas. Para Martine (1991) a viabilização de implantação de novas técnicas possui requisitos, como informação, atitudes empresariais e capacidade de endividamento.
O emprego de capital e máquinas, e como novas técnicas são implantadas na produção estão diretamente ligados com o volume de produtividade (RICARDO, 1982). Hoffmann e Kageyama (1985) entendem a modernização rural como a tecnologia, as relações sociais, o grau de monetarização e a presença de financiamentos por vias institucionais com o intuito de implantar novas técnicas de produção. Assim, a modernização ao empregar insumos modernos como máquinas, equipamentos, fertilizantes e corretivos, leva ao aumento das produtividades do trabalho e da terra.
Segundo Delgado (2001), como reação do estatuto da terra, foi criado no Brasil, em 1967, o Sistema Nacional de Crédito Rural com o intuito de fomentar a produção agropecuária. Além deste instrumento Martine
1Trata-se de um índice sintético que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos (como Educação, Saúde e Renda) com o objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
(1991) ressalta, também, a importância de políticas agrícolas como de preços mínimos, do seguro rural e de subsídios como fundamentais para o processo de modernização da agropecuária no País.
O sucesso e o insucesso do desenvolvimento das regiões não possui uma definição certa, no entanto Cargnin (2014) ressalta que as desigualdades possuem influência relevante no desenvolvimento. O autor ressalta a importância do papel do Estado na formação de políticas públicas, afim de aumentar os benefícios do desenvolvimento para população.
Kageyama (1982) explana que o crédito subsidiado brasileiro chegou aos produtores viabilizando a modernização, mas a falta de planejamento da distribuição de recursos favoreceu grandes propriedades. Desta forma, a modernização está diretamente ligada a ganhos de produtividade e escala, no entanto os impactos negativos predominam entre as classes menos favorecidas. A expansão da tecnologia significou concentração fundiária e concentração de renda (PINTO e CORONEL, 2014).
O progresso tecnológico diminuiu a capacidade dos trabalhadores de buscarem aumentos de salários, o que acarreta menos homogeneização social2. Assim, o processo de modernização alavanca a concentração de renda e riquezas e retarda o processo de desenvolvimento. O Estado possui ação orientadora para diminuir as heterogeneidades, seja através de uma estratégia educacional ou creditícia. (FURTADO, 1990).
A distribuição de renda é um fator importante ao se abordar desenvolvimento. Mas, a definição de desenvolvimento é ampla e se difere para vários autores. O ponto de partida do estudo de desenvolvimento abordado por Furtado (2003, p. 103) caracteriza-o como: “a transformação do conjunto das estruturas de uma sociedade em função de objetivos que se propõe alcançar essa sociedade”.
Partindo desta visão ampla do desenvolvimento, Evans (1996) deixa claro o papel do estado na busca do desenvolvimento. Para o autor, o desenvolvimento é alcançado a partir de investimentos seletivos nas áreas de maior carência. Com isto, é possível verificar que o desenvolvimento não é homogêneo para todos os municípios depende de várias de características, sejam elas institucionais, econômicas ou sociais. E, a modernização rural não contribui positivamente para a melhoria dos índices de desenvolvimento econômico dos municípios.
Neste sentido, ao considerar o desenvolvimento rural no Rio Grande do Sul, Conterato et al. (2008), propuseram um índice de desenvolvimento rural (IDR). Isso possibilitou que os autores caracterizassem o desenvolvimento rural como um processo multifacetado e multidimensional e distinto entre regiões. Desta forma, é possível notar que o desenvolvimento rural do estado é exógenamente desigual, mas endogenamente harmonioso (PINTO E CORONEL, 2014; CONTERATO ET AL., 2008). 3. METODOLOGIA 3.1 Fonte e base dos dados
As variáveis utilizadas para determinação da modernização rural foram escolhidas conforme a literatura e trabalhos já realizados sobre o tema. Os dados utilizados na análise fatorial foram extraídos do Censo Agropecuário de 2006, disponível no sistema IBGE. Tratam-se de dados cross-section para os 460 municípios do Rio Grande do Sul.
As variáveis utilizadas como indicadores de modernização, ponderadas pelo número de estabelecimentos agropecuários, foram:
X1= Área colhida (Hectares); X2= Área de pastagens (Hectares); X3= Valor dos bens (Reais); X4= Número de estabelecimentos com empregados permanentes (Unidades); X5= Financiamento (Mil Reais); X6= Área plantada nas lavouras temporárias (Hectares); X7= Número de estabelecimentos que utilizaram aeronave na aplicação de agrotóxico (Unidades); X8= Valor das despesas com sementes, agrotóxicos, medicamentos, sal e rações (Mil Reais);
2 Refere-se a membros de uma sociedade que satisfazem de forma apropriada as necessidades de alimentação, vestuário, moradia, acesso a educação, ao lazer e a um mínimo de bens culturais. (FURTADO, 1990).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
X9= Valor dos investimentos (Reais); X10= Valor das despesas totais (Mil Reais); X11= Valor das despesas adubos e corretivos (Mil Reais); X12= Número de estabelecimentos com uso de irrigação (Unidades); X13= Número de máquinas e implementos agrícolas existentes (Unidades); X14= Número de estabelecimentos com depósitos e silos para guarda da produção de grãos (Unidades); X15= Número de meios de transporte utilizados (Unidades); X16= Número de estabelecimentos com empregados temporários contratados no ano (Unidades); X17= Número de estabelecimentos com tratores (Unidades); X18= Área plantada nas lavouras permanentes (Hectares).
A variável renda foi extraída do Censo Agropecuário de 2006. Como se trata da renda agrícola total do município, ela foi ponderada por número de trabalhadores existentes no mesmo, visto que é a informação disponível no Censo Agropecuário do presente ano. O Índice de Gini utilizado para medir a concentração de renda é calculado pelo DATASUS. O cálculo do índice é realizado através do Censo demográfico, que não possui o mesmo ano que o agropecuário, logo, visto não haver mudanças relevantes entre os anos de 2000 e 2010, utilizou-se a variável referente ao ano de 2010. O índice de desenvolvimento IDESE, foi extraído da FEE. 3.2 Análise Fatorial e o Modelo Econométrico
A extração de dados para analisar a modernização, consiste em um amplo conjunto de variáveis, Hoffmann e Kassouf (1989) e Freitas, Paz e Nicola (2007) utilizaram variáveis indicadoras do grau de modernização como crédito, área plantada, colhida, por tipo de lavoura, despesas, número de pessoas ocupadas, máquinas e equipamentos, valor dos bens, entre outros.
Existe um grande número de indicadores associados ao processo de modernização agropecuária no Rio Grande do Sul. Assim, se conjuntamente tais indicadores estivessem presentes em uma regressão poderia gerar problemas de colinearidades elevadas entre os regressores, o que afetaria a eficiência dos estimadores, sem contudo, evidentemente, não afetar a consistência. Contudo, na busca de modelos econométricos mais parcimoniosos, buscou-se reduzir a dimensão desses regressores, via análise fatorial.
Fávero et al. (2009) destacam a importância da análise fatorial para captar um número pequeno de fatores comuns que representam um amplo conjunto de variáveis. A extração dos fatores foi realizada pelo método de Análise de Fatores Comuns (AFC), o qual possibilita utilizar a maior variância total explicada pelo conjunto dos indicadores. Os fatores foram rotacionados através do método VARIMAX. Cabe ressaltar, que os fatores não são correlacionados entre si, ou seja são fatores ortogonais (FÁVERO ET AL. 2009).
Realizada a extração dos fatores, é necessário identificar os escores fatoriais para cada município do Estado do Rio Grande do Sul. Os escores fatoriais são constituídos através do Método Bartlett. De posse do número de fatores que explicam a maior parte da variância dos indicadores, passa-se para a estimação da influência dos fatores nas variáveis dependentes em questão.
De acordo com a teoria econômica, prevalece a ideia do impacto negativo da modernização no desenvolvimento. O método utilizado é o dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com dados de corte transversal ( cross-section). Segundo Wooldridge (2010), é necessário que o modelo atenda as hipóteses de Gauss-Markov, com vista que o MQO seja o melhor estimador linear não viesado. Definidos os fatores comuns e seus respectivos testes os modelos econométricos são especificados da seguinte forma: = 0+ 1( 1)+ 2( 2)+ 3( 4)+ (1) = 0+ 1( 1)+ 2( 1)²+ 3 ( 2)+ 4( 3)+ 5( 4)+ 6( 4)² + 7( )+ (2) = 0+ 1( 1)+ 2( 1)²+ 3( 3)+ 4( 3)²+ (3)
Sendo que, é a renda média agrícola por trabalhador, é o índice de concentração de renda, o é o índice de desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, 1é o fator de modernização intensivo
na exploração da terra, 2é o fator intensivo na produtividade da terra, 3 é o fator é intensidade do uso de instrumentos avançados e o 4 é o fator intensidade da relação lavoura permanente/trabalho e ( )² significa uma
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
função quadrática na análise, o subscrito i indica o i-ésimo município na amostra. Os fatores que indicam modernização são os Fatores 1 e 3.
Além da análise da significância dos parâmetros, evidenciada através da estatística t e teste de exclusão de variáveis, foram realizados testes de Heterocedasticidade (White), de Colinearidade (FIV) e de correta especificação do modelo (RESET).
Para verificar a adequação da análise fatorial, torna-se necessário examinar a estatística KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 4.1 Análise dos fatores da modernização rural
Antes de proceder a estimação dos fatores comuns, faz-se necessários realizar os testes de KMO e de Barlett. O índice de KMO analisa a existência de correlações entre as variáveis, sendo que zero não existe correlação e um existe, o valor do teste no modelo incide em 0,72, que indica dados consistentes. E o teste de Barlett (p-valor: 0,000), rejeita a hipótese nula da matriz de correlações ser identidade, o que indica que há correlação entre as variáveis. (FÁVERO, 2009).
Como os testes foram favoráveis à aplicação da análise fatorial, passa-se, então, para a estimativa dos fatores comuns já rotacionados. A partir dos dezoito indicadores analisados, foi possível extrair quatro fatores. Esses fatores foram capazes de captar 63,19% da variância das variáveis.
O primeiro fator consiste no agrupamento das variáveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e X8 que pode ser chamado de “intensidade da exploração da terra”. O fator 2 pode ser considerado como “intensidade da produtividade da terra”, devido estar relacionado com as despesas de insumos e corretivos agrícolas, os quais aumentam a quantidade produzida, neste fator estão as variáveis X9,X10 e X11.
As variáveis 12, 13, 14 e 15, representam o terceiro fator caracterizado como “intensidade do uso de instrumentos avançados”. E o quarto fator agrupa as variáveis 16, 17 e X15, que representam a “intensidade da relação lavoura permanente/trabalho”. 4.2 Análise da renda, concentração de renda e desenvolvimento frente à modernização rural
O teste Fatores de Inflacionamento da Variância (FIV), foi significativo para todos os parâmetros do trabalho. O teste White para medir heterocedasticidade, evidenciou a presença de homocedaticidade. E no teste de especificação do modelo demonstrou a especificação correta, para todos os modelos propostos.
Todas as variáveis dos modelos apresentados abaixo possuem significância estatística a um nível de 5%, com exceção do Fator 2 e 3 quando analisado contra o índice de Gini, são significativos a somente 15%. A modernização da agricultura é analisada principalmente em seu caráter tecnológico e a algumas relações de produção. A modernização visa aumentar a produtividade dos estabelecimentos, bem como aumento da renda do agricultor. Desta forma, a primeira análise consiste em verificar a interação dos fatores de modernização para com a renda. = 9,77+4,35( 1)+0,61( 2)+0,84( 4)
Verifica-se que todos os fatores incluídos na análise provocam efeitos positivos sobre a renda por trabalhador. Assim, as variáveis presentes nos Fatores 1, 2 e 4 tiveram impactos positivos sobre a renda do agricultor Especificamente, o Fator 1, o qual retrata exploração da terra, maior área plantada e colhida, empregados permanentes, financiamentos, valor dos bens e utilização de aeronave na aplicação de agrotóxicos. O fator 2 retrata produtividade da terra, investimentos e despesas com corretivos e adubos. E o fator 4, apresenta variáveis como empregados temporários e lavouras permanentes. Pelo teste F de incremento de variável o Fator 3 pode ser excluído do modelo.
Esses resultados corroboram com Martine (1991) ao constatar que novas técnicas são implantadas quando há informação, atitudes empresariais, níveis educacionais mais elevados e capacidade de endividamento e provocam aumento da renda.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A renda é uma variável importante, mas somente a partir dela não é possível analisar a situação da distribuição de renda no meio rural, uma das dimensões do desenvolvimento econômico. Por essa razão, faz-se a regressão da influência da modernização rural no índice de Gini. = 0,494+0,048 ( 1)−0,004( 1)2+0,004 ( 2)−0,005( 3)−0,030( 4)+0,003( 4)2−0,002( )
Na análise de regressão dos fatores de modernização contra a variável índice de Gini, é possível observar que quando há um aumento do Fator 1, o índice de Gini aumenta inicialmente, mas depois de certo ponto o índice passa a diminuir. Para o fator 4, ocorre o oposto, inicialmente um aumento dele provoca diminuição da concentração de renda, no entanto após dado aumento a concentração passa a aumentar.
Para medir o índice de Gini, adota-se o nível quanto menor melhor, pois mais baixo será o nível de concentração de renda. A abscissa do ponto máximo da função quadrática do Fator 1, trata-se de 6,00, sendo que apenas três municípios possuem o índice de modernização acima deste valor. Pode se afirmar que o Gini cresce com o 1 no intervalo onde quase 100% dos municípios estão situados. A função quadrática do Fator 4 possui um ponto crítico quando ele é 5,00, como existem somente três municípios acima deste valor, em cerca de todos os municípios uma elevação no Fator 4 provoca diminuição da concentração de renda.
O Fator 2, que possui a variável investimento provoca um aumento da concentração de renda. Conforme já relatado por Kageyama (1982), Martine (1991), Hoffmann e Kageyama (1985) e Delgado (2001), o crédito é importante para a modernização, a grande questão estava entorno de como esse crédito chegava até as famílias menos favorecidas, ou seja, a concentração de renda que ele provoca e as desigualdades.
Ressalta-se que o Fator 2, o Fator 3 e a renda, possuem influências menores sobre o GINI, quando comparados aos Fatores 1 e 4, e o Fator 2 e 3 possuem significância estatística a apenas 15%. O Fator 3, que inclui técnicas avançadas de produção contribui para a diminuição da concentração de renda. Com relação à renda é possível identificar que um aumento de R$1.000,00 provocará uma subtração do índice de Gini de 0,002 pontos percentuais. Essas variáveis conjuntamente são significativas para o modelo, no entanto ao serem analisadas individualmente, não apresentam significância relevante para aprofundamentos da analise no modelo.
O aumento do GINI, a partir do aumento consecutivo da modernização, esta de acordo com vários estudos já realizados na área. Pinto e Coronel (2014), também ressaltam a contribuição da modernização para a concentração de renda. Para Furtado (2000) a demanda é indispensável para o fechamento do ciclo econômico e para o desenvolvimento, o que está diretamente ligado à distribuição de renda.
O IDESE mede o índice de desenvolvimento econômico dos municípios, considera fatores como a renda, a saúde e a educação. Conforme Todaro e Smith (2009), essa análise multidimensional se faz importante, pois o desenvolvimento não engloba apenas a renda como a visão neoclássica. A análise de regressão foi realizada, inicialmente, com todos os fatores da modernização rural, no entanto, após realizar o teste F (visando testar a permanência das variáveis no modelo), as únicas variáveis conservadas no modelo foram o Fator 1 e o Fator 3 nas suas formas originais e quadráticas, respectivamente. = 0,685+0,007( 1)−0,001( 1)²+0,019( 3)− 0,005( 3)²
Para analisar a variável dependente IDESE, atribui-se quanto maior o índice melhor, pois mais desenvolvido será o município.
Ambos fatores possuem uma função quadrática, ou seja, o Fator 1 e 3 até dado ponto de máximo possuem influência positiva no aumento do desenvolvimento, no entanto quando a modernização se eleva o índice de desenvolvimento dos municípios começam a sofrer decréscimos. O desenvolvimento possui vários aspectos, Hoffmann e Kageyama (1989) também relatam a importância de outros fatores (econômicos, sociais ou políticos) que promovem o desenvolvimento e minimizam as desigualdades. No entanto, para a análise de algumas dimensões do desenvolvimento aqui analisadas a partir da modernização conforme objetivo do trabalho pode-se dizer que quando ocorre um forte incremento no processo de modernização agropecuária, tem-se um impacto negativo no desenvolvimento desse setor, ou seja, pode se considerá-la um fator de diminuição do desenvolvimento econômico quando a modernização for muito elevada.
Em estudo realizado, Conteratto et al. (2009) identifica que principalmente em época de intensa mudança institucional e tecnológica os processos de modificação social não ocorrem com a mesma intensidade em todas as microrregiões gaúchas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Furtado (1990) destaca que a inserção de progresso técnico para aumento da produtividade, conduz a um bloqueio da passagem do crescimento para o desenvolvimento. A redução da heterogeneidade social não ocorre com a modernização. O mercado por si só, não é capaz de realocar fatores. 5. CONCLUSÕES
A modernização rural torna-se um assunto relevante e complexo ao ser analisada sob a perspectiva de se alcançar maior patamar de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O uso de técnicas avançadas é capaz de gerar aumento da produtividade, no entanto a sua propagação até os níveis de desenvolvimento da população pode gerar reflexos negativos.
Os fatores de modernização rural contribuem para o aumento da renda. O Fator 1 de intensidade de exploração da terra influência consideravelmente para o aumento da concentração da renda, e o Fator 4 de intensidade da relação lavoura permanente/trabalho colabora para a diminuição da concentração de renda dos municípios. Um elevado nível de modernização diminui o desenvolvimento socioeconômico do município.
Frente aos resultados propostos cabe ressaltar a importância de programas agrícolas, que possam diminuir o quadro de efeitos negativos da modernização rural para agricultores com baixo nível tecnológico em suas propriedades. A intervenção do Estado de modo geral, se torna respeitável para o setor primário do Rio Grande do Sul. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BALSAN, R. Impactos decorrentes da modernização da agricultura brasileira, Revista de geografia agrária, v.1, n.2, p. 123-151, 2006. BANCO CENTRAL DO BRASIL, Disponível em <http://www3.bcb.gov.br/mcr> , acessado em 27 jun de 2016. CARGNIN, A.P., Políticas de Desenvolvimento Regional no Rio Grande do Sul:Vestígios, Marcas e Repercussões Territoriais, Ministério da Integração Nacional, Brasilía/DF, 2014. CONTERATO, M. A.; SCHNEIDER, S.; WAQUIL, P. D. Desigualdades Regionais de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul: uma proposta de análise multidimensional a partir de três microrregiões. In: IV ENCONTRO DE ECONOMIA GAÚCHA, Porto Alegre: FEE/PUCRS, 2008. CRUZ, F. O., RIBEIRO, C.G., LIMA, I.B., A modernização agrícola nos municípios da mesorregião campo das vertentes: uma aplicação de métodos de análise multivariada, Congresso da SOBER. DATASUS, Teconologia da informação a serviço do SUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginibr.def> , acessado em 06 de jun. 2016. DELGADO, G. C., Expansão e modernização do setor Agropecuário no pós-guerra: um estudo da reflexão agrária, Revista Estudos Avançados, vol. 15, n. 43, São Paulo, 2001. EVANS, P., “El estado como problema y como solucion”, Desarollo Econômico, 35 (140), enero-marzo, 1996. FÁVERO, L.P, BELFIORE, P., SILVA, F.L., CHAN, B.L., Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões, Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2009. FREITAS, C. A., PAZ, M.V., NICOLA, D.S., Analisando a modernização da agropecuária gaúcha: uma aplicação de analise fatorial e cluster, Revista Análise Econômica, Porto Alegre, ano 25, número 47, 2007. FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (FEE). Disponível em: <http://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento- socioeconomico/> , acessado em 07 jun de 2016. FURTADO, C., Subdesenvolvimento revisitado, Economia e Sociedade, 1990. FURTADO, C. Teoria e política do desenvolvimento econômico. 10 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. FURTADO, C. Raízes do subdesenvolvimento. 10 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Disponível em: < http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/acervo2> , acessado em 07 jun de 2016. HOFFMANN, R., KASSOUF, A. L. Modernização e desigualdade na agricultura brasileira, Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, Volume 43, 1989. HOFFMANN R., KAGEYAMA A.A., Modernização da agricultura e distribuição de renda no Brasil, Pesquisa de planejamento econômico, Rio de Janeiro, Ed. 15, 1985.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
KAGEYAMA, A. A., O emprego temporário na agricultura brasileira: seus determinantes e sua evolução recente. 12 ed. nº 5, p. 3-12, Campinas: Boletim da reforma agrária, 1982. LEWIS, A. O desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão-de-obra, revista A economia do subdesenvolvimento, Rio de Janeiro, Ed. Forense, p. 406-456, 1969. MARTINE, G., A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia?, Revista de Cultura e Política, n. 23, São Paulo, 1991. MARX, K., O Capital: crítica da economia política: livro I, Rio de Janeiro, Ed. 33, 2014. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/> , acessado em 27 de junho de 2016. PINTO, N. G. M., CORONEL D. A., Modernização agrícola no Rio Grande do Sul: um estudo nos municípios e mesorregiões, VIII Encontro de Economia Catarinense, 2014. RICARDO, D., Princípios de economia política e tributação. Os economistas, (1982). SILVA, J. G., Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura paulista, Tese de doutorado, 1ª edição, Campinas, 1980. SOUZA, P. M., LIMA, J.E., Intensidade e dinâmica da modernização agrícola no Brasil e nas unidades da Federação, Revista Brasileira de Economia, vol. 57, n.4, Rio de Janeiro, 2003. TODARO&SMITH, Economic Development, Boston: Pearson Addison Wesley, ed. 10, 2009.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A Especialização na Cultura do Tabaco
Stefanie Herbsthofer1, Ox Sias D’avila2, Mario Duarte Canever³, Décio Souza Cotrim⁴
1Universidade Federal de Pelotas, [email protected] 2Universidade Federal de Pelotas
³Universidade Federal de Pelotas ⁴Universidade Federal de Pelotas
Resumo. A diversificação e a especialização da produção agrícola são temas bastante discutidos atualmente no
setor rural, e representam uma escolha decisiva para os agricultores. O artigo aqui proposto busca relacionar
esses temas com dados colhidos por profissionais da extensão rural em propriedades produtoras de tabaco no
território Centro Sul do Rio Grande do Sul, a fim de identificar o que leva os agricultores a se especializarem
nessa cultura.
Palavras-chave. Produção Agrícola, Especialização, Relacionar
The Specialization on Tobacco Cultivation
Abstract. The diversification and the specialization of agricultural production are themes very discussed
currently in the rural sector, and represent a crucial decision for farmers. The article here proposed seeks to
connect these themes with data collected by agricultural extension professionals in tobacco producing
properties on the South Central territory of the Rio Grande do Sul, in order to identify what leads the farmers to
specialize in this cultivation.
Keywords. Agricultural Production, Specialization, Connect
Introdução
Segundo PLOEG (2008), a agricultura pode ser conceituada a partir de três grupos díspares, porém inter-relacionados: a agricultura camponesa, a agricultura empresarial e a agricultura capitalista. Os dois primeiros grupos estão intimamente conectados com os temas de especialização e diversificação. A agricultura camponesa se baseia no uso sustentado do capital ecológico, e considera a defesa e o melhoramento das condições de vida dos camponeses. Ela apresenta como principais características a multifuncionalidade, a mão-de-obra familiar, a posse das terras e dos meios de produção por parte dos familiares, e a produção voltada não só para o mercado, mas também para a reprodução da unidade agrícola e da família. Já a agricultura empresarial é essencialmente baseada no capital financeiro e industrial, expandindo-se através do aumento de escala, com produção altamente especializada e voltada para o mercado (PLOEG, 2008). Essa dinâmica entre especialização e diversificação pode ser observada em ambientes empíricos como em produtores familiares, por exemplo das propriedades produtoras de tabaco do território Centro Sul/RS.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Este artigo, que compõem parte de uma linha de pesquisa do Núcleo de Estudo do Agronegócio, objetiva caracterizar a dinâmica da especialização dos agricultores que cultivam tabaco buscando quais fatores possuem maior significância nessa vertente de produção.
Metodologia
As informações de campo para este texto foram retiradas do banco de dados sobre o tabaco, sistematizado e codificado por uma equipe da UFPel, utilizando o software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. Esses dados são provenientes de entrevistas realizadas pela equipe de ATER da Emater/RS, em visitas de diagnóstico a 960 agricultores familiares produtores de tabaco dentro dos municípios de Dom Feliciano, Chuvisca, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Barão do Triunfo, São Jerônimo e General Câmara (COTRIM, 2016).
Resultados e discussão
Para a caracterização da especialização na cultura do tabaco, foram utilizadas variáveis que apontam a representação da renda do tabaco no orçamento da família, os anos do agricultor na atividade, a quantidade de pés de tabaco plantados na safra de 2013, a integração com a indústria fumageira e a existência de dívidas com a indústria fumageira. A tabela 1 mostra a relação existente entre a representação da renda do tabaco no orçamento dos agricultores e os anos na atividade. Percebe-se que, em todos os níveis de representação, a faixa mais expressiva dos anos na atividade é a de 11 a 20 anos.
Tabela 1. Relação entre a representação da renda do tabaco no orçamento e os anos na atividade Representação da renda do tabaco
no orçamento Anos na atividade
Até 10 De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
Acima de 41
Total
Até 25% Soma 2 5 2 1 0 10 % 20,0% 50,0% 20,0% 10,0% 0,0% 100,0%
De 26 a 50% Soma 10 24 21 8 1 64 % 15,6% 37,5% 32,8% 12,5% 1,6% 100,0%
De 51 a 75% Soma 52 60 48 29 7 196 % 26,5% 30,6% 24,5% 14,8% 3,6% 100,0%
Acima de 75% Soma 56 126 79 63 6 330 % 17,0% 38,2% 23,9% 19,1% 1,8% 100,0%
100% Soma 20 28 34 15 3 100 % 20,0% 28,0% 34,0% 15,0% 3,0% 100,0%
Total Soma 140 243 184 116 17 700 % 20,0% 34,7% 26,3% 16,6% 2,4% 100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor.
A tabela 2 relaciona a representação da renda do tabaco no orçamento dos agricultores e a quantidade de tabaco plantada no ano de 2013. É perceptível, em todos os níveis de representação, que a faixa mais com maior expressão de quantidade plantada refere-se a variável denominada “até 50.000 pés”.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 2. Relação entre a representação da renda do tabaco no orçamento e a quantidade de tabaco plantada em
2013 Representação da renda do
tabaco no orçamento Quantidade plantada em 2013
até 50.000
50.001 a 100.000
100.001 a 150.000
150.001 a 200.000
acima de 200.001
Total
Até 25% Soma 10 1 0 0 0 11 % 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
De 26 a 50% Soma 58 8 0 0 0 66 % 87,9% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
De 51 a 75% Soma 152 45 4 0 0 201 % 75,6% 22,4% 2,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Acima de 75% Soma 216 109 16 1 2 344 % 62,8% 31,7% 4,7% ,3% ,6% 100,0%
100% Soma 71 27 2 0 0 100 % 71,0% 27,0% 2,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Total Soma 507 190 22 1 2 722 % 70,2% 26,3% 3,0% ,1% ,3% 100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor.
A tabela 3 apresenta a relação existente entre a representação da renda do tabaco no orçamento dos agricultores e a integração com a indústria fumageira. Nota-se que a integração com a indústria não é predominante apenas onde a representação da renda do tabaco no orçamento é inferior a 25%; e que quanto maior a representação, maior a predominância da integração.
Tabela 3. Relação entre a representação da renda do tabaco no orçamento e a integração com a indústria Representação da renda do
tabaco no orçamento Integração com a indústria
Não Sim Total Até 25% Soma 8 7 15
% 53,3% 46,7% 100,0% De 26 a 50% Soma 19 53 72
% 26,4% 73,6% 100,0% De 51 a 75% Soma 36 176 212
% 17,0% 83,0% 100,0% Acima de 75% Soma 55 300 355
% 15,5% 84,5% 100,0% 100% Soma 10 93 103
% 9,7% 90,3% 100,0% Total Soma 128 629 757
% 16,9% 83,1% 100,0% Fonte: Elaborado pelo autor.
A relação entre a representação da renda do tabaco no orçamento dos agricultores e a existência de dívidas com a indústria fumageira pode ser observada na tabela 4. Percebe-se que, em todos os níveis de representação, o que apresenta a maior percentagem de dívidas é o de 100%; porém a ausência de dívidas predomina em todos os níveis.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 4. Relação entre a representação da renda do tabaco no orçamento e a existência de dívidas com a
indústria
Representação da renda do tabaco no orçamento
Dívidas com a indústria Não Sim Total
Até 25% Soma 14 1 15 % 93,3% 6,7% 100,0%
De 26 a 50% Soma 55 17 72 % 76,4% 23,6% 100,0%
De 51 a 75% Soma 164 48 212 % 77,4% 22,6% 100,0%
Acima de 75% Soma 248 107 355 % 69,9% 30,1% 100,0%
100% Soma 62 41 103 % 60,2% 39,8% 100,0%
Total Soma 543 214 757 % 71,7% 28,3% 100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor
Utilizando o índice de correlação de Pearson para verificar a significância de cada variável independente com a variável dependente “representação”, é possível afirmar que entre todas as variáveis analisadas, a única que não apresentou significância relativa com a variável em questão foi a denominada “anos de atividade na cultura fumageira”.
Tabela 5. Correlação de Pearson entre todas as variáveis analisadas Representação Anos Quantidade Integração Dívidas
Representação da renda do tabaco no
orçamento
Pearson Correlation
1 ,047 ,135 ,146 ,130
Sig. (2-tailed) , 219 ,000 ,000 ,000 N 757 700 722 757 757
Fonte: Elaborado pelo autor
De maneira geral, a análise dos dados nos mostra que para a maioria dos produtores entrevistados, o tabaco representa acima de 75% da renda, e essa faixa tem como características a plantação de até 50.000 pés de tabaco, possuindo a integração e a existência de dívidas com a indústria fumageira, e estão a até 20 anos na atividade do fumo.
Conclusões
Como conclusão preliminar é possível perceber os indicadores que levam os produtores a se especializarem como alto percentual de renda composta pelo tabaco, consequentemente plantio de mais de 50.000 pés de fumo, integração e existência de dívida com a indústria fumageira e até 20 anos de ação na atividade. Por outro lado, pode-se afirmara a inexistência de correlação entre os indicadores anos de ação na atividade e representação da renda do tabaco no orçamento. Essas conclusões tratam-se de uma primeira aproximação ao banco de dados que será aprofundada em um estágio na Emater de Camaquã, no segundo semestre de 2016, para futuramente ser possível correlacionar esses indicadores também com a dinâmica da diversificação de cultivos nesse grupo social.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Referências Bibliográficas
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Chamada pública para seleção de entidade executora de
assistência técnica e extensão rural para agricultores/as familiares inseridos em municípios com produção de tabaco na região sul do Brasil. 2013. Acessado em: 11 jul. 2016. Disponível em: http://www.mda.gov.br/portalmda/sites/default/files/chamadas/CHAMADA_Diversifica%C3%A7%C3%A3o_SUL_republica%C3%A7%C3%A3o.pdf
COTRIM, D.S. ett all A caracterização dos agricultores familiares que cultivam tabaco no território
Centro-Sul/RS. SOBER, 2016
PLOEG, J. D. van der. Panorama geral. In: PLOEG, J. D. van der. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas
por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008. Cap. 1, p. 17 – 31.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Percepções do varejo supermercadista sobre sustentabilidade:
evidências/análise do setor no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil.
Christiane M. Pitaluga(UFMS)[email protected] Luiz Filipe Araújo da Silva Cozer(UFMS)[email protected] Caroline P. Spanhol Finocchio(UFMS) [email protected] Katianny Gomes Santana Estival (UFMS)[email protected]
Resumo. Debates a favor do meio ambiente têm sido cada vez mais frequentes na atual conjuntura mundial, bem como as relações de troca envolvendo consumidores e empresas, assuntos esses que se mantiveram por muito tempo no esquecimento devido à busca perene por parte das empresas em apenas se conseguir uma maior competitividade no mercado. Exemplo disso é o setor do varejo supermercadista, que tem se voltado cada vez mais para o desenvolvimento sustentável. Assim, muitos grupos já deram o start para novas estratégias relacionadas à conquista desse modelo, pois perceberam o impacto que suas atividades podem causar, tanto no meio ambiente como para a sociedade. Esse entendimento ocorreu devido ao fato de que o varejo exerce o papel de mediador, pois este, como nenhum outro setor, é tão próximo dos consumidores finais e dos fornecedores e sua influencia na cadeia produtiva pode ser usada de maneira positiva, agindo como agente transformador em toda sua área de extensão e fomentando consumidores e fornecedores a adotarem práticas de responsabilidade socioambiental. A pesquisa teve como objetivo central entender a percepção dos proprietários dos principais varejos supermercadistas da cidade de Aquidauana/MS quanto o consumo sustentável e qual o papel que eles podem exercer quanto a questões em torno da sustentabilidade. Para tanto, o estudo consistiu em uma pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa. As ferramentas para a coleta dessas informações foram as entrevistas semiestruturadas aplicadas aos proprietários dos seis principais supermercados da cidade de Aquidauana/MS em Junho de 2016. Contudo, a pesquisa revelou que o varejo supermercadista da referida cidade encontra-se no início de atividades orientadas às essas questões e há muito ainda o que se fazer para que essas práticas responsáveis junto ao meio ambiente sejam alcançadas, tanto por parte da cadeia varejista quanto por parte dos consumidores. Os varejistas revelaram que reconhecem que a temática em volta da sustentabilidade se faz relevante e cada vez mais presente na pauta das discussões dos grandes players. Entretanto, verificou-se pouca disposição em planejar ações que visem estimular novos hábitos de consumo e também na aquisição de produtos que contemplem atributos ligados a sustentabilidade, uma vez que foram unânimes em alegar que o perfil de seus consumidores não está vinculado às preocupações em consumir produtos sustentáveis.
Palavras-chave: varejo, supermercados, percepção, sustentável.
Retail market perceptions of sustainability: evidence / industry analysis in
the city of Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brazil Abstract. Debates in favor of the environment have been increasingly frequent in the current global environment and the terms of trade involving consumers and businesses, subjects those who remained long forgotten due to the perennial search for companies in just achieve greater competitiveness. One example is the retail supermarket industry, which has turned increasingly to sustainable development. So many groups have given the start for new strategies related to the achievement of this model, because they realized the impact that their activities can cause, both in the environment and for society. This understanding was due to the fact that retail plays the role of mediator, because this, like no other sector is so close to the end users and suppliers and their influence in the production chain can be used in a positive way, acting as an agent along its entire length area and encouraging consumers and suppliers to adopt environmental responsibility practices. The research had as main objective to understand the perception of the owners of the major supermarket retailers in the city of Aquidauana / MS as sustainable consumption and what role they can play as the issues surrounding sustainability. Therefore, the study was a descriptive, exploratory and qualitative research. The tools for gathering this information was the
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
semi-structured interviews applied to the owners of the six major supermarkets in the city of Aquidauana / MS in June 2016. However, the survey revealed that the retail supermarket of that city is at the beginning of activities aimed at these issues and there is much still to be done to those responsible practices with the environment are met, both by the retail chain and by consumers. Retailers revealed that recognize that the issue around sustainability is relevant and increasingly present on the agenda of discussions of major players. However, there was little willingness to plan actions aimed at stimulating new consumption habits and also the acquisition of products that include attributes related to sustainability, since they were unanimous in claiming that the profile of its consumers is not tied to concerns in consuming sustainable products.
Keywords. Retail, supermarket, perception sustainable
Introdução
As discussões relacionadas ao meio ambiente têm sido cada vez mais frequentes na atual conjuntura mundial, bem como nas relações de troca envolvendo consumidores e empresas (BATTISTELLA, VELTER e GROHMANN, 2012). Nesse contexto, nota-se que o desenvolvimento sustentável tem sido visto como um modelo alternativo desejado, operacionalizado pelas iniciativas de responsabilidade socioambiental no campo empresarial (BUARQUE, 2008).
Os movimentos sociais e as discussões relacionadas sobre a necessidade de mudança nos padrões de produção e consumo e a manutenção da vida no planeta, vão ao encontro do conceito de desenvolvimento sustentável, que tem como premissa o fato de que se deve haver uma harmonização das diferentes visões que envolvem a esfera social, econômica e ambiental visando atender as necessidades da atual geração sem que se comprometa a satisfação das necessidades das gerações vindouras (ELKINGTON, 2001; SACHS, 2007; WCDE, 1987). No Brasil, pesquisas relacionadas ao desenvolvimento sustentável surgiram na década de 1990, a partir de discussões em torno da conservação do meio ambiente e da conjuntura social e econômica que a sociedade passava naquele momento (SOUZA; RIBEIRO, 2013).
A temática que versa sobre o desenvolvimento sustentável, de modo geral, está inclusa em diversos debates nas diversas esferas governamentais e em programas regionais, porém o que se percebe é que esta ainda não se firmou nos níveis estratégicos das empresas, o que consequentemente, não a torna prioridade para as mesmas (CORAL, 2002). Conforme Peattie (2007), para que se consiga a incorporação dos desafios pertinentes a essa forma de desenvolvimento, é necessário que essa visão seja incorporada nas práticas de gestão, considerando que as atuais estruturas de produção e consumo não são sustentáveis e precisam ser melhores regidas para que seja alcançado o êxito no desenvolvimento sustentável.
Cruz, Pedroso e Martinet (2007), ao analisar o setor do varejo supermercadista, afirmaram que muitos grupos empresariais já deram o start nas estratégias voltadas para o desenvolvimento sustentável, pois perceberam o impacto que suas atividades podem causar, tanto no meio ambiente como para a sociedade de modo geral. Diversos países, tais como a Alemanha, já aderiram ao modelo de varejo sustentável como exemplo tem-se uma startup que criou o primeiro supermercado sem embalagens no mundo. A ideia do estabelecimento partiu do pressuposto de que o cliente pudesse levar seu próprio recipiente para guardar as suas compras, portar uma embalagem de papel reciclável ou, em última instância, fazer o empréstimo de um recipiente (HYPENESS, 2014).
No Brasil um exemplo de adesão às práticas sustentáveis surgiu no Distrito Federal, em 2014, uma empresa do varejo supermercadista anunciou sua primeira loja sustentável, em que toda a infraestrutura foi pensada exatamente para a redução de consumo de energia e água e tem como intuito mitigar os danos causados ao ambiente e ainda fazer o engajamento da própria comunidade nessa tarefa (HYPENESS, 2014).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O varejo, ao exercer o papel de mediador entre os fornecedores e os consumidores
finais, pode influenciara cadeia produtiva de maneira positiva nessa questão, agindo como agente transformador, ao estimular os consumidores e fornecedores a adotarem práticas de responsabilidade socioambiental (BELINKY, 2006).
Considerando o relevante papel do varejo supermercadista nesse contexto, surge a presente investigação que tem como objetivo principal analisar apercepção do varejo supermercadista na cidade de Aquidauana/MS quanto ao consumo e práticas sustentáveis. Busca-se, também, entender como o varejo pode contribuir para a sustentabilidade, justificada pela relevância mundial da temática, uma vez que tem sido uma pauta amplamente debatida em diversos segmentos não apenas do Brasil, mas permeando também o âmbito varejista dos grandes players internacionais.
1. VAREJO, CONSUMO E SUSTENTABILIDADE.
De acordo com Leite (2000), quanto à reformulação de novas estratégias e a percepção e sensibilidade empresarial com o meio ambiente observa-se que cada vez mais o varejo tem se voltado às estratégias que vão ao encontro do pensamento de proteção ambiental, pois seus consumidores com um nível maior de conhecimento necessitam de informações relevantes sobre os impactos que seus bens e processos têm sobre o ambiente em que ele está inserido.
Corroborando a isso Taylor (2006), relata que os consumidores não são estáticos, estão sempre em constante mudança e isso ocorre em função das consequências advindas das contingências sociais, econômicas e as ambientais, o que gera uma necessidade de se modificar perante até mesmo às práticas de consumo, visto que o meio ambiente tem cada vez mais se transformado e o mercado de consumo seguindo os seus passos. Dessa forma, fazer a compreensão das alternâncias que ocorrem no meio social dos consumidores e na formação de seus valores, crenças e atitudes e o seu perfil como consumidor, se torna significativo tanto para grandes líderes de corporações como também para líderes da esfera pública.
Pinheiro (2009), ressalta que a consequência ocasionada pelo consumo pode impactar também na economia, o que faz com que se repense uma conciliação entre o homem e a natureza, para isso as empresas precisam reconstruir uma nova visão sobre uma economia global e menos degradante ao meio ambiente. Foi a partir da Rio 92 1que a questão sobre o consumo desenfreado se concretizou de fato uma preocupação mundial tornando-se um movimento ambientalista discutido e disseminado por várias organizações e instituições no mundo todo, visando analisar as diligências causadas por práticas consumistas em um mundo cada vez mais globalizado. A mudança de paradigma que se vivencia, tem feito o consumidor se preocupar cada vez mais com o meio em que está inserido, saindo do seu âmbito individualista de consumir, para um patamar maior, tornando-se cada vez mais consciente de suas ações (MICHAELIS, 2000).
Para isso, percebe-se que o consumidor deve ser informado e incentivado a alterar seus atuais hábitos de consumo em direção ao consumo consciente e sustentável. Nesse sentido, o varejo supermercadista representa papel fundamental para a consolidação dessa desejada tendência.
Para Rosenbloom (2002), o varejo supermercadista diz respeito a um tipo de estrutura que tem como foco a comercialização de insumos para o consumo pessoal e doméstico, assim como também a prestação de serviços voltados à venda de bens. Dias (2003), afirma que independente do estilo do comércio, a partir do momento em que uma empresa vende 1A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, marcou a forma como a humanidade encara sua relação com o planeta. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/co.aspx>. Acesso em 21 jul. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
mercadorias ou presta qualquer tipo de serviço a um consumidor final para o seu consumo, tanto pessoal como doméstico, a organização estará exercendo uma função de varejo. Sabe-se que o setor varejista está presente há muito tempo na história da humanidade. O ato de negociar mercadorias segue o ser humano desde muito tempo, que foi desde métodos primitivos de troca, evoluindo até o mercantilismo, o momento em que aconteceram os primeiros movimentos de trocas monetárias, chegando até as formas conhecidas no contexto atual, como dinheiro, cheques cartões de credito, entre outros (PRESTUPA, 2008).
Cardoso (2008), explana a despeito do papel que o varejo pode exercer afirmando que a posição em que ele está na cadeia de valor, entre a produção e o consumo, ele pode se manter atuando nas duas posições. Na primeira pode induzir seus fornecedores a mitigar seus problemas sociais e ambientais na sua cadeia de produção e na extração de produtos e no segundo, contribuir para a disseminação da cultura do consumo sustentável para as pessoas menos informadas, tanto na oferta de produtos quanto por meio de informações em seus pontos de vendas.
No Brasil, de acordo com Deloitte (2009), esse segmento é visto como crescente, diversificado, com concorrência acirrada e que já atravessou diversos momentos da economia, dentre eles, taxas de inflação elevadas e constante necessidade de mudança nas estratégias, visando não apenas a minimização de custos, mas também a sua extensão a níveis regionais, distribuindo filiais especializadas e aumentando a sua cadeia de grupos em um nível nacional. Parente (2009), evidencia que os arquétipos de consumo ligados às atividades varejistas têm impactado significativamente no meio ambiente, considerando que os níveis de consumo no mundo estão cada vez mais elevados.
Assim, impulsionar atitudes e práticas sustentáveis em conjunto com membros externos e internos facilita e coloca em evidência a autenticidade e a reputação no mercado, além de ainda aproximar a empresa com a comunidade local bem como a contribuição na criação de líderes que atuem como dirigentes e proporcionem maior visibilidade da empresa no julgamento das pessoas (ALIGLERI; ALIGRELI; KRUGLIANSKAS, 2009).
Para Mendes (2012, p. 44), “o varejo oferece serviços e vende produtos de outras empresas, assim esse modelo de negócio não era responsável pelas consequências da comercialização dos seus produtos, e muito menos pela preservação do meio ambiente”. Contudo, para que os varejistas consigam atuar de maneira responsável a cerca da sustentabilidade empresarial é necessário levar em consideração três importantes aspectos (UNEP, 2011, apud DELAI; TAKAHASHI, 2013): I) A gestão de seus próprios impactos em torno da sustentabilidade fazendo um planejamento e elaborando sistemas de gestão ambiental, visando à conservação de energia, água e até mesmo programas relacionados à reciclagem. II) Gerenciamento da sua cadeia de suprimentos para que se desenvolvam produtos com características sustentáveis, o incentivo para mecanismos de produção mais limpos e até mesmo o uso de preceitos sustentáveis para que se selecionem fornecedores. III) Reeducação dos clientes, por meio de ensinamentos sobre o que vem a ser o consumo sustentável e seus impactos no meio em que estão inseridos, o estimulo a aquisição de produtos sustentáveis bem como o uso e descarte devido de produtos, entre outros.
2. METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa quanto à abordagem e bibliográfica e exploratória quanto aos objetivos. Foram realizados levantamentos em diversos periódicos, dissertações, revistas, livros, como também artigos publicados em jornais e congressos visando ampliar o entendimento e propiciar uma visão mais clara a respeito das ações do varejo em relação à sustentabilidade. A pesquisa exploratória proporcionou um vasto
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
estudo em livros de marketing cujos temas estavam estreitamente relacionados com a sustentabilidade e com o comportamento do consumidor sustentável, visando maior entendimento do assunto.
O método dedutivo orientou o desenvolvimento de uma análise de forma mais abrangente, identificando as principais teorias relacionadas com a temática do desenvolvimento sustentável, varejo e consumo sustentável, para que se chegasse ao entendimento do varejo quanto às suas práticas sustentáveis e conseguir trazê-lo para a realidade da cidade de Aquidauana/MS.
A pesquisa qualitativa permitiu visualizar, compreender e fazer a interpretação, por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas com seis proprietários do varejo supermercadista, com uma duração média de aproximadamente vinte minutos com cada varejista, estes representando os maiores estabelecimentos da referida cidade, objetivando a busca de um maior entendimento sobre as práticas de sustentabilidade no varejo. O levantamento ocorreu em junho de 2016 e os estabelecimentos foram selecionados de acordo com a classificação ACNIELSEN (2004), que enquadra os supermercados de acordo com seu número de check-out, ou seja, os supermercados de porte pequeno e médio têm de 05 a 09 check-outs, foram analisados. Quanto ao tratamento dos dados, a análise se apoiou na técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), cujo consistiu em uma pré-análise em torno da leitura geral extraído por meio das entrevistas com proprietários do comércio varejista, conforme apresentada neste trabalho.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir das entrevistas junto aos proprietários dos principais supermercados varejistas da cidade de Aquidauana/MS quanto ao seu entendimento de consumo sustentável, constatou-se que eles consideram como uma questão ainda incipiente na visão do varejo, mas reconhecem a sua importância diante da atual conjuntura mundial, dado ao crescimento do consumo desenfreado que se evidencia nas últimas décadas, indo ao encontro do pensamento de Parente (2009). O referido autor destaca que os atuais hábitos de consumo ligados às atividades varejistas têm impactado significativamente no meio ambiente, considerando que os níveis de consumo no mundo estão cada vez mais elevados. Porém, os varejistas afirmaram que são totalmente dependentes das grandes indústrias e fornecedores, e que não há muito que se fazer por parte deles, pois o papel que eles exercem consiste apenas na distribuição, e que os fornecedores não transmitem informações necessárias para que eles possam disseminar essa mudança de hábitos junto aos consumidores.
Entretanto, Cardoso (2008), apresenta um posicionamento diferente quanto ao papel do varejo, esta entende que como o varejo está posicionado na cadeia de valor entre a produção e consumo, este pode se manter atuante nas duas posições respectivamente. Na primeira induzindo seus fornecedores a mitigar seus problemas sociais e ambientais na sua cadeia de produção e na extração de produtos e na segunda, contribuindo para a disseminação da cultura do consumo sustentável para as pessoas menos informadas, tanto com produtos, quanto por meio de informações em seus pontos de vendas. Os entrevistados também afirmaram que para tomarem alguma iniciativa neste sentido, eles precisam perceber alguma demanda proveniente dos seus consumidores.
Perguntados sobre a realização de algum tipo de pesquisa direcionada a seus consumidores visando investigar se houve alguma mudança nos seus hábitos de compras e se eles estão preocupados com assuntos relativos ao meio ambiente e sua proteção, todos os proprietários, de forma massiva, responderam que nunca fizeram nenhum tipo de indagação
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
para seus consumidores e que também nunca sofreram algum tipo de questionamento por parte deles a despeito de ações voluntárias ou práticas de proteção ambiental.
Outro questionamento para os proprietários consistiu em verificar o que eles pensavam sobre a comercialização de produtos sustentáveis em seus estabelecimentos. Assim, na visão deles, isso é algo positivo, porém é um investimento que pode haver um grande risco, porque esse tipo de produto possui um valor agregado e estes precisariam fazer um estudo mais amplo de mercado, descobrir o universo de consumidores que estariam dispostos a pagar por tais produtos e outro fator evidenciado quanto a essa restrição de comercializar esses produtos, é que os próprios varejistas precisariam verificar se seus concorrentes também adeririam a essa prática comercial, para assim analisarem se a ação foi absorvida satisfatoriamente pelos consumidores, para que então ajam de forma similar, e não percam mercado por não terem um segmento disposto a adquirir esses produtos.
Quanto às atitudes, ações e/ou práticas sustentáveis adotadas pelas empresas, os proprietários afirmaram que não há no momento nenhuma sendo executada, mas que já tomaram algumas iniciativas em relação à restrição quanto ao fornecimento das sacolas plásticas. Outra informação relevante consistiu na prática de alguns estabelecimentos comercializarem outros tipos sacolas, bem como também distribuírem sacolas retornáveis gratuitamente. Foi destacado por um dos entrevistados que além das ações discorridas acima, este já adotou uma estratégia temporária de realizar promoções para àqueles os consumidores que não fizessem o uso das sacolas plásticas. Contudo, cabe destacar que todos os varejistas foram unânimes em afirmar que esta ação se configurou muito mais como um modismo do que propriamente uma alteração nos hábitos dos consumidores. Segundo os varejistas, a cultura é um elemento muito marcante e presente e assim entende-se que levará um tempo considerável até que ela seja dissipada para que se possam construir novos hábitos de consumo. Por outro lado, ações de menor impacto foram verificadas, dos seis supermercados pesquisados, quatro varejistas disponibilizam suas embalagens para as cooperativas de reciclagem da região, o que demonstra claramente um sinal de comprometimento nessa questão, já que o varejo produz uma quantidade significativa de embalagens sem o correto destino final e que em diversas situações não são adequadamente reaproveitadas.
Por fim, as entrevistas permitiram afirmar que os principais varejistas da cidade de Aquidauana/MS até se sensibilizam com as questões relacionadas a sustentabilidade, bem como de seus respectivos impactos em toda a cadeia de valor e com as ações em prol da construção de uma cidade que respeite os novos ordenamentos mundiais. Entretanto, cabe destacar que as ações ainda são tímidas por parte dos supermercadistas, uma vez que prevalece o pensamento de que a função primordial do varejo consiste apenas na distribuição e comercialização de produtos, e que a variável preço ainda é vista como um atributo fortemente decisivo no momento das compras pelos seus consumidores, estes que, na visão dos supermercadistas, também não se configuram como agentes dispostos a pagar um preço premium por tais produtos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa objetivou identificar a percepção sobre a temática da sustentabilidade dos proprietários dos principais supermercados varejistas da cidade de Aquidauana/MS no ano de 2016. O estudo teve suas origens em uma inquietação no sentido de revelar se os varejistas planejam, atuam e executam suas respectivas ações visando ofertar aos consumidores uma gama de produtos com atributos ligados à sustentabilidade e também como pensam a este respeito.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O estudo apontou que ainda existem diversos desafios a serem ultrapassados no que
tange não apenas a cultura, em especial, mas também no que diz respeito à disponibilidade de produtos sustentáveis, pois verificou-se uma pequena variedade dos mesmos, não estando associados a nenhuma estratégia de divulgação e ou promoção, fato explicado pelo receio de investir nesse segmento. O estudo também permitiu constatar que os varejistas de Aquidauana/MS não detêm informações ligadas à inteligência de mercado, pois admitiram não realizar pesquisas referentes ao comportamento de compra de seus consumidores.
Cabe apontar que a pesquisa apresentou algumas limitações, dentre elas o tamanho da amostra, que foi pequena, pois considerou-se os quesitos do número de check out, conforme já descrito anteriormente. Tal realidade implica diretamente em não haver um ambiente ou espaço para que os varejistas possam discutir e debater mecanismos que propiciem não apenas estratégias para alavancar suas vendas, como também dialogar sobre novas oportunidades de mercado, aceitação de novos produtos e possíveis alterações de hábitos de consumo. Outra limitação relevante consistiu no pouco entendimento e esclarecimento por parte dos varejistas entrevistados quanto à temática de consumo sustentável.
Contudo, a contribuição da pesquisa consistiu em oportunizar uma reflexão aos supermercadistas trazendo à tona um assunto pouco explorado em suas decisões, bem como provocar algumas indagações quanto suas atitudes frente à questão do consumo sustentável e o que eles efetivamente podem fazer para que os consumidores se tornem cada vez mais responsáveis ambientalmente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALIGLERI, L. M. A adoção de ferramentas de gestão para a sustentabilidade e a sua relação com os princípios ecológicos nas empresas. 2011. 170 p. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde21062011.../LilianMaraAligleri.pdf Acesso em: 15 jun. 2016.
ACNIELSEN. Quinto estatuto anual de marcas próprias. São Paulo: Nielsen, 2004.
BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin. Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
BARDIN, L. Analise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BATTISTELLA, L. F.; VELTER, A. N.; GROHMANN, M. Z. Um estudo dos determinantes ao comportamento de compra pró-ambiental de professores universitários. Espacios. Vol. 33 (4) p. 4, 2012.Disponível em: http://www.revistaespacios.com/a12v33n04/12330404.html . Acesso em 17 jun. 2016.
BELINKY, A. Descobrindo o consumidor consciente. In: PARENTE, J.; GELMAN, J.H. J. (Coord.) Varejo e responsabilidade social: visão estratégica e práticas no Brasil. São Paulo: Bookman, 2006.
BUARQUE, S. C. Construindo o desenvolvimento local sustentável. 4. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
CARDOSO, Roberta. Varejo Sustentável. GV executivo. Vol. 7, n. 5, 2008/2009. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index. php/gvexecutivo/article/viewFile/34244/33052> . Acesso em: 18 Jul. 2016.
CORAL, Elisa. Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial. 2002. 282f. Tese (Doutorado em Engenharia da Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, 2002. Disponível.em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/82705/189235.pdf?seq. Acesso em 14 jul. 2016.
CRUZ, L. B.; PEDROSO, E.; MARTINET, A. Estratégias de desenvolvimento sustentável em grupos multinacionais: o estudo de dois casos franceses no setor de varejo. Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 1, n. 3, p. 58-78. 2007. Set. /Dec. Disponível em: https://revistargsa.org/rgsa/article/viewFile/32/2. Acesso em: 18 jul. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
DELAI, I; TAKAHASHI, S. Corporate sustainability in emerging markets: insights from the practices reported by the Brazilian retailers. Journal of Cleaner Production, v. 47, p. 211-221, 2013.Diponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612006853. Acesso em 18 jul.2016.
DELOITTE. Análise Setorial: o varejo no novo cenário econômico. Disponível em: http://www.deloitte.com.br/publicacoes/2007/AnaliseSetorialVarejo.pdf. Acesso em: 18 Jul. 2016.
DIAS, S. R. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva 2003.
ELKINGTON, J. Canibais com garfo e faca. São Paulo: Makroon Books, 2001.
HYPENESS INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA TODOS. Start-up alemã inaugura o primeiro supermercado sem embalagens descartáveis no mundo. Disponível em: http://www.hypeness.com.br/2014/06/uma-start-up-alema-inaugura-o-primeiro-supermercado-sem-embalagens-descartaveis-no-mundo/ Acesso em: 27 jul. 2016.
______________________________. Supermercado sustentável no Distrito Federal cria alternativas para reduzir o impacto no meio-ambiente. Disponível em : http://www.hypeness.com.br/2014/09/supermercado-cria-loja-sustentavel-e-pode-estabelecer-tendencia/. Acesso em 27 jul. 2016.
LEITE, P. R. Canais de distribuição reversos: fatores de influência sobre as quantidades recicladas de materiais. In: III SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS – SIMPOI, 4, 2000, São Paulo/SP. Anais... [DVD]. São Paulo: FGV-EAESP, SIMPOI. Disponível em: http://meusite.mackenzie.com.br/leitepr.pdf. Acesso em 17 jul. 2016.
MENDES, Flávia, e YANAZE, Mitsuru. Sustentabilidade no Varejo: as práticas ambientais e suas implicações na consolidação da marca institucional. In GOTTLIEB, Liana. Comunicação em Cena Volume I. Organizador. 1 ed.. São Paulo: Scortecci, 2012. P. 49-66. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-01082012-10371. php. Acesso em: 21 jul. 2016.
MICHAELIS, L. Sustainable consumption and production. In: DODDS, F.; MIDDLETON,T.Earth Summit 2002: a new deal.Earthscan Publications Ltd. 2000.
PARENTE, Juracy; GELMAN, Jacques; CARDOSO Roberta (Coords).Fórum de Varejo e Consumo Sustentável: experiências, debates e desafios. Fundação Getúlio Vargas, GVcev – Centro de Excelência em Varejo da FGV-EAESP. São Paulo: FGV, 2009.
PEATTIE, K. Toward sustainable organizations for the 21st century. 21st Century Management: A Reference Handbook. SAGE Publications. 2007.
PINHEIRO, L.R.D. Estudo sobre o comportamento do consumidor verde frente à questão ambiental. São Caetano do Sul, USCS, 2009.Tese (Mestrando em Administração) Universidade Municipal de São Caetano do Sul, SP, 2009.Disponível em : www.uscs.edu.br/posstricto/administracao/dissertacoes/2009/pdf/luciane_ribeiro.PDF. Acesso em: 19 jul. 2016
PRESTUPA, Adriana Nunes Lacerda. Análise da Gestão Socioambiental: Estudo de caso no varejo supermercadista. Dissertação. Faculdade Novos Horizonte, Mestrado Acadêmico em Administração. Belo Horizonte, 2008. Disponível em: http://www.unihorizontes.br/banco_dissertacoes/150620091725507833.pdf. Acesso em: 19 jul.2016.
ROSENBLOOM, B. Canais de marketing - uma visão gerencial. São Paulo: Atlas, 2002.
SACHS, I. Rumo à ecossocioeconomia: Teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.
SOUZA, M.T.S.; RIBEIRO, H.C.M. Sustentabilidade ambiental: uma meta-análise da produção brasileira em periódicos de administração. Revista de Administração Contemporânea, v. 17, n. 3, 2013.Disponível em: www.scielo.br/pdf/rac/v17n3/a07v17n3.pdf. Acesso em: 20 jul. de 2016
TAYLOR, B. Encouraging industry to assess and implement cleaner production measures. Journal of Cleaner Production, 14, 2006, p. 601-609.Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652605001782. Acesso em: 24 jun.2016
UNEP. Auxiliar de produção eficiente e limpa. 2011. Disponível em: http://www.unep.org/resourceefficiency/ Acesso em: 29 jun. 2016.
WCED – World Commission on Environment and Development.Report our common future. Genebra, 1987. Disponível em: <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.>. Acesso em: 21 jun 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
As diversas faces dos sistemas agroalimentares
Estevan Felipe Pizarro Muñoz1e Paulo André Niederle
2
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, [email protected] 2 Professor do Departamento de Sociologia e dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) e em
Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Resumo. A relação produção-consumo ganha cada vez mais complexidade no seu atual período pós-fordista
nos mais diversos setores econômicos. A partir da dinâmica de reestruturação produtiva desse período, as
empresas especializam-se na diferenciação de seus produtos e serviços, assim como os consumidores assumem
cada vez mais um papel de protagonismo na definição dos valores percebidos para a tomada de decisão sobre o
que consumir. Tais transformações também se expressam nos alimentos. Tendo esse debate como pano de
fundo, o presente artigo analisa as principais correntes que tratam dos sistemas agroalimentares, elencando
seus marcos analíticos: Economia Industrial, Economia Institucional e Economia Política. Observa-se uma
diversidade de interpretações para um mesmo fenômeno, o que representam as heterogeneidades das realidades
dos diversos sistemas agrários existentes.
Palavras-chave. sistemas agroalimentares;economia industrial; economia institucional; economia política.
The many faces of agrifood systems
Abstract. The production-consumption relationship is becoming increasingly complex in its current post-
Fordism period in various economic sectors. From the productive restructuring dynamics of this period,
companies are specializing in the differentiation of their products and services, and consumers are increasingly
taking a leading role in defining the values perceived for decision making about what to consume. These
changes also express with the food. Having this debate as a backdrop, this article analyzes the main currents
dealing with agrifood systems, listing their analytical frameworks: Industrial Economics, Institutional
Economics and Political Economy. There has been a diversity of interpretations of the same phenomenon, which
represent the heterogeneities of the realities of the various existing farming systems.
Keywords. agrifood systems; industrial economy; institutional economics; political economy.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
1. Introdução
A relação produção-consumo ganha cada vez mais complexidade no seu atual período pós-fordista nos mais diversos setores econômicos. A partir da dinâmica de reestruturação produtiva, as empresas especializam-se na diferenciação de seus produtos e serviços, assim como os consumidores assumem cada vez mais um papel de protagonismo na definição dos valores percebidos para a tomada de decisão sobre o que consumir.
Tais transformações também se expressam nos alimentos. Inúmeras inovações ocorrem nas esferas de produção, processamento, distribuição e consumo, representando o debate dos sistemas agroalimentares.
Entretanto, a compreensão desse fenômeno ocorre de maneira diversa e, por vezes contraditória, pelas distintas lentes da ciência. Nesse contexto, o presente artigo objetiva analisar as principais correntes que tratam dos sistemas agroalimentares. O trabalho está organizado em duas seções, além desta introdução. Na seção dois, analisam-se os sistemas agroalimentares a partir de três matrizes teóricas: Economia Industrial, Economia Institucional e Economia Política. Na última seção são apresentadas algumas considerações finais.
2. Diferentes leituras dos sistemas agroalimentares
A maneira como os alimentos se movimentam desde os produtores rurais até os consumidores finais mudou radicalmente desde a Revolução Industrial, no final do século XVIII, acompanhando as profundas transformações das economias dos países até o capitalismo global dos dias atuais.
De acordo com Bosch Iribarren (1981, p. 1):
A partir de este momento, la industrializacion es la que va marcar las pautas del desarrollo econômico, pasando la agricultura paulatinamente, a um segundo plano de importância, pero jugando un papel fundamental, pues le ha aportado manos de obra, capital y alimentos y le ha comprado muchos produtos industriales.
Desde esse período, as transformações demográficas originadas pelo esvaziamento do campo e a constituição dos centros urbanos industrializados, associados aos enormes avanços da ciência e tecnologia que transformaram os processos industriais, exigiram da agricultura uma estruturação que permitisse o abastecimento das necessidades alimentares da população crescente. Tal fenômeno ocorreu, guardadas as devidas especificidades, em todo o globo.
Desse modo, formataram-se diversas leituras sobre esse fenômeno, sendo uma delas a perspectiva dos Sistemas Agroalimentares, que reflete sobre os processos integrados de produção, processamento, distribuição e consumo, que será utilizada no presente trabalho.
Para se analisar a ideia dos Sistemas Agroalimentares, utilizar-se-á a leitura proposta por três correntes principais da literatura, classificadas, grosso modo, da seguinte maneira: Economia Industrial, Economia Institucional e Economia Política1.
1 Destaca-se que esta classificação é utilizada para facilitar uma abordagem analítica.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Na perspectiva da Economia Industrial, encontra-se uma abordagem associada com a literatura organizacional que envolvem, principalmente, as escolas de administração, economia e engenharias, tal como a ‘Supply Chain Management’, que também se expressam (com diferenças) no debate de Global Commodity Chain, Global Commodity Value’e Filiére (GEREFFI, 2001).
Gereffi (2001) identifica quatro dimensões que devem ser analisadas na ‘Commodity Chain’: 1. Estrutura entrada-saída (o processo de transformação de matérias primas em produto acabado); 2. A territorialidade (ou escopo geográfico); 3. A estrutura de governança; e 4. O contexto institucional.
Para esta corrente, os Sistemas Agroalimentares são representados pela governança competitiva dos agentes econômicos das cadeias produtivas que estão envolvidos no processo de produção, processamento, distribuição e consumo de massas, por meio de análises setoriais. Neste aspecto, a lógica do agribusiness se insere de forma adequada.
Inicialmente circunscritos a uma dimensão espacialmente local e temporalmente imediata, os alimentos transformaram-se em commodities que circulam globalmente e transcenderam a perecibilidade tornando-se bens de consumos duráveis, segundo Friedmann (2000), mediante os processamentos agroindustriais coordenados por empresas multinacionais.
Bosch Iribarren (1981) comenta que as características desse mercado se incluem no que a teoria econômica neoclássica classifica como Concorrência Monopolística para os produtos agroindustriais e de Oligopolista para as cadeias produtivas.
A leitura da Economia Industrial possui como pano de fundo a liberalização comercial dos países capitalistas (ideário neoliberal), o papel-chave de empresas transnacionais líderes que coordenam o processo e a baixa importância do Estado como ente regulador, dado o processo de internacionalização da produção e que se torna cada vez mais integrada em sistemas globais coordenados que podem ser caracterizados como produtor-coordenador e comprador-coordenador das cadeias de commodities (WILKINSON, 2008; GEREFFI, 2001; BAIR, 2005).
De acordo com Wilkinson (2008, p. 155):
[...] essa onda de transnacionalização proporciona uma transformação do ambiente concorrencial, que leva a maiores níveis de eficiência e a pressões tanto sobre custos quanto sobre um maior ritmo de inovações e modernização tecnológica.
A maior expressão desse processo, segundo Wilkinson (2008), está no chamado fenômeno da ‘supermercadização’, representado pelos super e hipermercados, que revolucionaram as vendas do varejo e, não apenas dominaram a etapa da distribuição de alimentos (especialmente dos processados), como se consolidaram como segmento de maior Valor Agregado da cadeia produtiva.
Na perspectiva da segunda corrente de interpretações dos Sistemas Agroalimentares adotada no presente trabalho, destaca-se a Economia Institucional, onde uma série de abordagens buscam ressaltar a complexidade contemporânea do rural, suas relações sociais, bem como suas formas distintas de organização econômica que buscam escapar ao controle direto do capital, contando diretamente com o apoio dos arranjos estatais e as organizações da sociedade civil.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Nesse aspecto, associados principalmente com uma literatura da sociologia, antropologia e geografia, esse debate destaca mais os aspectos simbólicos e imateriais do enraizamento de territórios, autenticidade e as singularidades dos alimentos. Aqui se encaixam, dentre outras, a teoria dos Sistemas Alimentares Localizados (SIAL), Redes Sócio-Técnicas, Teoria Ator-Rede e as Redes Alimentares Alternativas.
Essas abordagens criticam o estruturalismo exacerbado das perspectivas associadas à Economia Política, em especial do Sistema-Mundo, bem como a perspectiva produtivista associada à Economia Industrial, que se preocupa centralmente com a competitividade dos arranjos empresariais voltados à produção e consumo de massas. Murdoch et. Al. (2000), afirmam que essas abordagens não são capazes de compreender as especificidades da produção local e os aspectos que valorizam a qualidade e a segurança do alimento.
Com leituras diferenciadas, essas teorias possuem uma perspectiva pós-fordista e centralmente buscam destacar o papel de agência dos atores sociais (produtores e consumidores) para a diferenciação dos alimentos produzidos e comercializados em nichos de mercado, associados ao enraizamento de seus territórios, cultura, identidade, reciprocidade, bem como na construção social dos padrões de qualidade e dos mercados que buscam ser legitimados (MURDOCH et. Al, 2000; PONTE e GIBBON, 2005; MARDSEN et. Al., 2000).
Tal debate vai ao encontro do que Goodman (2002) denomina de ‘Quality Turn’, em que a questão agroalimentar se relocaliza e caminha em direção à qualidade como um valor associada na confiança, na tradição local e novas formas de organização econômica. Esse debate também se expressa na ideia de McMichael (2016) na dualidade de ‘comida de nenhum lugar’ versus ‘comida de algum lugar’.
Atualmente verifica-se uma crescente tendência de produções diferenciadas que levem em consideração as características expressas pelo ‘Quality Turn’, que se apresentam nas mais diversas formas como produtos artesanais, tradicionais, caseiros, coloniais, orgânicos, agroecológicos, solidários, com indicação geográfica, sustentáveis, religiosos, sem transgênicos, Fair trade, Slow Food etc.
De forma concomitante às transformações nas cadeias de produção alternativas, importantes alterações vem ocorrendo na esfera do consumo onde a relação passiva do consumidor do período fordista, passa para um posicionamento pró-ativo na busca de produtos e serviços além da variável preço. Questões como denominação de origem, segurança alimentar e nutricional, impactos sociais e ecológicos e outras, passam a ser valorizadas no processo de tomada de decisão sobre o que consumir.
Desse modo, é possível vislumbrar importantes transformações na dinâmica tanto de produtores, quanto consumidores de alimentos, que conformam redes agroalimentares alternativas que podem ser conceituadas como “comunidades de práticas reflexivas” onde se buscam criar novos espaços simbólicos e materiais em relação aos alimentos e à construção de mercados (CASSOL e SCHNEIDER, 2015).
Por fim, a terceira leitura desse debate adotada no presente trabalho se insere na perspectiva da Economia Política, que observa as transformações do capitalismo e analisa de forma crítica os impactos nos Sistemas Agroalimentares, se destacando a teoria do Sistema-Mundo e as abordagens marxistas (WALERSTEIN, 1979).
Nesse sentido, Friedman e McMichael (1989) utilizam o conceito de ‘Regimes Alimentares’ para traçar um quadro geral de referência histórica das transformações do capitalismo, entendida a partir da perspectiva da alimentação.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Os autores classificam três Regimes Alimentares: 1. O chamado primeiro regime alimentar, constituído no período final da hegemonia britânica (1870 - 1914); 2. O segundo regime alimentar, correspondendo ao período “fordista” centrado na hegemonia americana no pós - II Grande Guerra (1947 - 1973); 3. O terceiro regime alimentar que ocorre a partir de 1980 com característica liberal produtivista e corporativa, também compreendida na literatura como pós-fordista.
Ramos e Junior (2001, pág. 1), destacam que:
O conceito de Regime Alimentar proposto por Friedman e McMichael (1989) com base na teoria regulacionista procura ressaltar as relações sistêmicas entre as dietas alimentares e os fenômenos econômicos e políticos no nível global, que resultaram na formação dos Estados Nacionais do século XIX e na expansão mundial das relações capitalistas, com a consequente construção de um sistema agroalimentar mundial.
Vale destacar que a abordagem dos Regimes Alimentares sofreu inúmeras críticas. Embora tenha caído em desuso a partir do avanço das estratégias de diferenciação dos alimentos, especialmente na distribuição varejista, atualmente há a retomada de seus referenciais analíticos diante do momento atual da globalização financeira, da commoditização dos alimentos e das críticas das teorias muito focadas no localismo.
Desse modo, Friedman e McMichael (1989) apontam que vivemos no 3º. Regime Alimentar, no qual o processo de produção e consumo de alimentos está amplamente integrado aos Complexos Agroindustriais coordenados por empresas multinacionais globalizadas pertencentes ao capital financeiro.
Nesse sentido, Cabeza (2010, p.2) afirma que:
En esta etapa, los procesos de producción, distribuicción y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales; de modo que las formas de gestión de las organizaciones empresariales que modulan la dinâmica del sector contemplan ahora al acceso, tanto a los recursos como a los mercados, a escala mundial (global).
Tal debate se insere no que Harvey (1993) denomina de ‘Regime de Acumulação Flexível´, no qual ocorre o processo de transição do fordismo para o pós-fordismo, que está inserido no fenômeno de reestruturação produtiva que trata sobre as transformações no sistema produtivo capitalista mediante as inovações da ciência e tecnologia, seja na área de produção, seja na área de gestão (BONAMO, 1999; CABEZA, 2010).
Por conta de suas características de fragmentação dos processos produtivos, boa parte das atividades econômicas rentáveis, incluído aqui os Sistemas Agroalimentares, são coordenados pelo que Ploeg (2008) denomina de Impérios Alimentares e sua dinâmica de ‘acumulação por espoliação’ (HARVEY, 2013).
Para o avanço desses Impérios Alimentares, Cabeza (2010) argumenta que as principais estratégias utilizadas pelas grandes corporações transnacionais são: a financeirização do sistema agroalimentar; o controle das regras do jogo alimentar; a utilização de novas tecnologias; e a utilização do espaço e do tempo.
Estas são, portanto, as principais leituras dos sistemas agroalimentares proporcionados pela Economia Industrial, Economia Institucional e Economia Política. Observa-se uma
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS diversidade de interpretações para um mesmo fenômeno, o que representam as heterogeneidades das realidades dos diversos sistemas agrários2 existentes.
3. Considerações Finais
Por meio de uma breve análise das principais correntes teóricas que analisam os sistemas agroalimentares – economia industrial, economia institucional e economia política -, foram elencadas seus marcos analíticos para a compreensão do complexo fenômeno que envolve da produção ao consumo de alimentos.
Para a corrente da Economia Industrial, a comercialização global de alimentos e commodities, representam os significativos avanços dos processos produtivos, logísticos e de gestão, amparada pelo prisma da competitividade. Nessa perspectiva, as grandes empresas são os players centrais, enquanto o Estado possui pouca importância.
Para a corrente da Economia Institucional, a produção e o consumo massificados pelas grandes corporações não dão conta de compreender as especificidades dos consumidores no período pós-fordista e não levam em consideração as relações sociais estabelecidas no território pelos atores sociais. Nessa perspectiva, o papel de agência dos atores sociais, as experiências localizadas amparadas pelo Estado e organizações da sociedade civil são centrais.
Para a corrente da Economia Política, a evolução dos sistemas agroalimentares está fortemente submetida à lógica do capitalismo contemporâneo e, portanto, sujeito às suas contradições. Desta forma, o alimento se transforma em mercadoria e a estruturação das cadeias produtivas globais tem como objetivo a busca de crescimento e acumulação infinita de capital das grandes empresas independentemente dos custos sociais e ecológicos. Nessa perspectiva, o Estado necessita assumir o papel de regulação dos sistemas agroalimentares.
Diante das heterogeneidades dos sistemas agrários, a compreensão dos Sistemas Agroalimentares de forma crítica a partir das três correntes propostas – Economia Industrial, Economia Institucional e Economia Política, quando associadas à questão agrária e à questão ambiental, pode encontrar na agroecologia uma alternativa de reestruturação parcial da complexa relação de produção & consumo contemporâneo, levando-se em consideração a realidade da pequena agricultura. São agendas de pesquisas interessantes que se colocam para a temática.
Referências Bibliográficas
BAIR, J. From commodity chains to value chains and back again? Yale University, 2005.
BONANO, A. A globalização da economia e da sociedade: fordismo e pós-fordismo no setor agroalimentar. In: CAVALCANTI, J. S. B. (Org.) Globalização, Trabalho, Meio Ambiente. Recife: UFPE, 1999.
2 Mazoyer (2010) aponta um importante instrumento analítico para se compreender o fenômeno da agricultura no mundo com a definição de “sistemas agrários” que permite identificar a ocorrência de vários tipos de agricultura, cada qual com sua complexidade, transformações históricas e diferenciação geográfica. Ou seja, um sistema agrário é a classificação arbitrária de uma modalidade de fazer agricultura de acordo com os fatores apresentados.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS BOSCH IRIBARREN, J. Introducción al sistema agroalimentario. In: 1ª Semana de las merindades, 23-29 junio, 1981. Pamplona, pp. 151-153. Disponível em: <http://hedatuz.euskomedia.org/8256/> Acesso em 22 de jun. de 2016.
CABEZA, M. D. El sistema agroalimentario globalizado: impérios alimentarios y degradación social y ecologica. Revista de Economía Crítica, nº10, segundo semestre 2010.
CASSOL, A. SCHNEIDER, S. Produção e consume de alimentos: novas redes e atores. Lua nova, v. 5, p. 143-177, 2015.
DAROLT, M. R. Conexão ecológica: novas relações entre agricultores e consumidores. Londrina: IAPAR, 2012.
FRIEDMANN, H. Uma economia mundial de alimentos sustentável. In: BELIK, W.; MALUF, R. Abastecimento e segurança alimentar: os limites da liberalização. Campinas: Unicamp, 2000. pp. 1-21.
FRIEDMANN, H.; McMICHAEL, P. Agriculture and the State system: the rise and decline of national agricultures, 1870 to the Present. Sociologica Ruralis, v. 29, n. 2, p. 93-117, 1989.
GEREFFI, G. et al. Introduction: Globalisation, Value Chains, and Development. IDS Bulletin v. 32, n. 3, p. 1-8, 2001.
HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2007.
HARVEY, D. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.
MARSDEN, T.; BANKS, J.; BRISTOW, G. Food supply chain approaches: exploring their role in rural development. Sociologia Ruralis, v. 40, n. 4, 2000.
MAZOYER, Marcel. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
McMICHAEL, P. Food Regime for Thought. Coloquium Global governance/politics, climate justice & agrarian/social justice:linkages and challenges. ISS, 2016.
MURDOCH J.; MARSDEN T.; BANKS J. Quality, nature, and embeddedness: some theoreticalconsiderations in thecontextofthefood sector. EconomicGeography, v. 76, n. 2, p.107-125, 2000.
PLOEG, J. D. Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
PONTE, S.; GIBBON, P. Quality standards, conventionsandthegovernanceof global valuechains. EconomyandSociety, v. 34, n. 1, p. 1-31, 2005.
RAMOS, P.; JÚNIOR, A. O. S. O açúcar e as transformações nos regimes alimentares. Cadernos de debate, Núcleo de estudos e pesquisas em alimentação, UNICAMP, vol. VIII, 2001, pp. 36-54.
WALLERSTEIN, I. El Modierno Sistema Mundial. México: Siglo Veintiuno, 1979.
WILKINSON, J. Mercados, redes e valores. Porto Alegre: UFRGS, 2008.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Desdobramentos da Questão Ambiental no Agronegócio: A Relação
Sociedade/Natureza Em Discussão
Filipe Mello Dorneles1, Arthur Fernandes Bettencourt2, Marielen Aline Costa da Silva3
1 Pós-graduando em Especialização em Agronegócio, Unipampa, [email protected] 2 Graduando em Zootecnia, Bolsista PET Agronegócio, Unipampa 3 Doutoranda em Agronegócio, UFRGS
Resumo. As profundas mudanças nas várias dimensões da vida social e econômica, juntamente com o despertar
das preocupações com a questão ambiental repercutiram diretamente na compreensão moderna da relação
sociedade/natureza, em que considera o homem e a natureza ocupando polos opostos. Neste sentido, frente à
emergência do debate que acerca a relação homem natureza, emergem pautas sobre o processo de
desenvolvimento e crescimento econômico das nações no âmbito da sustentabilidade. O presente artigo objetiva
analisar os desdobramentos acerca da questão ambiental no âmbito do agronegócio, a partir da discussão da
relação sociedade/natureza. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica. Observou-se a partir da
construção histórica da relação sociedade/natureza que problemas ambientais produziram uma série de
mudanças, seja na sociedade civil que, ainda timidamente está sensível a problemática ecológica, seja no
Estado e no mercado com suas estratégias. Consideramos que muitos foram os avanços e desafiadores são os
limites permeiam as discussões e as práticas do meio ambiente. Ademais, é possível concluir uma modificação
no modo de se produzir no setor do agronegócio a partir do momento em que a sustentabilidade é percebida
como uma ação de entrada nos mercados internacionais e uma estratégia de competitividade.
Palavras-chave. Ambiental, Sociedade/Natureza, Agronegócio
Splits Environmental Issues in Agribusiness: The Relationship Company /
Nature In Discussion
Abstract. The profound changes in the various dimensions of social and economic life, along with the
awakening of concerns about the environmental issue reverberated directly in the modern understanding of the
society/ nature that considers man and nature occupying opposite poles. In this sense, opposite the emergence of
the debate about the relationship with nature, emerge guidelines on the development and economic growth of
nations in the area of sustainability. This article aims to analyze the developments regarding the environmental
issue in the agribusiness, from the discussion of the society / nature. It was adopted as the methodology
literature. It was observed from the historic building of the society / nature that environmental problems have
produced a number of changes, whether in civil society, timidly is sensitive to ecological issues, and is in the
state and the market with their strategies. We believe that there have been many advances and challenging the
limits permeate discussions and environmental practices. Moreover, it is possible to conclude a change in
producing mode in the agribusiness sector from the moment that sustainability is perceived as an entry action in
international markets and a competitiveness strategy.
Keywords. Environmental, Society/Nature, Agribusiness
Introdução
Desde antes das décadas de 1960 e 1970, muitos eram os questionamentos levantados nas discussões a respeito da problemática ambiental, seja no que se refere às diversas concepções de natureza, seja no relacionamento que as sociedades estabelecem com a mesma, seja ainda nas relações entre homens, homens e a produção e apropriação desigual do tempo e do espaço. Todavia, essas indagações acerca da sobrecarga imposta pela sociedade industrial ao ambiente limitavam-se a um debate e medidas mitigantes em escala local. O autor Jacobi
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS (2003) destaca que a partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em Tsibilisi (EUA), em 1977, iniciou-se um amplo processo em nível global orientado para criar as condições que formem uma nova consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a produção de conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade. Já na segunda metade do século XX emerge um contexto efetivamente diverso, em que a ciência e a tecnologia se aperfeiçoam em velocidade acelerada e intensa, com um poder de transformação da natureza nunca antes registrado na história humana, assistimos à produção das implicações sócio ambientais, mas também a sensibilização de grupos sociais, políticos e agentes econômicos para a questão da insustentabilidade ambiental frente a reprodução da sociedade industrial em nível global. Enfatiza-se que por longos anos o homem usou descontroladamente os recursos que a natureza ofereceu, sem nenhuma preocupação com o futuro. Entretanto, a partir do momento em que começou a ser questionada a permanência desses recursos, vários conceitos surgiram em prol do meio ambiente e sua sustentabilidade por intermédio da renovação natural. No momento isso só será possível se o próprio ser que o utiliza souber fazê-lo, preservando, renovando, incentivando e buscando meios de desenvolver sustentabilidade contínua. (SANTOS; VALENÇA, 2011)
Ainda assim, com a grande expansão da indústria e da produção de alimentos para atender uma demanda, principalmente uma economia em desenfreado crescimento, surgiu a urgência de se colocar uma direção para o desenvolvimento, antes figurando-se em progresso, onde não se incluía questões sociais, culturais, políticas e principalmente, ambientais. Em conferência realizada pela ONU, em 1972 na Suécia, abordou-se a necessidade de incentivar a preservação e a melhoria do ambiente humano. E, em 1987, na Comissão Brundtland, que o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado, sendo um marco a mais na história do movimento ambientalista e colocando em pauta outra vez mais a importância de ser responsável com as ações na produção como um todo. (ONU, s/d)
A partir do momento em que um caminho para as atividades produtivas e industriais receberam um norte, o qual trazia as questões ambientais como base, as discussões sobre um desenvolvimento sustentável ganharam mais força. O setor do agronegócio pela dependência direta dos recursos naturais, se tornou um objeto de relevância dentro dos debates sobre sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental, pois, estas atividades não envolvem apenas operações econômicas. O presente artigo tem como objetivo analisar os desdobramentos acerca da questão ambiental no âmbito do agronegócio, a partir da discussão da relação sociedade/natureza.
Referencial Teórico
As próprias tecnologias criadas e/ou aperfeiçoadas a partir do século XX, como, por exemplo, os satélites, radares, sensores que produzem imagens do globo possibilitaram a visualização do planeta em sua totalidade, o que permitiu ampliar a noção acerca da ação do homem na modificação da superfície terrestre. Dessa forma, tanto os problemas quanto os questionamentos ambientais assumem e se mostram numa escala global, não sendo mais discussões enclaves, mas pautas obrigatórias nos debates sobre desenvolvimento socioeconômico e espacial (BECKER, 2006).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS As profundas mudanças nas várias dimensões da vida social e econômica, juntamente com o despertar das preocupações com a questão ambiental repercutiram diretamente na compreensão moderna da relação sociedade/natureza, em que considera o homem e a natureza ocupando polos opostos, na qual o meio natural é um objeto de fonte inesgotável que está a serviço e a disposição do homem.
De acordo com Gonçalves (2010), a separação sociedade/natureza está presente no pensamento ocidental desde o período clássico, desenvolvidos por filósofos gregos e romanos e, prosseguiu ao longo da história, em que cada novo contexto de profundas transformações na vida social, se tornavam mais perceptíveis os distanciamentos entre o homem e o meio natural. Contudo, foi nos séculos XVII e XVIII que essa oposição homem e natureza se apresenta de forma completa, pois a filosofia cartesiana fundamenta o fato da natureza como objeto, como recurso e consolida o papel do homem, como sujeito competente para dominar e usufruir ilimitadamente o objeto.
Na atual fase do capitalismo, a produção do espaço geográfico tem sua condição econômica alterada, não sendo apenas valor de uso, mas também valor de troca. A dinâmica de mercado se estabelece no próprio espaço, onde o seu valor é atribuído pela disposição de recursos naturais e artificiais capazes de serem tomadas como vantagens comparativas pelos agentes capitalizados, capazes ainda de se tornarem mercadorias altamente rentáveis para o capital, que passa a incutir valor em algo extremamente complicado de ser quantificar, por exemplo, qual o valor em dinheiro de um ar de qualidade? Assim, “o espaço modificado é um dos produtos desses processos e podemos afirmar que toda diferenciação social precede e predetermina toda diferenciação ecológica” (BERNARDES; FERREIRA, 2009, p. 25).
Neste sentido, frente à emergência do debate acerca da relação homem/natureza emergem pautas sobre o processo de desenvolvimento e crescimento econômico das nações no âmbito da sustentabilidade. Esta preocupação revela o quão importante se faz discutir a responsabilidade do homem pela natureza, tendo que levar consigo a consciência de que todo desenvolvimento deve ser norteado pelas questões sociais e ambientais, além de econômicas. É notável a consolidação do agronegócio e reconhecível a importância do setor, que segundo Silva (2012), tem grande importância na economia brasileira e mundial, principalmente devido aos vários agentes envolvidos no sistema, que faz com que haja uma sequência de atividades, geradoras de riqueza entre os elos da cadeia. De acordo com o CEPEA, em 2011 o PIB do agronegócio teve participação de 22,74% no total do PIB brasileiro. No entanto, em vista do seu crescimento, exalta-se os desafios que acompanham o agronegócio, como a necessidade de tornar-se, cada vez mais, uma atividade sustentável.
Logo, o mercado mundial tem requerido que cada vez mais se certifique os produtos, para saber se a origem destes foi dada a partir de uma produção que atenda critérios ambientais, impostos pelas barreiras de comercialização internacional. Países como o Brasil, que exportam muitas commodities, principalmente para países desenvolvidos, são impulsionados a agir em harmonia com a natureza.
Segundo Assad et. al. (2012), o agronegócio tem grande participação na economia do Brasil e o potencial do crescimento da produção é evidenciado por uma série de fatores, porém, por outro lado, os desafios socioambientais entram em cena na busca de um equilíbrio entre o homem ‘produtor’ e natureza.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS De acordo com Silva (2012), uma das questões chave para o agronegócio é a problemática da sustentabilidade. A gestão deve focar na minimização dos impactos causados ao meio ambiente como, por exemplo, erosões e poluição do solo e água. Pois segundo Soglio e Kubo (2009), foi através do uso da terra e dos recursos naturais que o agronegócio tem se mantido entre as atividades mais lucrativas nos últimos anos e segue em franca expansão nesse novo milênio. Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, os movimentos sociais e ambientais começaram a unir forças, motivados tanto por um inimigo comum, o agronegócio, quanto por um objetivo convergente, a luta pela soberania alimentar. Para Cruvenil (2009), já estava claro que a sustentabilidade não deveria ser apenas ambiental, mas também social e, que antes de tudo é um princípio de solidariedade com as gerações futuras.
Neste sentido, Lopes e Contini (2012) destacam que os desafios no horizonte são enormes. Tecnologias mais eficientes serão necessárias para permitir o atendimento das necessidades básicas de alimentos para a sociedade brasileira, além da produção de excedentes exportáveis para o mundo, constituindo em oportunidade de negócios e responsabilidade social. Ao mesmo tempo, estas mesmas tecnologias deverão incorporar práticas para a preservação dos recursos naturais. Acrescente-se a esperada contribuição para o mais recente desafio do aquecimento global e seus potenciais efeitos sobre a produção agrícola.
Metodologia
Na busca de embasar os questionamentos a respeito do tema estudado, a sustentabilidade no agronegócio a partir dos desdobramentos da discussão acerca da relação sociedade/natureza, adotou-se como método a pesquisa bibliográfica, que segundo Rampazzo (2005, p. 53), procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas. A partir do método adotado foi possível revisar e analisar o desenvolvimento social e econômico do homem frente a produção e a necessidade de se inserir a sustentabilidade nos processos produtivos do agronegócio, ainda, com base nas referências foi possível compreender os desdobramentos que se deram quanto a questão ambiental no setor com significativo valor para o PIB brasileiro, tal compreensão com a finalidade de gerar estudos mais estruturados. Quanto à abordagem, o presente estudo caracterizou-se pela natureza qualitativa.
Resultados
As preocupações com os desdobramentos das questões ambientais no cotidiano dos homens e de suas atividades econômicas ficaram mais evidentes nos últimos dois séculos, com a explosão de escândalos ambientais, desastres naturais, entre outros, ganhando espaço para debate nas mais distintas áreas. De acordo com Lenzi (2005), embora a sociologia clássica reserve sua parcela de contribuição aos estudos da sociologia ambiental, seu intuito ao se debruçar sobre o tema era compreender os motivos que levaram as sociedades modernas a perseguirem meios (aperfeiçoamento técnico, científico e tecnológico) para se libertarem da dependência e/ou das pressões exercidas pela natureza, enquanto outras sociedades, chamadas de pré-modernas continuaram a mercê do meio natural, ou seja, “a questão ecológica básica para a teoria social clássica não foi a origem da degradação ambiental contemporânea” (LENZI, 2005, p. 36).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Entretanto, a forma como vinha sendo conduzida a relação sociedade e natureza no contexto das sociedades modernas ocidentais, na qual os conhecimentos acerca dos efeitos reais dessa relação passaram a ser discutidos em escala global, providenciaram um processo de conscientização sobre a questão ecológica, a partir das décadas de 1960 e 1970, em vários lugares no mundo. Assiste-se a emergência de formas de ação coletiva, como movimentos sociais, Organizações Não Governamentais (ONGs), associações e entre outras, na qual eram fundamentalmente portadores de um protesto, que alicerça o empreendimento coletivo e é por via deste que buscam conseguir mudanças de atitude no tocante ao tratamento dado à natureza. Segundo Gonçalves (2010) essas ações coletivas “não criticam exclusivamente o modo de produção, mas fundamentalmente, o modo de vida” adotado e difundido pelas sociedades ocidentais modernas. É também nesse momento histórico que Lenzi (2005) apresenta a proposta de Catton e Dunlap de criação de uma sociologia ambiental dedicada aos estudos das interações entre sociedade e meio natural.
Na década de 1980, surge o discurso da modernização ecológica, que tem a missão de imprimir algumas ponderações na mensagem e na postura adotada pelo movimento ambiental nos anos anteriores. Ainda Lenzi (2005) baseado em Hajer (1995), aponta que o movimento ambiental fora atingido por uma “ambiguidade de sentimentos”, pois se apresentavam duas grandes orientações contrastantes aos ambientalistas, uma relacionada aos “limites do crescimento” (MEADOWS, 1972) e a outra, oposta, que criticava a sociedade do consumo e desperdício, como também, a incerteza do conhecimento científico e tecnológico na resolução dos problemas ambientais. Essas leituras nortearam as novas estratégias mobilizadas pelo movimento ambientalista, que não mais confrontavam com o Estado, mas buscavam ser “menos radicas, mais práticos e mais orientados para a política” (HAJER, 1995, p. 93 apud LENZI, 2005, p. 55). Neste sentido, o discurso pregado pela modernização ecológica compreendia que a proteção ambiental não deveria ser tomada como uma barreira ao crescimento econômico, porém apreendida condição essencial para o desenvolvimento sustentável em todas as dimensões da vida social.
Gonçalves (2010) reconhece que as mudanças ocorridas nos últimos anos são dadas como significativos avanços no estabelecimento de outro olhar sobre as formas de conceber, usar e se apropriar da natureza, mas levanta alguns limites, problematizando a questão da condição social ecológica, pois uma vez que o movimento ambiental se posiciona em torno de um problema ecológico pode estar, indiretamente e não intencionalmente, beneficiando alguns atores sociais em detrimento de outros. Isto é, o movimento ecológico contribuiu para a geração de vários outros problemas sociais, que podem a vir produzir outros problemas ambientais.
Desde a implantação das lógicas produtivas taylorista e fordista, o homem produz muito mais do que necessariamente precisa para sobreviver. Na verdade, a economia capitalista do século XX, caracteriza-se pelo exagero e pelo desperdício, o incentivo ao aumento do consumo está atrelado a uma lógica sustentada pelo aperfeiçoamento ininterrupto da ciência e da tecnologia, induzida, principalmente, pelos sujeitos capitalizados na ânsia de maior acumulação de capital, transformando, a cada dia, o novo em velho para o consumo de um novo objeto, sem que o mesmo tenha cumprido o ciclo vital e sua total funcionalidade social a que próprio fabricante havia previsto, os analistas chamam essa prática de obsolescência programada e/ou psicológica, e é comprovadamente uma estratégia capitalista insustentável ambientalmente e socialmente.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS A obsolescência planejada está em limitar de maneira artificial a vida útil dos produtos, tendo a intenção de promover a substituição mais cedo do aconteceria quando houvesse uma obsolescência psicológica. Esta prática foge da consciência quanto a causa e consequências por parte de produtores e organizações, pois o descarte feito gerando um giro econômico, acaba impactando também em um desafio ecológico e ambiental por questões não resolvidas ou ainda, mal implementas, como a coleta seletiva.
A natureza talvez nunca tenha aguardado silenciosa a evidência desse total desequilíbrio produzido no cerne da relação predatória da sociedade com o meio natural, mas o próprio conhecimento científico e tecnológico, permitiu legitimar as implicações sócio ambientais do próprio uso inadequado e irracional da natureza e os riscos há muito minimizados pelas práticas cotidianas e pela sensação que talvez nada de muito grave possa estar ocorrendo, uma vez que, mascaradamente, não se perceba os reais efeitos desse desequilíbrio ao longo do dia-a-dia, principalmente, nas grandes cidades de ritmo frenético, e no campo, pela negligência em conhecer uma realidade que é dada como atrasada.
Para Soglio e Kubo (2009), alterações no comportamento dos agentes econômicos tem relação com o desenvolvimento sustentável, que como se sabe, tem em conta as novas formas de se considerar as relações dos homens com os recursos naturais. Arendt (1997) avança sua análise sobre a forma do relacionamento da sociedade com a natureza e da possível medida para buscar alternativas que tratem coerentemente da questão ambiental.
Segundo Guimarães (2006), a emergência da problemática da degradação dos recursos naturais e dos ecossistemas trouxe à tona as questões subjacentes, como os modelos de crescimento econômico e, atrelados a eles, a problemática socioambiental. O crescimento econômico ilimitado e o uso indiscriminado da natureza, vinculados com a velocidade e o poder com que avançam a ciência e a tecnologia, produziram implicações sócio espaciais negativas ao meio ambiente, consideradas de difícil reparação e até mesmo irreversíveis. Os desastres ambientais se tornaram mais evidentes e suas repercussões, assim como as respostas se apresentavam numa escala global. Estas problemáticas, instigaram o debate dos fatores que regem o crescimento econômico e desenvolvimento das nações sem ultrapassar limites imperceptíveis entre o homem e o meio ambiente.
Um caso muito famoso é relatado pela bióloga Rachel Carson, no livro “Primavera Silenciosa”, de 1962, na qual a autora ressalta os efeitos negativos da mecanização e do uso abusivo de agrotóxicos nas lavouras norte-americanas. Os pesticidas agiam tanto sobre as pragas quanto sobre as demais espécies benéficas ao meio ambiente cultivado, como também, contaminavam os alimentos e as pessoas que os consumiam, além de poluírem o solo e as águas superficiais e subterrâneas.
Silva (2012) salienta que transformações e impactos ocorridos no século XX, tornaram-se uma problemática para agronegócio, setor que possui intima relação com os recursos naturais. Giordano (2005) argumenta que as atividades agrícolas são reconhecidamente causadoras de problemas ao meio ambiente. Ainda, Silva expõe que, iniciativas que busquem uma produção agrícola de forma sustentável, são bem-vindas, para que sejam minimizados os problemas enfrentados pelos produtores, principalmente quanto à colocação dos produtos no mercado, seja por logística, custos ou escala. No caminho de se buscar atender uma demanda por alimentos cada vez mais bruta - onde inicialmente, produtores visavam produzir em alta
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS escala sem respeitar uma margem imposta pelo meio ambiente - extrapolando barreiras e imergindo na questão ecológica, surgiu um questionamento: como continuar a produzir sem degradar e comprometer o futuro? Para Cruvinel (2009, p. 11), “é necessário tratar de questões que estão associadas aos indivíduos e ao povo que habita as diferentes regiões do país, de forma a considerar o processo de uma geração de riqueza, as particularidades regionais e as especificidades dos Biomas e sua utilização”, expondo a ideia de que o desenvolvimento, em especial no âmbito do agronegócio, deve ser tratado não somente por uma ótica puramente econômica, mas também, devendo priorizar a integração de dimensões ambientais e sociais.
Neste sentido, as atividades do agronegócio, mais especificamente as voltadas diretamente a produção dentro da propriedade rural, passou a receber uma atenção maior quanto a sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental, pois, estas atividades não envolvem apenas operações econômicas, como esclarece Ehlers apud Silva (2012), dizendo que “não há dúvida de que a prática do cultivo da terra, ou agricultura, envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais que devem ser entendidos conjuntamente”.
Colocando-se uma lupa sobre a questão ambiental nas atividades do agronegócio, Canuto (2004) expõe as principais ações do homem sobre a natureza. Entre estas ações, o autor destaca que “imensas áreas de florestas e do cerrado estão sendo ilegalmente desmatadas, secando nascentes e mananciais, sugados pelo ralo das monoculturas, pastos de capim, carvoarias, mineradoras e madeireiras. Os agrotóxicos, despejados por aviões e tratores, estão contaminando solos, águas, ar e as plantações camponesas, causando doenças e mortes”. É neste contexto, que novas ações vem sendo desenvolvidas pelo setor como formas de mitigar ou evitar os impactos negativos do agronegócio sobre a natureza.
São perceptíveis as mudanças no sentido da busca da sustentabilidade nas atividades do agronegócio. Muitas destas transformações estão baseadas na necessidade de acessar mercados internacionais, cada vez mais exigentes, aprimorar estratégias de competitividade, garantir a plenitude dos recursos naturais – matéria prima para a produção agropecuária – e atender a demanda de um grupo de consumidores cada vez mais conscientes quanto a origem e procedência de produtos produzidos a partir dos três pilares da sustentabilidade (ambiental, social e econômico) e com justiça social. Todavia, os desafios ainda são enormes tanto no âmbito da implementação de leis e fiscalização ambientais mais eficientes, especialmente nas áreas rurais, conscientização de produtores e da sociedade civil na exigência de suas demandas.
Considerações finais
Conclui-se que as transformações ocorridas nos vários aspectos da vida social, na segunda metade do século XX, possibilitaram uma revisão das concepções, dos usos e apropriações da natureza pelas sociedades ocidentais modernas, o que levou a problematizar o lugar do homem, o lugar da natureza e o entendimento da sua totalidade. Permitiu ainda analisar o papel desempenhado pelas relações de poder, pela divisão do trabalho, pelo uso das técnicas e do conhecimento científico no tratamento de modificação do meio natural e as implicações socioambientais decorrentes de uma lógica contraditoriamente considerada racional de acumulação de bens e poder.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Entretanto, devemos avaliar que não só as sociedades ocidentais modernas têm a concepção que o homem é o sujeito competente para dominar a natureza e que os povos pré-modernos são aqueles que entendem e estabelecem harmonicamente uma relação com a natureza, é necessário compreender para além dessas dicotomias representativas, reconhecendo, respeitando e refletindo acerca das diversidades existentes ao longo da história e, também daquelas que coexistem nos dias de hoje. É necessário fazer a autocrítica e dialogar com as críticas alheias. Sem dúvida alguma, as formas de ação coletivas que se arranjaram em torno da questão ambiental produziram uma série de mudanças de atitude, seja na sociedade civil que, ainda timidamente está sensível a problemática ecológica, seja no Estado e no mercado com suas estratégias, consideramos que muitos foram os avanços e desafiadores são os limites que permeiam as discussões e as práticas do meio ambiente. Além do mais, é possível concluir uma modificação no modo de se produzir no setor do agronegócio a partir do momento em que a sustentabilidade foi percebida como uma ação urgente, buscando somar as atividades humanas com o meio ambiente em um conjunto harmônico. Atualmente, coletivos sociais e políticas governamentais buscam dar luz a medidas que mitiguem os impactos ambientais das operações agrícolas, com o cunho de sustentabilidade econômica, social e cultural à procura de um caminho promissor para a sociedade e seguro para a natureza, tal destino que não resgate ou fortaleça questões e problemáticas ambientais que há tanto se busca resolver.
E por fim, vale enfatizar que a sociedade e a natureza em busca de um aspecto sustentável, obteve ganhos nos últimos anos, ainda mais pelo contexto do desenvolvimento sustentável, onde se é possível analisar que com o tempo que passou e que vivemos hoje é notável a importância da melhoria de ambos. Fora que, o desenvolvimento sustentável se mostra como uma ferramenta essencial para a resolução de questões, oportunizando um futuro melhor. É importante ressaltar que ainda existe um grande caminho a ser seguido para alcançarmos melhores resultados sobre a questão ambiental e o agronegócio.
Referências Bibliográficas
ARENDT, H. A Condição Humana. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. ASSAD, E. D.; MARTINS, S. C.; PINTO, H. S. Sustentabilidade no Agronegócio Brasileiro. FBDS, 2012, p. 06 BECKER, B. Rede de Inovação da Biodiversidade da Amazônia: 2006. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2006. BELLEN, H. M. Indicadores de sustentabilidade - um levantamento dos principais sistemas de avaliação. Rio de Janeiro, Cadernos EBAPE.BR, 2004, vol.1, n.1. BERNARDES, J. A.; FERREIRA, F. P. M. Sociedade e Natureza. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Org.). A questão Ambiental: diferentes abordagens. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, p. 17-41. CANUTO, A. Agronegócio – exclusão pela produtividade. In: CNBB. Mutirão por um novo Brasil: temas em debate. Brasília: CNBB, 2004, p. 117. CRUVINEL, P. E. Agronegócio e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Brasil. São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009, p. 11. GIORDANO, S. R. Gestão Ambiental no Sistema Agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares: indústria de alimentos, indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição. – São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005 GONÇALVES, C. W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2010. GUIMARÃES, R. P. A ecopolítica da sustentabilidade em tempos de globalização corporativa. In: GARAY, I.; BECKER, B. Dimensões
humanas da biodiversidade: o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006. JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa. São Paulo. N.º 118, março/ 2003. LENZI, C. L. Ecologizando a sociologia: o desafio de uma sociologia ambiental. In: ________.Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru, SP: Edusc, 2006, p. 25-88. LOPES, M. A.; CONTINI, E. Agricultura, sustentabilidade e tecnologia. Embapa, 2012. ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDADES. A ONU e o meio ambiente, (sd). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/> Acesso em: 24 de maio de 2016. RAMPAZZO, L. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo, Edições Loyola, 2005. SANTOS, G. O.; VALENÇA, R. F. Desenvolvimento sustentável: responsabilidade socioambiental nas organizações. Curitiba,Revista Eletrônica Opet, n° 05, Jan/Jul 2011 SILVA, D. B. Sustentabilidade no Agronegócio: dimensões econômica, social e ambiental. Dourados, UNIGRAN, 2012, p. 24. SOGLIO, F. D.; KUBO, R. R. Agricultura e sustentabilidade. 1. Ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009, p. 126.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Verticalização do ensino, perspectivas profissionais e educacionais do aluno do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO – Campus Ariquemes
Quezia da Silva Rosa1, Fernando Alves da Silva
2, Bianca Lauane Santana Melo
3, Mayko da
Silva Fernandes4 Fabiana Rodrigues Riva
5
1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Câmpus Ariquemes, email:
[email protected] 2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Câmpus Jí-Paraná, email:
[email protected] 3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Câmpus Ariquemes, email:
[email protected] 4 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Câmpus Ariquemes, email:
[email protected] 5 Programa de Pós-Graduação em Agronegócios - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo. O objetivo deste artigo é analisar e traçar o perfil dos alunos do Curso Técnico em Agropecuária do
IFRO – Campus Ariquemes. A pesquisa caracterizada como descritiva, foi realizada com quarenta dos noventa
e oito alunos do primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária – Turma 2016. Utilizando-se de um
questionário como instrumento da coleta de dados. Os resultados apontam que o Curso Técnico em
Agropecuária do Campus Ariquemes atende prioritariamente a Região do Vale do Jamari e que é composto por
maioria de alunos oriundos da zona urbana, de 14 a 17 anos. O prosseguimento dos estudos foi apresentado
como a maior expectativa dos alunos. Em se tratado de verticalização do ensino, a maior parte dos alunos
pesquisados manifestam desejo em prosseguir pela área de agropecuária.
Palavras-chave. Educação Profissionalizante, Perfil do aluno, Verticalização do ensino
Verticalization of education, professional and educational perspectives of the student of Agricultural Technical School of IFRO - Campus Ariquemes
Abstract. The aim of this paper is to analyze and profile the students of Agricultural Technical School of IFRO -
Campus Ariquemes. The research characterized as descriptive, it was held with forty of ninety eight first year
students of the Agricultural Technical School - Class 2016. It was made using a questionnaire as an instrument
of data collection. The results show that the Agricultural Technical School Campus Ariquemes primarily serves
Region Jamari Valley and is composed by a majority of students from the urban area of 14 to 17 years. The
further education was presented as the greatest expectation of students. When it treated verticalization of
education, most of the surveyed students expressed desire to continue the agricultural area.
Keywords. Education College, Student profile, Verticalization of education
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 1. INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização e Objetivo
Com o objetivo de ampliar a oferta de mão de obra qualificada e consequentemente a produtividade do País, o Governo Federal tem investido intensamente na profissionalização dos trabalhadores. Assim, no período de 2003 a 2010, foram criadas 214 escolas técnicas. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - um rede composta por Institutos Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica - está presente em todos os estados e conta com 38 Institutos Federais (IF) e 644 campi em atividade (CONIF, 2016).
O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está presente em Ariquemes, que é a terceira maior cidade do Estado. Possui área de 4.426,56 km², representando 1,86% do Estado e 0,11% da Região Norte do Brasil. Em termos geográficos, esse município está inserido no Território Rural Vale do Jamari, que abrange uma área de 32.141,20 km², constituído por 09 municípios, a saber, Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Machadinho D`Oeste, Monte Negro e Rio Crespo (IBGE, 2016).
O município de Ariquemes é o maior em produção agropecuária e arrecadação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) deste território. A economia do município se baseia na produção de gado, de lavouras (milho, cacau, frutas tropicais) e na criação de peixe, se destacando como grande produtor de peixe no Estado e na Região Norte (IBGE, 2016). Como a região possui um grande volume de atividades rurais, um dos cursos técnicos ofertados pelo Campus Ariquemes é o de Técnico em Agropecuária.
No inicio dos anos 70, o ensino técnico no Brasil era visto por alguns como uma necessidade em função do estreitamento das relações do país com o capital internacional e que sofria influência do aconselhamento internacional. Esses países tinham o interesse de manter alguns nichos de mão-de-obra barata e capacitada para garantir às suas empresas multinacionais, meios de exploração de recursos existentes em países menos desenvolvidos. Ou, ainda mesmo, para garantir técnicos capazes de exercer atividades já inexistentes nos países industrializados (ALVES, 2013).
Atualmente, no ensino técnico ainda existe a preocupação com a relação entre educação profissional e mercado de trabalho. No entanto, agora parte-se da ideia que a educação profissional fundamenta-se em uma qualificação abrangente, que se preocupe além das questões técnicas, incorporado outras habilidades como: uma visão crítica das atividades, responsabilidade social, capacidade de reação e interação com diferentes grupos e indivíduos. Englobam também características que são fundamentos da educação empreendedora (NEVES, 2015). A ideia agora deixa de ser apenas atender aos anseios das empresas em busca de mão de obra especializada e acessível. Parte-se para a formação do indivíduo capaz não somente de se inserir no mercado, mas que tenha também a habilidade de desenvolver a região em que está inserido.
Cada curso ofertado deve ser precedido de uma avaliação socioeconômica da região a ser atendida para que se identifique sua vocação. Entende-se que uma vez realizada essa avaliação, os cursos ofertados estarão em consonância com o que a região necessita. É necessário também que o alunos que se ingressarem nos cursos dos Institutos Federais tenham
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS plena consciência do que há de vir. Uma vez formados, estarão capacitados tanto como profissionais quanto como cidadãos, estando aptos a atuar na região, que por sua vez absorverá essa mão de obra que será de valia para o seu desenvolvimento socioeconômico local.
No entanto, deve-se considerar que o aluno que ingressa no curso técnico integrado ao ensino médio, o faz, em geral, com a idade de 14 ou 15 anos. E neste momento da vida, nem sempre está pronto para decidir o que fará na vida adulta, muitas vezes fazendo um curso que na verdade não é opção própria, e sim de seus pais. Convém então, analisar, em que medida a verticalização do ensino, vai ser efetivada na vida desses estudantes; se realmente o investimento em profissionais qualificados tanto no corpo técnico, quanto no corpo docente, em instalações e laboratórios vão se transformar em benefícios para a comunidade.
Assim, esse trabalho tem como objeto central de traçar um perfil do aluno do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO - campus Ariquemes - e identificar se a sua perspectiva para o término do curso, passa pela verticalização do ensino.
1.2 Ensino no Instituto Federal
O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi criado por meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e da Escola Agro Técnica Federal de Colorado do Oeste (BRASIL, 2008) e sua missão é “Promover educação científica e tecnológica de excelência no Estado de Rondônia voltada à formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade” (IFRO, 2016, p. 5). A lei 11.892/2008 que criou os Institutos Federais, diz que os IFs e demais instituições equiparadas, tem como finalidade:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; [...] IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; [...] (BRASIL, 2008).
Com a explosão da oferta de cursos técnicos no País através da criação da Rede Federal, uma das preocupações passou a ser a verticalização do ensino. Tanto que Eliezer Pacheco, que foi Secretário da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) afirmou que:
Os Institutos fundamentam-se na verticalização do ensino, onde os docentes atuam nos diferentes níveis com os discentes, compartilhando os espaços pedagógicos e laboratórios, além de procurar estabelecer itinerários formativos do curso técnico ao doutorado. Os Institutos Federais também assumem um compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas e criando soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável, com inclusão social (PACHECO, 2016, p. 1)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS De acordo com Pacheco (2011), nessa proposta do Governo, os Institutos Federais atuam em cursos técnicos (50% das vagas), geralmente integrados com o ensino médio, licenciaturas (20% das vagas) e graduações tecnológicas. Mas pode ainda disponibilizar especializações, mestrados profissionais e doutorados voltados principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica.
Isso, aliado ao fato de que os Institutos Federais têm uma estrutura multicampi e clara definição do território de atuação, leva a crer na possibilidade de que o aluno que ingresse no ensino técnico na Rede Federal trilhe o caminho vertical até o fim da sua formação acadêmica. Durante esse percurso, possa então contribuir de modo efetivo para a criação de soluções voltadas para a comunidade em que está inserido ajudando a desenvolver a região.
A verticalização extrapola a simples oferta simultânea de cursos em diferentes níveis sem a preocupação de organizar os conteúdos curriculares de forma a permitir um diálogo rico e diverso entre as formações. Implica ainda, no reconhecimento de fluxos que permitam a construção de itinerários de formação entre os diferentes cursos da educação profissional e tecnológica: qualificação profissional, técnica, graduação e pós-graduação tecnológica (PACHECO, 2011).
2. MATERIAL E MÉTODOS
Essa trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, que para Andrade (2010, p. 112) é aquela em que “os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador interfira neles”. Os fenômenos são estudados, porém não são manipulados pelo pesquisador.
O universo pesquisado é composto pelos alunos do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO – Campus Ariquemes. A amostra foi composta pelos alunos do primeiro ano (início em 2016), que entregaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE assinado pelos pais ou responsáveis por se tratarem de alunos menores de idade.
O TALE foi entregue aos alunos na data de 23 de fevereiro de 2016 e teve como prazo final para o recolhimento 18 março de 2016, totalizando 56 dias de prazo para os alunos devolverem o TALE assinado para os pesquisadores. De posse dos TALES assinados, a pesquisa foi realizada com 40 dos 98 alunos constantes na lista de frequência disponibilizada pela Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus na data inicial.
A coleta de dados se deu através de questionário que é um conjunto de perguntas que o informante responde, sem necessitar da presença do pesquisador; nele as perguntas podem ser fechadas ou abertas, sendo as abertas àquelas que dão mais liberdade de resposta, mas dificultam muito a apuração dos resultados (ANDRADE, 2010). No questionário utilizado, as perguntas foram prioritariamente fechadas, utilizando-se de questões abertas apenas para identificar a cidade de origem e o curso superior pretendido pelo aluno depois de formado. Os dados foram coletados no dia 19 de março de 2016 e de posse dos mesmos, foi realizada a análise por meio de planilhas para extração dos dados.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 3. RESULTADOS
Em relação ao perfil do aluno, os dados coletados apontam que 40% dos alunos são do sexo masculino e 60% do sexo feminino. Em relação aos respondentes, eles têm idade entre 14 e 17 anos, sendo que a maioria deles, ou seja, 72% têm 15 anos. No que diz respeito ao município de origem, 21 alunos responderam que são do município de Ariquemes, o que totaliza 52% dos alunos. Outros municípios do Vale do Jamari representam 33% da procedência dos alunos, sendo que Alto Paraíso tem 4 alunos, Cacaulândia, Cujubim e Buritis com 2 alunos cada um. Os 15% restantes se dividem entre outros municípios do estado de Rondônia.
Quando se avalia a procedência dos alunos, tem-se que 58% dos alunos vieram da zona urbana e 42% da zona rural. Mas um dado chama a atenção nesse quesito, quando se estratifica esses números tomando por base o gênero dos alunos, percebemos que a maioria dos meninos, representada por 11 alunos contra 5, vieram da zona rural; enquanto que as meninas, a maioria é advinda da zona urbana num quantitativo de 18 alunas, contra 6 que vieram da zona urbana (gráfico 1 e 2). Em suma, oriundos do campo, temos 69% de alunos e 25% de alunas.
Gráfico 1. Residência dos alunos Gráfico 2. Residência dos alunos
Quanto a essa situação, convém analisar a Política de Assistência Estudantil-PAE do IFRO, que tem, entre outros, o objetivo de ampliar as condições de permanência e êxito no processo educativo. Os campi agrícolas do IFRO tem residência estudantil, mas no caso específico de Ariquemes, a residência é apenas masculina, não atendendo o público feminino. Neste caso, os Programas de Auxílio à Moradia Estudantil-PROMORE ou ainda ao Programa de Auxílio Complementar – PROAC (IFRO, 2011), ambos podem ser alternativas para que as alunas oriundas da zona rural possam ingressar e permanecer no ensino técnico.
Questionados se a família possuía propriedade rural, 58% dos alunos responderam que sim. A maioria dos alunos deriva da zona urbana e ainda assim, grande parcela dos alunos pesquisados afirma ter propriedade rural em sua família.
Em relação ao que pretende após a formação no curso técnico, os alunos tinham quatro possibilidades de resposta que poderiam ser combinadas entre si (gráfico 3). A maioria dos alunos pretende trabalhar e estudar, totalizando 35% dos alunos, em seguida vem os alunos que pretendem apenas estudar, representando 28%. A seguir, vem aqueles alunos que pretendem apenas trabalhar, esses são um total de 15%. Os alunos que pretendem estudar e
Fonte: Dados da pesquisa Fonte: Dados da pesquisa
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS voltar para a propriedade rural para auxiliar no seu desenvolvimento, representam 10% do total. Ainda houve alunos que tencionam abrir o seu próprio negócio no ramo agropecuário e estudar, esse são 8% .
Gráfico 3. Perspectiva do aluno ao término do curso
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016
Observa-se que estudar, quer exclusivamente ou em concomitância com outras atividades, está presente em 80% das respostas. O aluno do ensino técnico integrado se iguala ao aluno do ensino médio no que tange à importância dada ao ingresso no nível superior. Em estudo conduzido por Sparta e Gomes (2005), foi constatado que o ingresso na educação superior é a principal alternativa de escolha para o jovem que termina o ensino médio. No ensino médio a escolha é natural, no entanto, convém analisar com mais cuidado essa questão, uma vez que o ensino técnico se propõe primordialmente a capacitar o aluno a exercer uma atividade profissional após o encerramento do curso.
Ao se analisar os 32 alunos (80%) que pretendem continuar estudando, desenvolvendo ou não uma atividade em paralelo, tem-se que 25 deles, pretendem continuar os estudos em áreas correlatas, como Agronomia (14 alunos), Veterinária (9 alunos) e Zootecnia (2 alunos). Os demais optarão por cursos como Direito, Contabilidade, Fisioterapia. Observa-se que 66% dos alunos tem interesse em estudar áreas diretamente ligadas ao Curso Técnico em Agropecuária ao qual pertencem.
Sobre o curso pretendido pelos alunos para a continuidade dos estudos, convém levar em consideração o exposto pela Lei Nº 11.892/2008, em seu artigo 6º, que apresenta como característica e finalidade dos Institutos Federais a promoção da integração e da verticalização da educação básica à educação profissional e superior, com o objetivo de otimizar a estrutura física, as pessoas e os recursos de gestão (BRASIL, 2008). Se a lei prevê que haja integração e harmonia entre os cursos da educação profissional e de educação superior, a fim de otimizar recursos, então, seria natural que a lógica acompanhasse a opção de cursos pretendidos pelos alunos, que poderiam aproveitar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso técnico e dar continuidade nos cursos de graduação. Quanto mais alunos optarem por cursos de áreas correlatas, mais fará sentido a opção pelo curso técnico integrado. Apesar disso, existe
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS também a possibilidade de uma interdisciplinaridade entre o curso técnico e o futuro curso do ensino superior do aluno (uma vez que seja ou não um curso que tenha relação direta). Essa ligação interdisciplinar é também muito importante, ao passo que permite ao aluno um olhar mais diverso em seus estudos e para o mercado de trabalho.
4. DISCUSSÕES FINAIS
Através do estudo, pode-se concluir que os alunos do curso Técnico em Agropecuária do 1º ano do IFRO - Campus Ariquemes, são homens em sua o maioria, embora as mulheres apresentem um nível maior de compromisso em relação à pesquisa realizada. Esses dados extrapolam os dados obtidos junto à Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus que aponta que 48% dos alunos são do sexo masculino e 52% do sexo feminino. Esses dados poderiam ser explicados face a já debatida maturidade apresentada pelas mulheres em detrimento da apresentada pelos homens desta faixa etária. Sobre isso, convém apresentar a pesquisa realizada por Lim et al (2015) que investigou o amadurecimento do cérebro masculino e feminino. Os investigadores concluíram que em mulheres, o processo de amadurecimento do cérebro começa a partir dos 10 e 12 anos de idade enquanto que nos homens isso acontece a partir dos 15 e 20 anos. Como poderiam participar da pesquisa apenas os alunos que apresentassem o TALE assinado pelos responsáveis, pode-se lançar mão desta teoria para explicar o fato de meninas terem apresentado mais TALEs do que meninos, uma vez que mais maduras, levaram com mais seriedade a participação na pesquisa. A idade de entrada no curso mais frequente é 15 anos. Os ingressantes são da Região do Vale do Jamari sendo os homens em sua maioria, oriundos da zona rural, as alunas, em sua maioria, são oriundas da zona urbana. Independentemente de onde reside, a maioria possui propriedade rural na família.
As perspectivas dos alunos passam necessariamente pela continuidade dos estudos, pois quer seja apenas estudando, trabalhando ou desenvolvendo a propriedade da família, pretendem ingressar no nível superior seja em cursos correlatos ou em outras áreas.
Em relação à verticalização do ensino, tem-se que muitos alunos, mais de 30%, não optarão por continuar os estudos em áreas correlatas ao curso que ingressaram. Neste caso convém maior divulgação dos cursos e das habilitações que este obterá ao finalizar o curso, assim, o aluno ao ingressante saberá exatamente o que o espera. Poderá também assim, ser mais engajado no curso produzindo resultados que sejam importantes para o desenvolvimento de sua região. Com isso, os esforços envidados e os recursos públicos disponíveis poderão ser aproveitados em sua plenitude.
REFERÊNCIAS
ALVES, Luís Alberto Marques. Ensino técnico: uma necessidade ou uma falácia? Notas para a compreensão da filosofia do ensino técnico em Portugal e no Brasil. Hist. Educ., Santa Maria , v. 17, n. 41, p. 103-122, Dec. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-34592013000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 mai. 2016
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BRASIL. Lei 11.892 de 29 de Dezembro de 2008. Diário Oficial da União - Seção 1 - 30/12/2008, Página 1.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS CONIF. Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Inaugurado 41 novos campi da Rede Federal. Disponível em: <http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/963-inaugurados-41-novos-campi-da-rede-federal.html> Acesso em: 26 de mai. 2016.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades – 2014. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun= 110025> Acesso em 08 mai. de 2016.
IFRO. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia. Plano Estratégico de permanência e êxito dos estudantes do IF Rondônia. Porto Velho: IFRO, 2016.
______. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Política de Assistência Estudantil–PAE. Porto Velho: IFRO, 2011.
LIM, Sol et al. Preferential detachment during human brain development: age-and sex-specific structural connectivity in diffusion tensor imaging (DTI) data. Cerebral Cortex, v. 25, n. 6, p. 1477-1489, 2015.
NEVES, Edson Oliveira. Educação Profissional e Empreendedorismo: Relatório de Pesquisa sobre a formação empreendedora no curso técnico em agropecuária o IFNMG – Campus Januária. Disponível em: <http://200.131.5.230/semad/wp-content/uploads/2014/09/EPE.pdf>. Acesso em 17 ago. 2015.
PACHECO, Eliezer (Org.). Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica. São Paulo: Editora Moderna, 2011.
PACHECO, Eliezer. O novo momento da educação profissional brasileira. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/educapro_080909.pdf> Acesso em: 14 de jun. 2016.
SPARTA, Mônica; GOMES, William B. Importância atribuída ao ingresso na educação superior por alunos do ensino médio. Revista Brasileira de Orientação Profissional, v. 6, n. 2, p. 45-53, 2005.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS PREÇOS AGRÍCOLAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
Daiane Pereira 11, Gabrielli Martinelli 22, Maria Madalena Schlindwein 3³
1Mestranda em Agronegócios na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
[email protected] 2Mestranda em Agronegocios na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
³Professora Dra. e Pesquisadora na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
Resumo. A agricultura familiar é fundamental para o abastecimento alimentar brasileiro, destacando-se
por desenvolver culturas variadas, apesar da produção ser em pequena escala contribui para o
crescimento e desenvolvimento do cenário econômico produtivo em que ela atua. A relação entre
agricultura familiar e o valor de comercialização dos produtos são variáveis fundamentais para a
expansão dessa classe. Nesta perspectiva, objetivou-se verificar qual a influência da Política de Garantia
de Preços Mínimos (PGPM) para o agricultor familiar. Para a realização deste estudo, foi utilizada a
pesquisa exploratória e descritiva com abordagem quantitativa, para a análise dos dados usou-se as
estatísticas descritivas, com consulta nos sites oficiais compilando dados secundários, a área de estudo foi
o Estado do Mato Grosso do Sul. Os resultados indiciam que ocorrem diferenciação entre os preços
agrícolas do estado do Mato Grosso do Sul em relação ao Brasil, portanto os preços dos produtos
nacionais são mais valorizados que os preços do Estado. A PGPM tem sido instrumento capaz de elevar
os valores dos produtos comercializados pelos agricultores familiares.
Palavras-chave. Preços; Agricultura Familiar; Políticas Públicas.
AGRICULTURAL PRICES FOR FAMILY FARMING
Abstract. Family farming is crucial for Brazilian food supply, especially for developing different cultures,
although the production is small-scale contributes to the growth and development of the productive
economic environment in which it operates. The relationship between family farming and the marketing
value of products are key variables for the expansion of this class. In this perspective, the objective was to
check the influence of the Minimum Price Guarantee Policy for the family farmer. For this study,
exploratory and descriptive research was used with a quantitative approach to the analysis of the data was
used descriptive statistics, in consultation with the official websites compiling secondary data, the study
area was the Mato Grosso do Sul State . The results indicate that occur differentiation between agricultural
prices of Mato Grosso do Sul state in relation to Brazil, so the prices of domestic products are valued more
than the state price. The PGPM instrument has been able to raise the value of the products marketed by
farmers
Keywords. Prices; Family farming; Public policy. 1. INTRODUÇÃO
São três setores que movimentam a economia mundial, serviços, indústria e agricultura. Dentre os três, a agricultura é o mais resiliente, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico dos países. O termo agricultura familiar não é uma definição universal, porém sua prática é exercida mundialmente. Por exemplo, nos Estados Unidos essa definição foi alterada mais de 20 vezes, já no Brasil essa expressão é padronizada (PEDROSO, 2014).
Segundo Hoppe, MacDonald (2013) as chamadas small family farms representam 21% da produção agrícola norte-americana. De acordo com os dados mundiais do Censo Mundial da Agricultura, relatam que mais de 500 milhões de unidades agrícolas podem ser consideradas agriculturas de modelos familiares.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
No Brasil, segundo o censo agropecuário de 2006 existem 4.367.902 propriedades consideradas agricultura familiar. Portanto evidencia-se que a realidade brasileira é equiparada com o restante do mundo, quando relacionado ao número de propriedades familiares existentes. Assim, o interesse pela agricultura familiar no Brasil tem sido crescente, intensificando a partir dos anos 90, quando o governo começou a investir através de políticas públicas, como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) bem como o surgimento ministérios e secretarias (MDA, 2015).
Especificamente quando relacionada a uma escala regional, o Estado do Mato Grosso do Sul possui 41.104 estabelecimentos da agricultura familiar, equivale a 65% das propriedades rurais. Após a contextualização com abrangência global da agricultura familiar evidencia-se a importância dessa temática para o desenvolvimento do local que ela se insere (IBGE, 2006).
Um dos fatores que contribui para o progresso dos agricultores familiares é o sucesso na comercialização de seus produtos e serviços, a realização de objetivos e melhoria na qualidade de vida que resulta em fatores monetário. A Política de Garantia de Preços Mínimos surge com a finalidade de garantir o preço da comercialização a um valor justo. Então, independente de como esteja o cenário econômico, o índice de valorização ou desvalorização dos preços interferem no desenvolvimento do agricultor familiar. Historicamente, o mundo rural está diretamente ligado ao abastecimento de alimentos desde as etapas da comercialização do agricultor até consumidor final, cabendo aos agricultores familiares a missão de munir as sociedades com a sua produção (CHEUNG, 2013).
Tanto é que desde de 2006/2007 a volatilidade dos preços internacionais das commodities alimentares tem aumentado consideravelmente, dificultando o retorno dos valores anteriores. Essa conduta dos preços pode ser explicada pelos desajustes de curto prazo entre oferta e demanda. Com isso, os preços alimentares brasileiros também foram afetados em consequência da inflação, isto caracteriza a influência mundial na esfera local, também intensifica a importância do governo em intervir através de políticas públicas (MALUF, SPERANZA, 2014).
Deste modo, em virtude da grande importância da agricultura familiar na economia local, a questão que se coloca é: dentro das bases teóricas do crescimento econômico local, qual o reflexo da Política de Garantia de Preços Mínimos no desenvolvimento do agricultor familiar no estado de Mato Grosso do Sul? Diante desta relação o objetivo geral do estudo é verificar qual a influência da Política de Garantia de Preços Mínimos para o agricultor familiar. Especificamente, relatar a diferença entre os preços impostos para os agricultores familiares em relação aos não familiares.
Para atingir o objetivo, o método utilizado foi a pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, na qual foram utilizados para a análise dos dados as estatísticas descritivas (média e variância). Para os dados econômicos foram usados sites oficiais (IBGE, SEMAC, MAPA, CONAB, AGROLINK). A área de estudo foi o Estado do Mato Grosso do Sul.
O trabalho está dividido em mais três seções além desta. Na seção seguinte, será apresentada os procedimentos metodológicos utilizados para identificar até que patamar os preços agrícolas influenciam no desenvolvimento do agricultor familiar. Na terceira seção, será apresentada a discussão dos resultados. Por fim, as considerações finais e as referências utilizadas que encerram o trabalho.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo último censo realizado pelo IBGE com publicação em 2006, os principais produtos produzidos pela agricultura familiar na produção de vegetais são: arroz, feijão, mandioca, milho, soja, trigo e o café. Já na pecuária os que possuem maior destaque são: criação de bovinos, produção de leite, criação de aves e suínos.
Foram primeiro selecionadas duas variáveis, a quantidade produzida e a área colhida entre a agricultura familiar e a não familiar. Observou-se que existe uma variedade na produção de culturas por parte desses agricultores, sendo que todos os produtos elencados no censo agropecuário contribuem para o desenvolvimento dos produtores. Com relação aos dados nota-se que nem sempre ter a maior área colhida significa obter maior quantidade produzida, um exemplo claro disso é a cultura do milho, pois quem detém da maior quantidade produzida é a produção não familiar, porém, a maior área colhida corresponde aos pequenos produtores.
Os principais produtos da produção vegetal brasileira são a soja, trigo, café e arroz e quem domina essas culturas são os grandes latifundiários, até porque essas culturas necessitam de uma produção em grande escala. Verifica-se que os agricultores familiares possuem quantidade produzida e área colhida inferior quando comparado ao agricultor não familiar. No caso da soja, o produtor não familiar possui uma produção 5 vezes maior que o agricultor familiar.
O Brasil está entre os 5 maiores produtores da cultura do feijão como aponta (Wander et al, 2007), juntamente com, a Índia, China, Myanmar e México, representando mais de 65% da produção mundial. O feijão é um produto que faz parte da cesta básica brasileira, sendo produzido predominantemente no país por agricultores familiares. Os dois tipos apresentados no censo, feijão de cor e fraldinha demostram que tanto na quantidade produzida quanto na área colhida quem obtém maiores resultados são os agricultores familiares.
Além da quantidade produzida e área colhida o censo do IBGE, também traz o número de estabelecimentos e valores da produção em reais. Mostra que na produção vegetal o número de estabelecimentos do agricultor familiar é superior ao agricultor não familiar, desde o arroz em casca até o último item, café arábica em grão (verde).
Quando a variável é o valor da produção em reais o grande produtor supera consideravelmente o agricultor familiar. No entanto ocorre duas exceções quando se trata do cultivo de feijão e mandioca a situação é inversa, e o agricultor familiar possui o maior valor da produção. Quando comparados o valor de produção em percentuais do feijão e da mandioca, nota-se que os tipos de feijão representam 46% a mais que o agricultor não familiar e a mandioca corresponde a 13%.
A agricultura familiar não possui dados apenas da produção vegetal, apresenta também dados na produção da pecuária como bovino, produção de leite de vaca e de cabra, aves, e suínos; e o censo agropecuário também disponibiliza esses dados para análise.
De acordo com os dados disponíveis pelo censo, observa-se que os alimentos mais produzidos pelos agricultores familiares em média no Brasil são: feijão e mandioca. Já os produtos oriundos da pecuária destacam as produções de leite de vaca e cabra, bem como a criação de suínos. No entanto, as demais produções como o arroz, milho, soja, trigo e café arábica, assim como a produção proveniente da pecuária (criação de bovinos e aves), são os produtores não familiares que possuem maior relevância nessas culturas e criações.
Como a área de estudo é o estado do Mato Grosso do Sul (MS) buscou-se comparar de acordo com os dados disponíveis no censo agropecuário do IBGE no ano de 2006 as relações entre o Brasil e o MS. Verifica-se, a partir dos dados disponíveis do
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
censo ocorrem semelhanças entre o MS e o Brasil. A única mudança mais aparente é no caso do feijão tipo fraldinha, que no estado do MS, quem possui maior quantidade produzida e colhida são os agricultores não familiares. No caso da mandioca independente de ser no Brasil ou no estado os agricultores familiares são os que mais produzem e colhem. Já o café quando correlacionados o Brasil e o Mato Grosso do Sul ocorre o inverso que a nível Brasil, no estado do MS quem mais produz e colhe são os pequenos produtores.
Os dados referentes aos estabelecimentos e o valor de produção no estado do MS, demostra que as grandes produções de milho, trigo e soja na escala regional, é como o restante do Brasil, são os agricultores não familiares que detém da maior área colhida e consequentemente maior quantidade produzida, e ainda são detentores dos maiores estabelecimentos e valores de produção.
Continuando com as comparações entre o estado do MS e o Brasil vale ressaltar que a produção do arroz, feijão tipo fraldinha, milho, e o café, que a agricultura familiar, obtém maior número de estabelecimentos porém, o valor de produção é o agricultor não familiar que possui maior poder de barganha nos preços, o mesmo ocorre com o café e o milho.
Na produção da pecuária bovina, a agricultura familiar possui maior número de estabelecimentos porém, em número de cabeças de gado a agricultura familiar representa apenas 6% do que os agricultores não familiares. A produção de leite de vaca e de cabra tanto em estabelecimento, quantidade produzida e valor de produção quem obtém maior representatividade no mercado são os agricultores familiares, o mesmo que a nível Brasil.
As aves em número de estabelecimento e número de cabeças é igual ao Brasil, os agricultores familiares que possuem maior quantidade, ocorrendo o mesmo com os ovos de galinha e valor da produção dos ovos, onde o agricultor não familiar que possuí a maior representatividade.
A nível Brasil quem possui a maior criação de suínos são os agricultores familiares, já na escala local apenas o número de estabelecimentos é superior aos agricultores não familiares. No estado do MS, em número de cabeças suínas e valor de produção, quem tem maior representatividade é o grande latifundiário. Para acompanhar essa evolução do número de estabelecimentos, quantidade produzida, valor de produção e área colhida, é necessário verificar a influência dos preços para esses produtos.
A Tabela 1 destaca os principais produtos comercializados pelos agricultores familiares entre os períodos de 2011 a 2015, no estado do MS. Na qual, foi feito a média de cotações dos preços comercializados no estado do MS. Para a elaboração da média consultou-se o site oficial da Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB). No entanto, não consta na tabela todos os produtos conforme destacado nas tabelas anteriores, pois alguns produtos não são cadastrados no site da CONAB.
A CONAB usa preços nominais para as cotações dos valores dos produtos mensurados, e são medidas, consequentemente, por preços correntes, e os seus movimentos acompanham o nível de preços e a inflação.
Como visualizado na Tabela 1 evidencia-se a média dos produtos produzidos no Estado do MS, disponível no site da CONAB. Para a cultura do arroz longo fino sem casca teve uma progressão durante os últimos 5 anos, de R$ 13,70, quando comparados nos anos de 2011 e 2015. O feijão de cor em 2013 obteve o melhor preço, uma valorização significante que incentiva o fomento desse produto. No caso do preço do milho em grão decresceu nos últimos 5 anos, onde o menor preço pago foi no ano de 2014 em R$ 18,19.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 1 – Média de preços dos produtos selecionados para o estado do Mato Grosso do Sul (R$) para a agricultura familiar no período de 2011 a 2015.
PRODUTO Média de preços (R$) / ano
2011 2012 2013 2014 2015 Arroz longo fino sem casca (60 Kg) 32,50 32,42 43,73 44,60 46,20 Feijão de cor (60 Kg) 82,75 140,00 187,00 98,20 138,00 Milho em grão (60 Kg) 20,26 22,81 25,48 18,19 19,49 Soja (60 Kg) 48,25 41,75 54,20 58,90 53,30 Trigo (ton.) 365,00 446,25 650,00 763,00 542,00 Café arábica (60 Kg / Produtor) 240,00 330,00 330,00 258,00 382,00 Bovino (15 Kg / Produtor) 90,63 88,50 90,20 106,00 136,20 Leite de vaca (1L /Produtor) 0,63 0,72 0,69 0,87 0,76
Fonte: Adaptado pelo autor a partir da Conab (2016).
O quarto item, a soja segue com uma situação inversa quando comparado com o milho, obtendo o maior preço no ano de 2014 em R$ 58,90. O trigo segue na mesma situação do soja, o valor pago na tonelada desse produto no ano de 2014 foi R$ 763,00. A cultura do café arábica e boi tiveram um crescimento progressivo durante os períodos de 2011 até 2015 e por fim o leite que possui oscilações por ano, um ano o preço diminui no outro aumenta.
Algumas peculiaridades encontradas ao longo da analise dá-se a produção de leite de cabra tipo C (1L/ varejo) que no ano de 2015 tem, como registro na CONAB, o mês de dezembro com o valor representativo de R$ 9,85. Os anos anteriores não possui registro na base de dados.
Numa análise geral da Tabela 1 , as oscilações dos preços de alguns produtos ocorrem por consequência de alguma
eventual intervenção de políticas econômicas por parte do governo estadual ou até mesmo federal, crises sazonais, e eventuais arranjos fora do contexto econômico.
Já os preços dos produtos praticados pelos Programas do Governo como o PAA e o PNAE eles não possuem disponível os preços para consulta, limitando assim uma análise detalhada. Os preços destinados aos produtos variam de município para município não tendo um padrão Estadual. Para uma análise dos preços praticados possuindo os preços da CONAB, os autores fizeram um levantamento das medias dos preços praticados na produção vegetal e pecuária nacionalmente, dispostos nos Gráficos 1 e 2, respectivamente em casca.
Durante o período de 2012 a 2015, o único produto vegetal que obtinha vantagem ao preço de compra/venda do estado em relação ao preço nacional, foi o arroz No caso da produção do feijão tipo carioca estava compensando comprar do estado durante os anos 2013 e 2014, possivelmente causado por alguma mudança econômica política, pois nos anos anteriores como 2011, 2012 e 2015 o preço que compensava comercializar a saca através do preço nacional.
No caso da compra/venda da saca de milho em grão nos anos 2011 e 2012 a média de preço nacional era mais compensador que a média dos preços comercializados no estado do MS, mas os próximos anos de 2013 a 2015, o estado comercializou a saca de milho em grão mais atrativo que aos preços nacionais.
O último item que o censo 2006 do IBGE divulga como produto vegetal comercializado pela agricultura familiar, a saca da soja foi um produto que compensou fazer comércio de compra/venda no ano de 2011 ao preço do estado, e a partir de 2012 até 2015 o preço de mercado nacional compensava mais que o estadual.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Fonte: Agrolink – Adaptado autor (2016).
A produção da mandioca, e os produtos da pecuária como frango e suíno, não se tem dados disponíveis para o Estado do Mato Grosso do Sul, sendo assim, não foi possível fazer a comparação de preços nacionais com o preço do estado. Estão disponíveis nos Gráficos 2, as médias dos valores praticados com os produtos da pecuária e os itens não comercializados no estado estão apenas para contemplação, pois são produtos que o censo disponibilizou como significativo para as famílias agropecuárias.
Fonte: Agrolink – Adaptado autor (2016).
Não pode-se dizer com total certeza, mas sugere-se fazer um estudo aprofundado
de quais são os motivos dos preços no MS serem menores que os preços nacionais, uma das causas possíveis são as políticas intervencionistas do estado na compra/venda dos produtos, até para vender posteriormente ao preço nacional para outras empresas.
Algo que pode ser notado no estado é que a comercialização não é tão baixa quanto a média nacional, porém se compensava na maioria dos produtos fazer mercado com os preços nacionais quanto os estaduais. Algo que pode estar relacionado é as políticas adotadas para tais comércios e tipos de culturas e oriundas das culturas familiares.
92
,81
90
,49
93
,66 11
5,7
1
13
7,4
1
0,7
7
0,8
6
0,9
7
0,9
5
1,8 1,9
2
2,2
3
2,2
4
2,3
6
63
,63
60
,19
65
,46
76
,12
81
,08
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
GRÁFICO 2 - MÉDIA HISTÓRICA NACIONAL DE COTAÇÕES DOS PREÇOS DA PECUÁRIA (R$) DA
AGRICULTURA FAMILIAR / DE 2011 A 2015
Boi Gordo (15Kg) Leite de vaca Frango Suínos
32
,14
88
,59
18
2,8
4
24
,76
42
,1
47
6,7
2
43
7,6
32
,14
15
1,4
6
21
5,1
6
25
,13
58
,9
52
3,1
6
37
3,2
6
42
,79
17
1,1 35
7,2
7
22
,98
59
,09
77
7,0
4
28
0,5
41
,59
95
,3 28
0,2
6
21
,9
59
,16
68
6,9
3
40
0,6
5
45
,75
14
1,4
16
3,9
23
,46
62
,97
64
9,6
1
43
8,4
9
A R R O Z E M C A S C A ( 6 0 K G )
F E I J Ã O C A R I O C A
( 6 0 K G )
M A N D I O C A ( T O N . )
M I L H O E M G R Ã O
( 6 0 K G )
S O J A E M G R Ã O
( 6 0 K G )
T R I G O G R A N E L .
( T O N )
C A F É A R Á B I C A
( 6 0 K G )
GRÁFICO 1 - MÉDIA HISTÓRICA NACIONAL DE COTAÇÕES DOS PREÇOS DA PRODUÇÃO
VEGETAL (R$) DA AGRICULTURA FAMILIAR / DE 2011 A 2015
2011 2012 2013 2014 2015
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os agricultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores inserem-se no mercado com intuito de comercializar seus produtos e obter lucro. O mercado econômico é cada vez mais competitivo, os produtores concorrem com outros agricultores de várias localidades e ainda enfrentam as instabilidades do mercado.
Os resultados da pesquisa apontam que ocorrem diferenciação entre os preços estabelecidos para comercialização dos produtos estaduais com os nacionais. Com a análise, observou-se que os preços praticados nacionalmente são mais lucrativos e interessantes para os pequenos produtores rurais, porque podem trazer um desenvolvimento econômico, financeiro e social maior em menos tempo.
Porém o pequeno produtor rural comercializa sua produção em uma escala maior através dos Programas de incentivo voltado ao fomento da agricultura familiar como o PAA e o PNAE, e por isso vende à preço estadual ou municipal, tendendo a uma menor lucratividade. Isso, pode estar contribuindo com o êxodo rural e a instabilidade econômica dessa classe de pequenos produtores rurais.
Verificou-se que existe uma diferenciação entre os preços impostos para os agricultores familiares em relação aos não familiares. Os preços são distintos para cada produto comercializado, e com o apoio da PGPM, política essa que visa os preços mínimos de compra/venda dos produtos dos pequenos agricultores, mostra que a inserção destes no mercado competitivo ainda é pouco, pois como os preços do mercado nacional são maiores do que os praticados no estado do MS, o agricultor não familiar detém um poder maior de barganha, e como visualizadas nas tabelas ao longo do trabalho, os valores de produção dos grandes latifundiários são quase sempre 50% maiores que dos pequenos agricultores, mesmo com menores quantidades de estabelecimentos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGROLINK Cotações. Disponível em: http://www.agrolink.com.br/cotacoes/. Acesso em: 18 de junho de 2016. CHEUNG, T. L. Desenvolvimento da agricultura familiar: investigação sobre o espaço rural e o território como referência para estudar o caso do município de Terenos, MS. INTERAÇÕES, Campo Grande, v. 14, n. 2, p. 189-195, jul./dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/inter/v14n2/a05v14n2.pdf. Acesso: 15 de julho de 2016. CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em http://www.conab.gov.br/ Acesso em: 18 de junho de 2016. HOPPE, R. & MACDONALD, J. Updating the ERS Farm Typology. EIB-110. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 2013. Disponível em: http://www.ers.usda.gov/media/1070858/eib110.pdf. Acesso em: 15 de julho de 2016. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:http://www.ibge.gov.br/home/default.php . Acesso em: 10 de maio de 2016. IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA Sistema IBGE de Recuperação
Automática (Sidra). 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 18 de maio de 2016. MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/ 2015. Acesso em: 12 de junho 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
MALUF, R. S; SPERANZA, J. S. Preços dos alimentos, modelos de agricultura e abastecimento alimentar no Brasil: os casos da soja e do feijão. Relatório Técnico 7 Abril, 2014. Disponível em: http://r1.ufrrj.br/cpda/ceresan/docs/CERESANRelatTecnico7EstudoprecosAAid(2).pdf. Acesso em: 16 de julho de 2016. PEDROSO. M. T. M. Experiências internacionais com a agricultura familiar e o caso brasileiro: O desafio da nomeação e suas implicações práticas. Brasília, DF : Embrapa, 2014. Disponível em: https://www3.eco.unicamp.br/nea/images/arquivos/O_MUNDO_RURAL_2014.pdf. Acesso em:20 de junho de 2016. WANDER, A. E. GAZZOLA, R. GAZZOLA, J. RICARDO, T. T. GARAGORRY, F. L. Evolução da produção e do mercado mundial do feijão. XLV Congresso da SOBER. Universidade Estadual de Londrina – Londrina PR. 22 a 27 de junho de 2007. _______. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Presidência da República. Brasília/DF, 2006.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa: Valorización e identificación de planes de
intervención
Licela Paredes Tafur1
1Estudiante de Post Grado en Economía Agraria por la Universidad de Buenos Aires – Argentina. Especialización
en Derecho y Economía del Cambio Climático en FLACSO Argentina. Economista de la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo Perú. E-mail:[email protected]
Resumen
El objetivo de la investigación es validar la implementación de una estructura de preferencias por los visitantes de
tres planes a intervenir que han sido agrupados en: a) Señalización de senderos y folletos informativos b)
Actividades económicas para la comunidad c) Zona de rescate temporal para animales. Con el cual se determina el
rango de posibilidades para la estimación de una tarifa de ingreso al Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RVSL)
mediante el método de valoración económica ambiental denominado Choice Experiment (experimentos de elección).
Se logra identificar que se debe intervenir en la implementación de un proyecto de agroforesteria comunitaria y se
determina la tarifa de ingreso, dada entre S/. 13.30 a S/. 15.70 (PEN) que servirían como recaudación para la
administración del RVSL ya que en la actualidad no se perciben ingresos por las visitas. Usando el modelo
logitmultinomial, se estimó la disponibilidad a pagar de los visitantes.
Palavras-chave. Experimentos de elección, diseño experimental, logitmultinomial.
Laquipampa Wildlife Refuge: Assessment and identification of intervention plans
Abstract. The objective of the research is to validate the implementation of a structure of preferences by visitors
three plans to intervene that have been grouped into: a) Signaling pathways and brochures b) Economic activities
for the community c) temporary bailout Area animals. With which the range of possibilities for estimating entry fee
Laquipampa Wildlife Refuge (RVSL) is determined by the environmental economic valuation method called Choice
Experiment. It is posible to determine who should be involved in implementing a project of community agroforestry
and fee income, given between is determined. S/. 13.30 to S/. 15.70 (PEN) that serve as fund management for RVSL
as income not currently perceived by the visitors. Logitmultinomial Using the model, the willingness to pay of
visitors was estimated.
Keywords. Choice experiments, experimental design, multinomial logit.
Introducción El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa es el primer refugio de vida silvestre (D.S. N°045-2006-AG/6
Julio 2006), cuenta con una superficie de 8 328,64 hectáreas protegidas e inscritas en registros públicos 11 346,9 has.
Formado por bosques secos con vegetación más húmeda que conserva a la pava aliblanca, oso de anteojos, cóndor
andino (especies en peligro de extinción) etc. Y gran diversidad de flora (palo santo, etc.).
Es de gran atractivo para trabajos científicos y tecnológicos de estudio de flora y fauna, además de turismo
de aventura. Está ubicado en uno de los distritos más pobres del Departamento de Lambayeque: Incahuasi; con
81,1% de pobreza total y 46,8% de pobreza extrema, además de 79 centros poblados rurales, con una población
aproximada de 1 027 habitantes (INEI, 2007).
El RVSL cuenta con un total de visitas anuales entre 1400 a 1600 turistas entre nacionales y extranjeros
(SERNANP, 2014), los visitantes están demandando diferentes servicios, que se prestan actualmente pero de forma
aislada y desorganizada.
Marco Conceptual
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
El modelado que da origen a modelos de elección, se ha desarrollado de manera paralela por economistas y
psicólogos cognitivos como Thurstone (1920) quien investigo sobre preferencias alimentarias y la teoría de la
utilidad aleatoria. El campo inicial fue el marketing, pero también se ha aplicado en geografía, transporte y
economía. (Lauviere, 1999). La primera aplicación a bienes ambientales fue utilizada para valorar mejoras en
la calidad del agua para pesca (Adamowicz et al, 1994). La primera aplicación de experimentos de elección para la
estimación de valores de no-uso fue por Hanley et al. (1998). Las investigaciones en su mayoría son de Canadá,
Inglaterra, Alemania, Europa, EEUU entre otros. Existen escasas investigaciones con la aplicación del método
porque implica un esfuerzo considerado en cada etapa del diseño.
Dentro de los modelos de elección existen cuatro métodos posibles: Experimentos de elección; Rango
contingente o conjunto; Calificación contingente y Comparaciones pareadas (Choice experiments, Conjoint ranking,
Contingent rating and Paired comparisons, en inglés). Los dos primeros, análisis conjunto y experimentos de
elección, son métodos de valoración de atributos múltiples. Sin embargo, el análisis conjunto sólo puede analizar una
combinación de atributos a la vez, mientras el experimento de elección permite al investigador estimar los valores de
varios atributos de un producto y sus compensaciones de forma simultánea (Merino, 2003).
Para el caso de nuestro estudio se considera la aplicación de experimentos de elección porque reflejan
situaciones reales del mercado y son coherentes con la economía del bienestar (Merino 2003). La técnica de
experimentos de elección reta a los encuestados con un problema mucho más fácil: ¿prefiero A, B o ninguna? y
brinda estimaciones consistentes de bienestar por cuatro razones:
1.- Obliga a los encuestados a intercambiar niveles de atributos versus los costos de hacer estos cambios.
2.- Los encuestados pueden optar por el statu quo, es decir que no haya una mejora en la calidad ambiental
basado en no incurrir en un costo adicional para ellos.
3.- Podemos representar la técnica econométrica usada de modo que es exactamente paralela a la teoría de la
elección racional y probabilística.
4.- Podemos derivar estimaciones de superávits compensatorios y equivalentes del resultado de la técnica.
Metodología y Desarrollo
El proceso para generar un experimento de elección requiere los siguientes pasos:
Hensher, Rose y Greene, (2005).
1. Identificación y refinamiento del problema.
2. Identificación de atributos y niveles.
3. Generación del diseño experimental.
4. Codificación de los atributos por valorar.
5. Diseño e implementación de la encuesta.
Especificación econométrica del modelo
a) Especificación econométrica del modelo logit multinomial
El modelo econométrico generalmente utilizado en los experimentos de elección es el modelo logit
multinomial, también conocido como logit condicional, que es un modelo probabilístico que busca encontrar la
relación entre probabilidad de seleccionar cada una de las tres alternativas con los atributos de esas alternativas y con
las características de los individuos. Siendo el modelo:
3T r f ε ( )
donde la variable dependiente es la elección, codificada según la elección que realiza el visitante. La elección j del
individuo i, depende de un conjunto de atributos del RVSL contenidos en el vector de características de los atributos
( j ); que incluyen señalización de senderos y folletos informativos, actividades económicas para la comunidad y
zona de rescate temporal para animales. Las variables socioeconómicas y explicativas (nivel de ingreso, años de
estudio, género, edad, tiempo de visita, número de visitas) están contenidas en el vector b . La variable tarifa de
entrada o costo (Tarifa ij) asociado al individuo i por elegir la alternativa j también se incluye como variable
explicativa, así como el término de error (εij), el cual se asume independiente entre alternativas irrelevantes (iia).
Resultados
Especificación Econométrica
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Antes de proceder a especificar el modelo logit condicional, es necesario precisar que se tienen dos
posibilidades: estimar un modelo con efectos de interacción o estimar un modelo sin efectos de interacción. Teniendo
en cuenta las variables codificadas para los tres atributos de la RVSL y adicionando la tarifa de acceso (que
representa el costo de cada alternativa de elección) como un atributo más, la especificación econométrica del
modelo logit condicional sin interacción es:
Vij= 1ESFI+ 2EAEC+ 3BAEC+ 4EZRA+ 5BZRA+ 6tarifa+εij (2)
Para el caso del modelo con interacción las variables socioeconómicas son incluidas en la función de
utilidad como interacción con la constante específica para cada alternativa, estimando j – 1 constantes, donde j es el
número total de alternativas de elección, quedando como sigue:
= 1 1+ 2 2+ 1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 1( ∗ 1)+ 2( ∗ 2) (3)
+ 3( ∗ 1)+ 4( ∗ 2)+
En ambos tipos de modelos, la variable dependiente es la función de utilidad indirecta (Vij), la cual está
codificada según la elección que realiza el usuario. Si, por ejemplo, el usuario elige el plan A, a esta alternativa se le
codifica con 1 y a las restantes alternativas (plan B y status quo) se les codifica con 0. La variable dependiente Vij
depende de un conjunto de atributos del refugio (ESFI, EAEC, BAEC, EZRA, BZRA) y del costo (tarifa) en el
primer modelo; mientras en el segundo modelo se adicionan las variables socioeconómicas (educación e ingresos)
interactuando con las propuestas de mejora incluidas (plan 1 y plan 2). Esta interacción permite capturar de manera
conjunta los efectos de los atributos y las características de los usuarios en la implementación del programa de
recuperación y conservación del RVSL.
Análisis Econométrico En las regresiones condicionales la variable dependiente es la elección que realiza el visitante sobre la base
de alternativas de recuperación y conservación. De lo anterior se puede desprender que de un conjunto de variables
asociadas a las diferentes alternativas de mejora, el usuario elegirá una alternativa dependiendo de esa información
(variación intrapersonal) y de las características socioeconómicas del visitante que determinan las preferencias por
alternativas similares (variación interpersonal). Al obtener mejor eficiencia con el mejor modelo, podemos dar
respuesta al primer objetivo específico planteado. La estructura de preferencias planteadas a los visitantes, de
atributos y niveles a valorar atribuye que:
Cuadro N° 1. DAP Estimadas
Atributos /Nivel de Mejora Visitante / Soles
Excelente Bueno Señalización de senderos 11.65
Actividades Económicas para la
comunidad
18.76
Zona de Rescate Temporal para
Animales
9.35
Fuente: Elaboración Propia. Base de datos del modelo econométrico logit condicional estimado
Identificación del plan de intervención es: b) Actividades económicas para la comunidad, el nivel a valorar
de DAP es S/. 18.76 (PEN) representa el valor más alto, respecto a todos los niveles, quiere decir que los visitantes
aprecian más que se invierta en proyectos de mejora en agroforestería comunitaria en el RVSL.
Conclusiones:
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
El modelo evidencia que los niveles a valorar son: 1) Implementación de un proyecto de agroforestería
comunitaria (S/. 18.76 PEN) 2) Mejoras en los folletos informativos y la señalización de senderos (S/. 11.65 PEN) 3)
Construcción de un área de refugio de 1000 m2 y la contratación de un veterinario (S/. 9.35 PEN). Con ello se ha
identificado el Plan de intervención para la implementación, además estos resultados indican que los usuarios
valoran positiva y de manera diferencial el programa de recuperación y conservación propuesto. La disponibilidad a
pagar manifestada por los visitantes no depende de las características socioeconómicas, el análisis de datos realizado
no arroja validez, ni confiabilidad probabilística por ello son excluidas para la explicación del modelo.
La determinación de la tarifa de ingreso al RVSL estaría dada entre un mínimo de S/ 13.30 PEN y un monto
máximo de S/. 15.70 PEN, tomando la tarifa mínima el monto total a recaudar que ingresaría al RVSL sería S/. 21
801.73 PEN.
Con el uso de estas metodologías y el mix en la identificación de planes de negocios se incorpora el valor
ambiental del mismo, que es plenamente identificado y valorado por los visitantes.
Referencias Bibliográficas
Adamowicz, W, J Louviere, y M Williams, 1994, «Combining revealed and stated preference methods for valuing
environmental amenities.» Journal of Environmental Economics and Management 26. pp 271-292.
Adamowicz, W, y P Boxall, 2001, «Future directions of stated choice methods for environmental valuation. Paper
prepared for: Choice experiments: A new approach to environmental valuation.» London: England.
Alpizar, F., F. Carlsson and P. Martinsson, 2003, "Using Choice Experiments for Non-Market Valuation." Economic
Issues 8. pp 83-110.
Bennet, J, y R Blamey. 2001, «The choice modelling approach to environmental valuation.» Traducido por Edward
Elgar Publishing. Northampton. pp 269.
Birol, E., K. Karousakis, and P. Koundouri, 2006, "Using a Choice Experiment to Account for Preference
Heterogeneity in Wetland Attributes: The Case of Cheimaditida Wetland in Greece." Ecological Economics. pp 145-
156.
Blamey, R, J Bennett, J Louviere, M Morrison, and J Rolfe, 2000, "A test of policy labels in environmental choice
modeling studies." Ecological Economics 32. pp 269-286.
Boxall, P., J. Adamowicz, M. Williams, y J. Louviere, 1996, «A comparison of stated preference methods for
environmental valuation.» Ecological Economics. pp 243-253.
Br d , J., y C. Ko st d, 99 , “M sur g th d m d for v ro m t qu ty. North-Ho d”. Brown, Thomas, 2003, «Further tests of entreaties to avoid hypothetical bias in referendum contingent valuation .»
Journal of Environmental Economics and Management. pp 353-361.
Ciriacy-Wantrup, S V. 1947, «Capital returns from soil-conservation practices.» Journal Farm Economics.
Colombo, Sergio, Nick Hanley, y Jordan Louviere, 2008, «Modelling preference heterogeneity in stated choice data:
an analysis for public goods generated by agriculture.» University of Stirling.
Davis, R., 1963, «The Value of Outdoor Recreation: A Economic Study of the Maine Woods. Ph.D.» Department of
Economics.
Diamond, P., y J. Hausman, 1994, «Contingent valuation: Is some number better than no number?» Journal of
Economic Perspectives 8. pp 45-64.
Fredrik Carlsson, Peter Frykblom and Carolina Liljenstolpe, 2003, "Valuing wetland attributes: an application of
choice experiments." Ecological Economics, no. 47. pp 95-103.
Haab, T, y D McConnell, 2002, «Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-Market
Valuation.». pp 245-267.
Hanemann, M. 1984, «Discrete/Continuous Models of Consumer Demand.» Econometrica, N° 52. pp 541-561.
Hanemann, M., 1994, «Valuing the environment through contingent valuation.» Journal of Economic Perspectives,
N° 8. pp 19-43.
Hanemann, M., 1999, «Welfare analysis with discrete choice models.» De In Herriges and Kling.
Hanley, Nick et al., 2005, "Price vector effects in choice experiments: an empirical test." Resource and Energy
Economics. pp 227-234.
Hanley, Nick, Robert Wright, y Vic Adamowicz, 1998, «Using Choice Experiments to Value The Environment.»
Environmental and Resource Economics. pp 413-428.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de
Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Hensher, David. 2001, "An exploratory analysis of the effect of numbert of choice sets in designed choice
experiments: an airline choice application." Journal of air transport management. pp 373-379.
Holmes, T, and W Adamowicz, 2003, Atribute-based methods. A primer nonmarket valuation. Kluwer Academic
Publishers.
Lancaster, K, 1966, «A New Approach to Consumer Theory.» Journal of Political Economy, N° 74. pp 132-157.
Layton, D., y G. Brown, 2000, «Heterogenous preferences regarding global climate change. .» Review of Economics
and Statistics. pp 616-624.
Louviere, J, 1993, «Conjoint analysis. In Bagozzi. Advanced Methods in Marketing Research.» Blackwell Business.
Maddala, G. 1999, «Limited dependent and qualitative variables in econometrics.» Cambridge Press.
Mäler, K-G. 1974, "Environmental Economics: A Theoretical Inquiry." Resources for the Future.
McFadden, D. 1974, "Conditional logit analysis of qualitative choice behavior." New York: Academic Press.
Paula, Horne, 2006, "Forest Owners' Acceptance of Incentive Based Policy Instruments in Forest Bioviversity
Conservation - A Choice Experiment Based Approach." Silva Fennica, N° 40. pp 169-178.
Peter Diamond, and Jerry Huasman. "Contingent Valuation: Is Some Number better than No Number?" The Journal
of Economic Perpectives, N° 8. pp 45-64.
Polak, J, and P Jones, 1997, Using stated-preference methods to examine travelers preferences and responses. In
Understanding Travel Behavior in an Era of Change.
Rolfe, J., J. Bennett, y J. Louviere, 2000 «Choice modelling and its potential application to tropical rainforest
preservation.» Ecological Economics. pp 289-302.
Ryan, M, y J Hughes. 1997, «Using conjoint analysis to assess women's preferences for miscarrige management.»
Health Economics 6. pp 261-273.
Thurstone, L. 1927, «A law of comparative judgement.» Psychol Rev. pp 273-286.
Tudela, Juan. 2010, «Choice Experiments in the Prioritzation of Management Policies in Pretected Natural Areas.»
Desarrollo y Sociedad. pp 183-217.
Vick, S, y A Scott. 1998, "Agency in health care: Examining patients' preferences for attributes of the doctor-patient
relationship.» Journal of Health Economics 22. pp 71-91.
Whittington, D. 2002, «Improving the Performance of Contingent Valuations Studies in Developing Countries.»
Environmental and Resource Economics: pp 323-67.
Ben-Akiva, M, and S Lerman, 1985, "Discrete Choice Analysis." Theory and Applications to Travel Demand. MIT
Press.
CITES, 2010, «Apendice I.» Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres. Washington DC.
Greene, W. 2003, «Econometric analysis.» Prentice Hall.
Hensher, David, Rose William, y H. Greene. 2005, Applied choice analysis. New York.
Incahuasi, 2010, Municipalidad Distrital de. «Diagnóstico Situacional del Distrito de Incahuasi.» Chiclayo, Perú.
Mendieta, J., 2005, Manual de Valoración Económica de Bienes No Mercadeables. Segunda. Colombia.
Merino, Anna. 2003, Eliciting Consumers Preferences Using Stated Preference Discrete Choice Models: Contingent
Ranking versus Choice Experiment. Barcelona.
http://proyectos.inei.gob.pe/Censos2007/?id=CensosNacionales (21-03-2015).
http://legislacionanp.org.pe/refugio-de-vida-silvestre-laquipampa/ (14-04-2015).
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=988 (7-05-2015).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
AGRICULTURA URBANA: SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
Cristian Rogério Foguesatto1, Felipe Dalzotto Artuzo¹, Dieisson Pivoto¹, João Armando Dessimon Machado2
1Doutorando – Programa de Pós-Graduação em Agronegócios UFRGS. 2Doutor em Economia Agroalimentar. Docente – Programa de Pós-Graduação em Agronegócios UFRGS.
Resumo: As atividades agrícolas no meio urbano vêm emergindo como objeto de estudos no cenário acadêmico,
principalmente pela importância social e econômica. Dessa forma, a pesquisa tem por objetivos: i) analisar por
meio da percepção de estudiosos do tema as características atuais e; ii) destacar quais são as perspectivas da
agricultura urbana para os próximos anos, para o desenvolvimento local. O estudo é exploratório e qualitativo.
A amostra é composta por quatro estudiosos do tema. Os resultados evidenciam o importante papel da
agricultura urbana no cenário brasileiro, nos Estados Unidos e no Canadá e seu potencial para maximizar o
desenvolvimento local por meio de diversas variáveis como a diminuição dos custos de transação, de transporte,
estocagem e a partir do desenvolvimento de um selo de “produção urbana orgânica”. Palavras-chave: Agricultura vertical. Centros urbanos. Desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico.
Segurança alimentar.
URBAN FARMING: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT
Abstract: Agricultural activities in the urban environment are important in social and economic context. These
activities have been the subject of several academic studies. This research aims: i) to analyze the perception of
individuals who know this subject about the current characteristics and ii) to analyze which are the perspectives
of urban agriculture in the next years to the local development. This research is exploratory and qualitative and
the sample is composed of four individuals which have expertise in urban farming. The results highlight the
important of urban agriculture in Brazil, United States of America and Canada and its potential to maximize
local development based on variables such as the reduction of transaction costs, transportation, storage and
through the development of a seal "urban organic production."
Keywords: Vertical farm. Urban centers. Social development. Economic development. Food security.
INTRODUÇÃO
As formas de fazer agricultura e o espaço em que esta é desenvolvida têm passado por alterações ao longo do tempo. Aliado a isso, o panorama mundial sofreu um processo expressivo de urbanização, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos emergentes. Dessa forma, acompanhando o processo migratório rural-urbano e consequentemente a urbanização massiva em escala global, as práticas agrícolas migraram também para as cidades.
A associação que é feita entre agricultura e meio rural pode levar a uma impressão de incompatibilidade entre agricultura e o meio urbano (AQUINO; ASSIS, 2007). Entretanto, a agricultura urbana (urban farming) ultrapassa a fronteira do meio rural, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, além de ter importante papel na geração de renda e subsistência para os atores envolvidos nos centros urbanos (HAGEY; RICE; FLOURNOY, 2012). Além disso, a agricultura urbana possibilita o fomento da utilidade de espaços urbanos que em muitos casos não são usados adequadamente, como espaços ociosos em terraços e terrenos baldios, por exemplo.
Analisando a segurança alimentar neste contexto, Almeida (2004) destaca que a produção agrícola no meio urbano acarretou em melhores hábitos alimentares para os atores envolvidos nessas atividades, sobre tudo por ter evidenciado a relação que há entre alimentação e saúde. Nessa perspectiva, o desenvolvimento local, no âmbito social e
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS econômico, é retratado por Hagey, Rice e Flournoy (2012) a partir da geração de empregos, revitalização do espaço onde essas práticas agrícolas ocorrem, redes de colaboração entre os vizinhos bem como o surgimento de políticas e parcerias organizacionais.
Levando em consideração esses fatores, as organizações e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento vêm analisando esse panorama, principalmente pela emergência da agricultura urbana e o seu papel para o desenvolvimento local. Dessa forma, o objetivo do estudo é: i) analisar por meio da percepção de estudiosos do tema as características atuais e; ii) destacar quais são as perspectivas da agricultura urbana para os próximos anos no panorama do desenvolvimento local. Críticas referentes à agricultura urbana
A agricultura urbana é promovida em razão de sua contribuição para a segurança
alimentar (SMART; NEL; BINNS, 2015; POULSEN et al., 2015) e para a redução da pobreza (ZEZZA; TASCIOTTI, 2010). Uma literatura considerável destaca esses benefícios, mas também há críticas de que esses benefícios são exagerados.
Para Badami e Ramankutty (2015), a agricultura urbana é viável nos países de alta renda. Essa viabilidade está relacionada com a disponibilidade de terras urbanas para o crescimento do consumo de vegetais básicos para indivíduos de classe baixa. Contudo, no ponto de vista da segurança alimentar desses países, há pouca necessidade do uso da agricultura urbana. Além disso, corroborando com o autor, Ellis e Sumberg (1998) sugerem que as atividades agrícolas no meio urbano não devem ser desencorajadas, mas também não há nenhuma razão convincente para os governos promoverem tal atividade.
Mesmo assim, não é possível negar os benefícios da agricultura urbana em países de alta renda, incluindo o fornecimento de alimentos, “ecologização” das cidades, uso de determinadas áreas que poderiam ser desperdiçadas, além dos benefícios sociais de comunidades locais. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo é caracterizado como exploratório e de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário com perguntas abertas, buscando analisar as percepções dos respondentes referentes aos objetivos propostos. Como critério para participar desta pesquisa, os respondentes deveriam ter desenvolvido estudos científicos nessa óptica ou participarem de atividades no panorama da agricultura urbana; ou seja, a pesquisa contempla indivíduos com expertise na temática.
A amostra é composta por quatro respondentes brasileiros: três pesquisadores, professores do nível superior e um sócio-diretor de uma organização. Suas pesquisas/atividades foram realizadas em Embu das Artes/São Paulo (respondente 1), Porto Alegre/Rio Grande do Sul (respondente 2), Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama/Distrito Federal e Baltimore/Maryland – Estados Unidos (respondente 3); e Vancouver/Colúmbia Britânica – Canadá (respondente 4).
O questionário foi elaborado por meio do Google Docs e encaminhado para os respondentes com as seguintes perguntas: i) Qual a situação atual das práticas agrícolas urbanas nesta região? ii) A agricultura urbana contribui para o desenvolvimento (social e econômico) local? Como? iii) Existem incentivos de órgãos públicos ou privados para fomentar a agricultura urbana? iv) A agricultura urbana é uma atividade voltada principalmente para o autoconsumo ou pode vir a ser importante para o fornecimento de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS alimentos para a sociedade por meio de práticas de comercialização? v) Quais as perspectivas da agricultura urbana para os próximos anos? RESULTADOS E DISCUSSÕES Situação atual da agricultura urbana
De acordo com os respondentes 1, 2 e 3, no Brasil, existem iniciativas para o desenvolvimento da agricultura urbana em espaços públicos e em espaços geridos pela sociedade civil, como associações de moradores, sendo que essas práticas ocorrem no formato horizontal. Por outro lado, no cenário americano e canadense, os respondentes 3 e 4 ressaltam que além da agricultura horizontal a agricultura urbana é realizada na modalidade vertical1, com a utilização de estufas e ambiente controlado, sendo que a produção ocorre ao longo de todo o ano. Nessas condições, produções agrícolas verticalizadas são inovadoras, seguem princípios sustentáveis de equilíbrio ao ecossistema e propostas reais ao bem-estar das gerações futuras (BESTHORN, 2013; LUCENA, 2014). A partir das dimensões: econômica, social, cultural, de segurança alimentar e nutricional, a agricultura urbana é retratada por todos os respondentes como importante para o desenvolvimento social e econômico local, a partir da produção animal (aves, peixes, outros pequenos animais) e vegetal. Com base nessas percepções, percebe-se o dinamismo destas práticas, que também é retratado no estudo de Aquino e Assis (2007). Em relação ao apoio governamental ou privado, observa-se diferenças entre o contexto nacional e internacional. Enquanto que no Brasil os respondentes afirmam que há pouco incentivo para estas atividades, nos Estados Unidos e no Canadá é destacado que existem parcerias privadas e o apoio de prefeituras, principalmente por meio de políticas voltadas a isenção de impostos e aquisição dos produtos por creches, asilos, escolas e presídios.
O respondente 4 também enfatiza que no Canadá há o interesse de redes de hotelaria e fast food na comercialização dos produtos oriundos da agricultura urbana. A partir dessas parcerias, os produtos oriundos da agricultura urbana, além de atenderem o autoconsumo, são considerados importantes no fornecimento de alimentos (principalmente nos países desenvolvidos economicamente) não só a nível local, mas atendendo uma área geográfica regional. Perspectivas para a agricultura urbana
Na perspectiva brasileira, a partir da introdução de práticas institucionais e/ou parcerias organizacionais que fomentem estas atividades, os respondentes 1, 2 e 3 afirmam que a agricultura urbana terá condições de maximizar sua contribuição social, visando o autoconsumo do eixo familiar. Ademais, o desenvolvimento dessas atividades pode ser importante para a geração de empregos, principalmente para as famílias de baixa renda. Esses respondentes também apontam que a agricultura vertical ainda é um desafio no Brasil em virtude dos altos investimentos. Por outro lado, os respondentes 3 e 4 destacam que as fazendas verticais são estratégicas do ponto de vista das condições climáticas (em sistemas de estufas conservam temperatura adequada para a produção agrícola, principalmente no inverno, por exemplo) e na maximização da produção em relação ao espaço territorial físico.
1 Nesta pesquisa, define-se como agricultura vertical a realização do cultivo em camadas verticais (em andares), diferentemente do formato horizontal onde o cultivo é desenvolvido apenas em uma camada no solo ou em bancadas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Todos os respondentes ressaltam o aumento da preocupação da população no âmbito de questões que envolvem a qualidade dos alimentos, principalmente a segurança alimentar. Dessa forma, a produção agrícola urbana ganhará mais evidencia nesse enfoque. Tagtow (2016) afirma que em países desenvolvidos como os Estados Unidos o termo “segurança alimentar” engloba também as variáveis que dificultam o acesso ao alimento, como a baixa renda. Nesse sentido, a percepção dos respondentes compartilha a mesma ideia frente à ascensão da importância da agricultura urbana nesse contexto para os próximos anos.
É consenso também, que os produtos cultivados nas cidades poderão apresentar vantagens competitivas referentes a outros, em virtude da diminuição dos custos de transação, de transporte e estocagem. Além disso, com a emergência do mercado alimentar de orgânicos (MANN et al., 2012), produtos oriundos desse tipo de agricultura poderão ter selos ou certificados de “agricultura urbana orgânica”, desenvolvendo um novo atributo de valor ao produto, que poderá vir a ser comercializado com um preço diferenciado. CONCLUSÕES A agricultura urbana é uma forma de agricultura importante, e contribui para o desenvolvimento social e econômico local a partir da produção de alimentos e da geração de renda. Com base nas percepções dos entrevistados, existem diferenças entre o Brasil, Estados Unidos e o Canadá, sendo que, nos países da América do Norte a produção agrícola vertical apresenta-se como uma forma estratégica de produzir alimentos. Nesse contexto, o sistema vertical ainda é um desafio no cenário brasileiro, em razão do alto investimento financeiro. A criação de selos de "agricultura urbana orgânica" poderá desencadear vantagens na comercialização destes produtos, visto que, na contemporaneidade há a emergência de questões voltadas para a segurança alimentar, além de vantagens como a diminuição dos custos de transação, de transporte e de estocagem. Com isso, a perspectiva é que para os próximos anos a agricultura urbana continuará a exercer importante papel no desenvolvimento local. REFERÊNCIAS
ALMEIDA, D. Agricultura urbana e segurança alimentar em Belo Horizonte: cultivando uma cidade sustentável. Revista Agriculturas: experiências em agroecologia., v. 1, n.0, p. 25-28, 2004.
AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agricultura orgânica em áreas urbanas e periurbanas com base na agroecologia. Ambiente & Sociedade, v. 10, n. 1, p. 137-150, 2007.
BADAMI, M. G.; RAMANKUTTY, N. Urban agriculture and food security: A critique based on an assessment of urban land constraints. Global Food Security, v. 4, p. 8-15, 2015.
BESTHORN, F. H. Vertical farming: Social work and sustainable urban agriculture in an age of global food crises. Australian Social Work, v. 66, n. 2, p. 187-203, 2013.
ELLIS, F.; SUMBERG, J. Food production, urban areas and policy responses. World Development, v. 26, n. 2, p. 213-225, 1998.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS HAGEY, A.; RICE, S.; FLOURNOY, R. Growing urban agriculture: equitable strategies and policies for improving access to healthy food and revitalizing communities. Oakland: Report by Policy Link, p. 1-52, 2012.
LUCENA, L. P. de. Modelo urbano de produção rural verticalizado como alternativa de segurança alimentar às grandes cidades: um estudo de viabilidade econômica e organizacional do modelo vertical canadense e do modelo horizontal brasileiro. 154 f. Tese (Doutorado em Agronegócios). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014.
MANN, S.; FERJANI, A.; REISSIG, L. What matters to consumers of organic wine? British Food Journal, v. 114, n. 2, p. 272-284, 2012.
POULSEN, M. N.; MCNAB, P. R.; CLAYTON, M. L.; NEFF, R. A. A systematic review of urban agriculture and food security impacts in low-income countries. Food Policy, v. 55, p. 131-146, 2015.
SMART, J.; NEL, E.; BINNS, T. Economic crisis and food security in Africa: Exploring the significance of urban agriculture in Zambia’s Copperbelt province. Geoforum, v. 65, p. 37-45, 2015.
TAGTOW, A. Food security and urban agriculture. In:Sowing Seeds in the City. Springer Netherlands, p. 11-22, 2016.
ZEZZA, A.; TASCIOTTI, L. Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries. Food Policy, v. 35, n. 4, p. 265-273, 2010.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A Comercialização de Alimentos Orgânicos em Porto Alegre através dos
Circuitos Curtos
Daiane Netto1, Caroline Gallicchio
2, Glauco Schultz
3
1 Mestranda do PGDR/UFRGS, [email protected]
2 Acadêmica do curso de Nutrição FAMED/UFRGS, [email protected]
3Professor Dr. FCE/IEPE, PGDR e PPG-Agronegócios/UFRGS, [email protected]
Resumo. A produção orgânica de alimentos é uma proposta de revisão das culturas convencionais que busca
garantir a segurança alimentar e o fornecimento de insumos produtivos sem comprometer os recursos naturais,
de forma socialmente justa e sem a utilização de agrotóxicos. O mercado de orgânicos não está totalmente
consolidado; está em construção e vem se organizando através de certificações ou circuitos curtos de
comercialização. A comercialização via circuitos curtos possibilita maior aproximação entre produtores e
consumidores, além de transações mais justas. O objetivo deste trabalho é fornecer um parâmetro inicial acerca
da distribuição de alimentos orgânicos em Porto Alegre/RS, identificando e caracterizando os principais canais
de comercialização através dos circuitos curtos. Para isso, utilizou-se o levantamento de dados realizado pelo
Grupo de Pesquisa em Sistemas Cooperativos Agroalimentares (PESCAR) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) entre o fim do ano de 2014 e início de 2015. Caracterizou-se brevemente os espaços
varejistas que realizam a venda de alimentos orgânicos. Uma análise preliminar possibilitou concluir que a
distribuição de alimentos orgânicos, na forma in natura, ocorre em maior parte nas feiras, cestas e
restaurantes. As lojas especializadas são as responsáveis por distribuir os produtos beneficiados e processados,
embora também realizem a venda de alimentos in natura, porém em quantidade menos significativa. Identificou-
se várias características, nos canais de comercialização analisados, que coincidem com aquelas esperadas para
definir a comercialização como um circuito curto.
Palavras-chave. circuitos curtos de comercialização; alimentos orgânicos; mercado de orgânicos.
The Organic Food Marketing through Short Food Supply Chains in Porto
Alegre
Abstract. The organic food production is a proposal to revise the conventional culture which seeks to ensure
food security and provide production inputs without demaging natural resources, in a fair trade way and without
agrotoxics. The organic market is not totally consolidated; it is under construction and has been organized
through certifications or short circuits of commercialization. The sales through short circuits allows greater
proximity between producers and consumers, as well as more fair transactions. The objective of this study is to
provide an initial parameter about the distribution of organic food in Porto Alegre/RS, identifying and
characterizing the main marketing channels through short circuits. In order to do so, we used the survey data
conducted by the Research Group in Agrifood Cooperative Systems (PESCAR) of the Federal University of Rio
Grande do Sul (UFRGS) between the end of 2014 year and beginnig of 2015 year. Organic food retail spaces
were briefly characterized. A preliminary analysis led us to conclude that the distribution of fresh organic
produce occurs mainly in farmers markets, baskets and restaurants. The specialty stores are responsible for
distributing processed organic food, yet they also sale fresh food, though a less significant amount. Several
features were identified in the analyzed marketing channels, which coincide with those expected to a short
circuit definition.
Keywords. short food suply chain; organic food ; organic market.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
Atualmente, coloca-se o desafio de garantir a segurança alimentar e o abastecimento da população sem comprometer os recursos naturais para as gerações futuras e de forma socialmente justa. A produção orgânica de alimentos consiste em práticas agrícolas sustentáveis que busca dar conta desses desafios.
Esse sistema de produção se baseia no cultivo, no processamento e no acondicionamento livre de substâncias que possam contaminar o meio ambiente e os consumidores. Economicamente, é influenciado e contribui para o processo de mudança dos mercados contemporâneos. Especialistas do setor preveem um crescimento ainda maior ao longo dos próximos anos. Essa percepção ocorre a nível mundial, fazendo com que as atenções se voltem para a oferta e demanda destes produtos, assim como para a diversidade de canais de comercialização e de certificação da qualidade (FONSECA, 2009; CALDAS et al., 2012; SCHULTZ, 2009).
Ainda assim, o mercado de orgânicos não está totalmente consolidado; está em construção. Boa parte dos consumidores desconhece a diferença entre os produtos orgânicos e os demais. Em muitos casos, mesmo aquelas pessoas que, em busca de segurança alimentar, adquirem os orgânicos, possuem dificuldades de avaliar a credibilidade dos produtos (VALENT et al., 2014; DIAS et al., 2015). Há dúvidas sobre a qualidade dos produtos, sobre as suas origens e sobre os próprios sistemas de certificação. Como o consumidor pode saber se o produto é efetivamente de procedência orgânica ou não?
Basicamente, para amenizar esse problema informacional, o mercado de orgânicos tem se organizado de duas maneiras: através de certificações ou através de circuitos curtos de comercialização. A implantação de alternativas de comercialização, como os circuitos curtos de, é condição para que a agricultura orgânica represente verdadeira transformação nas condições de vida, trabalho e renda dos agricultores familiares (SILVA; ROVER; VASCONSELOS, 2014).
Segundo Darolt (2012), no Brasil ainda não há um consenso sobre a definição para a modalidade de circuito curto de comercialização. Porém, percebe-se que as ideias relacionadas a estes termos indicam uma aproximação, geográfica e relacional, entre consumidores e produtores através das relações de confiança. A principal característica deste sistema é a transmissão de valores e conhecimento intrínsecos aos produtos, sua procedência e qualidade (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000), não referindo-se unicamente a distância geográfica.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em 2012, demonstrou que existem sinais de crescimento da comercialização por circuitos curtos no Brasil. Realizam-se feiras ecológicas em 22 das 27 capitais brasileiras (IDEC, 2012). Neste sistema a autonomia do agricultor, no que se refere à gestão dos recursos naturais, relação com a terra, planejamento e comercialização, é maior; além de aproximar agricultores e consumidores, tornando as relações mais justas e solidárias (FONSECA, 2009; CALDAS et al., 2012).
Visto que a maior parte da população ainda não possui informações suficientes para poder optar de forma consciente sobre sua alimentação e, em boa medida, desconhece as formas de cultivo e os seus impactos negativos, os sistemas de produção e comercialização de alimentos orgânicos trazem consigo informações para os cidadãos. Isso possibilita maior consciência por parte dos consumidores quanto a sua alimentação e a procedência dos alimentos. A
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS modalidade de distribuição em circuitos curtos é inovada a cada ano, com o surgimento de feiras noturnas de produtores, cestas de produtos com entrega a domicílio e até mesmo vendas pela internet.
Desta forma, é necessário que essas inovações sejam compreendidas e analisadas, de tal maneira que se formule conhecimento científico, que possa orientar os produtores a elaborar estratégias para alavancar suas vendas e, assim, permanecer no mercado. Todos esses fatores somados contribuem para o desenvolvimento social e produtivo das famílias produtoras e, assim, para o aumento da oferta desses produtos, facilitando o acesso dos consumidores à cultura da alimentação saudável e do consumo de orgânicos.
O objetivo do presente trabalho é fornecer um parâmetro e características preliminares acerca dos canais de distribuição de alimentos orgânicos na cidade de Porto Alegre/RS, através dos circuitos curtos. Para isso, utilizou-se o levantamento de dados realizado por Chechi et al. (2015) e Sá et al. (2015), no período entre o final do ano de 2014 e início de 2015. Os autores realizaram uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória sobre a comercialização de produtos orgânicos na capital. O estudo abrangeu cinco feiras de produtos orgânicos, trinta e três lojas de produtos especializados, sete sites que comercializam produtos online (as cestas) e quinze restaurantes.
Metodologia
O estudo tem caráter descritivo e exploratório, envolvendo a pesquisa bibliográfica em diversas formas. Segundo Santos (2000) apud Siqueira; Schultz e Talamini (2015, p. 04) “a pesquisa exploratória visa prover a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador e, na maioria das vezes, é feita como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam ou atuam na área pesquisada, visitas a web sites e outras ferramentas”.
Além disso, utilizou-se os dados coletados por Chechi et al. (2015) e Sá et al. (2015). Nesse estudo, primeiramente, os autores realizaram um levantamento dos espaços varejistas de venda de produtos orgânicos, em Porto Alegre, via internet. O contato com as lojas online foi realizado via telefone, os demais espaços receberam visitas in loco. No momento das visitas foram preenchidos os questionários semi-estruturados com questões de caráter qualitativo e quantitativo.
Discussão
Circuitos Curtos de Comercialização
Segundo Darolt (2013), na França o termo circuito curto remete a circuitos de distribuição e comercialização que mobilizam até um intermediário entre produtor e consumidor. A venda pode ocorrer de forma direta, quando o produtor entrega a mercadoria direto ao consumidor; ou de forma indireta, quando há um único intermediário. Porém, outros autores têm introduzido ideias diversas ao tema.
Aubri e Chiffoleau (2009) trazem a ideia de proximidade geográfica e demonstram a importância das relações sociais entre consumidor e produtor para o desenvolvimento local e territorial. Somada a essa noção, Deverre e Lamine (2010) trazem o conceito de circuito
alternativo, no sentido de questionar o modelo convencional e propor relações mais justas entre os produtores e consumidores; aproximando-se, Galli e Brunori (2013), veem os circuitos curtos como uma alternativa para a distribuição desigual de poder entre os diferentes participantes do mercado.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Destaca-se ainda que, conforme Guthman (2004), é importante compreender que nem sempre a distância geográfica irá garantir uma alternativa ao sistema convencional, visto que uma grande empresa pode encurtar a cadeia por questões de logística. Considera-se então a “distância relacional”, como sendo aquela que conserva a troca de informações entre produtor e consumidor, e que possibilita a construção de relações de confiança e padrões de qualidade. No sistema de comercialização através dos circuitos curtos, a autonomia do agricultor, no que se refere à gestão dos recursos naturais, relação com a terra, planejamento e comercialização é maior, além de aproximar agricultores e consumidores, tornando as relações mais justas e solidárias (FONSECA, 2009; CALDAS et al., 2012).
Caracterização dos circuitos curtos de comercialização1
Conforme Chechi et al. (2015), as feiras de comercialização de produtos orgânicos são um exemplo de contato direto entre produtor e consumidor. O estudo realizado pelos autores demonstrou a presença de uma série de evidências que caracterizam as feiras de produtos orgânicos em Porto Alegre/RS como um circuito curto de comercialização e sua relevância para o centro urbano mencionado.
Os autores realizaram visitas às cinco feiras de produtos orgânicos autorizadas pela Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC), onde mais de 70% dos produtos ofertados eram in natura e cerca de 20% beneficiados ou processados. Por se tratar de feiras especializadas, a maior parte do espaço físico das bancas é destinado aos produtos orgânicos, que geralmente são comercializados pelos próprios produtores organizados em cooperativas ou associações. Neste caso, foram identificadas 9 cooperativas e 16 associações.
Os elementos empíricos observados nestas feiras, e que caracterizam um circuito curto, foram o contato direto entre consumidor e produtor, que realiza as vendas; as relações de confiança e reciprocidade, percebidas através do sistema de pagamento “a fiado”, em que o consumidor realiza o pagamento de suas compras na semana seguinte; o consumidor sente-se à vontade para opinar a respeito da qualidade dos produtos. Observou-se também a integração de produtores de diversos municípios em cooperativas e associações, garantindo a oferta regular e a diversidade de produtos. Notou-se ainda a valorização da produção, de forma que a maior parte do valor total dos produtos retorna ao produtor por não haver intermediários (CHECHI et al., 2015).
Referente às lojas de produtos orgânicos, incluiu-se no estudo as lojas de produtos naturais, visto que em Porto Alegre os produtos orgânicos costumam ser apresentados como um nicho dentro de opções de alimentos considerados saudáveis. No período em que a pesquisa de campo foi realizada, havia 29 lojas especializadas distribuídas em 17 bairros de Porto Alegre, com maior concentração na área central da cidade. A maioria das lojas é de pequeno porte e possui até 10 anos de existência no mercado e contam, em média, com a colaboração de 3 a 5 funcionários.
A oferta dos produtos nestas lojas não é padronizada, há uma variação, que pode chegar a até 50 tipos de produtos em alguns espaços, enquanto outros, com menor variedade, oferecem de 11 a 30 tipos diferentes aos seus clientes. O espaço físico destinado aos produtos orgânicos nestas lojas é reduzido, varia de 10 a 30% em relação ao espaço total. Os produtos in natura
1 A caracterização das feiras foi realizada por Cechi et al. (2015), integrantes do grupo de pesquisa PESCAR/UFRGS.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS encontram-se à venda também nas lojas especializadas, porém em espaços reduzidos, diferenciando-se das feiras nesse aspecto. Observou-se que na maioria das lojas, os produtos in natura ocupam menos de 10% do espaço destinado aos orgânicos. Assim, a concentração da oferta está nos produtos beneficiados ou processados.
Conforme Darolt (2013), as pequenas lojas especializadas em produtos naturais e orgânicos caracterizam-se como um circuito curto, onde as vendas ocorrem de forma indireta. O encurtamento da cadeia se dá pela diminuição da distância geográfica e maior proximidade relacional entre consumidor e produtor. Mas não somente por estes fatores, autores como Marsden, Banks e Bristow (2000), deixam claro que não importa o número de vezes que o produto é manuseado ou a distância que ele percorre, mas sim a transmissão de informações até o consumidor, além da diminuição do número de intermediários.
A partir dos dados coletados, observou-se que aproximadamente 75% das lojas especializadas disponibilizam fontes de informação aos seus consumidores: são oferecidos materiais de publicidade e referências relacionadas aos fornecedores. Essas informações permitem que o consumidor realize conexões com o local de produção, pessoas envolvidas, valores e métodos produtivos, ainda que por intermédio do estabelecimento.
Outro exemplo de venda direta, além das feiras, é o sistema de entrega de cestas a domicílio. Essa é a forma mais recente de comercialização através dos circuitos curtos. As cestas apresentam uma nova forma de conexão entre produtores e consumidores. Em Porto Alegre existiam, na época em que os dados foram coletados, 7 estabelecimentos que praticam a venda online de alimentos de origem orgânica e realizam a entrega no domicílio do consumidor. A comunicação e encomenda dos produtos se dá via telefone ou internet. Esse sistema de distribuição de alimentos mobiliza maior articulação das organizações envolvidas, grupos de produtores, consumidores e demais parceiros. A transmissão de informações sobre os produtos, formas de cultivo e fornecedores é realizada via correio eletrônico ou disponibilizada nos sites. As entregas são realizadas apenas em municípios próximos à propriedade de origem da produção.
Conforme visita realizada às lojas virtuais, no mês de julho de 2016, constatou-se que as mesmas oferecem uma grande variedade de produtos da estação. As compras podem ser realizadas, geralmente, através de “cestas prontas” com produtos e preço total pré-definidos, ou então, por produtos individuais como hortaliças, grãos e cereais, temperos e chás. Algumas lojas virtuais ainda oferecem produtos processados como massas, pães, bolos, biscoitos, laticínios, sucos e geléias, de diversas marcas.
Ainda está disponível um plano de assinaturas, como uma espécie de contrato de fidelidade ou parceria entre o consumidor e o produtor. Nesse plano, o consumidor assume o compromisso de adquirir um valor fixo semanal ou mensal em produtos, conforme sua necessidade. Em sua maioria, os produtores que realizam as vendas online integram sistemas de certificação participativa da produção, com exceção de apenas uma das lojas.
As lojas virtuais, ou cestas, apresentam uma oferta bastante heterogênea. Algumas oferecem a diversidade de 25 produtos, podendo chegar a mais de 60 produtos em outras. Boa parte delas oferece também em seus sites dicas e receitas culinárias, novos pratos e alimentos comercializados e ainda realizam a divulgação de eventos relacionados ao tema. Todas elas fornecem informações diversas sobre a importância do consumo de produtos orgânicos, local de produção dos alimentos e o que, de fato, são os alimentos orgânicos. Uma das lojas ainda apresenta o estágio em que o alimento se encontra, se está em época de plantio ou de colheita.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Essas informações são disponibilizadas sempre relacionadas com a ideia de alimentação saudável, promoção da saúde, desenvolvimento social e sustentabilidade. O tema dos orgânicos aparece sempre de forma direta nas atualizações e publicações dos sites.
Os restaurantes, segundo a pesquisa realizada pelo IDEC (2012), tornaram-se um importante canal de venda de alimentos orgânicos. Em Porto Alegre, Chechi et al. (2015) e Sá et al. (2015) visitaram quinze restaurantes. Nestes espaços de comercialização, conforme Sá et al. (2015) os alimentos estão disponíveis em buffets, a lá carte, ou são utilizados no preparo de outros alimentos como pães, bolos e doces diversos. Cerca de 10 a 30% dos alimentos orgânicos são oferecidos na forma in natura, o restante é beneficiado ou cozido. Os autores constataram que alguns restaurantes funcionam também como lojas especializadas, disponibilizando gôndolas com alguns tipos de produtos orgânicos, geralmente beneficiados.
Conclusões
Há pontos de comercialização de alimentos orgânicos em praticamente todos os bairros da capital, com maior concentração nos que se localizam próximos da área central. Assim, conclui-se que os alimentos orgânicos estão presentes na cidade de Porto Alegre e são comercializados em diversos canais e consumidos em diversas formas, contribuindo para a garantia da alimentação saudável e segurança alimentar que os consumidores buscam.
A partir dos dados apresentados e analisados neste trabalho, confirma-se que os principais canais de comercialização de alimentos orgânicos, em Porto Alegre, caracterizam-se como circuitos curtos. As características apresentadas demonstram a importância desses espaços varejistas, tanto para garantir aos produtores o escoamento da produção, quanto para viabilizar o fácil acesso aos alimentos orgânicos.
A análise prévia demonstra que as feiras e as cestas são os canais que possibilitam contato direto e maior transmissão de informações ente os produtores e os consumidores, assim como maior estreitamento das relações de confiança e reciprocidade. Esses dois canais de comercialização são também os que disponibilizam maior oferta de produtos in natura, fornecidos principalmente por cooperativas de produtores e associações. Já os restaurantes e as lojas especializadas oferecem em maior quantidade os produtos beneficiados e processados.
Considerando a constante dinâmica do mercado de orgânicos e as inovações dos circuitos curtos, esse estudo serve como ponto de partida para uma investigação mais aprofundada sobre as relações e valores que envolvem a compra e o consumo de alimentos orgânicos. A partir disso indaga-se qual o canal de comercialização que demonstra maior participação no mercado de orgânicos. Ainda, notamos a necessidade de realizar uma análise mais detalhada da presença de intermediários na cadeia de comercialização dos alimentos envolvendo lojas especializadas, tanto com o objetivo de evidenciar a proximidade entre produtor e consumidor, quanto relacionar com o impacto ambiental, ao verificar a distância percorrida pelo alimento com transporte. Da mesma forma, pretende-se incluir na pesquisa os supermercados que ofereçam aos seus clientes os alimentos orgânicos, e, assim como nas lojas, investigar as informações sobre os intermediários e a distância percorrida pelo alimento.
Por fim, introduz-se a ideia da convencionalização da produção orgânica. Tendo em vista a ampliação da escala e as diversas marcas de produtos orgânicos industrializados, questiona-se: a produção e consumo de alimentos orgânicos em Porto Alegre estaria se aproximando das formas convencionais de cultivo e comercialização?
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências
AUBRI, C.; CHIFFOLEAU, Y. Le développementdescircuitscourts et l’agriculturepériurbaine: histoire, évolutionencours et questionsactuelles.InnovationsAgronomiques, v. 5, p. 53-97, 2009.
CALDAS, Nadia V. et al. Certificação de produtos orgânicos: obstáculos a implantação de um sistema participativo de garantia na Andaluzia, Espanha. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v.50, nº 3, p. 455-472, jul./set. 2012.
CHECHI, L. A.; KLEIN, A. D.; SÁ, M. M. de; MEINKE, A. C. da S.; SCHULTZ, G. Feiras de produtos orgânicos em Porto Alegre –
RS: características que evidenciam um circuito curto de comercialização. Cadernos de Agroecologia. v. 10, n..3, out/2015.
DAROLT, M.R. Conexão Ecológica:novas relações entre agricultores e consumidores. Londrina: IAPAR, 2012. 162 p.
DAROLT, Moacir; LAMINE, Claire; BRANDEMBURG, Alfio. A diversidade dos circuitos curtos de alimentos ecológicos: ensinamentos do caso brasileiro e francês. Agriculturas: experiências em agroecologia, Rio de Janeiro, v.10, nº 2, p. 8-13, jun. 2013.
DEVERRE, C.; LAMINE, C. Lessystèmesagroalimentairesalternatifs: Une revue de travauxanglophonesensciencessociales. EconomieRurale, n. 317, p. 57-73, mar. 2010.
DIAS, Valéria da Veiga et al. O mercado de alimentos orgânicos: um panorama quantitativo e qualitativo das publicações internacionais. Ambiente e Sociedade, São Paulo, v.18, nº 1, p. 161-182, jan./mar. 2015.
FONSECA, Maria Fernanda de Albuquerque Costa. Agricultura Orgânica: regulamentos técnicos e acesso aos mercados dos produtos
orgânicos no Brasil. Niterói: PASAGRO-RIO, 2009. 120 p.
FONSECA, Maria Fernanda Albuquerque Costa, et al. Características, estratégias, gargalos, limites e desafios dos circuitos curtos de comercialização de produtos orgânicos no Rio de Janeiro: as feiras. Revista Brasileira de Agroecologia, [S.I.],v.4, nº 2, p. 2599-2602, nov. 2009.
GUTHMAN, J. The Troublewith ‘Organic Lite’ in California: a Rejoindertothe ‘Conventionalisation’ Debate. Sociologia Ruralis. Estados Unidos, v. 44, n. 3, p. 301-316. Jul. 2004.
IDEC. Rota dos Orgânicos. Revista do IDEC, São Paulo, n. 162, p.20-23, fev., 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Agricultura Familiar, Primeiro Resultados, Brasil Grandes Regiões e Unidades da Federação. Censo Agropecuário 2006. Rio de Janeiro, 2006.
MARSDEN, Terry; BANKS, Jo; BRISTOW, Gillian. FoodSuply Chain Approches: Exploringtheir Role in Rural Development. Sociologia Ruralis. v. 40, nº 4, p. 424-438, out. 2000.
MAZZOLENI, Eduardo Mello; NOGUEIRA, Jorge Madeira. Agricultura orgânica: características do seu produtor. RER, Rio de Janeiro, v. 44, nº 02, p. 263-293, abr./jun. 2006.
SÁ, M. M. de; MEINKE, A. C. da S.; KLEIN, A. D.; CHECHI, L. A.; SCHULTZ, G. Espaços varejistas de comercialização de produtos orgânicos em Porto Alegre/RS. Cadernos de Agroecologia. v. 10, n. 3, out/2015.
SCHULTZ, Glauco. Relações com o mercado e a legitimidade institucional das organizações de agricultura orgânica no sul do Brasil. Revista Brasileira de Agroecologia, [S.I.], v. 4, nº 2, p. 3714-3717, nov. 2009.
SILVA, Bruno Jacobson; ROVER, Oscar José; VASCONSELOS, Sócrates de São Paulo. Circuitos curtos de comercialização de alimentos orgânicos e a promoção de praticas de reciprocidade e emancipação social. Cadernos de Agroecologia, Dourados/MS, v.9, nº4, nov. 2014.
SIQUEIRA, L. V.; SCHULTZ, G.; TALAMINI, E. O ambiente institucional formal da pesca e da aquicultura no Brasil: uma análise a partir das políticas públicas. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL,53, 2015. João Pessoa. Anais... João Pessoa: SOBER, 2015
VALENT, Joice Zagna et al. Fatores determinantes no consumo de alimentos certificados no Brasil. Revista Eletrônica em Gestão
Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 18, p.57-65, mai. 2014.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Desenvolvimento Científico Sobre Agronegócio Sustentável: indicadores
bibliométricos de produção científica a partir da web of science (2005-2015)
Paulo Vinícius de Miranda Pereira1, Laís Silva Gregório2, Caroline Pauletto Spanhol
Finocchio3, Leonardo Francisco Figueiredo Neto4, Denise Barros de Azevedo5
1Mestrando em Administração – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected] 2 Mestranda em Administração – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected] 3 Doutora em Agronegócios – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected] 4 Doutor em Engenharia de Produção – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected] 5 Doutora em Agronegócios – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected]
Resumo. O objetivo geral deste estudo consistiu em caracterizar as publicações científicas disponíveis no ISI
Web of Knowledge (Web of Science) relacionadas ao tema “Agronegócio e agricultura sustentável” no período
de 2005 à 2015. Para tanto, foi realizada uma análise bibliométrica em que foram observadas as variáveis:
número e ano de publicação, país, instituição, número de citações e idioma dos artigos referentes a temática em
estudo. As discussões e a importância do desenvolvimento sustentável foram intensificadas a partir da década de
90. No entanto, observou-se que o maior número de publicações se concentraram no período compreendido entre
os anos de 2012 e 2015. Entre os países que mais publicaram sobre o tema estão os Estados Unidos, China e
Brasil. Quanto ao idioma, observou-se a predominância da língua inglesa e portuguesa. Os resultados obtidos
poderão ser utilizados para subsidiar e nortear os investimentos em pesquisa e desenvolvimento relacionados ao
tema e com isso contribuir para a melhoria das práticas de produção e gestão.
Palavras-chave. Desenvolvimento sustentável; agricultura sustentável; agroecologia; agricultura orgânica;
Bibliometria
Scientific Development on Sustainable Agribusiness: bibliometric
indicators of scientific production from the web of science (2005-2015)
Abstract. The aim of this study was to characterize the scientific publications available on the ISI Web of
Knowledge (Web of Science) related to the theme "Agribusiness and sustainable agriculture" from 2005 to 2015.
Therefore, we performed a bibliometric analysis that were observed the variables: number and year of publication,
country, institution, number of citations and language of the articles concerning the subject under study. The
discussions and the importance of sustainable development were intensified from the 90s However, it was observed
that the largest number of publications focused on the period between the years 2012 and 2015. Among the
countries that published on the theme is the United States, China and Brazil. As for the language, noted the
predominance of English and Portuguese. The results may be used to support and guide investment in research
and development related to the topic and thus contribute to the improvement of production and management
practices.
Keywords. Sustainable development; sustainable agriculture; agroecology; organic agriculture. Bibliometrics.
Introdução
O agronegócio é um setor substancial, pois gera divisas, emprego e renda ao Brasil, posicionando-o como um dos líderes no comércio mundial (USDA, 2016). Dados demonstram que a produção brasileira de grãos chegou em torno de 200,7 milhões de toneladas em 2014/2015, sendo superior em 6,7% à obtida no período anterior (IBGE, 2015; CONAB, 2015;
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
MAPA, 2015). Esse resultado se deve existência de fatores como recursos naturais abundantes, câmbio favorável, aumento da demanda asiática por produtos agropecuários, produtividade crescente das lavouras, incorporação de novas tecnologias, linhas de financiamento do governo federal, capacidade de inovação e a liderança das pesquisas científicas em agricultura tropical (ASSAD et al., 2012).
Todavia, o agronegócio envolve um conjunto de questões que vão ao encontro do conceito de sustentabilidade. Isso decorre da imprescindibilidade de produzir de forma que o solo possa continuar viável ao longo de séculos, uso racional de defensivos e recursos hídricos, monitoramento dos níveis de contaminação de córregos e rios, redução das emissões de gases na natureza, a priorização do comércio e dos serviços da população local, entre outras (SOUZA; MORAES, 2012). Nesse sentido, Gregório et al. (2015) afirmaram que perante essa tendência, o setor deve investir em processos que adotem estratégias sustentáveis, pois segundo eles, é notável a relação de sucesso nas organizações que inserem a gestão ambiental como forma de planejamento.
Assim, o agronegócio eclode como promitente para as pesquisas científicas. Nesse quadro, estudos que empregam técnicas bibliométricas despontam como forma de analisar sua expressividade no campo científico. Pereira et al. (2015), em um estudo sobre as características dos artigos nacionais e internacionais publicados na Web of Science, sobre o tema “sustentabilidade no agronegócio” (período de 2004-2014), observaram um crescimento nas publicações e que os Estados Unidos e a língua inglesa têm o domínio do conhecimento científico nesta temática. Os autores ressaltaram ainda que o Brasil contribui significativamente para as publicações internacionais.
Pereira e Moura (2013), abordaram os custos no agronegócio publicados no período de 2003 a 2013, concluíram que 64,44% dos artigos analisados apresentam contribuição teórica e os artigos internacionais apresentam quase o dobro de contribuição em relação aos nacionais. Já Souza et al. (2012), analisando o perfil dos artigos sobre agronegócio no período de 2006 a 2011, concluíram que houve predomínio de instituições públicas da região sul do país.
Desse modo, buscou-se responder a seguinte questão de pesquisa: quais as características das publicações que envolvem o tema “agronegócio e agricultura sustentável” na ISI Web of
knowledge? Diante do exposto, o presente estudo teve o objetivo de analisar as características das publicações na ISI Web of Knowledge (Web of Science), sobre o tema “Agronegócio e Agricultura Sustentável” no período de 2005 à 2015. Procedimentos Metodológicos
Consoante com o objetivo proposto, este estudo pode ser qualificado como pesquisa aplicada, pois augura aludir sobre um ponto singular que é a produção de conhecimento sobre o tema “Agronegócio e Agricultura Sustentável”. Gil (2010) afirma que a pesquisa aplicada é aquela que busca agregar conhecimento direcionado à aplicação prática de um determinado procedimento ou técnica. No tocante a abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa e descritiva, ou seja, a pesquisa envolverá os processos de coleta, análise, interpretação e redação dos resultados (CRESWELL, 2010).
Conforme mencionado, a pesquisa bibliométrica foi utilizada neste estudo. Segundo Araújo (2006), a bibliometria mede índices de produção e disseminação do conhecimento científico, servindo como uma forma de avaliar as atividades de produção e comunicação científica. Esta técnica, segundo o mesmo, se volta para o estudo de diversos formatos de produção bibliográfica ocupando-se, também, com a produtividade de autores e do estudo de citações.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa na base de dados ISI Web of Knowledge (Web
of Science), a partir de uma lista de palavras-chave que remetem ao objeto de pesquisa “Agronegócio e Agricultura Sustentável”. As palavras-chave selecionadas foram “Agribusiness”, “Organic Agricultur*”, “Ecolog* Agricultur*”, “Sustainab* Agricultur*” e “Agroecolog*”. Lançou-se mão de operadores booleanos para um melhor refinamento da busca. Assim, a pesquisa foi realizada considerando os seguintes termos e operadores: “Agribusiness” AND “Organic Agricultur*” OR “Ecolog* Agricultur*” OR “Sustainab*
Agricultur*” OR “Agroecolog*”. A pesquisa considerou as publicações realizadas no período compreendido entre os anos de 2005 a 2015, sendo a coleta de dados operacionalizada no dia 16 de março de 2016.
As variáveis consideradas nesta pesquisa foram: número de publicações, período das publicações, país, instituição, citações no período e idioma (SPANHOL – FINOCCHIO, 2014; PEREIRA et al., 2015). Para a tabulação e análise descritiva dos dados bibliométricos, utilizou-se o Software Microsoft Excel 2013.
Resultados e Discussões
A análise das comunicações científicas identificadas por meio das palavras-chaves “Agribusiness”, “Organic Agricultur*”, “Ecolog* Agricultur*”, “Sustainab* Agricultur*” e “Agroecolog*”, no período compreendido entre os anos de 2005 e 2015, retornou 4.955 documentos relacionados a “Agronegócio e Agricultura Sustentável”, como ilustra a tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição dos documentos sobre o tema “Agronegócio e Agricultura Sustentável”, segundo a classificação do Web of Science
Tipo de Documento Frequência Absoluta Frequência Relativa
Artigos 3589 72,43%
Proceedings Paper 655 13,22%
Revisões 484 9,77%
Material Editorial 111 2,24%
Resumo de Reuniões 42 0,85%
Capítulo de livro 39 0,79%
Outros 35 0,71%
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2016)
A partir da tabela 1 foi possível identificar que os artigos representam aproximadamente 73% de toda a produção científica sobre o tema, estando as demais publicações distribuídas em outros formatos. Diante da representatividade, refinou-se a pesquisa apenas para documentos no formato de artigo, ou seja, 3.589 documentos.
Souza e Rasia (2011), cuja temática se voltava para custos no agronegócio nos anais do Congresso Brasileiro de Custos, encontrou apenas 137 artigos dentre 2.195 no período de 1998 a 2008, apesar de se tratar apenas de uma base de dados, os dados foram relevantes. Nessa mesma temática, Pereira e Moura (2013) considerou 90 artigos da lista disponível no QUALIS/CAPES da área de Administração com qualificação mínima de B2. Já Pereira et al.
(2015) recuperou 1.047 artigos na temática “sustentabilidade no agronegócio”, a partir da base de dados Web of Science para o período de 2004 – 2014.
Verificou-se também o crescimento das publicações sobre o tema ao longo de todo o período analisado (Figura 1), exceto no ano de 2009, que apresentou uma ligeira queda na produção. Destaca-se também o período de 2012 a 2015, que corresponderam a aproximadamente 50%
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
de todas as publicações, isto é, 1.778 publicações. A figura 1 ilustra a evolução das publicações no período de 2005 – 2015.
Figura 1 - Crescimento, em número de publicações sobre “Agronegócio e Agricultura Sustentável”
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2016)
Puerta, Faria e Filho (2012), ao analisar o tema nanotecnologia no agronegócio, nas publicações da Web of Science, constatou também um crescimento na produção científica a partir de 2003. Pereira et al. (2015), constatou que as publicações cresceram em todo o período, com exceção dos anos de 2006, 2010 e 2012. Para os referidos autores, esse fato indica que a área está se fortalecendo e aumentando sua atuação na pesquisa científica, ou seja, o agronegócio vem ganhando escala global nos últimos anos.
Na tabela 2, buscou-se analisar a taxa de crescimento dos artigos ao longo do tempo. Verificou-se que a taxa média de crescimento das publicações foi de 13,70% ao ano. As taxas de crescimento indicam o aumento das publicações em quase todos os anos. Somente no ano de 2009 a taxa de crescimento foi negativa (-5,82%). As maiores taxas de crescimento (31,65% e 30,36%) foram observadas nos anos de 2005 e 2008. Souza et al. (2013) em seu estudo sobre teses e dissertações na temática “sustentabilidade ambiental” em programas de Administração do Brasil demonstrou uma taxa de crescimento médio de 31,21% no período de 1998 a 2009. Esses dados confirmaram a tendência de leve aumento da participação dos trabalhos da dimensão ambiental, corroborando com o demonstrado na temática da pesquisa.
Tabela 2. Taxa de Crescimento (%) no número de artigos (2005-2015)
Ano de publicação
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número 178 192 224 292 275 301 349 361 415 472 530
Tx de Cresc. (%) 31,85 7,8 16,67 30.36 -5,82 9,45 15,95 3,44 19,96 13,73 12,29
Total = 3589
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2016). A figura 2 apresenta o crescimento no número de citações no período de 2005 à 2015. Segundo Spanhol-Finocchio (2014), a partir do número de citações é possível identificar sua evolução, o que pode ser um indicativo da consolidação da temática nesse período. Durante o período analisado, é possível afirmar que as citações cresceram ano a ano. Entre os artigos mais citados estão o de Waller et al (2005), Montgomery (2007) e Dayan, Cantrell e Duke (2009) com citações médias por ano de 29,36; 25,54 e 25,18, respectivamente.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Montgomery (2007) compilou dados de pesquisa do mundo inteiro sobre erosão do solo em plantio convencional e concluiu que o efeito da erosão nos plantios convencionais pode ser 1 a 2 vezes maior que em solos sob vegetação nativa. Assim, o autor destacou que o plantio direto pode produzir taxas de perda de solo próximas ao da mata nativa, sendo, portando, uma base para a agricultura sustentável.
Dayan, Cantrell e Duke (2009), os autores fazem uma avaliação sobre o uso de produtos naturais como proteção nas práticas agrícolas. Segundo eles, o paradigma atual de depender quase exclusivamente em produtos químicos para controle de pragas pode ter de ser reconsiderada. Os autores concluem que com esse novo consenso de produção sustentável na agricultura, e principalmente a preocupação do consumidor sobre o impacto dos pesticidas sintéticos no ambiente garante uma continuidade, se não um aumento, do interesse em pesquisar ferramentas de gestão de pragas ambientalmente amigáveis.
Figura 2 – Crescimento no número de citações (2005-2015)
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2015) Destaca-se ainda o estudo de Dias et al. (2015) que ao analisar os mercados de alimentos orgânicos, indicaram médias de citações de 9,43; 6,47 e 6,36 ao ano nos artigos analisados, podendo ser um indicativo de que há espaço para crescimento e desenvolvimento de novas publicações na área.
Entre os países que mais se destacam nas publicações sobre essa temática estão: Estados Unidos que contribuem com 23,88% de todas as publicações, China (8,28), Brasil (7,05%), França (6,52%), Inglaterra (6,30%), Índia (5,85%), Alemanha (4,57%), Canadá (4,51%), Espanha (4,43%) e Itália (4,23%), concentrando 75,65% de todas as publicações. Dias et al. (2015) e Pereira et al. (2015) e seus estudos, também observaram a liderança dos Estados Unidos na quantidade de artigos publicados, possuindo 24% e 25,6%, respectivamente, das publicações.
A evolução das publicações por país, ao longo do período de 2005 à 2015, pode ser verificada na Figura 3, no qual destaca os 10 (dez) países citados anteriormente. Nota-se que todas as nações tiveram oscilação no crescimento, porém é notório a liderança do Estados Unidos na produção científica sobre Agronegócio e Agricultura Sustentável, com uma taxa de crescimento média de 8,05%. Países como a Itália, Brasil, França, Espanha e Índia chamam a atenção por apresentarem médias elevadas de crescimento de 75,95%, 60,72%, 39,63%, 33,72% e 25,89%, respectivamente.
37 206569
969
1660
2287
3165
3755
4827
6175
7570
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figura 3 – Crescimento das publicações dos 10 países com maior produção científica no período 2005-2015
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2016)
Observa-se também que as publicações em Língua Inglesa são a maioria (92% das publicações), seguidos por artigos em Língua Portuguesa (3,37%), Língua Francesa (1,78%) e Língua Espanhola (1,45%). Esses idiomas juntos correspondem a 99% de todas as publicações na temática. Essa liderança do idioma inglês na produção científica internacional não é novidade, outros estudos também demonstram que a referida língua predomina nas publicações (DIAS et
al., 2015; PEREIRA et al., 2015)
Buscando conhecer as instituições que se destacam pelo número de publicações, foi elaborada a tabela 3 que destaca as 20 (vinte) instituições que mais publicaram no período de 2005 – 2015. Juntas, essas instituições correspondem a aproximadamente 35 % das publicações na temática estudada.
Tabela 3. Ranking das 20 instituições que mais publicaram no período de 2005 a 2015
Instituições Nº % de 3589
Instituições N° % de 3589
Institut National de la Recherche
Agronomique (Inra) 132 3,68%
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas (CSIC) 48 1,34%
Chinese Academy of Sciences 120 3,34% Florida State University System 42 1,17%
University of California System 118 3,29% Cornell University 41 1,14%
United States Department of
Agriculture (USDA) 109 3,04%
International Institute of Tropical
Agriculture 40 1,12%
Wageningen University Research
Center 98 2,73% Michigan State University 38 1,06%
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa)
67 1,87% Institut de Recherche Pour le
Developpement (IRD) 37 1,03%
Cirad 56 1,56% Swedish University of Agricultural
Sciences 37 1,03%
China Agricultural University 54 1,51% Universidade de São Paulo 37 1,03%
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) 51 1,42% University of California Berkeley 37 1,03%
University of California Davis 51 1,42% University of Florida 37 1,03%
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2016)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Os resultados revelam a liderança da instituição francesa Institut National de la Recherche
Agronomique (Inra), com 3,68% das publicações (132), seguidas pela instituição chinesa Chinese Academy of Sciences, com 3,34% dos artigos publicados (120), e as norte-americanas University of California System, 3,29% dos artigos (118), United States Department of
Agriculture (USDA), com 3,04% das publicações (109). Destaca-se também a instituição holandesa Wageningen University Research Center com 2,73% das publicações (98). Duas instituições brasileiras configuram entre as que mais publicaram no período estudado, destacando-se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (1,87% que corresponde a 67 artigos) e a Universidade de São Paulo (USP) (1,03% que corresponde a 37 artigos).
As instituições elencadas na tabela 3 foram protagonistas nas publicações também em outros estudos, inclusive as brasileiras Embrapa e USP (PUERTA; FARIA; FILHO, 2012; DIAS et
al., 2015; PEREIRA et al., 2015), ou seja, esses centros de pesquisa são importantes para a promoção de conhecimento, nesse campo, no mundo.
Considerações Finais
A pesquisa caracterizou-se particularmente pela utilização da bibliometria aplicada a produção científica no tema Agronegócio e Agricultura Sustentável. O estudo demonstrou um crescimento nas publicações durante todo o período analisado, logo, este fato indica que a área da temática está sendo consolidada na agenda científica.
Foi possível também verificar a predominância das publicações nos Estados Unidos, no entanto, nota-se que países como Itália, Brasil, França, Espanha e Índia apresentam taxas elevadas de crescimento nas publicações na área. Cabe destacar também o Brasil, aparece notavelmente nas publicações internacionais, tanto com artigos em língua inglesa como em língua portuguesa, contribuindo com cerca de 7,05% das publicações na Web of Science e taxa de crescimento média de 60,72%.
Em relação às instituições e a produção científica na área a pesquisa revela a predominância de instituições francesas (Institut National de la Recherche Agronomique (Inra), chinesas (Chinese
Academy of Sciences) e norte-americanas (University of California System, United States
Department of Agriculture (USDA). Quanto as instituições brasileiras, duas aparecem entre as principais fornecedoras de publicações, a saber: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e Universidade de São Paulo.
Acredita-se que a pesquisa reportada neste trabalho tenha contribuído para a melhor compreensão da temática Agronegócio e Agricultura Sustentável ao apresentar o panorama da produção científica. Frente aos resultados obtidos, verifica-se que a ciência tem buscado contribuir com conhecimento e o desenvolvimento de técnicas sustentáveis para o agronegócio mundial. Por fim, sugere-se para novas pesquisas, a avaliação do conteúdo nas publicações.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais Em Questão, v.12, n.1, p. 11-32, jan./jun. 2006.
ASSAD, E.D. et al. Sustentabilidade no Agronegócio Brasileiro. Coleção de Estudos para uma Economia Verde no Brasil. FBDS, 2012.
CONAB. Séries Históricas. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/15_07_10_ 14_20_ 55_brasilprodutoseriehist.xls>. Acesso em: 03 abr. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2010.
DAYAN, F. E.; CANTRELL, C. L.; DUKE, S. O. Natural products in crop protection. Bioorganic & Medicinal
Chemistry, v. 17, n. 12, jun. 2009. p. 4.022-4.034
DIAS, V. V. et al. O Mercado de Alimentos Orgânicos: um panorama quantitativo e qualitativo das publicações internacionais. Ambiente & Sociedade, v.18, n.1, p. 161-182, jan./mar. 2015.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas 2010.
GREGORIO, L. S et al. Sustentabilidade como estratégia organizacional: Uma análise sobre organizações do agronegócio. In: XVII ENGEMA, 2015, São Paulo. Anais Eletrônicos... São Paulo, 2015. Disponível em: <http://engemausp.submissao.com.br/17/anais/ arquivos/161.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2016.
IBGE. Indicadores IBGE - Estatística da Produção Agrícola. Brasília, 2015. Disponível em: <ftp://ftp.ibge. gov.br/Producao_Agricola/Fasciculo_Indicadores_IBGE/estProdAgr_20150 6.pd>. Acesso em: 03 abr. 2016.
MAPA. Projeções do Agronegócio Brasil 2014/15 a 2024/25. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.agri cultura.gov.br/arq_editor/ PROJECOES_DO_ AGRONEGOCIO_2025_ WEB.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2015.
MEADOWS, D.L. Limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. São Paulo: Perspectiva, Coleção e Debates, n.90; 1973.
MONTGOMERY, D. R. Soil erosion and agricultural sustainability. PNASUSA, v. 104, n. 33, p. 13268-13272, ago. 2007.
MU. University Missouri. Susteinable Agriculture. 2016. Disponível em: <https://cafnr.missouri.edu/ academics/sustainable-ag.php>. Acesso em: 4 abr. 2016.
PEREIRA, N. A.; MOURA, M. F. Custos no agronegócio: um estudo bibliométrico dos anos de 2003 a 2013. In: XX CBC, 2013, Uberlândia. Anais Eletrônicos... Uberlândia, 2013. Disponível em: <http://anaiscbc.emnuvens. com.br/anais/ article/viewFile/129/129>. Acesso em: 03 abr. 2016.
PEREIRA, P. V. de M. et al. Sustentabilidade no Agronegócio: uma análise da produção científica nacional e internacional. In: XVII ENGEMA, 2015, São Paulo. Anais Eletrônicos... São Paulo, 2015. Disponível em: <http://engemausp.submissao.com.br/17/anais/ arquivos/162.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2016.
PUERTA, A. A.; FARIA, L. I. L.; FILHO, R. C. P. Desenvolvimento científico em nanotecnologia para o agronegócio: indicadores bibliométricos de produção científica a partir da Web of Science (2001-2010). Em
Questão, Porto Alegre, v. 18, Edição Especial, p. 145-160, dez. 2012.
SILVA, D. B. da. Sustentabilidade no agronegócio: dimensões econômica, social e ambiental. Comunicação &
Mercado/UNIGRAN - Dourados - MS, vol. 01, n. 03, p. 23-34, jul-dez 2012.
SOUZA, B. A. e MORAIS, R. E. S. Agronegócio, Análises e Reflexões Sobre Desenvolvimento e Sustentabilidade no Estado de Goiás. Revista PLURAIS – Virtual, v. 2, n. 1, 2012.
SOUZA, F. J. V. et al. Perfil dos Artigos Sobre Agronegócio Publicados nos Periódicos de Contabilidade com Estrato Capes. ConTexto, Porto Alegre, v. 12, n. 22, p. 87-102, 2012.
SOUZA, M. A.; RASIA, K. A. Custos no agronegócio: um perfil dos artigos publicados nos Anais do Congresso Brasileiro de Custos no período de 1998 a 2008. Contabilidade, Gestão e Governança, Brasília, v. 14, n. 1, p. 69-81, jan/abr 2011.
SOUZA, M. T. S. et al. Estudo Bibliométrico de Teses e Dissertações em Administração na Dimensão Ambiental da Sustentabilidade. REAd, v.76, n.3, p. 541-568, set./dez. 2013.
SPANHOL – FINOCCHIO, C. P. Expressão da Ciência nas Políticas Públicas Relativas à Obesogenicidade
nos EUA. 2014. 217 f. Tese (Doutorado em Agronegócios) – CEPAN, UFRRS, Porto Alegre, 2014.
WALLER, F et al. The endophytic fungus Piriformospora indica reprograms barley to salt-stress tolerance, disease resistance, and higher yield. PNASUSA, v. 102, n. 38, p. 13.386-13.391, set. 2005.
USDA. Organic agriculture. 2016. Disponível em: <http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome? contentidonly=true&contentid=organic-agriculture.html>. Acesso em: 4 abr. 2016.
1
A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NUMA PERSPECTIVA BIOECONOMICA
Ângela Rozane Leal de Souza1;
Letícia de Oliveira2
Marcelo Silveira Badejo3
Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento bibliométrico, visando mapear as publicações
disponibilizadas na base de dados Scopus, referentes ao tema bioeconomia versus produção orgânica, buscando
compreender como as pesquisas científicas vinculadas à bioeconomia estão evoluindo quanto ao tema
relacionado à produção orgânica. A partir da análise de 201 artigos, os resultados revelaram, no intervalo dos
anos de 1974 a 2015, um significativo crescimento da quantidade de publicações, principalmente a partir do
ano de 2006. Já no período de 2013 e 2014 houve o ápice do número das publicações nessa temática.
Analisando os resultados encontrados pode-se constatar que os artigos que estão vinculando a bioeconomia e
produção orgânica assumem atualmente um papel importante, pois retratam a evolução significativa da
comunidade científica, nos últimos anos, em abordar o tema com interesse da população na busca de alimentos
mais saudáveis e desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: agricultura; bioeconomia; orgânicos; produção científica.
ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE CONTEXT OF BIOECONOMY
Abstract: The aim of this study was to perform a bibliometric survey intended to map the publications available
in the Scopus database correlating both bioeconomy and organic food production subjects, understanding how
scientific research related to the bioeconomy are evolving on the issue related to organic food production. From
the analysis of 201 articles, the results revealed, in the range of years 1974 to 2015, a significant increase in the
number of publications, especially from the year 2006. In the period 2013 to 2014 was the culmination of the
number of publications on this subject. Analyzing the results obtained it can be seen that the articles that are
linking the bio-economy and organic production currently play an important role because portray the significant
evolution of the scientific community in recent years, to address the subject of interest of the population in
search of food healthier and sustainable development.
Keywords: agriculture; bioeconomy; organics; scientific production.
1Professoras Adjuntas da Faculdade de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em
Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). [email protected] e
[email protected] 3 Professor Adjunto - Engenharia Agroindustrial da Universidade Federal de Rio Grande (FURG ).
2
1 INTRODUÇÃO
A bioeconomia emerge como um novo paradigma ampliando as possibilidades oriundas das pesquisas científicas, tendo como objetivo propor soluções para problemas complexos e de grandes dimensões, com foco no desenvolvimento sustentável (Organisation for Economic Co-Operation and Development - OCDE, 2006). Neste sentido, a formação de grupos científicos multidisciplinares é primordial para a transferência do conhecimento científico-tecnológico nessa área, tanto para o ambiente acadêmico quanto para o ambiente empresarial, incrementando e impactando nos esforços de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
É fato que nesse ambiente, o agronegócio deverá estar balizado por teorias, métodos e aplicabilidades para o desenvolvimento de novas tecnologias resultantes desses progressos do conhecimento científico. De tal modo, os avanços da bioeconomia, alinhados ao agronegócio, norteiam vertentes tecnológicas voltadas para a consolidação de sistemas de produção limpos (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, 2002), com cadeias produtivas alicerçadas na sustentabilidade, como é o caso da produção de alimentos orgânicos.
Iniciando-se a partir da década de 1990, as preocupações quanto à viabilidade e sustentabilidade, em longo prazo, dos sistemas de produção agrícola atuais são levantados por diversos autores (HODGE, 1993; GARIBAY, S. V., UGAS, 2010; REDDY; MUNDINAMANI, 2014) que salientam que a agricultura tem se utilizado do abastecimento de energia a partir de fontes não renováveis, dependendo cada vez mais de base que tem impacto crescente sobre o meio ambiente.
Além disso, os cultivos agrícolas ainda apresentam forte dependência de fertilizantes químicos e pesticidas. Tais produtos, com suas formulações atuais, representam uma ameaçam a biodiversidade, provocam a poluição ambiental e ampliam sobremaneira os riscos para a saúde humana. Essas preocupações motivaram o início dos expoentes da agricultura orgânica como uma parte relevante do debate atual sobre a sustentabilidade agrícola e, consequentemente, sua inserção nas discussões no âmbito da bioeconomia. É dessa forma que a agricultura orgânica está inserida na esfera teórica da sustentabilidade dos sistemas agrícolas, pela disposição dos consumidores em pagar por produtos mais éticos, e o visível interesse destes por fornecedores que atendam as suas expectativas de qualidade de produção desses produtos (GREEMAN et al. 1997; KRYSTALLIS, CHRYSSOHOIDIS; 2005; AERTSENS; MONDELAERS; HUYLENBROECK, 2009).
Segundo a International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM, 2014) os objetivos da produção orgânica estão baseados em quatro princípios gerais: princípios de saúde, de ecologia, de justiça social e, por último, mas igualmente importante, o princípio de proteção. Tais princípios devem alicerçar: (a) a produção alimentos orgânicos de qualidade e em quantidade suficiente; (b) a interação construtiva com os sistemas e ciclos naturais; (c) uma avaliação do impacto social e ecológico do sistema de produção e processamento dos produtos orgânicos; (d) o aprimoramento dos ciclos biológicos nos sistemas agrícolas no que se refere ao solo, fauna, plantas e animais; (e) o aumento da fertilidade dos solos em longo prazo; (f) a manutenção da diversidade genética dos sistemas de produção e seus arredores; (g) a promoção do uso saudável e adequado dos recursos hídricos; (h) o uso de recursos renováveis nos sistemas de produção organizados localmente; (i) o equilíbrio entre a produção agrícola e pecuária; (j) boas condições de vida para gado, com a devida consideração dos aspectos básicos inatos do seu comportamento; (k) minimização de todas as formas de poluição; (l) processamento dos produtos orgânicos
3
utilizando recursos renováveis; (m) a produção de produtos orgânicos totalmente biodegradáveis; (n) garantia que os envolvidos na produção orgânica e processamento tenham uma qualidade de vida, que atenda as suas necessidades básicas, permita uma remuneração adequada e satisfação de seu trabalho, incluindo um ambiente de trabalho seguro; (o) estímulo aos avanços em direção a uma cadeia de produção, transformação e distribuição socialmente justa e ecologicamente responsável.
É inegável o crescimento do mercado de produtos orgânicos no mundo, e também no Brasil, em fase de expansão. Conforme dados divulgados em pesquisa realizada pelo International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM em 2015, o faturamento global com orgânicos chegou a US$ 64 bilhões em 2013, crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Segundo essa pesquisa, o mercado mundial de orgânicos cresce anualmente a taxas que variam de 8% a 10% ao ano. Mundialmente, são 37,5 milhões de hectares cultivados, destacando-se como os maiores produtores mundiais, em primeiro lugar a Austrália, em segundo a Europa e em terceiro lugar a América Latina, que apresenta excelentes oportunidades para expansão da produção nos próximos anos (IFOAM, 2015).
Nesse mercado, tem-se diferenciais nesse tipo de produção tais como: os sistemas específicos de certificação para agricultura e pecuária orgânica, bem como necessidade de estabelecimento de cadeias curtas de comercialização, onde ocorrem as interligações sociais entre produtores e consumidores. Assim, o mercado de alimentos orgânicos tem uma forma de oferta diferenciada das praticadas nos mercados mundiais de commodities (RAYNOLDS, 2004).
Do mesmo modo, é fato o aumento a oferta de produtos alimentícios orgânicos, têm se dado não somente através de feiras de agricultores, mas também em grandes cadeias de supermercados e em lojas especializadas em nichos de consumo específicos de tais produtos, voltados a um número crescente de consumidores (DALCIN et al., 2014; DIAS et al.; 2015).
Desse modo, a escolha de pesquisa sobre este tema se justifica pela importância dessa temática para o agronegócio, sob a seguinte problemática de análise: como, e em que medida, as pesquisas científicas vinculadas à bioeconomia estão evoluindo quanto ao tema relacionado à produção orgânica?
Neste ambiente, o presente estudo tem por objetivo realizar um levantamento bibliométrico, visando mapear as publicações referentes ao tema bioeconomia versus produção orgânica.
2 MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo buscou mapear os artigos disponibilizados na base de dados Scopus, tendo como foco a produção orgânica e a bioeconomia. Dessa forma, a amostra contém artigos publicados nos anos de 19742 a 2015. Tais artigos foram identificados e selecionados em setembro de 2015. Com esse intuito a busca no site da referida base de dados Scopus foi procedida com as seguintes palavras-chaves, sendo usadas somente no título dos artigos: bio-based econom*, bio based econom*, bio econom* e bioeconom*. Além dessas, usou-se em conjunto as palavras organics e agr* no título, abstract e keywords.
O Scopus foi escolhido como a base de dados a ser consultada, por apresentar uma característica multidisciplinar, de alta qualidade, relevância e permitir uma visão ampla do que está sendo publicado cientificamente nos melhores periódicos internacionais e nacionais.
2 Todos os registros disponíveis no período da base Scopus.
4
Num segundo momento, realizou-se a leitura do título e do resumo, avaliando-se artigos que não abordavam a temática de interesse do presente estudo, sendo estes excluídos. Finalizou-se com as análises descritivas dos dados encontrados, levando em consideração se as características dos artigos estavam alinhadas com o estudo proposto. 3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com base na pesquisa realizada, 201 (duzentos e um) artigos foram selecionados a partir dos procedimentos metodológicos utilizados. Primeiramente, em relação aos anos em que os estudos foram publicados, a Figura 1 destaca a série temporal estudada. Nessa óptica, nos anos de 1974 e 2004, o número anual de artigos publicados, disponíveis na base de dados Scopus, não ultrapassavam a 5 (cinco) artigos ao ano, sendo que até 1997 eram praticamente inexistentes, giravam em torno de somente 1 (um) artigo por ano, com exceção ao ano de 1996, em que foram publicados 6 (seis) artigos. Entretanto, o expressivo aumento de publicações começou a partir do ano de 2006, sendo que os estudos publicados nos anos de 2013 e 2014 representam 27 (vinte e sete) artigos e 25 (vinte e cinco) artigos, respectivamente.
Figura 1 – Quantidade de publicações entre 1974 e 2014
*O ano de 2015 não foi considerado por estar em curso.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
Na sequência, a Figura 2 enfatiza os principais países (levando em consideração o número de publicações) que abordam o tema sobre produção orgânica e a bioeconomia. Averiguou-se que, de maneira geral, os Estados Unidos, a Holanda, a Austrália e o Reino Unido apresentaram as maiores frequências de estudos e como já relatado representam os maiores produtores mundiais de alimentos orgânicos. Observa-se ainda na Figura 2 que nos Estados Unidos houve uma quantidade expressivamente superior de publicações, mais de 40 publicações.
5
Figura 2 – Países onde foram desenvolvidos os artigos estudados
Fonte: dados da pesquisa (2015).
Cabe destacar que, na Figura 3, têm-se as áreas do conhecimento onde os artigos da amostra foram publicados. Assim, observa-se uma considerável diversidade de áreas do conhecimento, com destaque para as três principais áreas: Agricultural and Biological
Sciences, com o percentual superior a 60%, Environmental Science e Economics,
Econometrics and Finance. Salienta-se que o percentual superior a 100% refere-se ao fato de que alguns estudos são classificados em mais de uma área do conhecimento, demonstrando a relação de multidisciplinaridade nas pesquisa com o tema da produção orgânica e bioeconomia.
Figura 3 - Áreas onde os artigos pesquisados foram publicados
Fonte: dados da pesquisa (2015).
A Figura 4 apresenta às instituições de origem dos pesquisadores que desenvolveram
os artigos. Observa-se que a Wageningen University and Research Centre foi a instituição em evidência nessa temática. Essa universidade pública holandesa possui um dos principais
6
institutos de investigação agrícola (tanto na graduação, como na pós-graduação). Essa instituição tem centrando nas pesquisas sobre problemas científicos, nas ciências sociais e recursos naturais. Nas áreas da agricultura e meio ambiente esta Universidade é considerada de classe mundial.
4 – Principais instituições onde os artigos estudados foram desenvolvidos
Fonte: dados da pesquisa (2015). Percebe-se na Figura 4 que as demais Universidades citadas apresentaram uma certa
paridade em termos do número de publicações. Os resultados encontrados apontam uma relação com os países onde foram desenvolvidos os artigos e que são os maiores produtores mundiais de alimentos orgânicos.
4 CONCLUSÃO A partir da análise de 201 artigos, no descritor bioeconomia e produção orgânica, na base de dados Scopus, os resultados revelaram no intervalo dos anos de 1974 a 2015 um significativo crescimento da quantidade de publicações, principalmente a partir do ano de 2006. Antes desse ano, o número de publicações foi inexpressivo. Já no período de 2013 e 2014 houve o ápice do número das publicações nessa temática. Acredita-se que tal evolução decorre, principalmente, das preocupações quanto às formas de cultivo e suas implicações no meio ambiente e na alimentação humana, bem como no aumento do consumo que leva a uma consequente ampliação de mercado (GARIBAY, S.V.; UGAS, 2010; DALCIN et al. 2014; WILLER; LERNOU, 2015). Essa preocupação ambiental, foco que se alinha à bioeconomia, se dá em razão de que a forma tradicional de produção utiliza-se de inseticidas e pesticidas que podem ocasionar efeitos indesejáveis, tanto para o solo, como para a saúde das pessoas.
Quanto aos países onde foram desenvolvidos os artigos estudados, verificou-se que os Estados Unidos destaca-se como local de publicação, seguido da Holanda, a Austrália e o Reino Unidos, este último seguido de perto pelo França e Alemanha. Já no que se refere às principais instituições onde os artigos estudados foram desenvolvidos pôde ser observado que
7
a Wageningen University and Research Centre , da Holanda, foi a instituição em evidência nessa temática.
Com relação às áreas do conhecimento onde os artigos pesquisados foram publicados, observou-se uma concentração nas áreas de Ciências Agrárias e Biológicas, com o percentual superior a 60% do número de publicações; seguidas das áreas de Ciência Ambiental; Economia, Econometria e Finanças e Ciências Sociais com 27%; 20%; 16%, respectivamente. Na sequência há uma distribuição em periódicos da área de Bioquímica, Genética e Biologia Molecular; Energia; Ciências da Terra; Engenharia; Imunologia e Microbiologia.
Para tanto, analisando os resultados encontrados nesta pesquisa, pode-se constatar que os artigos que estão vinculando bioeconomia e produção orgânica assumem atualmente um papel importante, pois retratam a evolução significativa da comunidade científica, nos últimos anos, em abordar o tema com interesse da população na busca de alimentos mais saudáveis e desenvolvimento sustentável. REFERÊNCIAS AERTSENS, Joris, MONDELAERS, Koen; HUYLENBROECK, GuidoVan. Differences in retail strategies on the emerging organic market. British Food Journal, v. 111, n. 2, p. 138-154. 2009. Disponível em: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00070700910931968. Acesso em: 18 set. 2015. DALCIN, Dionéia; SOUZA, Ângela Rozane Leal de; FREITAS, João Batista; PADULA, Antônio Domingos.; DEWES, Homero. Organic products in Brazil: from an ideological orientation to a market choice. British Food Journal, v. 116, p. 1998-2015, 2014. Disponível em: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-01-2013-0008. Acesso em: 19 set. 2015. DIAS, Valéria da Veiga; SCHULTZ, Glauco; SCHUSTER, Marcelo da S.; TALAMINI, Edson; RÉVILLION, Jean Philippe. The organic food market: a quantitative and qualitative overview of international publications. Ambiente & Sociedade [online], São Paulo, v. 18, n. 1, p. 155-174, jan.-mar. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v18n1/1414-753X-asoc-18-01-00155.pdf . Acesso em: 20 set. 2015. GARIBAY, Salvador V.; UGAS, Robert. Organic farming in Latin America and the Caribbean. In: Willer, H.; Kilcher, L. (Eds), The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends, IFOAM, Bonn, Frick, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and Geneva, International Trade Center (ITC), p. 176-185, 2010. Disponível em: http://orgprints.org/17931/1/garibay-ugas-2009-world-organic-agriculture.pdf. Acesso em: 16 set. 2015. GREENAN, Kate, HUMPHREYS, Paul; MCIVOR, Ronan. The green initiative: improving quality and competitiveness, European Business Review, v. 97, n. 5, p.208-214, 1997. Disponível em: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09555349710179816. Acesso em: 17 set. 2015. HODGE, I. Sustainability: putting principles into practice. An application to agricultural systems. In: Rural Economy and Society Study Group. Royal Holloway College, December 1993. INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS - IFOAM. The IFOAM Norms for Organic Production and Processing. Basic Standards for Organic Production and Processing. Germany. August 2014. Disponível em: <http://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/bioregelwerk-2015/deutsch/eu_d/ifoam_e.pdf.>.Acesso em: 25 set. 2015. KRYSTALLIS, Athanasios; CHRYSSOHOIDIS, George. Consumers’ willingness to pay for organic food - Factors that affect it and variation per organic product type. British Food Journal, v. 107, n. 4-5, p. 320-343, 2005. Disponível em: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00070700510596901. Acesso em: 25 set. 2015. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OCDE. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. 2006. Disponível em: <http://www.oecd.org/futures/long-
8
termtechnologicalsocietalchallenges/thebioeconomyto2030designingapolicyagenda.htm>. Acesso em: 18 set. 2015. RAYNOLDS, Laura. The globalization of organic agro-food networks. World Development. v.32, n.5, p.725-743, May.2004. Disponível em: https://www.cbd.int/doc/articles/2004/A-00171.pdf. Acesso em: 27 set. 2015. REDDY, S. Vijayachandra; MUNDINAMANI, S.M. Resource use efficiency in organic farming systems in Karnataka: An economic approach to optimal use of resources in organic agriculture. International Journal of Agricultural and Statistical Sciences, v.10, n.2, p.457-463, 2014. Disponível em: http://www.connectjournals.com/toc2.php?abstract=2137202H_457-463a.pdf&&bookmark=CJ-033252&&yaer=2015&&issue_id=02. Acesso em: 27 set. 2015. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. The New Bioeconomy: Industrial and Environmental Biotechnology in Developing Countries. Harvard University. 2002. Disponível em: <http://r0.unctad.org/trade_env/test1/publications/newbioeconomy.pdf>. Acesso em: 29 set. 2015. WILLER, Helga; LERNOU, Julia. International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM - Organics International. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. Research Institute of Organic Agriculture -FiBL., Frick, and IFOAM, 2015. Disponível em: < https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1663-organic-world-2015.pdf>. Acesso em: 18 set. 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Principais dimensões da Agricultura Urbana: uma revisão bibliométrica da
produção científica
Alessandra Daiana Schinaider 1, Gleicy Jardi Bezerra 2, Daiane Netto 3, Andréia Maria
Liberalesso 4, Edson Talamini 5
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected] 4Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, [email protected] 5Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
Resumo. A agricultura urbana tem sido destaque nos discursos sobre o desenvolvimento da sociedade e
alternativas para promoção das dimensões social, econômica ou ambiental. Neste sentido, tem-se como objetivo
analisar quais das dimensões, acima mencionadas, tem estado em maior associação com a agricultura urbana na
produção científica. Em termos metodológicos, foi realizada uma revisão bibliométrica por meio da base de dados
Scopus, onde foram encontrados dezesseis, dezoito e dezessete artigos científicos em três pesquisas diferentes
utilizando palavras-chave como, social, econômico e ambiental, respectivamente. Os resultados revelam que a
pesquisa sobre a agricultura urbana não é recente, porém só houve uma maior ênfase de publicação nos últimos
cinco anos. Ainda, percebe-se que os artigos costumam abranger mais de uma dimensão ao abordar a agricultura
urbana, ou seja, há uma ênfase em tratar questões como a segurança alimentar e nutricional (dimensão social),
geração de renda (dimensão econômica) e preservação do meio ambiente (dimensão ambiental).
Palavras-chave. Novas Tendências, Sustentabilidade, Produção de Alimentos, Agricultura Vertical, Economia
Ecológica.
Dimensions Main of the Urban Agriculture: a bibliometric review of the
scientific production
Abstract. Urban agriculture has been highlighted in speeches on the development of society and alternatives for
promoting of the dimensions social, economic or environmental. In this sense, has like objective to analyze which
of the dimensions, mentioned above, has been a greater association with urban agriculture in scientific production.
In terms of methodology, was realized a bibliometric review by Scopus database, where was found sixteen,
eighteen and seventeen scientific articles in three different searches, using keywords as social, economic and
environmental, respectively. The results show that research on urban agriculture is not new, but only there was a
publication emphasis in the last five years. Still, it perceives that the articles often cover more than one dimension
to approach urban agriculture, that is, there is an emphasis on dealing with issues such as food and nutrition
security (social dimension), income generation (economic dimension) and preservation of environment
(environmental dimension).
Keywords. New Trends, Sustainability, Food Production, Vertical Agriculture, Ecological Economics.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
1 Introdução
As novas tendências de agricultura no meio urbano a fim de plantar pequenas quantidades de alimentos sejam hortaliças, verduras ou leguminosas para o próprio sustento da família ou de uma comunidade vem a atender diversas questões da sociedade, como, o aumento da população e a segurança alimentar dessa população. A Fao-Sofa (1998) destacou que, no ano de 2015, mais de vinte e seis cidades em todo o mundo estariam com mais de dez milhões de habitantes. Para alimentar essa população, de acordo com a Fao (1998), seria necessário importar pelo menos seis mil toneladas de alimentos por dia.
A principal função da agricultura urbana é, de fato, contribuir para a segurança alimentar da população mundial, visto que mais de 840 milhões de pessoas que vivem na cidade passam fome (BOUKHARAEVA et al., 2005). Ao analisar essa situação, desenvolve-se alternativas para que possam suprir essa necessidade, levando-se em consideração as dimensões sociais, econômicas, ambientais.
A agricultura urbana apresenta algumas características específicas que norteiam o seu termo conceitual. Nesse sentido, os principais elementos de definição da agricultura urbana são: os tipos de atividades econômicas desenvolvidas; as categorias e subcategorias de produtos (alimentares e não alimentares); característica locacional (intraurbano e peri-urbano); tipos de áreas onde é praticada; tipos de sistemas de produção e destino dos produtos e escala de produção (MOUGEOT, 2000).
Essas características englobam diferentes formas de abordagem da agricultura urbana. Percebe-se que ao visualizar algumas dessas características, a forma de adotar a agricultura urbana pode ter um viés de comercialização e geração de renda com uma abordagem mais econômica, ou um viés mais social a fim de promover uma interação entre pessoas de uma comunidade. Ainda, percebe-se um viés ambiental, pois ao adotar a agricultura urbana, visa ocupar terrenos baldios com áreas verdes produtivas. Ao analisar de forma superficial, essas três principais dimensões ou olhares sobre a agricultura urbana, nota-se que o principal objetivo da mesma é construir o respeito do saber e do conhecimento local, promovendo a igualdade de gênero adotando tecnologias adequadas para a agricultura urbana com uma maior participação na gestão urbana, social e ambiental das cidades, melhorando a qualidade de vida da população urbana e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade (SANTANDREU E LOVO, 2007).
No sentido de promover o desenvolvimento sustentável da cidade, Bonal (1997) destaca a forte inter-relação entre diferentes dimensões da sustentabilidade envolvendo a agricultura urbana. Inicialmente, o estado dos recursos num determinado tempo e lugar resultam das interações entre as características do meio natural, as perturbações que podem afetar estes recursos (dimensão ecológico-ambiental). Em seguida, as características econômicas (dimensão econômica) da produção agrícola, assim como as condições sociais, culturais (dimensão sociocultural) que predominam na sociedade local e que influem sobre as escolhas técnicas dos agricultores e têm uma incidência sobre os modos de valorar e sobre o estado dos recursos naturais.
Coutinho (2007) destaca, que a realização de práticas agrícolas dentro das cidades traz novas possibilidades de compreensão do espaço urbano e novos elementos para fortalecer os argumentos que buscam desconstruir as dicotomias modernas entre campo-cidade, agricultura-indústria, natural-artificial que afetam diretamente a dinâmica territorial. Ou seja, há um novo olhar para o urbano e uma maior importância do conhecimento local da agricultura familiar para aplicar nas pequenas produções de alimentos na cidade. Neste sentido, o trabalho tem como objetivo analisar quais das dimensões social, econômica e ambiental tem estado em maior
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
associação com a agricultura urbana na produção científica através de uma revisão bibliométrica por meio da base de dados Scopus.
2 Procedimentos Metodológicos
O estudo é caracterizado como bibliográfico, sendo desenvolvido por meio da análise dos artigos indexados na base de dados Scopus. O Scopus, é a maior base de dados em que há artigos revisado por pares contando com ferramentas de análise que auxiliam na pesquisa, além de contar com artigos de diversas áreas atualizados diariamente (ELSEVIER, 2016).
Quanto à técnica da pesquisa bibliográfica, adotou-se realizar uma revisão bibliométrica, pois, conforme Araújo (2006), a revisão bibliométrica consiste no uso de técnicas estatísticas e matemáticas para relatar características da literatura e de outros meios de comunicação. Desta forma, busca-se analisar os artigos que tratam da agricultura urbana com abordagem social, econômica e ambiental de forma geral.
Os procedimentos operacionais aconteceram da seguinte forma, conforme descrito abaixo:
(I) Primeira etapa: Inicialmente, definiu-se a base de dados da pesquisa para a busca dos artigos, onde foi utilizado a Scopus. Logo após, foi realizado três diferentes pesquisas: a primeira buscou-se inserir as seguintes palavras-chave na língua inglesa no mecanismo de busca do site Scopus: “urban farms” (no título, resumo e palavras-chave) and “social” (no título, resumo e palavras- chave) selecionando apenas artigos. A segunda e terceira pesquisa seguiu-se o mesmo procedimento alterando apenas a segunda seleção de palavras-chave colocando “economic” e “environmental”, respectivamente. Ao definir esse processo, encontrou-se 16 artigos para a pesquisa com a palavra-chave “social”, 18 artigos para a pesquisa com palavra-chave “economic” e 17 artigos para a pesquisa com a palavra-chave “environmental”.
(II) Segunda etapa: Após a realização do procedimento operacional da primeira etapa, buscou-se selecionar apenas os cinco artigos mais citados de cada pesquisa e, para finalizar, iniciou-se a organização dos dados, a partir da revisão bibliométrica a fim de construir um banco de dados próprio dos autores deste trabalho, com o propósito de facilitar no desenvolvimento de tabelas, gráficos ou figuras. Neste sentido, buscou-se apresentar os principais indicadores bibliométricos, tais como, os anos de publicações dos artigos construindo uma evolução temporal; os principais artigos mais citados; as principais palavras-chave; e, apresentar a quantidade de artigos que abordam o tema central deste estudo.
3 Resultados e Discussão
Ao todo, foram analisados os cinco mais citados de cada pesquisa que envolvia a dimensão social, a outra pesquisa que envolvia a dimensão econômica e outra pesquisa que envolvia a dimensão ambiental totalizando 15 artigos. Primeiramente, foi analisado a evolução cronológica dos mesmos em relação à publicação da temática urban farms, conforme apresenta a Figura 1.
Figura 1 – Evolução cronológica dos artigos.
Fonte: elaborada pelos autores.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Na Figura 1, nota-se que a temática sobre urban farms não é recente. A mesma vem sendo estudada desde a década de 1980 e percebe-se uma evolução, em quantidade de publicações em diversos periódicos, a partir do ano de 2010. Neste sentido, a agricultura urbana vem sendo estudada cada vez mais, pois é uma alternativa de produção de alimentos contribuindo para o meio social, ambiental e econômico no meio urbano alocando conhecimento e saberes do meio rural. Madaleno (2001) confirma que a agricultura urbana é cada vez mais considerada como parte integral da gestão urbana, sendo uma ferramenta para a diminuição da pobreza, por meio da geração de renda e empregos, e do manejo ambiental.
Além do mais, a base de dados Scopus revela quantas vezes determinado artigo foi citado e, neste sentido, nota-se na Tabela 1, os artigos mais citados das três pesquisas deste trabalho.
Tabela 1 – Principais artigos mais citados
Título do artigo Revista Quantidade
de citações
Dimensões
Practicing food justice at Dig Deep Farms &
Produce, East Bay Area, California: self-
determination as a guiding value and intersections
with foodie logics
Local Environment 7 vezes Social
Economic appraisal of profitability and sustainability
of peri-urban agriculture in Bangkok
Ecological Economics 20 vezes Econômica
Economic appraisal of profitability and sustainability
of peri-urban agriculture in Bangkok Ecological Economics 20 vezes Ambiental
Fonte: elaborada pelos autores.
O primeiro artigo foi citado sete vezes e os outros dois artigos que abrangem dimensões tanto econômica quanto ambiental foram citados 20 vezes. Essa maior quantidade de citação pode estar relacionada ao ano de publicação dos mesmos, visto que o primeiro, foi publicado em 2014 e o outro foi publicado em 2007. Ainda, vê-se que a revista Local Environment possui qualis B2 na área de avaliação “Ciências Ambientais” e a revista Ecological Economics possui qualis A2 na área de avaliação “Interdisciplinar” com ano de classificação de 2014 para ambas revistas. Conforme Silva e Mueller (2015), as comissões avaliadoras do Qualis-Periódicos Capes não têm o objetivo de buscar responder se há qualidade em um determinado periódico e, sim, responder qual é o interesse de determinada área nesse periódico. Neste sentido, vê-se que a temática urban farms já é foco dos principais periódicos de pesquisas com qualis A e B, revelando para a academia a importância da pesquisa nessa temática, conforme apresentado na Tabela 1. Na Figura 2, revela as principais palavras-chave que foram mais utilizadas pelos autores ao tratar sobre a temática urban farms.
Figura 2 – Principais palavras-chave.
Fonte: elaborada pelos autores.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Percebe-se que as principais palavras-chave encontradas nos artigos pesquisados referem-se à urban agriculture (agricultura urbana), environment (ambiental), food (alimento), community (comunidade), health (saúde), planning (planejamento), entre outras. Todas essas palavras possuem vínculo com a temática de pesquisa desse trabalho e, revela que ao utilizar determinados procedimentos metodológicos, algumas palavras tem maior associação com cada dimensão, por exemplo, a dimensão social, pode abordar questões sobre saúde, interação entre comunidades, segurança alimentar e nutricional; a dimensão ambiental pode abordar terra, jardins ou espaços verdes; e a dimensão econômica pode abordar o planejamento, estratégias, produção, organização. Neste sentido, ao perceber que há essa relação, buscou-se através da leitura dos títulos e resumos dos artigos, qual é a principal dimensão que está sendo abordada nos artigos, ou seja, se possui enfoque na dimensão econômica, social ou ambiental, conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Principais dimensões sobre a agricultura urbana.
Dimensões Quantidade de artigos Dimensão social 02 Dimensão econômica 02 Dimensão ambiental 02 Dimensão social e econômica 01 Dimensão social e ambiental 01 Dimensão social, econômica e ambiental 01 Dimensão econômica e ambiental 01
Total 10 Fonte: elaborada pelos autores.
Ao analisar os títulos, resumos e palavras-chave dos artigos selecionados não há uma predominância de uma determinada dimensão quando se refere à agricultura urbana. Geralmente, há um enfoque sobre mais de uma dimensão, seja social e econômica seja social e ambiental ou ainda a junção das três dimensões. De acordo com Arruda (2011), a agricultura urbana tem tornando fator importante para os projetos de desenvolvimento sustentável tanto para as pessoas quanto para a comunidade a fim de promover o bem estar social. Neste sentido, ao promover o bem estar social, há uma relação com a dimensão social, econômica e ambiental.
Ressalta-se que apesar de alguns artigos possuírem um enfoque de cada dimensão, pode-se considerar que outros artigos tratam-se de uma dimensão em que envolve um novo termo para atender a esta ideia: a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável não se refere especificamente a um problema limitado de adequações ecológicas de um processo social, mas a uma estratégia ou modelo múltiplo para a sociedade, que deve levar em conta tanto a viabilidade econômica como a ecológica. Num sentido abrangente, a noção de desenvolvimento sustentável leva à necessária redefinição das relações sociedade-natureza e, portanto, a uma mudança substancial do próprio processo civilizatório (JACOBI, 2007). Desta forma, a urban
farms através da abordagem de desenvolvimento sustentável busca promover a geração de renda e empregos, suprir a segurança alimentar e nutricional, impulsionar formas de preservação da natureza e promover o bem estar social na sociedade.
4 Considerações Finais
O trabalho teve como objetivo analisar analisar quais das dimensões social, econômica e ambiental tem estado em maior associação com a agricultura urbana na produção científica através de uma revisão bibliométrica por meio da base de dados Scopus colocando a primeira palavra-chave padrão como: “urban farms” (no título, resumo e palavras-chave) e outras três palavras-chave como “social”, “economic” e “environmental” (em títulos, resumos, palavras-chave) na língua inglesa, conforme os procedimentos metodológicos descritos realizando três
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
pesquisas diferentes. Neste sentido, vê-se que houve mais pesquisas e publicações das mesmas sobre urban farms nos últimos cinco anos, e os artigos mais referenciados, estão publicados, principalmente, em periódicos com qualis A e B.
Ao analisar o objetivo desse estudo, vê que não há uma dimensão tão específica quando propõe-se investigar as principais publicações sobre a agricultura urbana. Nesta temática, é abordado dimensões que tratam de promover a segurança alimentar e nutricional, integração entre as pessoas e outras comunidades, valorização do saber local e tradicional do meio rural para o urbano, formas de geração de renda e emprego e preservação do meio ambiente. Sugere-se para outros estudos, pesquisas que abrangem outras bases de dados sobre a temática bem como o “jogo” de palavras ao buscar refinar a pesquisa, conforme o primeiro procedimento operacional metodológico.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, C.A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Revista em Questão, PortoAlegre, vol. 12, n. 1, p. 11-13, 2006.
ARRUDA, J. Agricultura urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro: sustentabilidade e repercussões na reprodução das
famílias. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2011.
BONAL, J. Les acteurs et leurs stratégies vis-a-vis des ressources naturelles: réflexion méthodologique. Bulletin Réforme agraire,
colonisation et coopératives agricoles. FAO, 1997.
BOUKHARAEVA ET AL. Agricultura urbana como um componente do desenvolvimento humano sustentável: Brasil, França e Rússia. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 22, n. 2, p. 413-425, 2005.
COUTINHO, M. N. Agricultura Urbana: Análise e Reflexão Sobre os Marcos Legais e Normativos do Município de Belo Horizonte. 113 p. Monografia (Bacharel em Geografia) – Cursos de Geografia, Universidade federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
ELSEVIER. Scopus. Disponível em: http://www.americalatina.elsevier.com/sul/pt-br/scopus.php. Acesso em: 26 jul. 2016.
FAO. Majoraty of people live in cities by 2005. Web page: http://www.fao.org/NEWS/FACTFILE/FF9811-ETML, 1998.
FAO-SOFA. The state of food and agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO. Roma, 1998.
JACOBI, P. R. O Complexo Desafio da Sustentabilidade. In: O município no século XXI: cenários e perspectivas. Ed. especial. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, 1999.400 p.
MADALENO, I. M. Agricultura urbana em Presidente Prudente. Revista Geonotas. Maringá, v. 5, n. 3, Jul/Ago/Set 2001.
MOUGEOT, L. J. A. Urban agriculture: definition, presence, potential and risks. In: BAKKER, N.; DUBBERLING, M.; GUNDEL, S.; SABEL-KASCHELLA, U.; ZEEUW, H. (Ed.). Cidades que crescem cultivando alimentos: Agricultura urbana na agenda política. Feldafing: DSE, 2000. p. 1-42.
SANTANDREU, A.; LOVO, I. C. Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP em Regiões Metropolitanas Brasileiras. IPES: Belo Horizonte, 2007.
SILVA, C. N. N da; MUELLER, S. P. M. Avaliação dos periódicos brasileiros: os critérios do qualis-periódico à luz de Merton e Bourdieu. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 26, 2015. João Pessoa. Anais...João Pessoas, XVI ENANCIB, 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
AS TRANSFORMAÇÕES NA CADEIA PRODUTIVA DA SERICICULTURA NO ESTADO DO PARANÁ: 2006-2014
Aline Silva de Lima 1, Marcelino de Souza
2
1Mestranda em Agronegócios da UFRGS - [email protected]
2Professor do PPG Agronegócios da UFRGS - [email protected]
Resumo. A sericicultura é uma das atividades agroindustrial mais antiga que se tem notícia na história, tendo
sua origem a aproximadamente 5000 anos atrás e representa atualmente uma importante fonte de renda para
agricultores de pequena escala, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico nas localidades a qual se
insere. Um outro aspecto importante é que esta atividade é realizada sob a forma de contrato agrícola entre os
produtores e a empresa de Fiação de Seda BRATAC S/A a fim de resguardar o direito de ambos no processo
produtivo e caracterizando uma cadeia produtiva. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo
analisar as transformações na sericicultura paranaense no período 2006-2014. O estudo se classifica como uma
pesquisa descritiva e bibliográfica, já que os resultados foram obtidos utilizando-se dados secundários referente
à sericicultura publicados pela SEAB/DERAL do Estado do Paraná no ano de 2014. Os resultados mostram que
no período em estudo a sericicultura no Paraná vem se reduzindo, com uma queda de 71,82% no número de
produtores, devido a vários fatores tais como a crise no setor em 2008, o desestímulo dos produtores com os
baixos preços pagos pelo quilo de casulos pela indústria, êxodo rural e migração dos agricultores para outras
atividades. Todavia, pode-se concluir que a sericicultura continua a ser uma atividade importante para os
pequenos produtores e evidencia-se um processo de crescente concentração produtiva e de maior tecnificação
da atividade neste período.
Palavras-chave. Cadeia Produtiva. Sericicultura. Agricultura de Contrato. BRATAC.
THE TRANSFORMATIONS IN THE PRODUCTIVE CHAIN OF
SERICULTURE IN THE STATE OF PARANÁ: 2006-2014
Abstract. The sericulture is one of the oldest agro-industrial activities that we know of in history, having its
origin about 5000 years ago and today is an important source of income for small-scale farmers, contributing to
the socioeconomic development in the localities, which it operates. Another important aspect is that this activity
is carried out in the form of contract farming between producers and Silk Spinning company BRATAC S/A in
order to protect the right of both the production process and featuring a production chain. In this sense, this
paper aims to analyze the changes in Paraná sericulture in 2006-2014. The study is classified as a descriptive
and bibliographic research, since the results were obtained using secondary data related to sericulture
published by SEAB / DERAL of Paraná in the year 2014. The results show that in the period under study in
sericulture Paraná has been reduced, with a fall of 71.82% in the number of producers, due to various factors
such as the crisis in the sector in 2008, the discouragement of producers with low prices paid by the kilo of
cocoons for industry, rural exodus and migration of farmers to other activities. However, it can be concluded
that the sericulture remains an important activity for small farmers and there is evidence of a process of
increasing productive concentration and higher technification of activity in this period.
Keywords: Productive chain, Sericulture. Contract Farming. BRATAC.
1 Introdução
A sericicultura é uma das atividades agroindustriais mais antigas de que se tem notícia
na história. Ela teve sua origem na China há aproximadamente 5.000 anos atrás (Fernandez, et al., 2005). Basicamente, a criação do bicho-da-seda e a cultura da amoreira, são as duas principais atividades realizadas pelos sericicultores. Além do mais, a sericicultura pode ser entendida como a produção de seda direcionada a comercialização. No Brasil, a sericicultura é uma atividade que contribui consideravelmente para a economia rural, uma vez que tal atividade é predominantemente desenvolvida em pequenas propriedades rurais, sendo em muitos casos a principal fonte de renda para muitas famílias.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Em relação à produção mundial de casulos de bicho-da-seda em 2012, dos 40 países produtores, os cinco principais foram: China, Índia, Uzbequistão, Brasil e Tailândia. Contudo, mais de 90% da produção mundial é produzida pela China e Índia, 65% e 26%, respectivamente (SEAB/DERAL, 2014).
Atualmente, no cenário nacional, a agroindústria responsável pela venda das lagartas de bicho-da-seda e insumos aos produtores, e também incumbida pela compra do casulo verde e fabricação dos fios de seda é a Fiação de Seda BRATAC S/A, sendo esta a única empresa atuante no Brasil. Em relação a produção nacional de seda, o Estado do Paraná é o principal produtor de casulos de bicho-da-seda, sendo que 92% da produção nacional é realizada neste Estado, entretanto grande parte da seda produzida é destinada ao mercado internacional (Gazeta do Povo, 2013). Nesse contexto, a sericicultura pode ser vista como uma importante atividade econômica para o Estado, contribuindo para a geração de renda para as famílias envolvidas, e consequentemente auxiliando na diminuição do êxodo rural (CONAB, 2013).
De modo geral, a sericicultura se destaca por estar ligada a pequenas propriedades rurais de produção familiar. O processo produtivo do bicho-da-seda assume uma significativa importância no alcance econômico e social de uma região. Geralmente, o ciclo de produção de um casulo é relativamente curto, com duração média de um mês, garantindo renda mensal ao produtor em grande parte do ano. Dessa forma, além do desenvolvimento econômico das localidades nas quais se encontra inserida tal atividade, a sericicultura, contribui também com a geração de empregos, renda e impostos.
Outra importante vantagem ligada à sericicultura é que o produtor de seda pode desenvolver culturas alternativas paralelamente a sericicultura, pois a área cultivada com amoreiras não precisa ser extensa, viabilizando a produção paralela de café, milho, pecuária leiteira, entre outras. Somando a isso, a sericicultura apresenta um baixo custo de insumos, rápido retorno do capital investido, pequeno custo de produção devido ao fato do alimento do bicho-da-seda se restringir apenas ao consumo de folhas de amoreira, e garantia da venda de toda a produção, uma vez que a produção final é comprada diretamente pela BRATAC.
Além disso, a produção de casulos é uma cadeia produtiva, pois geralmente ela é realizada sob a forma de contrato agrícola para monitorar todos os passos da produção de casulos, visto que a agroindústria responsável pela distribuição das lagartas aos produtores é também responsável por todo o suporte oferecido durante o processo de formação dos casulos de seda e compra dos mesmos. Este contrato permite resguardar os direitos da empresa e dos produtores a fim de estabelecer uma parceria eficiente entre ambos. Conforme retratado por Eaton e Shepherd (2001) em uma época de liberalização do mercado, globalização e expansão do agronegócio, o contrato agrícola tem sido visto como uma forma de organizar a produção agrícola comercial em grande e em pequena escala. A adoção desse recurso assegura a inserção e a permanência, principalmente dos pequenos produtores, no mercado.
Ainda, segundo Eaton e Shepherd (2001), a agricultura sob contrato pode ser definida como um acordo entre os agricultores e empresas de transformação e/ou comercialização oral ou escrito. Um acordo que estabelece garantias em relação à produção e fornecimento de produtos agrícolas e serviços, os quais muitas vezes possuem preços pré-determinados. De maneira geral, um acordo que define compromissos que devem ser respeitados entre um produtor (agricultor) e a empresa, como por exemplo, o fornecimento de uma mercadoria específica em quantidade e qualidade pré-determinados pelo comprador, ou ainda, o compromisso por parte da empresa em apoiar a produção do agricultor a partir do fornecimento de insumos e provisão de aconselhamento técnico. Desse modo, o contrato agrícola pode proporcionar acesso aos serviços de produção e de crédito de forma positiva, bem como o conhecimento de novas tecnologias e definição de preços mais atrativos, o que pode reduzir o risco de incerteza, além de reduzir também, o que a Nova Economia
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Institucional definiu como sendo os custos de transação, diminuindo então a assimetria de informações entre produtor e comprador e/ou fornecedor.
A partir da safra 2006/2007 a sericicultura passou a fazer parte da proposta de preços mínimos divulgados pela CONAB nos relatórios de produtos de inverno, regionais e leite. Para composição de preços, são levados em consideração alguns fatores tais como o mercado internacional, o mercado nacional, o custo de produção e as projeções de crescimento da safra. A imposição de um preço mínimo tem funcionado como um impulsionador da atividade sericícola no Brasil, uma vez que os produtores passaram a demonstrar maior interesse no crédito, pois segundo relatório do Banco Central do Brasil, foram formalizados até julho de 2012, 44 contratos de custeio, no valor de R$ 261.148,00, e para a modalidade FEPM/FGPP1 foi concedido um montante de R$ 5.356.000,00.
Ni e Hisano (2014) citam que na sericicultura Chinesa existe a possibilidade de o produtor vender sua produção para a indústria ou para comerciantes intermediários. Desse modo as indústrias compradoras do casulo, a fim de garantir a qualidade e quantidade necessária, começaram a realizar contratos com os agricultores locais produtores de bicho-da-seda, oferecendo assim, preço mínimo e garantindo a compra dos casulos. No sentido de tornar o contrato mais atrativo, o preço mínimo apresentado foi definido com base no preço pago pelos comerciantes intermediários, sendo superior ao preço médio oferecido por tais comerciantes. Portanto, a venda integral da produção para a empresa contratante acabou se tornando a opção mais rentável para os produtores da região. Contudo, a adoção desse tipo de contrato, entre empresa e produtor, acaba favorecendo a integração vertical entre os elos na cadeia produtiva. Como pode ser visto na Figura 1, Ni e Hisano (2014) propõem um modelo de cadeia de valor entre os sericicultores e a indústria da seda chinesa.
Figura 1. Cadeia de Valor da Sericicultura e Indústria da Seda.
Fonte: Ni e Hisano (2014)
Visto que os estudos acadêmicos sobre a sericicultura ainda são bastante escassos, o presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar algumas variáveis ligadas às mudanças econômicas que ocorreram na sericicultura no período entre 2006/07 e 2013/14 no
1 FEPM - Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários. FGPP - Financiamento para Garantia de Preço ao Produtor.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Estado do Paraná utilizando-se de dados disponibilizados pela SEAB/DERAL no ano de 2014.
2 Procedimentos Metodológicos
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida com base em materiais já elaborados, sendo a principal fonte de pesquisa constituída por livros e artigos científicos. Como definido por (GIL, 2002), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Nesse contexto, tal vantagem torna-se importante, principalmente quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço.
São utilizados na análise descritiva dos resultados do trabalho, dados secundários disponibilizados pela SEAB/DERAL no ano de 2014 por meio eletrônico. Nesse sentido, por meio da análise minuciosa do material empírico e bibliográfico foi feita uma breve compilação referente tanto ao histórico da sericicultura no Paraná, bem como uma análise de algumas variáveis que estão relacionadas aos aspectos econômicos e produtivos dos municípios com maior importância na produção de casulos de bicho-da-seda durante o período em questão.
3 Resultados e Discussão Nessa seção identificam-se as principais mudanças que ocorreram no período entre as safras 2006/2007 a 2013/2014 no mercado da sericicultura paranaense. Inicialmente, como apresentado na Tabela 1, é possível notar que, entre as safras de 2006/2007 e 2013/2014, houve uma significativa redução na produção sericícola do Paraná. Tal fato, como pode ser observado, foi motivado pela redução de 71,82% do número de sericicultores no período. Essa situação pode ser atribuída ao cenário desfavorável à exportação de seda crua devido a crise econômica de 2008, representando um desincentivo para a produção, principalmente entre os produtores que trabalham no sistema de parcerias, causando declínio no número de produtores de bicho-da-seda no Paraná (BUSCH, 2010). Além do mais, a redução do número de sericicultores, impactou diretamente na redução da área de amoreira (redução de 70,87%), e consequentemente na redução na produção de 5.425 toneladas de casulos verdes. Em contraponto a diminuição do número de sericicultores e consequentemente a produção de casulos de bicho-da-seda, na Tabela 1 também pode ser verificado um aumento no preço médio pago aos agricultores por quilo de casulo. Como apresentado, o preço saltou de R$6,05 na safra 2006/2007 para R$ 15,22 na safra 2013/2014, representando 60,25% de aumento em oito anos. O reajuste do preço médio evidenciou a preocupação da indústria em incentivar os produtores a permanecerem na sericicultura, visto que a empresa de fiação BRATAC trabalha com capacidade ociosa desde 2003, em função da baixa oferta nacional de casulos verdes, da taxa de câmbio desfavorável à expansão das exportações e aos altos custos internos (BUSCH, 2010). Já em relação à taxa de casulos de primeira, apresentada na Tabela 1, nota-se com clareza que a mesma permaneceu constante, sofrendo apenas um leve aumento de 95% para 96% entre as safras 2006/2007 e 2012/2013. Esse fato evidencia a importância da seda paranaense no mundo, que é vista como de alta qualidade e é considerada segundo reportagem da Gazeta do Povo, 2013 como sendo a melhor do mundo. Atualmente, o Paraná continua liderando a participação no mercado sericícola brasileiro com 86,43% de toda a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS produção nacional, de acordo com a safra de 2013/2014. Contudo, esse fato evidencia uma grave preocupação, pois mesmo com a drástica redução na produção paranaense, o Estado continua liderando o mercado brasileiro, sendo seguido pelo Estado de São Paulo que conta com 9,4% de participação, Mato Grosso do Sul com 4,1 e Santa Catarina com 0,02%. (CIRIO, 2015).
Tabela 1 - Histórico da sericicultura no Paraná, safras 2006/07 a 2013/14
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
N° de municípios 239 229 219 216 204 191 188 181
N° de sericicultores 6.749 5.889 4.524 3.947 2.759 2.240 1.985 1.902
N° de barracões 7.122 6.468 5.002 4.338 3.072 2.667 2.210 2.141
Área de amoreira (ha) 13.645 14.799 11.464 10.067 7.049 5.750 4.523 3.974
Casulos verdes (t) 7.645 5.708 4.456 4.099 2.811 2.445 2.326 2.217
Produção média-kg/produtor 1.133 969 985 1.039 1.019 1.092 1.172 1.166
Produtividade média (kg/ha) 560 386 389 407 399 442 523 558
(% ) de casulos de 1ª 95,22 95,79 95,17 94,99 95,54 96,53 96,10
Preço médio (R$/kg casulos) 6,05 5,76 6,64 6,83 8,79 10,89 12,83 15,22
V.B Da Produção (R$1.000,00) 46.280,60 32.869,65 29.599,54 27.993,82 23.855,66 27.604,56 28.504,94 Participação do Paraná (%) 88,72 91,09 92,17 92,34 91,98 98,36 89,08 86,43
Fonte: Adaptado de SEAB/DERAL (2014)
De fato, mesmo com a redução do número de sericicultores no Paraná, o Estado ainda retém a maior produção de casulos de bicho-da-seda do país. Nesse sentido, grande parte dos municípios, principalmente os localizados na região Noroeste do Estado, possui um significante papel na produção estadual de casulos verde, como é possível notar na tabela 2 de acordo com a safra 2013/2014. Na Tabela 2 são apresentados os 20 municípios mais produtivos do Paraná, os quais juntos totalizam mais de 57% da produção estadual de casulos verde (SEAB/DERAL, 2014), o que representa 1270 toneladas de casulos numa área de 2,3 mil ha de amoreiras e com uma produtividade média de 0,562 toneladas/ha. Dentre os municípios apresentados, destaca-se o município de Nova Esperança, pertencente ao núcleo regional SEAB de Maringá, como detentor do maior número de criadores de bicho-da-seda no Paraná, com 180 criadores e 265 barracões, o que garantiu uma produção de 322 toneladas de casulos verde na safra de 2013/2014.
Os municípios de Nova Esperança, Astorga, Cruzeiro do Sul, Mandaguaçu e Arapongas fazem parte do Vale da Seda, região situada à noroeste do Estado, onde se verifica a maior produção de casulos de bicho-da-seda no ocidente. Nesta região foi criado, em 2009, no município de Maringá, o Instituto Vale da Seda a partir de um projeto desenvolvido na Incubadora Tecnológica de Maringá. O projeto tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da identidade regional, nacional ou internacional do Vale da Seda, além de contribuir para o fortalecimento da sericicultura, fomentando o adensamento da cadeia produtiva da seda paranaense e contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável. No Vale da Seda, composto por 29 municípios, vem ocorrendo uma concentração da produção e dos criadores de bicho-da-seda do Paraná. Essa situação contribuiu para a elevação da produtividade no Estado do Paraná como um todo, e concentração da produção e a utilização de formas mais tecnificadas no desenvolvimento da sericicultura.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tabela 2 – Municípios paranaenses maiores produtores de casulos verdes, safra 2013/2014 Núcleo Regional
da SEAB Municípios Nº.
Criadores Nº.
Barracões Área de
amoreiras (há)
Produção de casulos verdes (t)
Produtividade (t/ha)
Maringá Nova Esperança 180 265 632 322 0,509 Paranavaí Alto Paraná 66 67 211 101 0,478 Maringá Astorga 55 64 150 97 0,647 Laranjeiras do Sul Diamante do Sul 87 88 132 84,3 0,639 Ivaiporã Cândido Abreu 101 102 175 81 0,463 Cascavel Boa Vista da Aparecida 41 43 82 52 0,637 Umuarama Altônia 38 41 65 46 0,719 Paranavaí Cruzeiro do Sul 43 96 91 44 0,489 Cianorte Tuneiras do Oeste 25 26 57 42,4 0,741 Ivaiporã Jardim Alegre 32 42 69 42 0,608 Maringá Mandaguaçu 24 28 56 41,3 0,734 Cianorte Indianópolis 30 37 60 40 0,669 Guarapuava Palmital 37 37 44 37 0,840 Jacarezinho Wenceslau Braz 48 52 65 36 0,557 Umuarama São Jorge do Patrocínio 24 25 57 35,6 0,630 Jacarezinho Curiúva 34 37 58 35 0,602 Laranjeiras do Sul Guaraniaçu 33 36 49 35 0,708 Campo Mourão Iretama 31 37 60 33 0,547 Cianorte Rondon 17 27 92 33 0,359 Apucarana Arapongas 37 25 53 31 0,588 TOTAL 983 1.175 2.258 1.270 0,562
Fonte: SEAB/DERAL (2014) 4 Conclusões Este trabalho teve o objetivo de analisar as transformações que ocorreram na sericicultura paranaense no período entre as safras 2006/2007 a 2013/2014. Para tanto, foram destacados a importância da atividade para a agricultura de pequena escala e a importância do contrato para controlar o processo de produção, visto que a agroindústria que fornece e compra a produção do agricultor é um monopólio, devendo-se assegurar o cumprimento do acordo por ambos os lados.
Contudo, por se tratar de uma atividade com relevante importância para a agricultura familiar de pequena escala, a sericicultura vem ao longo dos anos perdendo espaço em termos de área plantada e número de produtores, devido primeiramente a crise econômica de 2008, como também ao baixo valor pago pelo quilo de casulo verde aos agricultores. Nesse contexto, a Fiação de Seda BRATAC S/A a fim de incentivar os produtores a permanecerem na atividade, vem elevando o valor pago por quilo de casulo verde. Além do mais, a partir da safra 2011/2012 houve um aquecimento no mercado internacional do fio da seda, que consequentemente melhorou os preços pagos aos produtores, tornando assim, otimistas as expectativas para o setor segundo SEAB/DERAL, 2014.
No entanto, a BRATAC, continua trabalhando com capacidade ociosa, mesmo com o aumento da demanda pelo fio da seda no mercado internacional. O chamado “Vale da Seda” no Noroeste do Paraná evidencia uma união entre 29 municípios a fim de garantir que a atividade sericícola seja revigorada, mantendo o atual nível de produção o que provavelmente encontra-se relacionada a maiores níveis de tecnificação no processo produtivo ao longo do período analisado, elevação da produtividade e concentração da produção. Vale destacar a necessidade da continuidade deste estudo para comprovar ou não da ocorrência das mudanças referidas no período analisado.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências
BUSCH, A. P. B. Análise da conjuntura agropecuária: safra 2010/2011. Curitiba: SEAB/DERAL, 2010. Disponível em:<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/seda_2010_11.pdf> Acesso em 19 Jul. 2016
CIRIO, G. M. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Sericicultura no Estado do Paraná. SAFRA 2014/15 - RELATÓRIO TAKII. Curitiba, 2015. Disponível em: <
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/2016/Sericicultura_2016.pdf > Acesso em 19 Jul. 2016.
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Proposta de preços mínimos - Safra 2013/14: Produtos de Inverno, Regionais e Leite. 2013. Disponível em: <
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_11_22_15_42_37_pm_imverno_13_14.pdf> Acesso em 20 Jul. 2016.
EATON, C.; SHEPHERD, A.. Contract farming: partnerships for growth. Agricultural Services Bulletin, n. 145. FAO - Food & Agriculture Org. Rome, 2001.
FERNANDEZ, M. A., et al. A utilização da biotecnologia na sericicultura brasileira. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento. n. 35. p. 56-61, 2005.
Gazeta do Povo. Paraná faz o melhor fio de seda do mundo, 2013. Disponível em <http://www.gazetadopovo.com.br> Acesso em 18 jul. 2016.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175p.
NI, H.; HISANO, S. Development of Contract Farming in Chinese Sericulture and the Silk Industry. In: The Political Economy of Agro-Food Markets in China. Palgrave Macmillan UK, p. 236-256, 2014.
SEAB, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento; DERAL-Departamento de Economia Rural. “Sericicultura”, 2014. Disponível em: <http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/sericicultura_2015.pdf> Acesso em 18 Jul. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A percepção sobre inovação tecnológica pelos feirantes de Camobi em
Santa Maria - RS
Roni Blume¹, Antonio Luiz Fantinel², Marcella Antonello³ Ramany H. Minello Paz³ Rafaela
Colpo³
¹Professor Dr. Adjunto da Universidade Federal de Santa Maria/UDESSM, email: [email protected]
² Doutorando em Agronegócios - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS
³ Curso Superior em Agronegócio- Universidade Federal de Santa Maria- UFSM.
Resumo. O presente trabalho examina a percepção dos feirantes do Bairro Camobi, município de Santa Maria
em relação às inovações tecnológicas utilizadas nas suas propriedades, bem como, identificar quais inovações
estão sendo utilizadas e/ou empregadas pelos mesmos nas práticas diárias da unidade produtiva. A mesma foi
conduzida através de pesquisa exploratória por meio de questionário semiestruturadas aplicado a sete feirantes
que comercializam seus produtos na feira do Bairro Camobi, municípios de Santa Maria, RS. Foi analisado o
perfil dos produtores, característica de cada propriedade, as inovações utilizadas em cada propriedade e sua
percepção por parte dos entrevistados. Verifica-se que as percepções sobre inovações tecnológicas estão
relacionadas a influenciam nas suas práticas agrícolas, principalmente para aumentar a produtividade e a
renda das famílias. Assim as inovações, para os que as adotam, é uma forma de manter a sua competitividade e
garantir a sua manutenção no mercado.
Palavras-chave. Feirantes; agricultura Familiar; Inovação; Competitividade.
The perception about technological innovation by the stallholders of
Camobi in Santa Maria-RS
Abstract. The present work examines the perception of the stallholders of Camobi District, municipality of
Santa Maria in relation to technological innovations used in its properties, as well as identify which innovations
are being used and/or employed by them in daily practices of the production unit. The same was conducted
through exploratory research through semi-structured questionnaire applied to seven merchants who market
their products at the fair of Camobi Neighborhood, the municipalities of Santa Maria, RS. Was analyzed the
profile of producers, characteristic of each property, innovations used in each property and its perception on the
part of respondents. It turns out that the perceptions about technological innovations are related to influence in
their agricultural practices, primarily to increase productivity and the income of families. The innovations, to
those who adopt, is a way to maintain its competitiveness and ensure its maintenance in the market.
Keywords. Stallholders; family agriculture; Innovation; Competitiveness.
Introdução
Desde a portabilidade de aparelhos a suplementos nutricionais as inovações fazem parte do cotidiano das pessoas e são preocupação premente para as empresas, pois influenciam na sua competitividade, independentemente do tamanho destas. A inovação através dos seus produtos, processos e serviços esta presente em todos os espaços geográficos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS No espaço rural as inovações, na forma de novas tecnologias, têm proporcionado transformações tanto para grandes como para as pequenas propriedades rurais. Estas transformações têm impactado no modo de vida das famílias que trabalham e gerenciam estes empreendimentos influenciando na sua reprodução social.
Quando pensamos em inovações tecnológicas, a percepção primária é que estas se relacionam diretamente com novos artefatos tecnológicos, novas maquinas ou produtos que venham a substituir artefatos convencionais. Porém uma inovação também pode ser compreendida como um melhoramento de uma tecnologia, objeto, ideia e/ou processo produtivo, ou seja, pode ser a transformação de “algo” que já existente no mercado. Em geral, as inovações surgem para tentar atender as demandas dos consumidores ou até mesmo atender mudanças no desenvolvimento sustentável para não afetar as necessidades das gerações futuras.
De acordo com Müller et al. (2001), o emprego de uma tecnologia, em unidades familiares de produção, deve estar ancorado na compreensão dos dados que produzem a lógica e a tomada de decisão dos agricultores. Os dados serão transformados em informações que irão orientar a conduta e o comportamento mediante a realidade em que estão inseridos.
Para Tigre (2006), a inovação pode ser vista como uma arma competitiva. Assim, esta permite ao empreendedor uma produção mais eficiente além da redução da dependência excessiva sobre a mão-de-obra e a eliminação de concorrentes. Na mesma ideia Souza (2005) refere-se que determinados insumos modernos exigem abundância de água e topografia regular. Em muitos casos, técnicas baratas, como novos métodos de cultivo, espaçamento correto, sementes selecionadas, adequação da cultura ao tipo de solo, adubação orgânica, podem ser suficientes para aumentar a produtividade e a renda dos agricultores. Deste modo, para que haja inovação nas técnicas produtivas, é necessário que o produtor faça uma análise econômica, para verificar se haverá lucratividade, pois, inovações exigem gastos elevados, que geralmente o produtor não tem possibilidade de investir.
Outro ponto importante que facilita a existência de inovações na agricultura familiar é a assistência técnica. Buainain et al. (2003), observou em seu estudo, tendo como base uma amostra representativa de agricultores familiares em cinco estados do Nordeste, que a assistência técnica é um dos fatores que reduz a ineficiência do uso de recursos disponíveis na propriedade.
Contudo a produção e a adaptação de inovações pelos agricultores constituem um fenômeno realizado na prática diária, essencialmente no nível do indivíduo, no marco de uma parcela, de um rebanho, numa unidade de produção. A tomada de decisão, a aplicação e o impacto têm a ver, fundamentalmente, com o nível da ação individual de cada produtor (SABOURIN, 2013).
Assim, a ação torna-se singularizada, e a percepção desta passa a ser construída a partir de processos ativos da mente juntamente com os sentidos, ou seja, há uma contribuição da inteligência no processo perceptivo, que é motivada pelos valores éticos, morais, culturais, julgamento, experiências e expectativas daqueles que o percebem. Desta forma, a percepção nos possibilita formar ideias, imagens e compreender o mundo que nos rodeia a partir de valores sejam eles econômicos, sociais, ecológicos, ou simplesmente estéticos (MELAZO, 2005).
Atualmente, estão a disposição diferentes tipos de tecnologia que potencializam diferentes interações. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo averiguar como um grupo de agricultores feirantes que atuam no Bairro Camobi em Santa Maria tem percebido as inovações tecnológicas no contexto das suas propriedades rurais. Optou-se por fazer esta averiguação neste grupo pela diversidade da produção das propriedades, sendo estas centralizadas no evento feira.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Metodologia
A pesquisa desenvolvida foi de natureza exploratória, qualitativa. As pesquisas exploratórias, segundo Mattar (1997) e Gil (1994), têm como finalidade principal desenvolver, explicar e modificar conceitos e ideias, de maneira a se conhecer melhor o assunto, podendo assim estabelecer o problema de pesquisa por meio da elaboração de questões e hipóteses que esclareçam os fatos e acontecimentos a serem estudados.
Para Richardson (1989), a pesquisa qualitativa é adequada para trabalhos que buscam desenvolver e descrever a complexidade de um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos. Outra importante característica deste tipo de pesquisa é a possibilidade de trabalhar com dados de amostras reduzidas e selecionadas, utilizando-se para a coleta de dados formulários não estruturados e análise não estatística (MALHOTRA, 2001).
O desenvolvimento do trabalho foi pautado pela revisão de bibliografias relacionada com o tema. Como instrumento para a coleta de dados primários foi desenvolvido um roteiro de entrevistas semi-estruturado com perguntas fechadas e abertas. As perguntas fechadas visam uma padronização das respostas às mesmas perguntas a fim de estabelecer uma comparação independente do sujeito inquerido. As perguntas abertas visam captar informações adicionais, espontâneas visando auxiliar na análise e interpretação dos resultados.
Estabelecido o instrumento de coleta a pesquisa exploratória se desenvolveu junto aos feirantes que comercializam seus produtos na feira do Bairro Camobi pertencente ao município de Santa Maria. Foram realizadas sete entrevistas, que correspondeu a todos os feirantes neste espaço estabelecido, contendo assuntos referentes ao perfil dos produtores, característica de cada propriedade bem como inovações utilizadas nas propriedades pelos envolvidos. Cabe destacar que esta feira é um ponto tradicional de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, bem como de produtos artesanais e coloniais elaborados nas agroindústrias caseiras dos próprios comerciante. A partir dos relatos, que se constituiu em fonte primária da pesquisa, foi efetuada a análise dos resultados. Resultados e discussões
A partir das entrevistas verificou-se que os sete produtores, são de distritos pertencentes ao município de Santa Maria, sendo estes: Arroio Grande (3 produtores), Pains (1 produtor), Palma (2 produtores), e Bairro Camobi (1 produtor). Em termos de idade dos entrevistados verificou-se que estes têm em média 50 anos e trabalham no mínimo a 28 anos, tendo como atividade principal a produção agropecuária. Tratando-se da caracterização da área por hectare, a média encontrada foi de 16 hectares, valor esse que se enquadra como agricultura familiar. Outro ponto importante ressaltado pelos agricultores feirantes é a questão de mão de obra que em grande parte é familiar, e destes somente um utiliza colaboradores.
Quanto a questão dos rendimentos verificou-se que a renda aproximada resultante da atividade da feira é de um salário e meio por semana. Os principais produtos comercializados são hortaliças, frutas, legumes, embutidos, produtos lácteos como queijo os quais são comercializados em maior quantidade, outros produtos oriundos da cana-de-açúcar como destilados, rapaduras, e também produtos como mel, ovos, carne, arroz, feijão, bolachas e massas em menor quantidade. Estes produtos proporcionam a diversificação na oferta, e esta se reflete nos rendimentos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Em relação ao significado da palavra inovação apenas 43% dos entrevistados identificaram que efetivaram alguma transformação nas práticas sócio-profissionais e nas propriedades relacionada com a noção. Do que foi considerada por estes como inovações estes destacam: a introdução da adubação química e novas técnicas de adubação orgânica, uso de determinados implementos agrícolas, uso da irrigação e fertirrigação, sementes geneticamente modificadas, utilização de mudas mais resistentes adquiridas em agropecuárias e condicionantes para processamento de produtos lácteos e cárneos. Quanto a motivação para efetivar estas transformações estes ressaltaram como motivo principal a baixa produtividade que as técnicas anteriores apresentavam.
Assim no entendimento deles tornou-se prioridade o acompanhamento às novas tecnologias, pois como cita um dos entrevistados, “se não houver esse acompanhamento vou perder por outros que já as utilizam estas novas técnicas” (Entrevistado 2, Arroio Grande). Cabe destacar que resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Souza (2005). Neste trabalho o autor identificou que a adoção das inovações por parte dos agricultores familiares estes estavam relacionados com a utilização de técnicas para aumentar a produtividade e a renda.
Ao serem perguntados sobre as dificuldades quanto à implementação de inovações nas propriedades os entrevistados relacionam a falta de assistência técnica como um dos principais gargalos que dificultam a adoção de novas técnicas ou insumos produtivos. Somente um dos produtores entrevistados cita que recebeu o auxílio de um extensionista público para implementação de mudanças tecnológicas que foram efetuadas na propriedade.
Ao relacionarem os principais problemas que gostariam de ser atendidos por alguma inovação estes citam: as questões fitossanitárias (doenças e pragas), problemas climáticos como (estiagem, e/ou excesso de chuvas e geadas), e problemas com a comercialização. Conclusão
As famílias rurais têm adotado diferentes estratégias e inovações nas suas práticas sócio-profissionais para a manutenção da sua reprodução social e econômica. Como se pode observar nos resultados deste trabalho a percepção que os entrevistados possuem sobre as inovações tecnológicas é restritiva, ligadas a produtos externos a seu meio, e como estes influenciam nas suas práticas. Assim, percebem como inovações somente os produtos que podem ser adquiridos no mercado, sendo estes empregados como soluções para aumentar a competitividade através da produtividade, de modo a assegurar a manutenção no mercado e garantir a renda. Nenhum dos entrevistados citou como inovação a forma de comercialização que este pratica, o processo do feirante e sua relação com os clientes. Além disso, se observou vários produtos artesanais diferenciados (embutidos e produtos lácteos) que tem um saber fazer próprio que os diferencia dos produtos industrializados, para os entrevistados este conhecimento tácito, aplicado de forma incremental, não é algo diferencial. Da mesma forma, não destacaram nenhuma modificação no processo de gestão aplicado na propriedade, alguma ferramenta que ajuda no processo de tomada de decisão, ou que permite a redução de custos produtivos. No mesmo sentido, nenhuma prática ligada questão da qualidade dos produtos e do ambiente foi salientada. Como a inovação ficou restrita a produtos a serem adquiridos no mercado estes apontaram como deficiente a falta de assistência técnica junto à propriedade, deixando o produtor sem direcionamento e sem conhecimento sobre inovações.
Contudo mesmo com os problemas apontados os produtores entrevistados continuarão na atividade não sendo refratários ao uso de inovações, porém a adoção de determinadas inovações só serão efetivadas se estas proporcionarem maior rentabilidade nas propriedades. Como sugestão para estudos futuros pode-se realizar esta pesquisa com agricultores feirantes
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS agroecológicos, a fim de comparar as percepções quanto às inovações tecnológicas utilizadas nas suas propriedades e verificar se a natureza ou origem das inovações é semelhante.
Referências bibliográficas
BUAINAIN A. M.; et al. Estudo de avaliação de impacto do Programa Cédula da Terra 2003. Relatório Final. Mimeo, 2003.
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed., São Paulo: Atlas, 1994. 207p.
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2001
MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 1997. 270p.
MELLAZO, G.C. A percepção ambiental e educação ambiental: uma reflexão sobre as relações interpessoais e ambientais no espaço urbano. Olhares & Trilhas . Uberlândia, Ano VI, n. 6, p. 45-51, 2005.
MÜLLER, J.M; LOVATO, P. E.; MUSSOI, E.M. Do tradicional ao Agroecológico: As Veredas das Transições (o Caso dos Agricultores Familiares de Santa Rosa de Lima/SC). Síntese de dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1989.
RÖLING, N.G. The emergence of knowledge systems thinking: a changing perception of relationships among innovation, knowledge process and configuration. Knowledge and policy: the International Journal of Knowledge Transfer and Utilization, Spring. v. 5, n. 1: 1992, p. 42-64.
SABOURIN, E. Aprendizagem coletiva e construção social do saber local: o caso da inovação na agricultura familiar da Paraíba. Estudos sociedade e agricultura, 2013.
SOUZA, N. de J. Inovações Tecnológicas na Agricultura. Desenvolvimento Econômico. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005.
TIGRE, P. B. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia do Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O Ambiente Institucional na Transição Agroecológica da Agricultura Familiar
Joice Zagna Valent1, Leonardo Xavier da Silva2
1Doutoranda em Agronegócios na UFRGS, [email protected] 2Professor de Pós-Graduação em Agronegócios na UFRGS, [email protected] Resumo: O trabalho ocupou-se em responder a seguinte questão: qual a influência do ambiente institucional na transição agroecológica dos agricultores familiares de uma Cooperativa Agropecuária, localizada município de Boqueirão do Leão, estado do Rio Grande do Sul? Para tanto, o objetivo foi descrever este ambiente e a influência que o mesmo exerce sobre a decisão dos agricultores familiares. Por meio de um estudo qualitativo, evidencia-se que as restrições informais foram determinantes para a mudança técnica da cooperativa. Palavras-chave: Agroecologia, Agricultura, Desenvolvimento rural, Instituições.
The Institutional Environment in Agroecology Transition of Family Farming
Abstract: The work was occupied to answer the question: what is the influence of the institutional environment in agroecological transition of family farmers of Agricultural Cooperative, located city of Boqueirão do Leão, State of Rio Grande do Sul? Therefore, the objective was to describe this environment and the influence that it has on the decision of family farmers. Through a qualitative study, it is evidence that the informal constraints was determinant to the technical change of the cooperative. Keywords: Agroecology, Agriculture, Rural Development, Institutions.
Introdução A agricultura familiar inclui todas as atividades de base familiar e está ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural. Ela é a forma agrícola predominante no setor de produção de alimentos. Em nível nacional, existem alguns fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura familiar, tais como: condições agroecológicas e as características territoriais; ambiente político favorável; condições demográficas, econômicas e socioculturais; disponibilidade de educação especializada; acesso aos mercados, aos recursos naturais, aos financiamentos e à tecnologia e serviços de extensão (FAO, 2014). A complexidade do setor agrícola familiar é um grande desafio e por isso metodologias devem ser criadas para oportunizar acesso às tecnologias, no contexto da produção e do desenvolvimento rural. Na atualidade, a agricultura familiar almeja fortalecer as ações voltadas para o bom uso da agrobiodiversidade dos ecossistemas e para o estímulo à produção autônoma e sustentável dos agricultores familiares (EMBRAPA, 2014).
Nesse contexto surge uma proposta agroecológica para a agricultura familiar. Esta proposta visa a mudança do modelo de produção, dando ênfase na valorização do desenvolvimento endógeno, no aumento da renda da família, na agregação de valor aos produtos e na adoção de práticas agrícolas ecologicamente adequadas (PACÍFICO e DAL SOGLIO, 2010). Por consequência, Azevedo, Schmidt e Karam (2011) relatam que a agricultura familiar sustentável promove valores sociais e qualidade de vida no meio rural, bem com repercute na qualidade de vida urbana. Para Baum (1998), o ambiente institucional estabelece o contexto social. Nesta conjuntura, as escolhas dos agentes obedecem a fatores não econômicos como preferências e ideologias e a racionalidade das pessoas é limitada diante de um mundo permeado de incertezas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Diante do exposto, este artigo teve como objeto de estudo uma Cooperativa Agropecuária, localizada n município de Boqueirão do Leão, estado do Rio Grande do Sul. O trabalho ocupou-se em responder a questão: qual a influência do ambiente institucional na transição agroecológica dos agricultores familiares que fazem parte da Cooperativa? Para tanto o objetivo foi descrever este ambiente institucional e a influência que o mesmo exerce sobre a decisão destes agricultores familiares.
Referencial Teórico
Agricultura Familiar A atividade da agricultura familiar responde por 500 mil postos de trabalho rurais e contribui com 33% do valor bruto da produção agropecuária, de acordo com dados do último censo agropecuário (IBGE, 2006).
No Brasil reza a Lei 11.326/06 que a agricultura familiar deve ter os seguintes aspectos: I) não deter área maior do que quatro módulos fiscais; II) utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu empreendimento; III) ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio empreendimento; IV) dirigir seu empreendimento com sua família. A partir destes critérios, os produtores agrícolas precisam entender a dinâmica de funcionamento do sistema onde estão inseridos para facilitar a comercialização de seus produtos. Para Vieira Filho (2013) a agricultura familiar enfrenta a heterogeneidade estrutural que dificulta a participação nos diferentes mercados. A diversidade interna deste segmento requer ações específicas para promover a produção e realocar recursos. Porém, muitas vezes, a agricultura familiar segue uma lógica não somente voltada para o mercado.
Desse modo, aspectos sociais, ambientais, éticos, culturais e ideológicos estão acima do econômico para muitos deles, podendo influenciar, sobremodo, sua escolhas (GOMES; REICHERT, 2011). Gasson (1973) destaca que estes agricultores preferem uma vida saudável, assim, desenvolvem as tarefas com prazer e tomam decisões com liberdade e independência, controlando as situações que surgem ao longo do tempo. Por consequência disso, novos modelos de agricultura familiar surgem e modificam as relações políticas e institucionais.
Ambiente Institucional O ambiente institucional destaca o papel das macroinstituições sobre as interações econômicas entre os membros de uma mesma sociedade. Para isso são analisados três elementos: a) regras formais; b) restrições informais; c) direitos de propriedade da terra. As regras formais são referentes à constituição, legislações complementares e o conjunto de políticas públicas, como, por exemplo, a defesa da concorrência, a política agrícola e a política de reforma agrária, no caso da agricultura. As restrições informais consistem em valores, tabus, costumes, religiões, códigos de ética, laços étnicos e familiares, que representam o importante papel econômico de restringir o comportamento dos agentes. Já os direitos de propriedade da terra formam um conjunto particular de instituições que definem, limitam e garantem os direitos de propriedade (AZEVEDO, 2000).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Devido às turbulências políticas e econômicas, regulamentações governamentais e inovações tecnológicas, o ambiente institucional modifica-se. Esta mudança cria condições que permitem às organizações evoluírem junto com o ambiente, criando as suas identidades (MORGAN, 1996).
Nesse contexto, a transição agroecológica colabora com a criação de identidades, pois melhora a qualidade do produto e as relações humanas, atende novos mercados, colabora com a preservação ambiental e oferece uma vida mais saudável aos produtores rurais. Assim, as restrições informais também são alteradas.
Transição Agroecológica
Para comprovar essa modificação, a transição agroecológica aparece como um processo social que passa de um modo de produção para outro distinto. Inclui processos sociais com externalidades e complexas redes de relações e interações de atores sociais com o ambiente (COSTABEBER, 1998).
Do ponto de vista agrícola, a agroecologia se fundamenta em um conjunto de conhecimentos e técnicas que se desenvolvem a partir de agricultores e de seus processos de experimentação. Por isso enfatiza a importância de comunidades locais inovarem nos processos produtivos, por meio de experimentos transmitidos de agricultor para agricultor (ALTIERI, 2012).
Por isso, parte do sucesso da transição depende da capacidade do agricultor. Ele tem que ajustar a economia de sua unidade produtiva a um novo contexto de produção. Este novo contexto exige mudanças nas práticas de campo e na gestão da propriedade. Novos princípios são integrados à rotina da propriedade rural, criando uma sinergia de interações e relações que determinam o sucesso da conversão (GLIESSMAN, 2009). O ambiente institucional também é responsável pelo êxito dessa mudança, por causa das políticas públicas agrícolas que promovem o surgimento de novos valores, estreitando os laços com a comunidade.
Metodologia Como já referido, este estudo foi desenvolvido no município de Boqueirão do Leão, na região dos Vales, do estado do Rio Grande do Sul. Foi um estudo censitário com os 39 agricultores familiares de uma Cooperativa Agropecuária. Os dados fazem parte da Dissertação de Mestrado da primeira autora deste trabalho, apresentada em 2014.
A pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva. Rodrigues (2007) define a pesquisa exploratória como uma operação de reconhecimento, uma sondagem destinada à aproximação em face do desconhecido. Já, a pesquisa descritiva, para Cervo e Bervian (1983), observa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los.
A coleta de dados foi primária. Nesta etapa, os cooperados foram entrevistados pessoalmente por meio de um formulário de entrevista semiestruturado. A análise dos dados foi qualitativa. Discussão dos Resultados
A decisão de passar a produzir alimentos agroecológicos foi acordada em uma reunião
da cooperativa, mas cada agricultor tem seus motivos pessoais para decidir. A racionalidade e a autonomia de cada cooperado prevaleceram na decisão.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Muitos estavam acostumados a usar agrotóxico na fumicultura. Porém, a saúde era prejudicada, além da baixa no preço de comercialização do tabaco que, em função disso, precisava ter uma segunda opção. Também houve resistência de algumas pessoas mais velhas, mas doze agricultores disseram que já cultivavam alimentos agroecológicos para preservar a saúde e a natureza. Outras razões para o cultivo agroecológico, conforme os cooperados: não usar agrotóxico, a comercialização é facilitada e existe a possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Então, a partir desse ambiente institucional, teve início a transição agroecológica.
Nesse contexto, a racionalidade da tomada de decisão foi contingencial, porque ocorreu conforme as circunstâncias relativas ao momento dos decisores (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Ou seja, ocorreu no tempo que o mercado do tabaco e seus preços estavam instáveis e, ao mesmo tempo, os agricultores desejavam produzir alimentos mais saudáveis para cuidar da saúde. Algumas vezes os argumentos apresentados para iniciar a transição foram diferentes. Isso retrata a individualidade dos cooperados para decidir.
Tem que ter consciência que imprevistos podem acontecer no percurso (E19). Deve planejar sempre para não fazer errado. É só fazendo que se aprende (E9). É uma coisa boa, mas tem que ser organizado para ter futuro (E15). Tem que ter organização para a Cooperativa obter sucesso e todos os cooperados lucrarem com isso (E24). Os agricultores devem estar dispostos a mudar (E 13).
A diversidade de explicações mostra que cada agricultor possui um conjunto diferente de valores que delimita o comportamento, ou seja, as restrições informais possuem determinado poder sobre as escolhas dos cooperados. Os temas saúde e renda foram bastante lembrados quando os cooperados foram perguntados sobre as expectativas da transição agroecológica. Estes assuntos colaboraram para criar condições de mudança, o que permitiu a evolução da cooperativa criando uma identidade local (MORGAN, 1996). Segue alguns comentários dos cooperados sobre saúde e renda:
É uma coisa boa, pois preserva a saúde e sabe o que come (E6). Prolongação da vida. Poupança de saúde (E26). Não usar agrotóxico é saber o que está comendo, que é saúde, que é uma coisa boa (E3). Boa. Pode proporcionar uma saúde melhor e mais renda (E31). Faço o que gosto e acredito, possibilitando a aprendizagem de outras pessoas, alimentação saudável, com prazer e ganhando dinheiro (E1). Pode ser lucrativo. Deve dar lucro para continuar (E10). Procurar mercados novos para ter possibilidade de vender bastante (E23).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Tem dois lados: quando o preço é bom a empolgação é geral. Ao contrário não. Deve haver cooperação (E28). Com a certificação terá maior valorização do produto, maior reconhecimento, melhoria na vida de todos e oportuniza e estimula os jovens, por meio da diversificação, à permanência no campo (E29). O principal produto orgânico é o fumo. Estou feliz, pois além do preço ser 60% a mais que o normal, faço umas 10 arrobas por mil pés (E9).
Neste contexto, alguns agricultores estão recebendo propostas de fumageiras para cultivar tabaco orgânico como experiência. Assim, fica evidente que as questões institucionais relacionadas à saúde e renda são fatores determinantes na escolha dos agricultores. Devido a diferenças na forma como os proprietários conduzem suas unidades produtivas ou como resultado de diferenças de circunstâncias pessoais, a tomada de decisão coletiva é o resultado da heterogeneidade de interesses entre as pessoas. Este resultado deve maximizar o bem estar dos proprietários como um grupo (CHADDAD; ILIOPOULOS, 2013). Considerações Finais
A transição agroecológica dos agricultores familiares que fazem parte da Cooperativa foi influenciada, principalmente, por questões relacionadas à saúde e à renda. Em decorrência de uma trajetória marcada pelo uso intensivo de agrotóxicos no cultivo do tabaco, formou-se um ambiente propício para a mudança.
Esse ambiente institucional justifica a necessidade de mudança nos processos de produção. A intenção foi obter melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, manter e aumentar a renda familiar.
Referências ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular; Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012. AZEVEDO, Elaine de; SCHMIDT, Wilson; KARAM, Karen Follador. Agricultura familiar orgânica e qualidade de vida. Um estudo de caso em Santa Rosa de Lima, SC, Brasil. Revista Brasileira de Agroecologia, Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 81-106, 2011. AZEVEDO, P. F. NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL: referencial geral e aplicações para a agricultura. Agric. São Paulo, SP, 47(1):33-52, 2000. BAUM, J. A. C. Ecologia Organizacional. In: CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais: Modelos
de Análise e Novas Questões em Estudos Organizacionais. São Paulo: Atlas, 1998. BRASIL. Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as Diretrizes para a Formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 jul. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 05 JUL. 2016. CHADDAD, Fabio; ILIOPOULOS, Constantine. Control Rights, Governance, and the Costs of Ownership in Agricultural Cooperatives. Agribusiness, Cidade, v. 29, n. 1, p. 3-22, 2013. COSTABEBER, J. A. Acción coletiva y procesos de transición agroecológica en Rio Grande do Sul, Brasil. 1998. Tese (Doutorado em Agroecologia, Campesinato e Historia) - ISECETSIAN, Universidad de Córdoba, Espanha, 1998. FAO. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. O que é Agricultura Familiar? 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/pt/>. Acesso em: 11 JUL. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GASSON, Ruth. Goals and values of farmers. Journal of Agricultural Economics, Inglaterra, v. 24, n. 3, p. 521-537, 1973. GOMES, Mário Conill; REICHERT, Lírio José. O processo administrativo e a tomada de decisão na unidade de produção agrícola de base ecológica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 7., 2011, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: Cadernos de agroecologia, v. 6, n. 2, 2011. GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo agropecuário 2006. 2006. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/51/agro_2006.pdf> Acesso em: 5 abr. 2016. MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; VASCONCELOS, Isabella Francisca Gouveia de. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. PACÍFICO, Daniela A.; DAL SOGLIO, Fábio Kessler. Transição para agricultura de base ecológica: um processo social. Revista Brasileira
de Agroecologia, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 50-64, 2010.
VIEIRA FILHO, José Eustáquio Ribeiro. The structural heterogeneity of family farming in Brazil. CEPAL REVIEW, n. 111, 2013.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Utilização de imagens de satélite para levantamento da área irrigada por pivô-central no Estado do Rio Grande do Sul
Yesica Ramirez Flores¹,Luiz Patric Kayser² ,Michele Monguilott², Marcia Xavier Peiter³;
1 Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento UFSM. Email. [email protected] 2 Professores do Colégio Politécnico da UFSM. 3 Professora Dr(a) da Universidade Federal de Santa Maria
Resumo. Por entender da importância do uso da irrigação para agronegócio brasileiro, sendo esta o respectivo fortalecimento para contribuir efetivamente no desenvolvimento do setor e do pais, o presente documento tem o objetivo identificar as áreas irrigadas pelo método de irrigação por pivô central nos municípios de Bagé, Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana e Dom Pedrito utilizando-se de imagens de satélite. As imagens foram classificadas com a aplicação de filtros nas bandas de 2 a 7 do OLI, realçou-se as bordas e aplicou-se extrator de bordas para identificação das áreas com geometria características dos pivôs centrais (circulares). Após, as mesmas imagens foram tratadas no software ArcGIS 10.4.1 for Desktop Advanced, o qual possibilitou a extração das áreas irrigadas por pivô central. Assim obteve-se o total de pivôs instalados compatíveis com a resolução espacial das imagens orbitais utilizadas, quantificou-se por município, o uso de pivôs central, bem como a área total irrigada pelo mesmo. Com esta quantificação, podemos demonstrar, em linhas gerais, quais regiões necessitam de maior aporte de recursos para construção de reservatórios de água, que possam suportar a demanda de hídrica dos pivôs instalados na Região bem como possibilitar o desenvolvimento de técnicas para aumentar a produção de alimentos sem acrescer de água.
Palavras-chave. Pivô Central; Imagens; Irrigação; Água.
Use of satellite images to survey the area irrigated by pivot-in the State of Rio Grande do Sul
Abstract. To understand the importance of the use of irrigation for Brazilian agribusiness, its strengthening to contribute effectively in the development of the sector and of the country, this document aims to identify the areas irrigated by center-pivot irrigation method in the municipalities of Bagé, Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana and Dom Pedrito using satellite images. The images were classified by applying filters in the 1 to 5 bands and 7 of the OLI, the highlighted edges and applied to edges Extractor identification of areas with geometry characteristics of central pivots (circular). After, the same images were treated in the ArcGIS software 10.4.1 for Desktop Advanced, which allowed the extraction of the areas irrigated by pivot. So was the total installed pivots that are compatible with the spatial resolution of orbital images used, quantified by municipality, using central pivots, as well as the total area irrigated by the same. With this quantification, we can demonstrate, in general lines, which regions require greater amount of resources for construction of water reservoirs, which can withstand the water demand of the pivots installed in the region as well as enabling the development of techniques to increase food production without added water.
Keywords. Central Pivot; Images; Irrigation; Water.
Introdução
Em 2003 apenas 278 milhões de hectares de um total de 1,5 bilhões de área cultivada
no mundo possuíam sistemas de irrigação, no entanto produziam cerca de 44% da produção de alimentos. Caso contrário não tivesse irrigação seria necessário ampliar a área plantada em aproximadamente 45%, para produzir a mesma quantidade de alimento (LIMA et al., 2007). No Brasil, a área irrigada corresponde a 18 % da área cultivada, mas contribui com 42 % da produção total (CHRISTOFIDIS, 2002).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O Brasil possui a nona maior área irrigada do mundo, atrás da Tailândia, México, Indonésia, Irã, Paquistão, Estados Unidos da América, Índia e China (FAO, 2012). Frente a área agrícola total, à extensão territorial e um clima favorável, a irrigação no Brasil é considerada pequena, entretanto os incrementos anuais de área irrigada vêm se mantendo elevado nos últimos anos, potencializado áreas significantemente maiores a cada ano.
Segundo dados do IBGE (2009) e da Agência Nacional das Águas (2014) verifica-se um aumento no uso de irrigação no Brasil entre 4,4% e 7,3% ao ano, a partir da década de 1960, estimando-se em 6,1 milhões de hectares sob irrigação no ano de 2014.
Existem basicamente, quatro métodos de irrigação, os quais são por superfície, aspersão, localizada e subirrigação. A razão pela qual existem diferentes sistemas de irrigação é em função da grande diversidade de solo, clima, culturas, disponibilidade de energia e condições socioeconômicas para as quais o sistema de irrigação deve ser adaptado à cultura.
De fundamental importância para a produção agrícola em regiões áridas, a irrigação vinha sendo constantemente relegada a um plano inferior nas regiões onde, sob certas condições, a precipitação natural permitia que as culturas se desenvolvessem e produzissem normalmente (LIMA et. al., 1999).
Estudos científicos demonstram que o estresse causado pela falta de água reduz sensivelmente a produção vegetal, inviabilizando-a, por exemplo, em regiões de clima árido ou semi-árido, onde a falta de água é constante e limita a atividade agrícola. Dessa forma a irrigação realizada no momento correto, aplicando-se a quantidade certa de água, ocorrem índices de produtividade acima das médias das culturas, quando cultivadas sob condição de chuva somente (também chamados de cultivos de sequeiro (Testezlaf, et al., 2002).
O levantamento subjetivo dos estabelecimentos agropecuários realizado pelo IBGE (2009) através do censo Agropecuário de 2006 apresentou um amplo panorama da área equipada para irrigação nos municípios brasileiros. Foram identificados 4,54 Mha equipados para irrigação no País. Sendo o método aspersão e outros métodos presentes em 29,3% do total das áreas, seguido de inundação com 25,7%, sistema de pivô central em 19,6%, outros métodos de irrigação com 8,2%, sistema de irrigação localizado com 7,1% e irrigação por sulcos com 4,2% das áreas. Verifica-se também a predominância da Região Sudeste contendo o maior número de sistemas de irrigação, com 35% do total de áreas irrigadas. A região Sul aparece na segunda colocação com 27% das áreas, seguida da região Nordeste (22%), Centro Oeste (13%), e por ultimo a Região Norte do Brasil com 2% das áreas irrigadas.
Tabela 1. Área irrigada em 2006, por método de irrigação – Brasil e Regiões Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste
Inundação 34487 69633 27815 1003115 31299 Sulcos 4091 109732 28417 15291 32191 Pivô central 9076 207757 413562 61488 201004 Aspersão (outros métodos) 31385 420963 738557 110484 29217 Localizado 5018 105455 193217 17654 943 Outros métodos 25525 94118 206114 30781 15706 Total 109582 1007657 1607681 1238812 581801
Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009)
Segundo da Agencia Nacional das Águas (ANA 2014), foram identificados 19.892 equipamentos de irrigação do tipo pivô central no território nacional, ocupando 1,275 milhão de hectares. Os resultados apontam crescimento de 43,3% da área equipada por pivôs em relação aos dados apresentados pelo IBGE (2009). Na ocasião foram identificados 893 mil hectares (IBGE, 2009).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Devido à sua facilidade operacional, à alta adaptabilidade a diferentes condições de solo e topografia e à pequena demanda por mão-de-obra, a prática da irrigação por meio de sistemas de pivô central vem sendo amplamente utilizada na Região Sul (SILVA; AZEVEDO, 1998). Aliado a características particulares como áreas irrigadas em forma de círculo, permite a delimitação rápida e precisa desses equipamentos por imagens orbitais.
A irrigação pelo método de pivô central no Estado do Rio Grande do Sul vem sendo utilizada na produção de grãos (milho, soja, aveia), e em pastagens, estando presente em 6% da área. Recentemente este método de irrigação vem sendo utilizado em algumas lavouras de arroz irrigado da fronteira Oeste do RS, proporcionando economia de aproximadamente 50% no uso da água em comparação ao sistema tradicional de irrigação por inundação (ANA, 2014).
Apesar dos benefícios advindos de seu uso, a agricultura irrigada demanda grandes quantidades de água, podendo gerar conflitos em certas regiões, sendo necessária aquisição de dados sobre a demanda hídrica e também constante monitoramento do uso desta água. No entanto, o levantamento dessas informações em grandes áreas demandaria recursos geralmente escassos.
No entanto, as ferramentas de geoprocessamento vêm sendo amplamente utilizadas na realização dessas tarefas por possibilitar e facilitar a geração dessas informações. Dessa forma o presente documento tem o objetivo de, a partir de ferramentas de geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, identificar as áreas irrigadas pelo método der pivô central nos municípios de Bagé, Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana e Dom Pedrito.
Procedimento metodológico
Para tal foi utilizado imagens do Sensor OLI a bordo da Plataformas Landsat 8
disponibilizadas gratuitamente, foram selecionadas imagens do período de janeiro a março do ano corrente e de acordo com a baixa cobertura de nuvens. As imagens de média resolução espacial utilizadas são do sensor OLI (Operational Land Imager) do satélite Landsat 8, que se encontra posicionado a uma altitude de 705 km da superfície terrestre. O período de revisita, é de 16 dias, (período de volta a mesma região da terra). Cada cena (ou imagem) cobre uma área de 170 km por 185 km. Para cobrir o território brasileiro é necessário o uso de 381 cenas. Imagens de alta resolução espacial (< 1 metro), disponibilizadas pelo software Google Earth Pro, foram utilizadas de forma complementar para melhor identificação de equipamentos e delimitação de áreas.
Após a obtenção de imagens foram classificadas no software para Processamento Digital de Imagens (ERDAS 2014®); foram aplicados filtros às bandas de 2 a 7 do Sensor OLI para o realce das bordas entre as ocupações do solo, aplicação de extratores de bordas para identificação das áreas com geometria características dos pivôs centrais (circulares). Em seguida foi utilizada a extensão ArcScan do software ArcGIS 10.4.1 for Desktop Advanced, o qual possibilitou a extração das áreas irrigadas por pivô central. Obtivemos o total de pivôs instalados compatíveis com a resolução espacial das imagens orbitais utilizadas, obtendo-se assim a área total irrigada por pivô para cada município.
A área de estudo abrange os municípios de Bagé, Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana e Dom Pedrito, localizados no Rio Grande do Sul (Figura 1A). A região abrange áreas de 24 Micro bacias Hidrográficas, sendo estas pertencentes a Bacias Hidrográficas, Negro, Camaquã, Quaraí, Santa Maria, Ibicuí e Mirim São Gonçalo, fazendo com que a mesma, seja uma área de grande relevância para o estudo (Figura 1B).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figura 1- Localização da área de estudo (A); Micro bacias Hidrográficas (B). A) B)
Fonte: (Autores 2016)
Na identificação das áreas irrigadas foram considerados quatro aspectos os quais foram identificados e estudados durante a análise das imagens onde estes aspectos serão indispensáveis para a identificação das áreas irrigadas por pivô central na área de estudo.
O primeiro aspecto a ser considerado é que embora o padrão da forma circular seja uma característica própria do sistema, foram encontradas varias áreas de formas irregulares, bem como áreas com padrões semicirculares, já que muitos sistemas são utilizados de forma que uma parte da área do pivô é irrigada enquanto a outra não é utilizada, geralmente essas irregularidades são associadas a corpos d’agua, reserva legal, estradas e limites de propriedade. O segundo aspecto a ser considerado é a mobilidade do sistema, já que estes podem ser levados de um lugar a outro de lugar, criando uma nova área de irrigação, desta maneira pode ocorrer um erro de avaliação, sendo que se faz necessário a identificação das torres (equipamentos), e da área plantada ativa, por este motivo foram selecionadas imagens no período seco, facilitando a identificação dos mesmos. O erro se deve a que se identificam duas áreas padrão circular vizinhas, mas na verdade existe um só pivô ativo. O terceiro aspecto a ser considerado é que em regiões de maior densidade de pivôs, ou regiões de maior fragmentação de propriedades, se observa maior número de formas irregulares ou semicirculares, bem como áreas menores de irrigação por pivô central, procurando a irrigação de áreas remanescentes (ANA, 2013). O quarto aspecto a ser considerado é áreas ativas irrigadas por pivô mas sem a existência de torre de irrigação, já que são identificadas varias áreas com padrão circular ou semicircular, mas estas áreas já foram substituídas por outras áreas ativas, o padrão circular continua bem demarcado mas não existe uma torre de irrigação devido a mobilidade do sistema e o estagio que se encontra a cultura.
. Resultados e discussões
Levando em consideração os aspectos mencionados na seção anterior, foi possível
realizar a quantificação das áreas irrigadas por pivô central nos municípios, e a área irrigada total da região em estudo. A partir da extensão ArcScan do software ArcGIS 10.4.1 obteve-se o realce das bordas, fazendo que a identificação de áreas com padrão circular e semicircular fossem identificadas com maior facilidade. Na figura 3A é verificado o resultado do realce de borda para a área total estudada. Já na Figura 3B é verificado o realce de borda para o município
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
de Uruguaiana-RS, sendo esse o que apresentou o maior número de áreas irrigadas por pivô central.
Figura 3- Mapas de Realce área total estudada (A); Mapa realce munícipio de Uruguaiana-RS (B) A) B)
Fonte: (Autores 2016)
Este realce foi realizado em todas as cidades, identificado dessa maneira 24 áreas irrigadas pelo método de Pivô Central na Região de estudo, onde no município de Uruguaiana se concentra a maior parte destas áreas, quantificando 13 áreas irrigadas por Pivô Central (Figura 4).
Figura 4- Localização de Pivôs - Uruguaiana.
Fonte: (Autores 2016)
Em seguida contabilizando 5 áreas irrigadas por Pivô Central o município de Barra do Quaraí, os Municípios de Bagé e Dom Pedrito contabilizaram 3 áreas cada um, é nos municípios de Santana do Livramento e Quaraí não foram identificadas áreas com padrão circular ou semicircular (Figura 5).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A região de estudo apresenta uma área total de 1.465,5 hectares de área irrigada por pivô central. As áreas encontradas variam de 10,27 hectares a menor a 134,41 hectares a maior. Embora a região apresente características apropriadas para a implantação deste sistema, tais como relevo pouco ondulado e culturas de grande potencial econômico, isso não é verificado com a realização do trabalho.
Figura 5- Localização de Pivôs Identificados.
Fonte: (Autores 2016)
Através das Figura 6 é possível verificar que praticamente a totalidade dos municípios apresentam sistemas de pivô central localizados próximos a cursos d’ água. Dessa forma é necessário que a implantação destes sistemas de irrigação ocorra de forma eficiente e adequado, seguindo as normas ambientais, e a outorga de uso da água evitando que se torne um gerador de impacto ambiental.
Figura 6- Mapa de Localização de Pivôs Identificados.
Fonte: (Autores 2016)
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Segundo Leitão (2007), o Rio Grande do Sul entre os anos agrícolas 1998/99 a 2002/03, apresentavam sistemas de irrigação por pivô central com área inferior a 60 ha, entre 60 e 90 ha, entre 90 e 130 ha e superior a 130 ha, representaram uma porcentagem média de 28, 33, 33 e 5% das áreas irrigadas amostradas, respectivamente. Em comparação com dados de Leitão (2007), a área irrigada por pivô central na área de Estudo nos anos de 1998/99 a 2002/03 eram de 4 áreas, neste trabalho foram identificadas 24 áreas de irrigadas por pivô central. Já a média das áreas irrigadas manteve-se igual nos dois trabalhos, média de 60 hectares,
Para a região em estudo verifica-se um crescimento de área irrigadas por pivô central na ordem de 26%, passando de 19 áreas segundo o levantamento da ANA (2014), para 24 áreas identificadas nesta pesquisa.
Conclusão
Através do presente trabalho foram identificadas 24 áreas irrigadas pelo método de pivô
central na Região da Campanha - RS, sendo que no município de Uruguaiana concentram-se a maior parte destas, com 13 áreas. Seguido por Barra do Quarai com 5 áreas, Bagé e Dom Pedrito com 3 áreas cada um. Já nos municípios de Santana do Livramento e Quaraí não foram identificadas áreas com padrão circular ou semicircular, ou seja, não foram identificados equipamentos de irrigação por pivô central.
A metodologia utilizada é de grande importância ao agronegócio, por ser um método eficaz para identificação de padrões de forma, sendo possível através deste a identificação de culturas agrícolas, e quais métodos de irrigação estão sendo utilizados. Esta identificação se deve ao padrão especifico que cada tipo de cultura possui. O trabalho possibilita também a identificação de áreas onde se faz necessário a outorga de uso da água para produtor, já que em alguns casos o corpo d’água existente sofreu modificações para irrigar tais áreas especificas, e quando não implantada de forma eficiente e adequada torna-se um elemento gerador de impacto ambiental.
Referências bibliográficas
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Análise territorial para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. Brasília: MI, 2014, 217 p
CHRISTOFIDIS, D. Irrigação, a fronteira hídrica na produção de alimentos. Irrigação e Tecnologia Moderna, Brasília: ABID, n.54, p. 46-55, 2002.
DA LUZ LEITÃO, F. M.. Avaliação de cultivares de arroz irrigados por aspersão na região da campanha do Rio Grande do Sul, 2007.
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, Inc. (Esri). ArcGIS 10.4.1 for Desktop Advanced. RedLands, C.A., U.S.A., 2016.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Information System on Water and Agriculture - AQUASTAT, 2012.
GUIMARÃES, D. P; LANDAU, E. C. Mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de Minas Gerais. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2011.23 p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento / Embrapa Milho e Sorgo).
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Agropecuário 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
. Estatísticas do Século XX. Acessível em <http://seculoxx.ibge.gov.br/>. Rio de Janeiro: IBGE, 2006, 577 p.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
LIMA, J. E. F. W.; FERREIRA, R. S. A.; CHRISTOFIDIS, D. O uso da irrigação no Brasil: O estado das águas no Brasil. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 1999.
NORONHA, C. L. Com boa gestão, não faltará água. 2006. 13 p. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/884830/1/boletim132.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2016.
SILVA, E.M.; AZEVEDO, J.A. Dimensionamento da lateral de irrigação do pivô-central. Planaltina: Embrapa- CPAC, 1998. 54 p. (Documentos, 71).
TESTEZLAF, Roberto; MATSURA, E. E.; CARDOSO, J. L. Importância da irrigação no desenvolvimento do agronegócio. Universidade Estadual de Campinas: Faculdade de Engenharia Agrícola, 2002.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O papel da política agrícola de seguro rural na produção de milho no Rio Grande do Sul (RS)
Karla Betania de Oliveira Lima1, Carlos Alberto Oliveira de Oliveira
2, Dieisson Pivoto
3
1 Tecnóloga em Processos Gerenciais; Centro Universitário La Salle; [email protected]
2Pesquisador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – Fepagro
3Doutorando em agronegócios, Programa de Pós-graduação em Agronegócios – UFRGS
Resumo. O seguro apresenta-se como um dos mecanismos que possibilita transferir o risco para outros agentes
econômicos. A cultura do milho apresenta períodos sensíveis a variação climática e que influenciam no
desempenho produtivo. Frente a importância da cultura do milho como insumo para outras cadeias produtivas
no Rio Grande do Sul e do seguro como minimizador de riscos, o trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica
da política pública de seguro rural e sua aplicabilidade na produção de milho no RS no período de 2006 a 2015.
Foram levantados dados referentes a produção, área plantada, consumo, exportação de milho e dados do
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Verificou-se que a utilização de seguros varia entre regiões. O RS tem participação de
4% em relação ao número total de apólices para milho no Brasil. No aspecto de importância segurada, o milho
gaúcho representa 6% do total de recursos segurados, enquanto o Paraná, primeiro em utilização do PSR,
responde por 45% do total de recursos segurados. Estados que aportam recursos para subsidiar o prêmio pago
pelos produtores e, com menor histórico de frustrações de safra, de modo geral, utilizam mais o seguro rural. No
RS, a contratação tem se mostrado reduzida e com demanda por seguros superior a oferta de produtos por parte
das seguradoras. A taxa do prêmio paga por produtores é superior a outros estados. O aprimoramento do
programa de seguro rural pode contribuir com a produção de milho no RS.
Palavras-chave. Agricultura, riscos, subsídios.
The role of agricultural insurance in corn production in Rio Grande do Sul (RS)
Abstract. Insurance is presented as one of the mechanisms that enables one to transfer the risk to other economic
agents. The corn crop has sensitive periods related to climate variability and it influence on production
performance. Considering the importance of corn as an input for other production chains in Rio Grande do Sul
and insurance as minimizing risks, the study aims to analyze the dynamics of public policy on rural insurance and
its applicability in the production of corn in RS from 2006 to 2015. Data were collected relating to production,
area, consumption, export of corn and data of Rural Insurance Premium Program (PSR) under the Ministry of
Agriculture, Livestock and Supply (MAPA). It was found that the use of insurance varies between regions. The RS
has 4% share in the total number of insurance contracts for corn in Brazil. In terms of insured resource, the RS
corn is 6% of the total insured resources, while Paraná, first place in using the PSR, accounts for 45% of total
insured resources. States where resources are providing to subsidize the premium paid by producers and there
are low breaking harvest, generally the use of rural insurance is greater. In RS, hiring has been low while demand
for insurance is greater than supply of products by insurers. The rate of the premium paid by producers is higher
than other states. The improvement of rural insurance program can contribute to the corn production in RS.
Keywords. Agriculture, risks, subsidies
Introdução
A produção de milho vem ampliando sua importância mundial. Os Estados Unidos é o
líder na produção, consumo e exportação de milho para o mercado internacional. Este país, vem
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
reservando parte de sua produção para produção de etanol, fazendo com que a demanda total desse grão aumente, por consequência observa-se elevação dos preços mundiais desse cereal.
Ao analisarmos o Brasil, no período de 2013/2014 a 2015/2016, visualiza-se que este manteve-se na terceira posição quanto a produção mundial, atrás de Estados Unidos e China, respectivamente. Em relação às exportações mundiais, o Brasil diminuiu sua participação, passando em 2015/2016 para terceira posição, atrás de Estados Unidos e Argentina, respectivamente. Como consumidor, o Brasil vem crescendo ao longo dos últimos anos e mantém a quarta posição no cenário mundial.
No Brasil, o milho é utilizado predominantemente para consumo humano e alimentação de animais, principalmente suínos e aves (GARCIA et al., 2008). Este cereal é o principal componente da dieta animal, participando com mais de 60% do volume utilizado na alimentação de aves e suínos, assegurando a parte energética das rações. Além das rações, o milho pode ser utilizado na forma de silagem de planta inteira, para alimentação de bovinos, e de grão úmido, para uso, principalmente, na criação de suínos. Estima-se que 70-80% da produção de milho seja destinada para consumo animal. Do milho destinado à produção de ração, estima-se que 51% são destinados a aves, 33% à suinocultura, 11% à pecuária (principalmente a leiteira) e 5% são utilizados para elaboração de ração para outros animais (NUNES, 2011).
Mesmo com números representativos de consumo, a área plantada de milho vem diminuindo gradativamente ao longo dos anos no Brasil. Pode-se elencar vários fatores que interferem e corroboram para esta situação, dentre estes, os efeitos climáticos, as políticas econômicas, reduzidas políticas de preços e incentivos à produção.
A liderança dos EUA na produção, consumo e exportação do milho pode ser atribuída, além de outros fatores, à evolução da política agrícola de subsídios aplicada à produção, que ao longo do tempo vem sendo estruturada de forma sistemática e tem resultado no aumento do rendimento da produção. Grande parte dos produtores americanos de milho estão cobertos pelo seguro agrícola e mesmo passando por frustações de safras nas últimas décadas, não sofreram maiores impactos financeiros em razão da proteção proporcionada por este instrumento.
No Rio Grande do Sul, vários fatores interferem na evolução da produção de milho: clima, preços, competição por área com a cultura da soja, condições para secagem e armazenamento da produção, utilização de políticas agrícolas, dentre outros. Faz-se necessário avaliar o desempenho das políticas de incentivo à produção, pois os dados de oferta e demanda demonstram que há um déficit de produção em relação a necessidade de milho no estado.
Explorando os dados relativos as políticas agrícolas disponíveis no estado, verifica-se oportunidade de maior divulgação e entendimento desses subsídios a produção primária. Dentre estas políticas, o presente estudo aborda o prêmio do seguro rural (PSR) subsidiado pelo governo federal dentro do Rio Grande do Sul que, dentre outros desafios, tem o papel de minimizar perdas dos agricultores em anos de frustração de safra por problemas climáticos. Isso pode incentivar os produtores rurais a maiores investimentos na área tecnológica, mecânica e de armazenamento, em razão da segurança de um retorno mínimo da produção.
O seguro apresenta-se como um dos mecanismos mais efetivos que possibilita transferir o risco para outros agentes econômicos (OZAKI, 2005). Com o seguro agrícola o produtor rural pode transferir uma despesa futura e incerta (sinistro), de valor elevado, por uma despesa antecipada e definida, de valor relativamente inferior (prêmio) (OZAKI, 2005). Frente à importância do seguro para minimizar riscos, o trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica da política pública de seguro rural e sua aplicabilidade na produção de milho no Rio Grande do Sul no período de 2006 a 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Gestão de Riscos Agrícolas Os riscos apresentam-se em qualquer setor da economia, variando de menor a maior
grau. No setor agropecuário existem variáveis predominantes como os fenômenos climáticos que influenciam no resultado final da safra, e também o risco de mercado, ambas, podendo trazer prejuízos e influência na redução do desempenho econômico. Visando minimizar riscos e maximizar o retorno do seu investimento, os produtores adotam inovações tecnológicas por meio de sementes com maiores potenciais produtivos, resistentes a doenças e pragas, geotecnologias e estrutura de irrigação.
De acordo com Harwood et al. (1999), alguns riscos são únicos na atividade agrícola, como o risco de redução drástica na produção em um determinado ano, em decorrência de condições climáticas adversas. Além dos aspectos climáticos, incidentes envolvendo pragas e doenças, sazonalidade da produção e perecibilidade dos produtos são fatores que garantem um significativo grau de incerteza quanto à produção esperada.
Embora o risco seja uma característica marcante e inerente às atividades do agronegócio, de acordo com Hardaker (2000), lidar sistematicamente com este elemento é difícil, tanto para os produtores, quanto para os pesquisadores e formuladores de políticas. De acordo com Pindyck e Rubinfeld (1994), para a descrição do risco de forma quantitativa, é necessário o conhecimento das possíveis consequências de uma determinada atividade, bem como, da probabilidade de cada possível consequência.
Nos Estados Unidos os mecanismos formais de gestão de riscos agrícolas estão sendo desenvolvidos desde o final do século XIX (GUIMARÃES e NOGUEIRA, 2009). Contudo, devido a falhas nas primeiras tentativas de implementação de seguros agrícolas privados, foi a partir de 1938 que o governo norte-americano criou a Federal Crop Insurance Corporation (FCIC), vinculada ao United States Department of Agriculture (USDA), com a missão de administrar programas, formular ações e desenvolver pesquisas. Medidas, as quais vêm envolvendo gastos elevados de subsídios ao prêmio de seguro rural e despesas operacionais e administrativas de seguradoras privadas. As seguradoras recebem os subsídios podendo custear os gastos operacionais e desenvolverem novos produtos de seguro. Com a assinatura da Crop Insurance Reform Act, de 1994 e da Agricultural Risk Protection Act, de 2000, os subsídios ao prêmio se elevaram consideravelmente, variando entre cerca de 50% e 60%, entre 1995 e 2003. Neste mesmo período, o custo médio do subsídio por acre segurado se elevou substancialmente, chegando a atingir aproximadamente US$ 10,00, em 2003.
No Brasil, os produtores rurais dispõem do Programa de Minimização do Risco no Agronegócio, que conta com diversas ações voltadas para a gestão de risco rural, tendo como principais: • O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), no qual o produtor se
exime do cumprimento de obrigações financeiras em operações de custeio e os recursos aplicados, em caso de prejuízos ocasionados por adversidades climáticas recebendo indenização. Para ter direito ao Proagro, o produtor deve se enquadrar no zoneamento agrícola de risco climático. Este zoneamento deve apontar a indicação de datas ou períodos de plantio por cultura e por município, considerando séries climatológicas históricas, tipo de solo e ciclo visando minimizar as perdas agrícolas. • O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em que o governo federal
paga uma subvenção ao produtor por meio de repasse direto à seguradora. Ao contratar uma apólice de seguro rural o produtor visa minimizar suas perdas ao recuperar o capital investido na sua lavoura. O PSR apresenta as modalidades do seguro em custeio, produtividade e receita agrícola. Esta informação é fornecida pela SUSEP, conforme identificação do código do produto descrito na apólice. O PSR, dentre os programas de gestão de risco agrícola disponíveis
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
no Brasil, tem atraído produtores, seguradoras, corretores, cooperativas, associações, peritos e outras profissões de especialistas ao longo de uma década de história. Neste programa, por beneficiário, o limite máximo de subvenção federal na safra 2012/2013 foi de R$ 192 mil, sendo R$ 96 mil na modalidade agrícola e R$ 32 mil para outras modalidades (pecuária, aquícola e florestas). Também há possibilidade de utilização para produtos orgânicos certificados. Procedimentos metodológicos
Para analisar descritivamente a dinâmica da política pública de seguro rural e sua
utilização na produção de milho no Rio Grande do Sul dados referentes a produção, área plantada, consumo, exportação e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) foram levantados. Complementarmente, informações foram buscadas por meio de pesquisa bibliográfica.
As variáveis trabalhadas foram coletadas em bases de dados secundários, buscou-se utilizar fontes de dados oficiais, entre estas o atlas do seguro rural que está disponível junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com dados relacionados ao PSR. Os números da cultura do milho foram coletados no banco de dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e de entidades diretamente envolvidas no setor agrícola.
A série histórica de dados adotada estabelece período que contempla desde o início do programa agrícola do PSR, com observações entre 2006 e 2015 com periodicidade anual, perfazendo dez anos. Resultados e discussão
Em 2015, o governo federal destinou R$ 577,3 milhões ao seguro rural, sendo R$ 282,2 milhões para pagamentos de apólices de 2015 e R$ 295,1 milhões de 2014. Apenas 18% da área total agrícola brasileira adotou algum mecanismo de proteção contra perdas de renda ou produção em 2015, como a política agrícola de seguro rural (FAEP, 2012). O estado do Paraná é responsável por 37% das contratações do PSR (MAPA, 2016).
Os produtores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais contam ainda com a subvenção dos seus governos estaduais, além do PSR do governo federal. Dados sobre o PSR, demonstram que o governo federal paga, em média, 50%, o governo estadual 25% e o produtor 25% do valor da contratação da taxa bruta de prêmio nesses estados. Mesmo com perdas na produtividade por fenômenos climáticos, pode-se evitar as dívidas de financiamentos, com a contratação do seguro contendo subsídios do governo federal e, em alguns casos, do estado.
Conforme (Quadro 1) no Paraná, o seguro rural da cultura do milho em 2015 apresentou adesão superior a 4,5 mil apólices, atendendo mais de 3,5 mil produtores, com uma área segurada de, aproximadamente, 300 mil hectares. O segundo do ranking é São Paulo, com adesão de 711 apólices, atendendo mais de 500 produtores, em uma área segurada de, aproximadamente, 50 mil hectares, seguidos de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, respectivamente, em relação ao número de apólices. É possível verificar que o valor da subvenção total da cultura do milho 2ª safra é 87% maior que a subvenção da cultura do milho 1ª safra. Esta diferença, em grande parte, está relacionada com as exigências da cultura para expressar seu potencial produtivo e desenvolvimento que são mais adequadamente atendidas na condição de lavoura de 1a safra. A umidade do solo, adição solar, variações de temperatura e precipitação pluviométrica determinam o alcance de níveis ótimos para que a capacidade genética do milho plantado se expresse ao máximo (CRUZ et al., 2008).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quadro 1 – PSR por estado, em 2015.
Cultura UF Número
de Apólices
Número de Beneficiário
Área Segurada
Importância Segurada
Prêmio Total Subvenção
Milho (1ª safra)
Total 887 823 69.705,31 179.043.479,80 11.464.710,17 6.002.602,90
BA 20 20 2.811,38 8.809.327,25 718.816,41 323.900,42
DF 1 1 190,00 415.526,20 18.879,34 7.551,74
GO 42 40 6.480,24 20.835.393,78 972.621,13 489.138,93
MA 3 3 572,00 984.624,22 83.120,65 33.248,26
MG 116 102 11.901,56 35.014.199,03 2.276.120,19 1.159.362,68
MS 2 2 440,00 1.802.902,23 145.970,21 58.388,09
MT 1 1 242,00 399.682,36 19.549,68 7.819,87
PI 24 24 4.386,41 9.301.039,64 732.008,11 333.752,36
PR 237 235 13.186,00 31.933.385,76 1.652.722,80 934.245,53
RS 244 218 19.061,73 42.878.519,25 3.173.593,20 1.684.648,71
SC 100 90 5.620,19 14.103.654,15 992.809,31 591.291,11
SP 96 86 4.628,80 12.146.834,79 658.330,58 367.154,06
TO 1 1 185,00 418.391,14 20.168,56 12.101,14
Milho (2ª safra)
Total 5.778 4.507 517.567,77 552.104.855,20 77.631.441,78 46.499.545,24
DF 1 1 200,00 293.010,00 30.320,16 18.192,09
GO 135 122 24.296,38 32.560.561,39 3.430.227,58 2.043.449,36
MG 26 24 5.532,50 8.181.918,84 986.046,11 591.627,59
MS 607 524 135.150,88 144.395.248,17 17.272.722,87 10.367.456,21
MT 77 64 20.715,25 21.179.963,94 2.077.545,63 1.246.527,14
PR 4317 3332 286.514,78 294.405.927,73 46.166.689,95 27.664.264,07
SP 615 440 45.157,98 51.088.225,13 7.667.889,48 4.568.028,78
UF Número
de Apólices
Número de Beneficiário
Área Segurada
Importância Segurada
Prêmio Total Subvenção
Milho (Total)
Total 6.665 5.330 587.273,08 731.148.335,00 89.096.151,95 52.502.148,14
BA 20 20 2.811,38 8.809.327,25 718.816,41 323.900,42
DF 2 2 390,00 708.536,20 49.199,50 25.743,83
GO 177 162 30.776,62 53.395.955,17 4.402.848,71 2.532.588,29
MA 3 3 572,00 984.624,22 83.120,65 33.248,26
MG 142 126 17.434,06 43.196.117,87 3.262.166,30 1.750.990,27
MS 609 526 135.590,88 146.198.150,40 17.418.693,08 10.425.844,30
MT 78 65 20.957,25 21.579.646,30 2.097.095,31 1.254.347,01
PI 24 24 4.386,41 9.301.039,64 732.008,11 333.752,36
PR 4.554 3.567 299.700,78 326.339.313,49 47.819.412,75 28.598.509,60
RS 244 218 19.061,73 42.878.519,25 3.173.593,20 1.684.648,71
SC 100 90 5.620,19 14.103.654,15 992.809,31 591.291,11
SP 711 526 49.786,78 63.235.059,92 8.326.220,06 4.935.182,84
TO 1 1 185,00 418.391,14 20.168,56 12.101,14
Fonte: MAPA, 2015
A 2ª safra também é denominada “safrinha”, tornando-se, em alguns estados, a safra
com maior área cultivada. Na região Centro-Oeste e no Paraná houve concentração maior da produção de milho durante a 2a safra, fator relacionado à decisão dos agricultores que optaram pela produção de soja durante o período da 1ª safra, e de milho durante a 2ª safra.
Mesmo o Rio Grande do Sul concentrando sua produção de milho na 1ª safra e desta forma, no geral, há inferior utilização do seguro e consequentemente menor pagamento de subvenção, a participação do estado em relação ao número total de apólices para milho no Brasil é de 4%. No aspecto de importância segurada o milho gaúcho representa 6% do total. Comparativamente, o Paraná, primeiro em utilização do PSR, responde por 69% do número total de apólices e 45% do total da importância segurada no Brasil. Estes dados demonstram a importância da adoção de 2a safra no Paraná, o que não ocorre no Rio Grande do Sul. Também
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
a possibilidade de influência do subsídio estadual para essa diferença, entre os estados subsidiados com políticas internas na cultura do milho e a utilização do seguro rural.
Outro fator que pode contribuir com a menor adesão é a relação do valor do prêmio pago pelo produtor rural por hectare de área segurada. No Paraná em 2015, a média foi de R$ 54,49 por hectare segurado com cultivo de milho de 1ª safra, no Rio Grande do Sul este valor foi de R$ 77,84. Além disso, a taxa média de juros do prêmio no ano de 2015 praticada no Paraná foi de 5,18%, enquanto no RS o valor foi de 7,82%, em 2015.
Goodwin et al. (2004) realizaram um estudo junto a produtores de soja e milho do meio-oeste norte-americano e com produtores de trigo e cevada das planícies do norte dos EUA, no período de 1985 a 1993. Os resultados indicaram que uma redução de 30% nos custos do prêmio do seguro aumentava a participação dos produtores de milho em cerca de 25% e, de soja, em pouco mais de 20%. Desta forma, pode-se esperar que uma redução no custo do prêmio no Rio Grande do Sul proporcione aumento da utilização do seguro rural.
Na Tabela 1, a evolução da cultura do milho e do seguro rural relacionado a esta demonstram comportamento diverso entre as variáveis analisadas. O número de produtores segurados, após um expressivo aumento no 3o ano do PSR não demonstra uma tendência definida de crescimento ou redução. Da mesma forma, o valor total segurado e área total segurada oscilam ao longo dos últimos dez anos. Esta condição contrasta com a demanda por milho, neste trabalho analisada na soma do consumo no estado e a quantidade exportada. Sendo a demanda estável e superior a produção de milho ocorrida na série analisada.
Ao analisar a produção há oscilação, que pode ser atrelada, em parte, a fatores climáticos. Este risco climático inclusive poderia ser uma motivação para maior adoção do seguro rural. Contudo, observa-se que 2010 apresentou produção alta, com número baixo de produtores segurados, bem como em 2012, ano de baixa produção, também apresentou número intermediário de produtores segurados.
Tabela 1 – Evolução do PSR e dados da cultura do milho no RS, 2006-2015
Ano No
produtores segurados
Valor total segurado (mil R$)
Área total segurada
(ha)
Área total plantada (mil ha)
Produtividade (t/ha)
Produção (mil t)
Consumo + exportação
(mil t)
2006 1 64.26 48 1.436.00 3,2 4.547.80 - 2007 9 540.635 491 1.385.70 4,3 5.958.50 - 2008 612 76.553.013 60.862 1.391.00 3,8 5.322.00 - 2009 314 39.179.723 32.079 1.388.50 3,1 4.248.80 - 2010 199 27.118.556 24.697 1.151.00 4,9 5.593.90 6.273.00 2011 362 44.093.235 32.527 1.099.20 5,3 5.776.30 6.095.30 2012 328 53.496.273 32.035 1.113.50 3,0 3.342.70 6.035.60 2013 767 112.306.410 64.869 1.033.30 5,2 5.383.50 6.665.50 2014 816 122.568.629 64.859 1.031.20 5,5 5.717.00 6.989.10 2015 217 42.316.526 18.851 941 6,6 6.173.00 6.320.90
Fonte: MAPA, CONAB, SIPS/ASGAV, SECEX, 2016
A reduzida utilização do seguro pode estar relacionada ao posicionamento do próprio
mercado segurador. Este considerando o risco climático do RS, corroborado pelas perdas observadas em algumas safras, apresenta poucas seguradoras ofertando produtos contra seca e aquelas que disponibilizam o fazem em reduzida escala. Assim o atendimento a um maior número de produtores fica prejudicado.
Em relação ao plantio de milho no Rio Grande do Sul, pode-se analisar que a área declinou consideravelmente, entre os anos de 2006 e 2015, a diferença negativa chega a 39%. A área total segurada média no mesmo período foi de 33.131 ha. Pode se observar ocorrências
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
de oscilações consideráveis no período. O que reforça o indício de dificuldade de contratação do seguro rural. Apontando para necessidade de reavaliação do PSR no estado, devido a baixa utilização do programa, comparativamente ao total de milho cultivado. Por outro lado, o RS vem melhorando sua produtividade na cultura do milho, com aumento de 106% nos últimos dez anos. Fato que pode demonstra o avanço na qualidade da lavoura de milho no estado. Considerações Finais
Os instrumentos de política agrícola são mecanismos utilizados pelos países produtores visando soberania alimentar, geração de empregos e divisas. As atividades agropecuárias, além dos riscos econômicos comuns a todas as atividades, estão suscetíveis a fatores climáticos de forma mais direta.
Ações governamentais como o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) visam reduzir perdas e garantir estabilidade da produção de diversas atividades. O milho é uma cultura estratégica para o país e, com importância acentuada no Rio Grande do Sul pela sua utilização como insumo em diversas cadeias produtivas. O aumento constante da produtividade na cultura do milho é um indício positivo e demonstra o potencial de crescimento desta cultura no Rio Grande do Sul. Durante a série histórica analisada ocorreram condições climáticas adversas a produção de milho que prejudicaram os resultados de produtores gaúchos em parte ou na sua totalidade. Assim, além do trabalho despendido e custos elevados, houve redução do retorno esperado, prejuízos que poderiam ser minimizados com o seguro rural.
A menor adoção do PSR pode ser entendida como oportunidade para aprimoramentos no programa e por consequência impacto positivo na produção de milho no RS. Por outro lado, a extinção desta política poderia causar a necessidade dos produtores de milho ampliarem sua participação no pagamento do prêmio das apólices que o governo federal subsidia, necessidade de renegociações de dívidas em caso de frustrações de safra por ocorrências climáticas sem aporte do seguro rural e por consequência desestímulo a atividade produtiva.
A participação do Rio Grande do Sul, juntamente com o governo federal no subsídio ao prêmio pode aumentar a atratividade do produtor para investir na produção e na utilização do seguro agrícola. Também a redução das taxas do seguro e o acréscimo de produtos oferecidos pelas seguradoras podem ampliar a demanda por este mecanismo de proteção.
Diante da pesquisa realizada, sugere-se estudos que abordem novas estratégias para ampliação da política agrícola de seguro rural no Rio Grande do Sul e no país como um todo. Referências Bibliográficas ASGAV – Associação Gaúcha de Avicultura. Dados da avicultura do Rio Grande do Sul. 2016
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Safra séries históricas. Milho 1ª e 2ª safra – milho total. Disponível em: http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1252&t=2&Pagina_objcmsconteudos=3#A_objcmsconteudos >. Acesso em 27 julho de 2016
CRUZ, J. C.; PEREIRA FILHO, I. A.; ALVARENGA, R. C.; GONTIJO NETO, M. M.; VIANA, J. H. M.; OLIVEIRA, M. F. de; SANTANA, D. P. Manejo da cultura do milho. In: CRUZ, J. C.; KARAM, D.; MONTEIRO, M. A. R.; MAGALHAES, P. C. (Ed.). A
cultura do milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2008. cap. 8, p. 171-197.
FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Boletim Informativo. n. 1182, 2012. Disponível em: <http://www.sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2013/11/227.pdf>. Acesso em: 21 de julho de 2016.
GARCIA, J. C.; MATTOSO, M. J.; DUARTE, J. de O.; CRUZ, J. C.; PADRÃO, G. de A. Aspectos econômicos da produção e utilização do milho. In: CRUZ, J. C.; KARAM, D.; MONTEIRO, M. A. R.; MAGALHAES, P. C. (Ed.). A cultura do milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2008. cap. 1, p. 21-46.
GOODWIN, B.K.; VENDEEVER, M.L.; DEAL J.; An Empirical Analysis of Acreage Effects of Participation in the Federal Crop Insurance Program. American Journal of Agricultural Economics. USA. v. 86, n.4, nov. 2004.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DOAGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
GUIMARÃES, M. F.; NOGUEIRA, J. D. A experiência norte-americana com o seguro agrícola: lições ao Brasil? Revista de Economia e
Sociologia Rural. v. 47 n.1 Brasília jan./mar. 2009.
HARDAKER, J.B. Some issues in dealing with risk in agriculture. University of New England, 2000. 18 p. (Graduate School of Agricultural and Resource Economics, 3).
HARWOOD, J. et al. Managing risk in farming: concepts, research and analysis. Washington: USDA, 1999. 58 p. (Agricultural Economics Report, 774).
MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Atlas do Seguro Rural. 2016. Disponível em: <http://indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro/index.htm>. Acesso em: 21 julho de 2016.
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Resultado Geral do PSR. 2015. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Seguro%20Rural/PSR%20-%20Resultado%20Geral%202015.pdf>. Acesso em: 21 julho de 2016.
NUNES, J. L. da S. Milho: comercialização. Agro Link. Disponível em: <http://www.agrolink.com.br/culturas/milho/comercializacao.aspx>. Acesso em: 02 agosto de 2011.
OSAKI, V. A.; Métodos Atuariais Aplicados à Determinação da Taxa de Prêmio de Contratos de Seguro Agrícola: um estudo de caso. Piracicaba, SP, 2005. Tese (Doutorado). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.
PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. Microeconomia. Rio de Janeiro: Makron Books do Brasil, 1994.
SECEX-MDIC – Secretaria de Comércio Exterior. Dados de exportação de milho. 2016.
SIPS – Sindicato das Industrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul. Dados da suinocultura. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Gerenciamento da cadeia de fornecedores: estudo de caso dos esforços de
uma indústria frigorífica para garantir o abastecimento e a qualidade da
matéria-prima.
Ana Luiza Corrêa, Cynthia Pires Hartwig, Marcelo Fernandes Pacheco Dias, Volnei Krause
Kohls
Universidade Federal de Pelotas, [email protected]
Universidade Federal de Pelotas, [email protected]
Universidade Federal de Pelotas, [email protected]
Universidade Federal de Pelotas, [email protected]
Resumo. Este estudo de caso tem como objetivo identificar e descrever as ações de uma indústria frigorífica,
localizada na região sul do Rio Grande do Sul, para garantir a obtenção regular de matéria-prima nos padrões
de qualidade desejados. Neste estudo, identificou-se que o gerenciamento da cadeia de fornecedores foi o
principal potencializador para a garantia de abastecimento do frigorífico. Os processos de governança e de
formação de redes também foram identificados como sendo facilitadores do gerenciamento da cadeia e do
consequente fortalecimento dos agentes pertencentes ao sistema estudado: os fornecedores de bovinos e a
indústria frigorífica.
Palavras-chave: gerenciamento da cadeia de fornecedores, rede e governança, indústria frigorífica, matéria-
prima.
Management of the supply chain: a case study of the efforts of a
meatpacking industry to ensure the supply and quality of raw material.
Abstract. This case study aims at identifying and describing the actions of a meatpacking industry located in the
Southern region of Rio Grande do Sul (Brazil) to ensure that raw material at the desired quality standard is
obtained regularly. In this study, the management of the supply chain was identified as the most important
aspect for improving the quality of the refrigerator supply. Governance processes and networking were also
identified as chain management facilitators and the consequent strengthening of institutions within the system
studied: cattle suppliers and the meatpacking industry.
Key-words: supply chain management, network and governance, meatpacking industry, raw material.
Introdução
A história recente é caracterizada por profundas transformações na sociedade e também na
organização das empresas, tais como: evolução das tecnologias da informação e comunicação,
expansão das fronteiras comerciais através do processo de globalização, diferenciação de
produtos e serviços, flexibilização dos procedimentos de produção e o aprimoramento das
técnicas de gestão, e o aumento da conscientização em relação à preservação do meio
ambiente (ZYLBERSZTAJN, 2005).
Diante deste contexto de mudanças, riscos e incertezas, as empresas têm desenvolvido
diferentes estratégias, tanto no nível interno quanto no externo, para permanecerem
competitivas. No caso do setor agroalimentar responsável pelo suprimento de gêneros
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS alimentícios, para os quais os fatores de sanidade, conservação e perecibilidade são de grande
relevância, faz com que seja exigida maior proximidade entre as empresas de diferentes
estágios de uma mesma cadeia de produção.
Perante um cenário econômico-institucional instável, caracterizado por rápidas mudanças, as
organizações tendem a substituir os modelos hierarquizados de produção pela terceirização e
formação de alianças (SAVAGE, 1990 apud RIGATTO). A “forma através da qual as empresas organizam e estruturam os diversos processos de produção de um determinado bem
ou serviço, a fim de que este possa ser produzido e disponibilizado com as especificidades
que lhe são impostas pelas exigências de seus mercados”, é definida como coordenação
vertical.
No setor produtivo de carnes, principalmente de aves e suínos, é notável uma forte
coordenação entre os diferentes elos da cadeia. O mesmo não acontece com frequência na
cadeia de produção da carne bovina, pois poucas são as indústrias que mantêm um
relacionamento de proximidade com os seus fornecedores de matéria-prima, embora a
pecuária bovina seja um dos mais importantes setores do agronegócio brasileiro e do Rio
Grande do Sul.
Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul enfrenta a escassez de oferta de bovinos para o abate.
Este fato está relacionado ao direcionamento das áreas, que anteriormente eram utilizadas
para a pecuária, à agricultura, principalmente ao cultivo de soja, e à silvicultura, por exemplo,
ao plantio de eucaliptos (OAIGEN; BARCELLOS, 2015). Este fato demonstra a importância
de se tentar construir alguma forma de governança entre a indústria frigorífica e o fornecedor
da sua principal matéria-prima, o pecuarista.
Na cadeia da carne, o frigorífico de abate e de processamento de bovinos, assume o papel de
agente coordenador, pois está entre o produtor e o varejista. Do produtor depende o
suprimento de matéria prima, a qual, após processamento, deverá atender às especificações
impostas pelo varejo. Dessa forma, caracteriza-se a função do frigorífico em aprimorar a
gestão da cadeia
Diante do exposto acima e da incerteza da regular disponibilidade no mercado de bovinos
para o abate fez-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os esforços empreendidos pelos
executivos do frigorífico para manter a regularidade da oferta e a qualidade da matéria-prima?
O objetivo da realização dessa pesquisa é estudar os conceitos de suprimentos e a governança
entre os elos de uma cadeia produtiva da carne bovina.
Toda cadeia produtiva da carne abrange diversos níveis, o foco da presente pesquisa é estudar
o elo entre o fornecedor e a indústria frigorífica, tendo em vista a particular situação em que a
indústria estudada também desempenha as atividades de criação de bovinos, atuando como
fornecedor. Além da abordagem de Gestão da Cadeia de Suprimentos, será destacada a
formação de redes para negociações específicas, identificando e descrevendo as práticas de
coordenação existentes entre a referida indústria e seus fornecedores de bovinos. Como
também serão abordados os esforços da indústria para garantir a regularidade da obtenção da
matéria-prima de acordo com os padrões desejados.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS A escolha do tema a ser pesquisado é justificada pela importância da cadeia produtiva da
carne no cenário da economia regional e nacional, estudar gestão e governança é necessário
para que se compreenda as articulações entre as atividades empresariais.
Referencial teórico
Governança se desenvolve dentro dos limites impostos pelo ambiente institucional e pelos
pressupostos comportamentais sobre os indivíduos. Nos sistemas agroindustriais, segundo
Zylberstajn (2005), a governança considera os mecanismos de incentivos e de controle dos
agentes. Nesses sistemas pode-se observar uma maior variedade de modelos de governança,
as vezes bastante particulares a um determinado processo de transação comercial. As diversas
estruturas de governança que unem os elementos de uma cadeia produtiva é definida como
coordenação. A eficiência da coordenação está associada às características das transações
entre esses elementos e também às características dos ambientes institucionais e
organizacionais onde estão inseridos (WILLIAMSON, 1985).
A gestão da cadeia de fornecedores utiliza-se de estratégias fundamentadas nos modelos da
Teoria dos Custos de Transação que são baseados na melhoria da eficiência através da
redução de custos (COTTERILL, 2001). Os fatores relacionados aos conteúdos da Teoria dos
Custos de Transação têm apresentado importantes contribuições ao estudo de Coordenação
Vertical e à formação de estratégias (ZYLBERSZTAJN, 2005). Dado este fato, destaca-se a
importância de adotar essa teoria na presente pesquisa. Para Coase (1937) a empresa é um
conjunto de contratos, envolvendo alguma forma de governança e a maneira como esta se
desenvolve, desde o formato “mercado” até a estrutura “hierarquia”. Para o autor existem custos para usar a relação de mercado, tais como: negociar contratos individuais para cada
transação de troca e para detalhar as especificações em um contrato de longo prazo. Por outro
lado, os custos de usar o mercado podem ser suprimidos se a empresa gerir internamente as
suas atividades.
De acordo com a Teoria dos Custos de Transação o uso do gerenciamento da produção
através da integração vertical é incentivado no sentido que este modelo tende a diminuir os
referidos custos. Para Perrow (1992) a integração vertical acontece quando diferentes etapas
da produção – a partir do insumo até a venda final ao consumidor – passam a ser produzidas
por uma única empresa e não mais por várias empresas. A mesma significa a eliminação de
trocas contratuais ou de mercado pelas trocas internas nos limites de uma empresa. A firma
integrada verticalmente tem a autonomia para a tomada de decisão sobre produção,
investimento, distribuição, emprego, etc. O modelo de integração vertical pode minimizar os
efeitos negativos causados pelas imperfeições de mercado, informações assimétricas,
incertezas e racionamento da oferta (PERROW, 1992).
Especificidade de ativos, existência de oportunismo e a frequência nas transações, são fatores
que têm incentivado à aproximação de organizações que atuavam de forma isolada no
mercado. Essa proximidade favorece o gerenciamento da cadeia de fornecedores (GCF) que
tende controlar e minimizar os impactos de ações imprevistas. Gerenciamento da Cadeia de
Fornecedores é a implementação sistemática de processos visando alcançar vantagens
competitivas e lucratividade com a interação dos integrantes da cadeia de produção. Várias
denominações são utilizadas para identificar GCF: rede de organizações, integração de
fornecedores, parcerias, gestão de fornecedores primários, alianças com fornecedores,
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS sincronização de cadeia de fornecedores, filosofia de gerenciamento, entre outros (TAN et al.,
1998).
Tane et al. (1998) destaca que os principais elementos de um sistema de GCF, são: relações
interorganizacionais, agregação de valor, processos comerciais, integração de atividades
(logística, marketing, integração de sistemas de informação, planejamento e controle). Outros
autores acrescentam ainda os fluxos de logística, gerenciamento de pedidos, processos de
produção, comunicação intra e interorganizacional, aquisição de know how, gestão de
estoques, controle de custos, entre outros.
Conforme analisado nesta pesquisa, entende- se gestão de cadeia de fornecedores como: (...) uma filosofia de negócios que tenta integrar atividades
dependentes, atores e recursos dos canais de comercialização, entre os
pontos de origem e consumo. Isto significa que o GCF compreende
diferentes tipos de dependência dentro, entre, e através das empresas
pertencentes a um mesmo canal de comercialização (RIGATTO, 2005, p.
61).
Para melhor elucidar o que foi discutido até aqui, organizou-se a Tabela 1 com as principais
diferenças entre as abordagens tradicional e de gerenciamento da cadeia de fornecedores.
Tabela 1: Comparativo entre as abordagens Tradicional e de Gerenciamento da Cadeia de Fornecedores.
Características Modelo Tradicional Modelo GCF
Gestão de ativo imobilizado Esforços isolados União de esforços
Custo total Redução unilateral de custos Minimização de custos em toda a
cadeia de suprimento
Planejamento temporal Curto prazo Longo prazo
Informações gerenciais Contato limitado aos elos mais
próximos
Amplo contato entre diferentes níveis
da cadeia
Planejamento conjunto Baseado nas transações Baseado no processo contínuo
Compatibilidade das
filosofias corporativas
Sem importância Significativa compatibilidade
Base de fornecedores Grande para aumentar
competição e diluir riscos
Pequena promover a coordenação
Liderança Praticamente não há Existe para possibilitar a coordenação
Divisão dos riscos e
resultados
Não há Dividido a longo prazo
Velocidade dos fluxos de
informação e produtos
Tende a ser lenta Tende a ser mais veloz
Fonte: (COOPER; ELLRAM, 1993), traduzido pelas autoras.
Metodologia
Nesta pesquisa foi desenvolvido um estudo teórico-empírico. A abordagem escolhida foi
qualitativa e descritiva. Na abordagem qualitativa, o pesquisador não busca medir os eventos
estudados, muito menos emprega instrumentos estatísticos na análise dos dados obtidos, pois
eles são basicamente descritivos, sendo sobre pessoas, lugares, relações, ou seja, estudos
sociais (NEVES, 1996).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS O método de pesquisa é de estudo de caso, que trata de uma estratégia que busca examinar um
fenômeno dentro de seu contexto, a cadeia produtiva da carne bovina. Para tanto se
selecionou um frigorífico de abate e processamento de bovinos, que está localizado na região
Sul do estado do Rio Grande do Sul. Este empreendimento foi escolhido por apresentar um
produto com grande reconhecimento de qualidade e também por desenvolver uma
aproximação com seus fornecedores.
A coleta de dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas. Após visitação às
dependências do frigorífico e indagações feitas a um representante da empresa, elaborou-se
um roteiro parcial de tópicos a serem abordados nas futuras entrevistas. Os tópicos abordados
nas entrevistas são citados nas tabelas 2,3 e 4. Antes de proceder-se as entrevistas realizadas
com os fornecedores, partiu-se da base teórica encontrada na literatura que tratam questões de
estratégia competitiva de um processo produtivo. O empresário representante do frigorífico,
está identificado como “X”. Também foram entrevistados quatro fornecedores significativos para o abastecimento, que serão chamados de “F1”, “F2”, “F3” e “F4”.
Resultado e discussão
Quando iniciaram as atividades do frigorífico em estudo, para enfrentar a concorrência dos
grandes frigoríficos que operavam na época, os quais possuíam maior capacidade de
abate/dia, os proprietários desenvolveram formas de conquistar e fidelizar fornecedores. Ao
fazerem contato com os fornecedores em potencial, os proprietários lhes mostraram que a
melhor alternativa seria a de vender o gado em menores lotes e em mais vezes, do que vender
lotes grandes em poucas vezes. Justificando que se de uma área fossem tirados somente os
animais mais qualificados para o abate, permaneceria nessa mesma área o restante de animais
que ainda não tinham a qualificação desejada, dando tempo para que o lote restante se
desenvolvesse como o esperado, trazendo portanto maior remuneração para o produtor. Os
fornecedores em potencial entenderam e aceitaram essa proposição, assim nascem os
primeiros “relacionamentos contínuos” (expressão usada pelo entrevistado X) entre fornecedores e a empresa estudada.
Segue quadro resumo dos principais tópicos discutidos em entrevista realizada com os
fornecedores de gado. Para melhor esclarecer alguns tópicos do quadro resumo, vale ressaltar
que a flexibilidade refere-se facilidade de comunicação principalmente com relação ao
cronograma de carregamento da matéria-prima. Quanto ao suporte financeiro havendo a
necessidade de caixa por parte dos fornecedores, o frigorífico proporciona pagamentos
antecipados.
Tabela 2: Características do relacionamento entre os fornecedores e o frigorífico.
Tópicos Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4
Produção entregue
ao Frigorífico X
100% 100% 100% 80 %
Contrato
formalizado
Não Não Não Não
Regularidade na
entrega do
produto
Varia conforme
a terminação do
animal para o
abate
Em torno de
60dias
Em torno de 45
dias
Varia conforme a
terminação do
animal para o abate
Remuneração pelo Igual ou Igual ou superior Igual ou superior Igual ou superior a
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
produto superior a de
mercado
a de mercado a de mercado de mercado
Vantagens da
parceria:
- Flexibilidade
- Eliminação do
intermediário
-Suporte
financeiro
- Maior poder de
barganha
- Conhecimento
Compartilhado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não mencionou
Sim
Não mencionou
Não mencionou
Sim
Sim
Desvantagens da
parceria:
- Grande
exigência de
precocidade
- Grande exigência
de qualidade
Não mencionou
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Após apresentar os tópicos relativos às características do relacionamento entre os agentes,
destacaremos a seguir um conjunto de tópicos relacionados às mudanças que ocorreram
internamente nas propriedades estudadas, após terem aderido ao GCF em estudo. No tópico
insumos o termo quantidade refere-se ao volume consumido por cabeça em uma determinada
unidade de tempo. No tópico gerenciamento e controle de produção aborda-se o controle de
produtividade, que diz respeito ao acompanhamento do ganho de peso dos animais para que
se cumpra o cronograma de entrega com as especificações exigidas.
Tabela 3: Mudanças ocorridas na propriedade dos fornecedores.
Tópicos Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4
Estrutura física:
- Cercas divisórias
- Instalações para
suplementação alimentar
- Equipamentos e
maquinário
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Insumos:
- Tipo de suplementação
alimentar
- Quantidade de
suplementação alimentar
- Tipo de medicamento
- Quantidade de
medicamento
- Intensificação do cultivo de
pastagens
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Acréscimo de financiamento Sim Não Sim Não
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Recursos humanos:
- Capacitação para o
trabalho
-Contratação de pessoal
especializado
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Gerenciamento e controle da
produção:
- Mudança no manejo do
rebanho
- Controle de produtividade
- Feedback do frigorífico
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Neste estudo de caso, percebeu-se a existência de um sistema de Gerenciamento da Cadeia de
Fornecedores. Na figura abaixo mostra-se a origem da matéria-prima:
Figura 1: Formas de aquisição de matéria-prima.
Fonte: elaborada pelas autoras.
Segundo a abordagem da Teoria dos Custos de Transação, a importância do estabelecimento
de um GCF é explicada pela possível minimização de custos para os agentes envolvidos, estes
custos serão identificados no quadro que segue.
Tabela 4: Custos dos agentes.
Indústria Frigorífica Fornecedor de Bovinos
Custos contratuais (elaboração, alteração, multas,
assessoramento jurídico)
Custos contratuais (elaboração, alteração, multas,
assessoramento jurídico)
Custos relacionados à procura de matéria prima Custos relacionados à permanência da área ocupada com
animais já prontos para o abate
Ociosidade da planta frigorífica -
Imprevisibilidade da qualidade da matéria prima
recebida
Possibilidade de haver condenação do produto
201Eliminação do papel do intermediário
(comissão e informação distorcida)
Eliminação do papel do intermediário
(informação distorcida)
Considerações finais
Esta pesquisa borda o tema de Gerenciamento da Cadeia de Fornecedores, que ficou
delimitado aqui como interação que abrange, além dos relacionamentos comerciais
(planejamento de compra e de entrega, recebimento, pagamento e classificação da matéria
prima), como também o apoio da empresa com seus fornecedores em termos financeiros,
Mercado
GCF
Hierarquia63%
30% 7%
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS tecnológicos e estratégicos. Através do estudo de caso, percebeu-se a configuração desse
sistema de GCF entre os agentes da cadeia (produtores-frigorífico). Esse comportamento por
parte da empresa pode ser justificado pela necessidade de obtenção de sua matéria-prima com
qualidade e regularidade.
Os fornecedores relataram que participar desse sistema de gerenciamento lhes proporciona
mais vantagens do que desvantagens. As vantagens seriam: flexibilidade nas negociações,
eliminação do intermediário; suporte financeiro; acesso à rede de cooperação; conhecimento
diversificado e compartilhado. Enquanto, que as desvantagens estariam relacionadas à alta
exigência de qualidade por parte da empresa. Visto sob outro ângulo, esse fator poderia não
ser considerado uma desvantagem, porém os mesmos justificam que têm dispêndios
financeiro e temporal para alcançar tais padrões de qualidade. Para a indústria frigorífica, a
adoção do sistema de GCF proporciona, de fato, que atinja seu objetivo de garantir a oferta
constante de matéria-prima, principalmente nos padrões de qualidade desejados. Como
sugestão para estudos futuros, indica-se a análise do relacionamento entre os outros elos da
cadeia produtiva da carne.
Referências bibliográficas
COASE, R. H, The Nature of the Firm. Econômica 4(16), 386-405, 1937.
COOPER, M. C.; ELLRAM, L. M. Caracteristics of Supply Chain Management and Implication for Purchasing
and Logistics Strategy.International Journal of Logistics Management, v.4, n.2, 1993.
COTTERILL, W. R. Neoclassical explanations of vertical organization and performance of food
ibdustries.Agrobusiness, v.17 n. 1, 2001.
OAIGEN, R. P.; BARCELLOS, J. O. J. Maior demanda por gestores nas empresas rurais. Revista CFMV
(Conselho Federal de Medicina Veterinária), Brasília DF, ano 21, n° 65, Abri/Jun. 2015.
PERROW, C. Small-firm networks. In: Nohria, Nitin e Eccles, Robert. Networks and organizations: structure,
form and action. Boston: Harvard Business School, 1992.
RIGATTO, P. Elementos Determinantes das Configurações das Estruturas de Coordenação Vertical no
Setor Brasileiro de Frutas em Conserva. Tese - (Doutorado em Administração) Programa de Pós Graduação
em Administração. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
SAVAGE, C. Fifth Generation Management.Digital Press, Burlington, MA. 1990. In: RIGATTO, P. Elementos
Determinantes das Configurações das Estruturas de Coordenação Vertical no Setor Brasileiro de Frutas em Conserva. Tese - (Doutorado em Administração) Programa de Pós Graduação em Administração.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
TAN, K. C.; HANDFIELD, R. B.; KRAUSE, D. R. Enhancing firm’s performance through quality and supply base management: an empirical study. Internacional Journal of Production Research. London, v.36, n.10,
1998.
WEGNER, D. Mecanismos de Governança de Redes Horizontais de Empresas: o caso das redes alemãs de
grande porte. Revista Gestão Organizacional, v. 5, n.2, p. 214-228, Jul/Dez 2012.
WILLIAMSON, O. E. The economics Institutions of Capitalism. New York: Free Press, 445p, 1985.
.ZYLBERSZTAJN, Décio. Conceitos gerais, evolução e apresentação do sistema agroindustrial. In:
ZYLBERSZTAJN, D.; FAVA, M.F (org). Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São Paulo:
Pioneira, 2005.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O papel das instituições na conservação de uma raça ovina autóctone
espanhola
Claudinei Crespi Gomes 1, Andrea Troller Pinto 2
1mestrando em agronegócios/UFRGS, [email protected]
2professora associada/UFRGS, [email protected]
Resumo. A ovelha Roja Mallorquina é uma das 44 raças ovinas autóctones da Espanha. Trata-se de um animal
rústico e adaptado às severas condições climáticas da ilha de Maiorca, mas que se encontra ameaçado de
extinção. A atividade rural na ilha está submetida à uma grande pressão econômica, visto que a economia local
se baseia no turismo e no setor de serviços. Entretanto, durante os últimos anos, o número de cabeças do rebanho
e o número de propriedades que trabalham com a raça têm se mantido estável. Este artigo analisa o papel que as
Instituições da Espanha e da União Europeia desempenham na conservação desta raça sob a ótica da Nova
Economia Institucional.
Palavras-chave. Raça Autóctone de ovelha; Espanha; Mediterrâneo; Roja Mallorquina; Nova Economia
Institucional.
Institutional role on the conservation of an autochthonous Spanish sheep
breed
Abstract. The Roja Mallorquina sheep is one of the 44 Spanish autochthonous sheep breeds. It is a rustic animal,
adapted to the extremely severe conditions of the Mediterranean island of Majorca. Nevertheless, it is threatened
of extinction. Local economy is largely based on tourism and services and the rural activity is under economic
pressure. However, against all odds, the breed’s herd and the number of breeders has not been decreasing in the last years. This article analyzes the role played by Spanish and European Union Institutions on the conservation
of this sheep breed from the New Institutional Economics’ perspective.
Keywords. Autochthonous Sheep Breed; Spain: Mediterranean; Roja Mallorquina; New Institutional Economics.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Introduction
Spain has 44 recognized autochthonous sheep breeds, of which 4 are located in the Balearic Archipelago and are threatened of extinction (MAGRAMA, 2015). Modern economic and agricultural demands tend to lead autochthonous breeds to its disappearance, even though they are considered a precious fount of genetic resources (TABERLET et al., 2008). Besides, such breeds may represent also cultural and traditional values of its country, contributing to ethnic identity (GANDINI & VILLA, 2003). Pons el al. (2015) points out to the fact that the main treat to these four sheep breeds existing in the archipelago is the strong socio-economic pressure the islands are experiencing recently, going from of a rural economy to a service based economy, in which tourism has a higher importance. Yet, sheep are still the most typical animal of the landscape and local breeders are recognizing them as a source of income linked to the land. The Balearic sheep breed Roja Mallorquina (RMS) is found in the island of Majorca and originated from the Mediterranean sheep steams with fat tail. They are animals with red fur and yellowish wool who are adapted to extremely severe environmental conditions (CASTILLO et al., 2014; PONS et al., 2015). This breed population consists in 3993 animals according to the official census (MAGRAMA, 2015) and it is at risk of extinction according to the Loyal Decree 2129/2008 (SPAIN, 2008). So far, there are no scientific works concerning an economic prospective for the RMS and the role Institutions have in its conservation. Available data on RMS is scarce, technically orientated and economic perspective in one of the gaps on Spanish autochthonous sheep breeds literature. This work’s purpose is to unfold the role played by Institutions in the conservation of the RMS. Methodology
The framework of this study consists on a systematic analysis regarding the interference of Institutional Environment on the survival of the RMS. The information used was gathered from three main sources, as follows: literature review, Institutional data and observation in loco. International database search tools were used in order to find academic papers related to the RMS. An extremely reduced number of works were found, and then keywords were expanded to include citations of autochthonous sheep breeds from Spain and sheep production and marketing. Official Spanish Government data and European Union (EU) and Balearic Island’s food labeling regulations were also consulted. Theoretical hypothesis were than formulated employing critical analysis based on database evidence and the New Institutionalism theory. Theoretical Framework
The number of farms where RMS are breed has been maintained since 2009, first year with official data available. The number of animals had slight variations along the last years, but has remained within a range that allow us to perceive that the number of individuals has not been dropping. In fact, such data contrasts with studies that suggest sheep farming as not economically profitable (DE RANCOURT et al., 2006; DUBEUF, 2011), a scenario where, most probably, RMS herd should decrease.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figure 1: RMS herd and number of breeders’ evolution during the last 7 years according to official data. (Based on MAGRAMA, 2015).
The reason RMS breed stands, even while its breeders are under tremendous economic pressure, may be given by De Rancourt et al. (2006), who state that sheep farming economic margins depend largely on subsides in the European Union (EU). In a case considering another Spanish indigenous breed, the Ojinegra de Teruel, Ripoll-Bosh et al. (2014), analyzing economic sustainability of farming systems with autochthonous sheep breeds, reported that nearly 50% of all farm income was obtained from subsidies. Similar investigations have never been done with RMS, but it is logical to presume similar or even higher dependence on subsides, since the Ojinegra de Teruel is not threatened of extinction and its meat is a product that has Protected Denomination of Origin (PDO). That stated, it is important to consider economic theories while analyzing the situation faced by autochthonous breed farmers in order to enhance our comprehension of the scenario and perceive the most probable future panorama. According to the New Institutionalism perspective, Institutions are the main factor behind economic development. As stated by North (1990), “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction”. The so called “rules” may be formal ones (contracts, property rights, etc.) or informal ones (social norms followed by a society). For this work we consider the effects that “formal rules” have in the RMS breed activity, such as subsides and public labels for food products. RMS cheese production
Lamb consumption is traditional in Majorca and the RMS is recognized in local gastronomy for its meat. Recently, however, some producers decided to produce also handmade cheese, a clear sign that breeders are looking for a higher diversification degree. Many consumers have oriented themselves towards local food, which has traveled only short distances or is commercialized directly by the producer (HOLLOWAY et al., 2007; WATTS et al., 2005). RMS cheese has specific characteristics that, alongside with the reduced and seasonal production (from November to May) and direct producer’s marketing, give the cheese potential as niche product with high value added. This perspective, nonetheless, is shadowed
50
52
54
56
58
60
62
64
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nu
mb
er
of
Pro
pe
rtie
s
He
rd N
um
be
r
Herd Breeders
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS by the need of an insertion on the island’s market, where it has to compete with several traditional European cheeses, imported especially from France and Germany (IKERFEL, 2015). Local production
Back in the early 2000’s, farmer’s markets became quite popular in Europe. The reintroduction of this form of commercialization did not aim the promotion of local commodities, but the demand for traditional foods and the manifest consumer interest in the various food quality attributes associated with local food (VECCHIO, 2009). There is an expectation that local food is tastier and of high quality, attributes considered the most important on food purchase (FELDMANN & HAMM, 2015). “Local”, as stated Feldmann and Hamm (2015), is a term that is used and understood in different ways, since neither a general definition of “local origin” nor a legal standard exist. This incertitude leads to mayor issues, as consumers find difficult to identify local products and have no guarantees that products labeled as “local” fulfill their expectations. The absence of one universal definition makes it all but impossible to create a standardized label for local food. Thus, information and knowledge play a key role in affecting demand, such that specific information on the label can even change the perception of goods (WASKIN et al., 2000). Producers from the Majorca Island, nonetheless, may have a way to outcome the lack of an official definition of what is local and even take advantage of it, since there are no doubts about the area within the island’s territory. The costs implied in bringing to consumers the perception of what is “local” sharply fall and the incertitude surrounding food authenticity is reduced to a minimum. As Bernabéu et al. (2010) assert, the strategy that seems the most adequate as differentiating element for cheese is origin, a circumstance that could be taken advantage of to promote consumption. On the other hand, producers are aware that RMS handmade cheese is a product that is highly differentiated from an industrialized similar and sought ways to certificate such distinctive traits. Many steps towards certification have already been taken, e.g. organic production and ecological farming certificates, what can be considered a consistent strategy, since the organic attribute could condition consumer preference or increased value for cheese (Bernabéu et al. 2010). Origin and Certification
EU registered the current organic production logo as an Organic Farming Collective Mark, and, from July 2010, it is usable and protected (EU Commission Regulation 271/2010). Some RMS breeders carry the farming activity according to the requirements described in EEC Regulation 2092/91 and EC 834/2007, which stablish standards for organic production within EU political territory. By meeting those parameters, they are qualified to use the Organic logo of EU, advertisement that is already in use in some brands of handmade RMS cheese, e.g. Formatgeria
Son Jover. The Balearic Islands created in 1994 the Balearic Counsel of Ecological Agricultural Production (CBPAE), organ that is responsible for the organic certification within the Autonomous Community. Producers who plead such certification for their products are subject to CBPAE control system. Once requirements are met, a logo containing CBPAE own brand is available, advertising therefore that the product has achieved the “Balearic Ecological Farming
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Certificate”. RMS breeders who earned the Organic logo of EU often adopt the usage of DBPAE logo as well. The European Commission introduced in 1992 the regulation regarding the protection of geographical indications and designations of origin. The legal framework used today is based on the EU regulation 1151/2012, which stands that “Producers can only continue to produce a diverse range of quality products if they are rewarded fairly for their effort. This requires that they are able to communicate to buyers and consumers the characteristics of their product under conditions of fair competition”. This is a clear Institutional attempt to asymmetric information costs, beneficiating both producers and consumers. Asymmetric information is a situation in which buyer and seller have different information regarding a transaction (PINDICK; ROBINFELD, 2002). Considering the RMS case, Majorca consumers are familiar with its lamb meat, but producers have yet to find ways to let them perceive their handmade cheese attributes and induce consumers to pay premium prices for it. Spanish institutions are also making movements towards the promotion of differentiation of the country’s autochthonous breeds. The Loyal Decree 505/2013 set the regulatory framework for the voluntary usage of the logo “100% raza autóctona” (100% autochthonous breed), that recognizes animal products such as wool, skin, milk, meat and cheese, making easier their identification in places where they can be commercialized or consumed. Even tough “breed labeling” is a recent strategy, this is an innovative way to grant an alternative marketing path for Spanish breed’s products. By 2016, 11 sheep breeds were already making use of this distinction logo, 6 of them threatened of extinction. The RMS, however, was not included amongst these breeds that already were making use of the logo and so this is a step towards differentiation that is yet to be taken by RMS breeders association. Scenario Prospection
Once handmade cheese factories cannot count on economies of scale, offering superior quality goods is the logical getaway. From consumer’s perspective, certification can be seen as a link between a certain product and a higher quality. Garavaglia and Marcoz (2014) suggest that consumers understand that certification entails costs, are aware that these costs guarantee the higher quality of the products and are willing to pay premium prices. Bontemps et al. (2013) made discovers that are crucial when discussing the importance of the Institutional Environment to small farmers. According to their research, PDO positively affects the survival of small cheese makers in French dairy industry and encouraging PDO production reduces the risk of extinction only for small firms. Besides, PDO labelling transmit a collective reputation based more on traditional than capital-intensive technologies. Small firms engaged in PDO production have a possibility to share the cost of labelling and benefit from a reputation without contracting large advertising and R&D expenditures. Further evidence support the idea that RMS breeders should explore Geographical Indication as a way to differentiate handmade cheese. Bernabéu et al. (2008) report that Spanish consumers give a lower importance to whether cheese is organic or not, while origin is the most highly evaluated attribute. They suggest that organic feature becomes an inadequate differentiation strategy, whereas origin can be converted into a good differentiation element. Final Considerations
Considering the economic and institutional complexity that surrounds the RMS breed, it is
important that enlighten evidence are accounted by both producers and organizations when
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS deciding future strategies. The information gathered in this work led to the recognition of key aspects that should be acknowledged and taken for further considerations.
Studies suggest that RMS products, especially cheese, should focus on highlighting its origin instead of its organic attributes. Local producers could take benefit from Majorca’s natural geographical isolation in order to reduce transaction costs related to asymmetric information between consumers and them. Besides, EU Institutional Environment is capable of providing solutions that are advantageous for RMS breeders by ensuring food product’s origin, a feature not explored so far. On this regard, it is mandatory that attempts to achieve enhanced market strategies are aligned to Institutional policies opportunities, such as Organic Certification, Autochthonous Breed logo and PDO. These labels may have an important role in reducing the incertitude that surrounds credence goods such as food products. Akerlof (1970) sustains that public labels certify the quality of a product that cannot be observed otherwise and recognized by consumers.
Furthermore, it is unlikely that autochthonous sheep breeders are able to maintain their productive structure without subsides, fact that turns EU and Spanish Institutions irreplaceable pillars for the conservation of the RMS breed. Similar conclusions were draw by Canali (2006) studying EU policies regarding goat and sheep market and rare breeds conservation. He asserts that subsides are vital to breeders and, consequently, should policy support be removed, production would decline rapidly as producers would withdraw from sheep production and, possibly, from agriculture altogether. This is a scenario were not only RMS breed would find itself closer to extinction, but also endanger other Spanish autochthonous breeds.
References
AKERLOF, G. (1970) The market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly
Journal of Economics, v.84, p.488–500, 1970. BERNABÉU, R.; OLMEDA, M.; DÍAZ, M.; OLIVAS, R. Determination of the Surcharge that consumers are willing to pay for an organic cheese in Spain. In: CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS, 12, 2008. Leuven, Belgium.
BONTEMPS, C.; BOUHAMRA-MECHEMBACHE, Z.; SIMIONI, M. (2013) Quality Labels and firm survival: some first empirical evidence. European Review of Agricultural Economics v.40(3), p.413-439, 2013.
CANALI, G. (2006) Common agricultural policy reform and its effects on sheep and goat market and rare breeds conservation. Small Ruminant Research, v.62, p.207–213, 2006.
CASTILLO V.; TOBARUELA M.; DELGADO J.V.; PONS A. Estudio de la producción y composición de la leche en una población de oveja de raza Roja Mallorquina. In: CONGRESO IBÉRICO SOBRE RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES, SERGA–SPREGA, 9, 2014. Palencia, España.
DE RANCOURT, M.; FOIS, N.; LAVÍN, M.P.; TCHAKÉRIAN, E.; VALLERAND, F. (2006) Mediterranean sheep and goats production: an uncertain future. Small Ruminant Research, v.62, p.167–179, 2006.
DUBEUF, J. (2011) The social and environmental challenges faced by goat and small livestock local activities: present contribution of research development and stakes for the future. Small Ruminant Research, v.98, p.3–8, 2011.
EUROPEAN UNION. Council Regulation (EC) 1151/2012.
____ . Council Regulation (EC) 271/2010.
____ . Council Regulation (EC) 834/2007
____ . Council Regulation (EEC) 2092/91.
FELDMANN, C.; HAMM, U. (2015) Consumers’ perceptions and preferences for local food: a review. Food
Quality and Preference, v.40, p.152–164, 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GANDINI, G.C.; VILLA, E. (2003) Analysis of the cultural value of local livestock breeds: a methodology. J.
Anim. Breed. Genet., v.120, p.1–11, 2003.
GARAVAGLIA, C.; MARCOZ, E. M. (2014) Willingness to pay for P.D.O. certification: an empirical investigation. Int. J. Food System Dynamics. V.5(1), p.11-22, 2014.
HOLLOWAY, L.; KNEAFSEY, M.; VENN, L.; COX, R.; DOWLER, E.; TUOMAINEN, H. (2007) Possible food economies: A methodological framework for exploring food production–consumption relationships. Sociologica Ruralis, v.47(1), p.1–19, 2007.
IKERFEL. Estudio en torno a la percepción del producto queso de origen español. Department of Agriculture, Fishing and Food of Spain, Madrid, 2015. Available at: <http://www.campogalego.com/wp-content/uploads/2016/01/7840-INLAC-Informe-Global-1.pdf> Accessed July 21st 2016.
MAGRAMA. Catálogo oficial de razas. Available at: <http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/>. Accessed July 21st 2016.
NORTH, D. Institutions, Institutional Change and Economic performance. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 159 p.
PINDICK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomics. 5th Ed. New Jersey, Prentice Hall, 2002.
PONS, A.L.; LANDI, V.; MARTINEZ, A.; DELGADO, J.V.(2015) The biodiversity and genetic structure of Balearic sheep breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, v.132, p.268–276, 2015.
RIPOLL-BOSCH, R.; JOY, M.; BERNUÉS, A. (2014) Role of self-sufficiency, productivity and diversification on the economic sustainability of farming systems with autochthonous sheep breeds in less favoured areas in Southern Europe. Animal, v.8:8, p.1229–1237, 2014.
SPAIN. Real Decreto 2129/2008 de 26 de diciembre. Available at: <https://www.boe.es/boe/dias/2009/01/27/pdfs/BOE-A-2009-1312.pdf>. Accessed July 21st 2016.
____ . Real Decreto 505/2013 de 28 de junio. Available at: <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8048>. Accessed July 21st 2016.
TABERLET, P.; VALENTINI, A.; REZAEI, H.R.; NADERI, S.; POMPANON, F.; NEGRINI, R.; AJMONE-MARSAN, P. (2008) Are cattle, sheep, and goats endangered species? Molecular Ecology, v.17, p.275–284, 2008.
VECCHIO, R. European and United States farmers’ markets: Similarities, differences and potential developments. In: EAAE SEMINAR, 113, 2009. Chania, Crete, Greece. Available at: <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/58131/2/Vecchio.pdf> Accessed July 21st 2016.
WANSINK, B.; PARK, S. B.; SONKA, S.; MORGANOSKY, M. (2000) How soy labeling influences preference and taste. International Food and Agribusiness Management Review, v.3(1), p.85-94, 2000.
WATTS, D. C. H.; ILBERY, B.; MAYE, D. Making reconnections in agro-food geography: alternative systems of food provision. Progress in human geography, v.29, p.22-40, 2005.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Agricultura Urbana: reflexões embasadas em casos brasileiros e mundiais
Caroline Gallicchio1, Daiane Netto
2, Alessandra Daiane Schinaider
3, Glauco Schultz
4
1 Acadêmica do curso de Nutrição, FAMED/UFRGS, [email protected]
2Mestranda em Desenvolvimento Rural, PGDR/UFRGS, [email protected]
3Mestranda em Desenvolvimento Rural, PGDR/UFRGS, [email protected]
4 Professor Dr. FCE/IEPE, PGDR e PPG-Agronegócios/UFRGS, [email protected]
Resumo. Em 2012, a FAO publicou a estimativa de que até 2050 a população mundial alcançará o número de
9,7 bilhões de pessoas. Assim, a produção agrícola deve ser 60% maior em relação ao período de 2005 a 2007,
para suprir a demanda de alimentos. A expectativa para 2050 é que 66% da população mundial residam em
áreas urbanas. O processo contínuo de urbanização gera desafios para o desenvolvimento sustentável, como a
falta de alimentos, preservação ambiental e a escassez de empregos. Neste cenário, a prática da agricultura
urbana comunitária surge como uma possibilidade de fornecer renda extra para as famílias em situação de
vulnerabilidade econômica e garantir a segurança alimentar e nutricional nas áreas urbanas. O objetivo deste
estudo é realizar uma reflexão sobre a crescente tendência da prática da agricultura urbana, que vem ganhando
atenção de políticas públicas pelo mundo. Após ser caracterizada, são discutidos alguns fatores associados a
esta prática, como segurança alimentar e nutricional, impactos ambientais, influência nas relações sociais,
potencial de geração de renda e desenvolvimento de cidades sustentáveis, relacionando-os com exemplos de
casos do Brasil e de outros lugares do mundo. Os casos relatados demonstram que a agricultura urbana pode
ajudar a reduzir a pobreza, garantir a segurança alimentar e nutricional e a melhorar as condições ambientais.
Para alcançar e manter esses resultados, é necessária a atuação em conjunto do poder público, sociedade civil,
organizações não governamentais e setor privado.
Palavras-chave. Agricultura urbana; segurança alimentar e nutricional; desenvolvimento sustentável;
agroecologia.
Urban Agriculture: reflections about Brazilians and mondial cases
Abstract. In 2012, FAO published an estimate that by 2050 the world population will reach 9,7 billion people.
Therefore, agricultural production shall be 60% greater compared to the period between 2005 and 2007 in
order to meet food demand. It is expected that by 2050 60% of the world population will be living in urban
areas. The continuous urbanization process brings on challenges for the sustainable development, including
food shortage, environmental preservation and job scarcity. In this scenario, community-based urban
agriculture emerges as a possibility to provide families in economic vulnerability with extra income and food
and nutrition security. This study aims to discuss the increasing trend of urban agriculture practices, which have
been calling attention of public policies around the world. After describing it, some associated factors are
debated, such as food and nutrition security, environmental impacts, influence on social relationships, income
generation potential and development of sustainable cities. These associated factors are explored in case
examples from Brazil and other countries. The presented cases demonstrate that urban agriculture may help
reduce poverty, guarantee food and nutrition security and improve environmental conditions. In order to
achieve and maintain these outcomes, cooperative action between public authorities, civil society,
nongovernmental organizations and the private sector is necessary.
Keywords. Urban agriculture; food and nutrition security; sustainable development; agroecology.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
A Food and Agriculture Organization (FAO) apresentou, na última revisão de seu relatório sobre o futuro da agricultura, uma estimativa de que a população mundial alcançará 9,15 bilhões1 de pessoas até o ano de 2050. Associada a esta, a perspectiva de aumento de renda permite uma projeção para a produção agrícola global: ela deverá ser 60% maior em relação ao período de 2005 a 2007, com vistas a suprir a demanda para uso alimentar e não alimentar (ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012).
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2014), a maior parte da população mundial reside em áreas urbanas, 54% em 2014, com expectativa de aumentar para 66% até 2050. Enquanto quase metade dos moradores dessas áreas vive em cidades com menos de 500.000 habitantes, uma em cada 8 pessoas vive em uma das 28 megacidades existentes atualmente, com mais de 10 milhões de habitantes. Para 2030 espera-se a existência de 41 megacidades. No Brasil, em 2014, 85% da população já era considerada urbana, com prospecção de chegar a 91% em 2050.
A velocidade de urbanização é maior em países de baixa e média renda e é um processo contínuo que gera desafios para o desenvolvimento sustentável, como a falta de alimentos, preservação ambiental e a escassez de empregos (FAO, 2014; AQUINO; ASSIS, 2007). Surge, assim, a necessidade de políticas para melhorar a qualidade de vida de moradores de regiões urbanas e rurais, bem como vias alternativas que promovam o abastecimento de alimentos para todos.
Neste trabalho, abordaremos a qualidade de vida das populações urbanas com enfoque no suprimento de alimentos. O objetivo do estudo é realizar uma reflexão sobre a crescente tendência da prática da agricultura urbana relacionada à agroecologia como proposta para guiar a execução de projetos, que vem ganhando atenção de políticas públicas pelo mundo. Assim, pretendemos caracterizar essa prática para posteriormente discutir alguns fatores associados a ela, como segurança alimentar e nutricional, impactos ambientais, influência nas relações sociais e potencial de geração de renda, apresentando exemplos de casos do Brasil e de outros lugares do mundo.
Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo se caracteriza como uma pesquisa básica com objetivo exploratório. O objetivo da pesquisa vem a ser exploratório, pois envolve a pesquisa bibliográfica em diversas formas. Conforme Santos (2000) apud Siqueira; Schultz e Talamini (2015, p. 04) “a pesquisa exploratória visa prover a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador e, na maioria das vezes, é feita como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam ou atuam na área pesquisada, visitas a web sites e outras ferramentas”, as quais se encontram citadas na sessão de Referências Bibliográficas. Neste sentido, realizamos o levantamento bibliográfico em portais de periódicos online, nas bibliotecas da academia e em diversos web sites que tratam do tema em estudo e fizemos uma entrevista.
Discussão
O conceito de agricultura urbana ainda não está consolidado, mas identificam-se algumas características específicas dessa forma de produção de alimentos. O que define a agricultura urbana não é apenas seu distanciamento do meio rural, mas sim o fato de ela estar integrada e
1 A ONU (2015) atualizou as prospecções populacionais para 9,7 bilhões de pessoas em 2050.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS interagindo com o ecossistema urbano. É a produção de alimentos dentro do perímetro urbano, que conta com a inter-relação entre homem-cultivo-animal-ambiente e a infraestrutura urbana, baseada em práticas sustentáveis (GNAU, 2002 apud AQUINO; ASSIS, 2007). A agricultura urbana também pode incluir áreas periurbanas, nas periferias das cidades, que abastecem a população local (MOUGEOT, 2010 apud LIN; PHILPOTT; JHA, 2015). A produção nessas áreas é diversa, abrangendo hortaliças, plantas medicinais, temperos, cogumelos, árvores frutíferas, plantas ornamentais, além da criação de animais para obter ovos, leite, carne, lã, entre outros produtos (LOVELL, 2010 apud LIN; PHILPOTT; JHA, 2015).
A agricultura urbana não é uma atividade recente e, de alguma forma, sempre se expressou nas áreas urbanas, mesmo que timidamente (AQUINO; ASSIS, 2007). No entanto, nos últimos anos, essa prática tem aumentado mundialmente, influenciada principalmente pelas crises econômicas. Os períodos de crise, apesar de afetarem tanto as populações urbanas quanto as rurais, deixam as populações urbanas de baixa renda mais vulneráveis, visto que a maioria dessas pessoas gasta a maior parte da sua renda com alimentação. Desta forma, a dependência de compras para consumir, associada às variações dos preços e dos salários, diminuem o poder aquisitivo desta parcela da população, consequentemente, elevando o risco de insegurança alimentar. Assim, os períodos de crise financeira incentivam iniciativas da população em organizar hortas urbanas para garantir uma dieta mais diversificada e saudável, possibilitando o acesso a alimentos frescos como hortaliças, frutas e temperos, o que ajuda a melhorar a segurança alimentar (FAO, 2009; ORSINI et al., 2013). Nos países mais ricos, o “boom” da agricultura urbana é associado também à crescente consciência e preocupação da população sobre questões ambientais e de saúde, aumentado a demanda por alimentos de produção local, frescos e não processados (SMIT et al., 2001; AUBRY; KEBIR, 2013 apud BENIS, 2016).
Nessa perspectiva, a importância da agricultura urbana está vinculada a uma forma alternativa de renda e à demanda por produtos agrícolas em qualidade e quantidade suficientes no meio urbano (DRESCHER, 2001 apud AQUINO; ASSIS, 2007). Além disso, a agricultura urbana cria oportunidades de empregos (AGBONLAHOR et al. 2007 apud ORSINI, 2013) e estimula empreendimentos na área como, por exemplo, nos setores de insumos para a agricultura, processamento de alimentos, acondicionamento, marketing, etc. (IIED 2011 apud ORSINI, 2013). Esses motivos têm despertado o interesse de pesquisadores, urbanistas e principalmente de formuladores de políticas públicas.
No Brasil, a partir do início deste século, o apoio às hortas urbanas e periurbanas passou a fazer parte da política nacional de redução da pobreza e garantia de segurança alimentar, recebendo recursos federais, estaduais e municipais. O foco dos projetos na população mais pobre gerou benefícios privados como a possibilidade de obtenção de renda direta pela comercialização da produção (no entanto essa renda foi bastante variável entre os produtores avaliados em trabalhos publicados, sendo que um salário mínimo foi a renda máxima obtida), melhora da renda indireta pelo autoconsumo da produção, melhoria dos hábitos alimentares e segurança alimentar. Também trouxe benefícios sociais (aumento das relações pessoais na comunidade e melhoria da organização da sociedade local) e ambientais (melhoria da paisagem urbana pela eliminação de terrenos abandonados e redução de impactos ambientais, que serão aprofundados mais adiante). Apesar disso, a maioria desses projetos foi de curta duração, geralmente menos de três anos. As principais dificuldades relatadas foram a falta de organização social, falta de acesso à assistência técnica, capital, terra e água, sugerindo que o sucesso desses projetos parece depender muito mais da organização comunitária e da decisão
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS política de apoiá-los, do que propriamente da disponibilização de tecnologias (CASTELO BRANCO; ALCÂNTARA, 2011).
Como a segurança alimentar e nutricional (SAN) é bastante citada como benefício da agricultura urbana para a população dessas regiões, convém conceituarmos o tema. No Brasil, a SAN foi definida na Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) de 2006, como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Este conceito é associado ao do Direito Humano à Alimentação Adequada, sendo este um direito fundamental do ser humano. Assim, fica a cargo do poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. No entanto, por serem conceitos amplos, na prática demandam ações cooperativas entre governos, sociedade civil, organizações não governamentais e setor privado para obter resultados exitosos e sustentáveis, ao estabelecer divisões sensatas do espaço urbano e periurbano entre moradia, indústria, infraestrutura e agricultura (FAO, 2009).
Quanto à tipologia, identificam-se diversas modalidades de produção de alimentos no meio urbano: podem ser residenciais (individuais, familiares ou comunitárias), institucionais (escolas, hospitais), comunitárias (ocupando espaços públicos ou privados) ou empresas de agronegócio. Podem, portanto, ser destinadas ao autoconsumo e/ou à comercialização. Qualquer espaço livre pode ser utilizado: jardins, terraços, floreiras em janelas, vasos, paredes (conhecidas como hortas verticais), estufas, terrenos baldios, espaços públicos subutilizados, prédios projetados para esse fim (chamados de fazendas verticais). As escalas de produção e tecnologias utilizadas também são variadas; segundo a Fundação RUAF, em países em desenvolvimento o nível tecnológico na maioria dos casos é baixo, porém existe uma tendência buscando avanços tecnológicos e práticas mais intensivas.
Entre os tipos citados, as hortas comunitárias se destacam por serem desenvolvidas com o intuito de gerar renda e inclusão social, além de possibilitar maior aproximação entre os membros da comunidade e melhorar a qualidade da alimentação. Monteiro e Monteiro (2006) explicam o caso do município de Teresina, no Piauí, que sofreu grande aumento populacional em vilas e favelas devido ao êxodo rural, e com isso surgiu a necessidade de adotar políticas públicas que pudessem amenizar ou reverter a situação causada por esse fluxo migratório juntamente com a baixa oferta de empregos. Foram implantadas hortas comunitárias a partir do Programa Hortas Comunitárias de Teresina, da Prefeitura do município. O Programa surgiu com o objetivo de gerar renda, trabalho e melhorias nas condições alimentares das famílias envolvidas, porém, as autoras colocam que o trabalho nas hortas se tornou uma atividade secundária para complementar a renda dos produtores, mas ainda assim gerou melhorias nas condições sócio-econômicas dos envolvidos.
No município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, foi constituída uma cooperativa solidária em um antigo prédio público que estava abandonado. Após a ocupação, os moradores desenvolveram um sistema de auto-gestão e instalaram uma horta no terraço do prédio com utensílios e recursos que estavam disponíveis, no primeiro momento praticavam o cultivo convencional de produção. Mais tarde, o local foi o primeiro prédio público do país a ser destinado à moradia popular e, a partir de 2010, com o auxílio de um edital público, passaram a cultivar diversos alimentos com a utilização da hidroponia orgânica, sendo a primeira horta hidropônica em terraço do Brasil. Atualmente, cerca de 10 anos após o início
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS do projeto, o local abriga 42 famílias, além de possuir uma padaria autogestionada no local, a cooperativa está em processo de organização de sua primeira feira orgânica aberta para o público em geral. Tanto a horta quanto a padaria são importantes fontes de renda para as famílias que habitam o local.2
Ao pensar em soluções para o suprimento adequado de alimentos no panorama apresentado até agora, é imprescindível adotar uma visão sistêmica e considerar os objetivos de desenvolvimento sustentável divulgados pela ONU na Agenda 2030: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios de implementação. Todos esses objetivos estão interconectados, estabelecendo diferentes graus de influência uns sobre os outros, e pode-se identificar, dentre eles, vários que a agricultura urbana tem potencial para promover de forma mais expressiva, especialmente quando associada aos preceitos da agroecologia.
A agricultura agroecológica defende a menor dependência possível de insumos externos à unidade de produção agrícola e a conservação dos recursos naturais por ações de reciclagem de energia e nutrientes (AQUINO; ASSIS, 2007), não permitindo uso de insumos químicos e sementes transgênicas. Conforme Ribeiro et al. (2011), a agricultura urbana agroecológica pode ser considerada como uma ferramenta de promoção à saúde. Aquino e Assis (2007) trazem a produção urbana de alimentos como uma oportunidade de revalorização destes espaços. Além disso, colocam que a agricultura urbana tem o importante papel de garantir melhorias na dieta das famílias envolvidas e nas condições ambientais, juntamente com a reinserção de populações marginalizadas. Os autores ainda apresentam evidências de que a agricultura urbana configura-se como um importante fenômeno sócio-econômico, associado a sistemas de base agroecológica, gerando um melhor aproveitamento dos resíduos orgânicos. A agroecologia surge, então, como uma base científica que pode ajudar a alcançar agroecossistemas sustentáveis.
Cidades que passam por rápido processo de expansão costumam apresentar problemas de poluição que ameaçam a saúde pública. A falta de sistemas adequados para tratamento de esgoto resulta em grandes quantidades de dejetos humanos e efluentes industriais despejados diretamente no ambiente. A agricultura urbana e periurbana traz a oportunidade de transformar esses resíduos em um recurso produtivo: na América do Norte, várias cidades reciclam resíduos orgânicos em composto para jardins e hortas residenciais, que são oferecidos para os moradores. Em Addis Ababa, na Etiópia, uma empresa privada coleta diariamente 3,5 toneladas de resíduos orgânicos e os transforma em quase duas toneladas de fertilizante de alta qualidade. A reciclagem de águas residuais domésticas para uso na agricultura também é possível, porém necessita de cuidado especial para um tratamento adequado que elimine patógenos (FAO, 2010). Outra opção para a irrigação sustentável é a coleta de água da chuva. A agricultura urbana também permite a requalificação de áreas subutilizadas e degradadas (SMIT et al. 1996 apud ORSINI, 2013), porém, ao escolher o local de cultivo deve-se atentar para a qualidade do solo, que pode apresentar contaminação por pesticidas ou metais pesados, principalmente em regiões que no passado eram industriais
2 Conforme relato de ex-moradora do prédio.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS ou em locais próximos à fábricas (PANDEY; PANDEY, 2009 apud ORSINI, 2013), colocando a saúde dos consumidores em risco.
Entre as correntes de produção agrícola não industrial que se baseiam nos princípios agroecológicos, a agricultura orgânica tem sido a mais difundida e reconhecida no mercado como sinônimo de todas as outras3 (ASSIS; ROMEIRO, 2002 apud AQUINO; ASSIS, 2007). Dias et al. (2015) colocam que tanto a produção quanto o consumo de alimentos orgânicos vem crescendo nos últimos anos. Especialistas preveem uma expansão ainda maior para os próximos períodos. Essa percepção ocorre a nível mundial e faz com que as atenções se voltem para a demanda, formas de distribuição e qualidade desses produtos. O crescimento deste mercado provém do aumento da procura por produtos e serviços que forneçam saúde e bem-estar. Somado a isso, alguns autores colocam que o consumo de alimentos orgânicos está relacionado à preocupação com o meio ambiente, qualidade, questões éticas; ou ainda, relacionados a atributos específicos de cada produto como valor nutricional, sabor, frescor e preço (BROWNE et al., 2000 apud DIAS et al., 2015).
Em relação à comercialização dos alimentos da agricultura urbana, observa-se a oportunidade de aumentar as vendas por circuitos curtos de comercialização. De modo geral, os circuitos curtos podem ser definidos como aqueles em que a venda acontece diretamente pelo produtor para o consumidor ou pelo intermédio de apenas um terceiro, mas de forma a não gerar assimetrias (DAROLT, 2012), e também pela presença de transmissão de informações sobre a origem e forma de produção dos alimentos (GUTHMAN, 2004). Assim, possibilita-se a oferta de alimentos frescos e por um preço mais acessível, colaborando com a promoção da segurança alimentar e nutricional das populações urbanas.
Em Londres, na Inglaterra, existe uma plantação subterrânea de hortaliças a 33 metros de profundidade. O projeto, iniciado em 2014, conta com a colaboração de investidores e profissionais que possuem experiência em outros projetos semelhantes. A “fazenda underground” está instalada em um túnel da cidade, construído no ano de 1940 para abrigo da população durante a Segunda Guerra Mundial. Para a produção dos alimentos é utilizado o sistema de hidroponia, água da chuva e um sistema de iluminação com luzes LED. Os benefícios do projeto são o aumento da vida útil dos alimentos, já que a venda e entrega é realizada somente nas proximidades, o que também colabora com a maior proximidade entre produtores e consumidores, diminui as emissões de carbono e é também um projeto de revalorização de espaços inutilizados na cidade. O público alvo do empreendimento, além de pessoas físicas, são os restaurantes que se encontram nas proximidades.
O fato de a produção urbana ser destinada ao consumo local consiste em uma boa combinação para diminuir os impactos ambientais do sistema alimentar. Essa forma de cultivo tem menor necessidade de transporte e, portanto, gera menos emissões de dióxido de carbono e poluição do ar, bem como menores perdas de alimentos no percurso. Promove a diminuição do uso de embalagens e de refrigeração, também ajudando a diminuir a temperatura nas cidades, amenizando ilhas de calor. Contribui ainda para melhorar a paisagem urbana e qualidade de vida da população, especialmente quando a agricultura é praticada na região periurbana, formando cinturões verdes, os quais ajudam a manter a estrutura do solo e o ciclo da água, reabastecendo aquíferos e evitando deslizamentos de terra e inundações (FAO, 2010).
3Agricultura biológica, agricultura biodinâmica, agricultura natural, agricultura alternativa, agricultura ecológica, permacultura e agricultura regenerativa.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Conclusões
A literatura consultada e os casos abordados neste trabalho demonstram que a agricultura urbana pode gerar impactos positivos no âmbito social, econômico e ambiental do meio urbano, especialmente ajudando a reduzir a pobreza, a garantir a segurança alimentar e nutricional e a melhorar as condições ambientais. Quando guiada pelos princípios da agroecologia, a agricultura urbana pode potencializar os benefícios à saúde da população e do ambiente e melhorar a gestão dos recursos naturais disponíveis. Alcançar esses objetivos significa caminhar na direção para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A cooperação entre poder público, sociedade civil, organizações não governamentais e setor privado é essencial para o desenvolvimento e sucesso das iniciativas de agricultura urbana, que necessitam de espaço e assistência técnica.
Apesar de, teoricamente, a produção local diminuir os impactos ambientais no sistema de produção e distribuição alimentar, são necessários mais estudos avaliando esse benefício, principalmente nos modelos de agricultura integrada a edificações, que costumam fazer uso de cultivo hidropônico, luz artificial e estufas, demandando maior consumo de energia. Atualmente, a agricultura urbana tem caráter complementar à produção rural, visando suprir as necessidades da crescente população urbana. É fundamental atentar para que as políticas públicas voltadas para a agricultura urbana não diminuam investimentos nas zonas rurais ou em produtores locais próximos às regiões urbanas, que também sofrem com a pobreza, para evitar um “deslocamento na miséria”, como pondera Castelo Branco e Alcântara (2007). Finalizando, ainda conforme Castelo Branco e Alcântara (2007), percebe-se a necessidade de pesquisas multidisciplinares e de longo prazo conduzidas a fim de avaliar e compreender melhor os benefícios e dificuldades dos projetos e as formas encontradas para superar essas dificuldades.
Referências Bibliográficas
AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agricultura orgânica em áreas urbanas e periurbanas com base na agroecologia. Ambiente e Sociedade, Campinas, v.10, n.1, p.137-150, Jun. 2007.
Agenda 2030, ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 02 de julho de 2016.
ALEXANDRATOS, N.; J. BRUINSMA. 2012. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA Working paper No. 12-03. Rome, FAO.
BENIS, K; FERRÃO, P. Potential mitigation of the environmental impacts of food systems through urban and peri-urban agriculture
(UPA) - a life cycle assessment approach. Journal of Cleaner Production, v.30, p. 1–12, 2016.
BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 de setembro de 2006. Seção 1, p. 1.
CASTELO BRANCO, M. C; ALCÂNTARA, F. A. Hortas urbanas e periurbanas: o que nos diz a literatura brasileira? Horticultura Brasileira, v. 29, p. 421-428, 2011.
DAROLT, M.R. Conexão Ecológica:novas relações entre agricultores e consumidores. Londrina: IAPAR, 2012. 162 p.
DIAS, Valéria da Veiga et al. O mercado de alimentos orgânicos: um panorama quantitativo e qualitativo das publicações internacionais. Ambiente e Sociedade, São Paulo, v.18, nº 1, p. 161-182, jan./mar. 2015.
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. ed. 5. São Paulo: Saraiva, 2002.
Food for the cities, FAO, 2009. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-ak824e.pdf>. Acesso em: 05 de julho de 2016.
Fundação RUAF. Disponível em <http://www.ruaf.org/urban-agriculture-what-and-why>. Acesso em 15 de julho de 2016.
Growing greener cities, FAO, 2010. Disponível em: <http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/ggc-en.pdf>. Acesso em: 05 de julho de 2016.
Growing Undergrond. Disponível em <http://growing-underground.com>. Acesso em: 18 de junho de 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GUTHMAN, J. The Trouble with ‘Organic Lite’ in California: a Rejoinder to the ‘Conventionalisation’ Debate. Sociologia Ruralis. Estados Unidos, v. 44, n. 3, p. 301-316. Jul. 2004.
LIN, B. B; PHILPOTT, S. M; JHA, S. The future of urban agriculture and biodiversity-ecosystem services: challenges and next steps. Basic and Applied Ecology, v. 16, p. 189–201, 2015.
MONTEIRO, J. P. do R.; MONTEIRO, M. do S. L. Hortas comunitárias de Teresina: agricultura urbana e perspectiva de desenvolvimento local. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. v. 5: p. 47-60, 2006.
ORSINI, F; KAHANE, R; NONO-WOMDIM, R; GIANQUINTO, G. Urban agriculture in the developing world: a review. Agronomy for Sustainable Development, v. 33, p. 695–720, 2013.
PESSÔA, C. C. Agricultura urbana e pobreza: um estudo no município de Santa Maria - RS. 2005. 102 f. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005.
RIBEIRO, S. M.; AZEVEDO E.; PELICIONI, M. C. F.; BÓGUS, C. M.; PEREIRA, I. M. T. B. Agricultura urbana Agroecológica - Estratégia de Promoção da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional. Revista Brasileira de Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 25, nº 3, p. 381-388, jul./set. 2012.
SIQUEIRA, L. V.; SCHULTZ, G.; TALAMINI, E. O ambiente institucional formal da pesca e da aquicultura no Brasil: uma análise a partir das políticas públicas. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL,53, 2015. João Pessoa. Anais... João Pessoa: SOBER, 2015.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014
Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
Diálogos entre Stakeholders: Um olhar sob a Economia de Custos de
Transação
Luiz Gustavo Soares Alves¹, Denise Barros de Azevedo², Guilherme Cunha Malafaia³.
¹Escola de Administração e negócios, UFMS, [email protected]
² Escola de Administração e negócios, UFMS
³Embrapa Gado de Corte
Resumo:
Compreender e relacionar a teoria dos Stakeholders e a Economia de Custos de Transação
torna-se importante no mundo atual onde as relações inter-firmas estão cada vez maiores devido aos
processos globalizados de produção. Esse trabalho tem o objetivo de Descrever as inter-relações entre
as Teorias dos Stakeholders e a Nova Economia Institucional no contexto dos Contratos e formas de
governança. Para tanto foi realizada uma busca por trabalhos com temas relacionados ao interesse da
pesquisa, a fim de Identificar lacunas, criticas e contribuições da teoria dos Stakeholders, em relação as
formas de governanças propostas pela teoria de economia dos custos de transação. Os resultados
apresentados aqui são preliminares visto que a pesquisa ainda está em andamento.
Palavras chave: Diálogo entre Stakeholders; Economia de Custos de Transação; Contratos;
Governança.
Dialogues between Stakeholders: A look under the Economy of
Transaction Costs
Abstract:
Understand and relate the theory of stakeholders and Transaction Cost Economics becomes important in
today's world where inter-firm relationships are increasing due to globalized production processes. This
paper aims to describe the interrelationships between theories of Stakeholders and the New Institutional
Economics in the context of contracts and forms of governance. Therefore we carried out a search for
work on issues related to the interest of research in order to identify gaps and critical contributions of the
theory of stakeholders, regarding the forms of governances proposed by saving theory of transaction
costs. The results presented here are preliminary as the research is still in progress.
Keywords: Dialogue between stakeholders; Economy transaction costs; contracts;
Governance.
1. Introdução:
A Discussão sobre como as organizações são geridas e se relacionam encontrou
a partir de Coase (1937) uma nova maneira de análise o que tornou a Nova Economia
institucional uma grande base teórica para desenvolvimento de outras teorias para
explicar e enxergar as organizações e as interações das mesmas. Zylbersztajn (2005)
cita uma série de ramificações teóricas da nova economia institucional, dando destaque
as seguintes: A Economia dos Custos de Transação (Williamson,1985, 1996), Teoria
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
dos Custos de Mensuração (Barzel, 2002), Teoria dos Contratos Incompletos
(Hart,1995), Teoria com Base nos Recursos (Langlois,1998), a Teoria das Redes
(Thorelli,1986), a teoria de Agência (Pratt e Zeckhauser,1985).
No entanto, a partir do final da década de 1980 a Teoria do Stakeholders surge
com uma nova abordagem sobre o funcionamento das organizações e das interações das
mesmas. Durante seu desenvolvimento por várias vezes os autores que defendem os
Stakeholder vem questionando os autores da Nova Economia Institucional, em vários
aspectos. Por vezes contraditando e por vezes concordando a literatura tem se mostrado
um campo de ideias fértil, onde pode-se observar lacunas e complementações teóricas
ao decorrer das décadas.
A teoria dos Stakeholders passou por diferentes momentos desde a sua
popularização atribuída a Freeman 1984. Muito se foi discutido sobre qual seria seu
papel como teoria das organizações (FREEMAN, CLARKSON, DONALDSON) na
primeira década da teoria (1990-2000) várias discussões levaram a criação de uma
literatura que discutia os Stakeholders em conjunto com a teoria da agência. No entanto
a teoria dos Stakeholders evolui para uma abordagem conjunta com os diálogos
caminhando para uma dimensão cada vez maior do ambiente institucional onde as
organizações estão inseridas (TEN BRINK ,2002; WANG 2011, FREEMAN 2007).
O objetivo deste trabalho é analisar as convergências entre a teoria Stakeholders
e da Nova Economia Institucional, sob o olhar da teoria de custos de transação, através
de uma revisão de literatura sobre as duas abordagens para uma posterior análise das
convergências e divergências entre as teorias. Para tanto foi feita uma breve revisão de
literatura sobre as teorias dos Stakeholders, (e a variante mais moderna que trata dos
diálogos), a Teoria da Economia dos Custos de Transação (Williamson) e as
intersecções teóricas existentes entre a Teoria dos Stakeholders e as duas abordagens da
Nova Economia Institucional com foco nas abordagens dos contratos.
2. Teoria do Stakeholders
Segundo Freeman (1984) stakeholders são indivíduos que afetam ou são
afetados por objetivos ou problemas das organizações. Já Clarkson (1995) considera
que os stakeholders são pessoas ou grupos que têm ou reivindicam propriedade, direito
ou interesse em uma corporação e/ou situação e em suas atividades passadas, presentes
ou futuras, tais direitos ou interesses reivindicados são o resultado de transações e ações
tomadas pela corporação, que podem ser individuais, legais, morais ou coletivas, além
disso distribui os stakeholders em dois grupos distintos: stakeholders primários e
secundários.
Os stakeholders primários, investiram de alguma maneira na organização seja
com capital financeiro ou humano correndo algum risco proveniente deste investimento.
Já os stakeholders involuntários são aqueles que estão sujeitos a riscos e perdas
decorrentes da ação dessas organizações. Clarkson (1995) também aponta que os
stakeholders são pessoas ou grupos que têm interesses em uma organização e em suas
atividades no passado, presente e futuro, contanto que os interesses, resultados de
transações e ações das empresas sejam legais ou morais, individuais ou coletivos.
A teoria dos stakeholders segundo Donaldson e Preston (1995) pode ser
classificada como gerencial recomendando atitudes e praticas e não somente descritiva,
além de ser a teoria mais proeminente e adequada à teoria da geração de valor ao
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
acionista que se torna moralmente insustentável. Ao apelar a algum princípio
da responsabilidade, evitando a falácia de separação, e simplesmente perceber que as
partes interessadas e pessoas de negócios compartilham uma humanidade comum, pode-
se construir métodos mais eficazes de criação de valor que forjam uma ligação
conceitual e prática entre o capitalismo e a ética. (PARMAR, 2010)
Os diálogos entre os diferentes stakeholders podem contribuir para mudanças de
atitudes e comportamentos, que alteram as regras das organizações ou o que os
stakeholders representam de acordo com Azevedo (2010). Os diálogos entre
stakeholders possuem diferentes apontamentos que são conduzidos às três diferentes
tipologias. Diálogos políticos que cria suporte para novas leis e políticas de legislação, é
usado principalmente para políticas de gestão de recursos hídricos, conservação da
biodiversidade e outros. Diálogos multi-stakeholders que são efeitos internacionais para
criar parcerias e acordos voluntários entre atores internacionais. Diálogos corporativos
demonstram uma abertura para trocas de diferentes pontos de vistas, pois aborda todos
os tipos de diálogos. O ponto central é o aprendizado sobre diferentes stakeholders com
interesse em ética empresarial. Portanto, o uso do diálogo é um dos caminhos
alternativos para resolver os conflitos existentes. (AZEVEDO, 2012)
A participação de stakeholders na construção de soluções em torno da
preocupação e conflitos ambientais em organizações do agronegócio têm aumentado
nos últimos anos. (TEN BRINK ,2002). Estes afirmam serem necessários novos
instrumentos baseados na colaboração com stakeholders para criar novas soluções, com
a utilização de acordos voluntários, foco na prevenção da poluição, metodologias
holísticas multimídia, tomadas de decisões ambientais com base em territórios,
flexibilidade, aumento no uso de mecanismos de mercado e a presença intensiva dos
stakeholders participativos.
O processo de evolução tecnológica e a transformação de mercados e ocasionou
em um ambiente organizacional continuamente mais complexo. Neste contexto,
ampliou-se a necessidade de lidar com um número cada vez maior de interesses de
diferentes stakeholders. Com a importância de gerenciar as relações com os
stakeholders tornaram-se importantes etapas do processo de tomada de decisão das
corporações competitivas.
A implementação da teoria dos stakeholders tem como base gerenciar e integrar
os relacionamentos e os interesses dos acionistas, funcionários, clientes, fornecedores,
comunidades e outros grupos, de modo a garantir o sucesso da empresa a longo prazo.
Ou seja, trata-se de uma abordagem administrativa que enfatiza o gerenciamento ativo
do ambiente do negócio, dos relacionamentos entre os participantes, e a consequente
promoção dos diferentes interesses.
Como uma ação estratégica, surge a concepção de que estratégias de sucesso são
aquelas que integram os interesses de todos os stakeholders ao invés de maximizarem a
posição de um único grupo em detrimento aos demais (FREEMAN e MCVEA, 2000).
Acredita-se que o uso desta estratégia diminui os conflitos de interesses e traz melhores
resultados para a empresa.
3. Economia de Custos de Transação na visão de Williamson
Em seu artigo de 1981, Williamson usa como metáfora o funcionamento de
engrenagens para descrever as transações afirmando que quando as engrenagens de um
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
sistema mecânico não são bem lubrificadas ocorre atrito e perda de energia a
correspondente econômica a esse atrito seriam custos de transação. Williamson afirma
que existem vários tipos de transação (mais e menos complexas) e para cada transação
há uma forma de governança, para tanto o autor postula os seguintes pressupostos:
Pressupostos comportamentais.
1-Racionalidade limitada: Na economia clássica a racionalidade do homem era
considerada ilimitada o que pressupões que todas as transações poderiam ser feitas por
contrato. Dada a racionalidade limitada observa-se a incapacidade de se considerar
todas as questões contratuais o que leva a consequência de que todos os contratos são
incompletos. 2- Oportunismo: mesmo se todas as questões contratuais fossem
observadas ainda corre-se o risco dos agentes agirem de forma oportunista em seu
benefício.
Dimensões críticas.
1-Especificidade dos ativos: Local, tempo, capital humano. 2-Incerteza:
Comportamento dos indivíduos e fatores incontroláveis. 3-Frequencia das transações.
Para Williamson, a economia dos custos de transação caracteriza-se por três formas de
estrutura de governança: mercado, hierárquica (firma) e híbrida. A forma de
organização via mercado se dá basicamente por meio do sistema de preços e está
associada a contratos do tipo clássico. Williamson desenvolveu seu famoso esquema de
contratos que ilustra bem as questões de especificidades, salvaguardas e formas de
governança.
4. Teoria dos Stakeholders e a Nova Economia Institucional
Os primeiros trabalhos que relacionam a teoria dos stakeholders com teorias da
economia das organizações são da década de 90 quando a perspectiva do
relacionamento com stakeholders, na visão econômica, é abordada por Jones (1992)
“qualquer que seja a magnitude de sua participação, cada stakeholder é uma parte do
nexo de contratos implícitos e explícitos que constituem a empresa.” O autor faz em seu trabalho uma discussão entre a teoria do stakeholders e a teoria da agência afirmando
que os gestores são o único grupo de stakeholders que possuem relação contratual com
todos os outros pois tem controle sobre o processo de tomada de decisão, no entanto o
autor afirma que não se pode confundir os outros grupos de stakeholders como agentes
principais na visão tradicional da teoria da agência.
Sobre a firma, Jones (1995, p. 407) diz: “a firma é caracterizada por relações com muitos grupos e indivíduos (stakeholders), cada qual com o poder de afetar o
desempenho da firma”. O autor trata das relações como contratos formais e informais
mediante os quais os agentes buscam desenvolver estratégias de interação ou
salvaguardas, a fim de facilitar e proteger as trocas de produtos entre os stakeholders
(JONES, 1995).
5. Teoria dos Stakeholders e Economia dos Custos de Transação
Williamson é citado por Freeman (2010) como um discípulo moderno de Coase,
ou seja, mantem as premissa de que a organização é um nexo de contratos, acionistas
são os que suportam riscos residuais enquanto os outros stakeholders estão protegidos
por salvaguardas contratuais ou seja o direito de retorno pertence aos acionistas o que
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
exclui a necessidade de se levar em conta outros stakeholders dentro da
interpretação da teoria dos custos de transação.
O primeiro ponto que Freeman (2010) defende é o rompimento da visão “vazia e prática” de criação de valor e comércio proposta principalmente nas obras de Milton
Friedman, para uma visão sobre como realmente é composta a estrutura dos custos de
transação, finalizando a crítica com a ideia que “para transformar teoria de custos
transacionais para a compreensão prática de criação de valor e comércio, é preciso
sobrepor uma rede das partes interessadas.”
Freeman e Evan (1990) sugerem que deve haver uma distinção entre
salvaguardas contratuais para ver a necessidade de uma abordagem de atores para
mercados e hierarquias e as definem como exógenas (quando há externalização de
custos para a sociedade e outros stakeholders e endógenas as partes do contrato
garantem o pagamento dos custos de contratação e garantias). Se as partes no contrato
podem externalizar os custos das salvaguardas aos outros stakeholders e devido ao seu
poder econômico ou politico fazer valer tal questão isso pode ser encarado dentro do
pressuposto do oportunismo abordado na teoria dos custos de transação.
A inserção de stakeholders em um conselho de supervisores ou no conselho
administrativo das organizações, propostas pela ECT é vista por Freeman (2010) como
uma ideia interessante pois poderia:1-Reduzir a assimetria de informação entre os
principais interessados para que gestor possa mais facilmente criar ainda mais valor; 2-
para visualizar o interesse dos financiadores, clientes, fornecedores, comunidades e
empregados de forma conjunta; 3-assumir a continuação da corporação através do
tempo. O que pode acontecer de forma à transformar tal conselho em um "mecanismo
de governança" muito eficaz para ajudar os gestores a criar o maior valor possível para
os stakeholders.
Dentro desse contexto, alguns pesquisadores têm observado que os diálogos
entre os stakeholders têm induzido novas formas de integração, denominadas por
roundtables, termo que é utilizado para definir um grupo de multi-stakeholders que
discutem sobre seus temas de interesse comum, criando normativas, novos conceitos de
produção, comercialização e soluções comuns para o produto ou para cadeia produtiva
em foco de acordo Azevedo et al (2014). Para Wang (2011), apresentam-se como
alternativas eficientes para a regulação governamental convencional, para resolver
complexos problemas ambientais, devido especialmente a sua grande variedade de
stakeholders, como ocorre com o Environmental Council, do Reino Unido, Global
Dialogue on Water, Food and Environmental e o Murray Darling Iniciative of Australia
que promovem discussões através do uso de Diálogos entre stakeholders.
6. Conclusões
Pensar nos interesses de todos os stakeholders em processos de tomada de
decisão pode ser mais complexo e consequentemente mais custoso. No entanto deve-se
observar que quanto maior forem as externalidades geradas pelas transações
principalmente no que se refere a externalidades ligadas a meio ambiente e a questões
sociais, os stakeholders serão afetados em maior grau por essa decisão.
Concluindo, pode-se observar uma interação entre a ECT e a teoria dos
stakeholders, de certa forma observa-se complementariedades que podem ser discutida
em trabalhos futuros como, por exemplo, a possível redução da assimetria de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
informação entre os principais interessados nas transações que pode acarretar
em uma redução dos custos de transação nos contratos. A melhor visualização dos
interesses dos vários stakeholders pelos gestores o que pode melhorar nas tomadas de
decisão dos mesmos. Além da criação de possíveis mecanismos de governança para as
organizações através do diálogo com seus stakeholders para assim poder criar o maior
valor possível a esses Stakeholders. Por ultimo é necessário um aprofundamento maior
nas teorias e na identificação de convergências e divergências entre elas no que se refere
a contratos.
Referências:
AZEVEDO, D, B; PEDROZO, E, A; MALAFAIA, G, C. Diálogos entre stakeholders: uma proposta para o agronegócio brasileiro
RAD Vol. 14, n. 2, Mai/Jun/ Jul/Ago 2012, p. 76-101.
Barzel,Y.. Organization Firms and Measurement Costs. Congresso da International Society for the New Institutional Economics.
Berkeley, California, 2002
Donna Wood, R. Edward Freeman, Michael Jensen, Thomas Donaldson,and Ronald Mitchell, and concluding comments by Bradley
Agle and Ronald Mitchell. DIALOGUE: TOWARD SUPERIOR STAKEHOLDER THEORY; national meeting of the Academy of
Management; 2007
Donaldson, T & Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, & implications. Academy of
Management Review, 20, 65-91.
CLARKSON, M. B. E. A stakeholder framework for analysing and evaluating corporate social performance. Academy of
Management Review, Mississippi, v. 20, n. 1, p. 92-117, 1995
FREEMAN, R. E.; EVAN, W. M. Corporate governance: a stakeholder interpretation. TheJournal of Behavioral Economics,
Washington, v. 19, p. 337-359, 1990.
FREEMAN, R. E. Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman/Ballinger, 1984.
Freeman, R, E ; Harrison, J, S; Wicks,A, C; Parmar,B, L; Colle, S. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge
University Press. 2010
Hart,O. Firms, Contracts and Financial Structure. Clarendon Press, Oxford, 228p. 1995
Hill.C.W.L & Jones.T. Stakeholder-Agency Theory. Journal of Management Studies. 29:2. 1992
JONES, T. Instrumental stakeholder theory: a synthesis of etichs and economics. Academy of Management Review, Washington, v.
20, n. 2, p. 404-437, Apr. 1995.
Williamson, O, E. The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. American Journal of Sociology, Vol. 87, No. 3
(Nov., 1981), pp. 548-577. 1981
Parmar, Freeman, Harrison, Wicks, and DeColle, Stakeholder Theory: The State of the Art, Cambridge, U.K.: Cambridge
University Press, 2010.
Pratt,J.W. and Zeckhauser,R.J.. Principals and Agents: The Structure of Business. Harvard Business School Press. P. 241; 1985
TEN BRINK, P. (Ed.). Voluntary environmental agreements: process, practice and future use. Sheffield: Greanleaf Publishing,
2002.
Thorelli, H.B.. Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic Management Journal.7, pp: 37-51. 1986.
Zylbersztajn,D. Papel dos Contratos na Coordenação Agro-Industrial: um olhar além dos mercados. XLIII Congresso da
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural – SOBER, Ribeirão Preto, 2005.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A EMERGÊNCIA DAS CADEIAS CURTAS E A RELOCALIZAÇÃO DO SISTEMA AGROALIMENTAR: JUSTIFICAÇÃO, VALORES E IDEOLOGIAS QUE MOVEM OS ATORES Strate, Mirian Fabiane1, Villarraga, Paula2 1 Bióloga -Mestranda em Desenvolvimento rural UFRGS, [email protected] 2 Psicóloga -Mestranda em Desenvolvimento rural UFRGS, [email protected] Resumo. O presente artigo parte da análise dos sistemas agroalimentares conceitualizados como regimes ou império traçando o panorama da emergência de alternativas ao sistema hegemônico. A partir de um estudo de caso, analisamos postulados do campo da psicologia sobre valores e ideologias promovidos pelo capitalismo, em contraposição as práticas de produção e comercialização de um Colhe Pague, que adota os princípios da agroecologia como forma de justificação social. A emergência das cadeias curtas, relocaliza o sistema agroalimentar, que na escala local, acionam nos atores sociais, valores diferentes que os operacionalizados pelos mercados de escala global, buscando um desenvolvimento que promova a autonomia, a solidariedade e o bem viver das pessoas.
Palavras-chave. Sistemas Agroalimentares - Valores - Justificação – Agroecologia
THE EMERGENCE OF SHORT CHAINS AND RELOCATION OF AGRIFOOD
SYSTEM: GROUNDS, VALUES AND IDEOLOGIES MOVING THE AGENT
PEOPLE Abstract. The present paper is aimed at to present the analysis of agrifood systems conceptualized as regimes or empire by drawing the picture of the emergence of alternatives to the hegemonic system. From a case study, we analyze the field of psychology of assumptions about values and ideologies promoted by capitalism, as opposed production practices and marketing a Pay after Harvest, which adopts the principles of agroecology as a form of social justification. The emergence of short chains relocates the agrifood system on a local scale, triggering on social actors, which have different values than those operated by the global markets, seeking a development that promotes autonomy, solidarity and good living among the people.
Keywords. Agrifood systems - Values - Justification – Agroecology
Introdução
Historicamente as sociedades humanas têm requerido formas de organizar sistemas agroalimentares que permitam a produção, aprovisionamento e consumo dos alimentos. Embora, seja difícil falar dos diferentes sistemas ao longo do tempo e suas caraterísticas próprias, existe um certo consenso sobre o sistema predominante a partir do século 21 caraterizado como um modo de ordenamento com práticas generalizadas de desterritorialização, artificialização, padronização e oligopolização da produção e do consumo alimentar (NIERDELE,2013). Partindo deste referencial, este artigo irá abordar a emergência de alternativas alimentares como Foodshed , Food Hub e Nested Markets articuladas na “quality turn” e caraterizadas por alguns autores como nichos. Estas alternativas se apresentam como uma forma diferente de operar e enfrentar o regime ou império do sistema agroalimentar. A partir de um estudo de caso, a Agroecologia Ferrari,
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS vamos fomentar uma discussão do campo da psicologia sobre valores e ideologias promovidos pelo capitalismo, associados a poder e conquista visando compreender como estes valores e práticas da ordem hegemônica entram em conflito com valores como: cuidado, confiança, benevolência. A concepção sobre a justificação de Boltanski apresenta-nos uma chave para compreender as alternativas emergentes, como críticas à ordem hegemônica com potencial de construir uma nova ordem social.
ORDENAMENTO HEGEMÔNICO DO SISTEMA AGROALIMENTAR
Harriet Friedmann (1993), assinala que a partir dos quatro últimos séculos, e mais intensamente nos últimos 100 anos, a alimentação e a agricultura passaram a ser organizadas em escala mundial. A especialização da produção agrícola estendida entre continentes abriu um vasto espaço onde as pessoas vivem e a origem dos produtos que consomem, entre o trabalho que realizam e os objetos que utilizam. Segundo a autora, a relação entre as pessoas, e, entre as pessoas e o seu território tornam-se organizadas em uma escala para além da observação direta, o que para ela foi um divisor de águas na história humana.
Segundo McMichael (2009), as grandes corporações submetem a produção a uma lógica especulativa e buscam tirar proveito dos preços em alta, agravando as crises de abastecimento alimentar. Elas controlam os preços que são pagos aos produtores e os preços que são cobrados no mercado, isto é possível por que alimentos tornaram-se commodities e são vendidas nos grandes mercados internacionais, portanto sujeitos ao capital especulativo do sistema financeiro, a financeirização da agricultura. Com o slogan de acabar com a fome, criam novos pacotes tecnológicos que demandam alto investimento de capital para os produtores, com grande uso de insumos externos e baixo uso de mão de obra, assim por meio de monoculturas, conseguem obter produtos uniformes adequados à cadeia de processamento industrial. Evidentemente, quem vende esses pacotes são as mesmas corporações que irão processar o produto. Nos últimos anos vemos a ocidentalização dos padrões alimentares com o aumento do consumo de carnes (bovina, suína e frango), em regiões em que estes alimentos não são consumidos como a Ásia. Alguns autores o chamam de Regime Alimentar Corporativo, pois as grandes corporações dominam cadeias inteiras relacionadas aos alimentos, apropriam-se dos recursos naturais e, em muitos casos, possuem braços em outros setores, como mineração ou farmacêutico.
Para Ploeg (2008) o que Mc Michael e Fridmann nomeiam como regime será caraterizado como Império. Este conceito resume para o autor a caraterização de uma nova super estrutura dos mercados globalizantes, enfatizando a tendência desse modo de ordenamento para marginalização e destruição do campesinato. O modo de ordenamento na atual fase de globalização, tem um conjunto de normas e parâmetros gerais que governam todas as práticas locais. Sua caraterística é a conquista continuada de espaços que antes eram relativamente autônomos. Assim o império opera para assegurar controlabilidade e explorabilidade, além de um fluxo de caixa e renda, definido centralmente a imposição de procedimentos universais que sancionam as práticas. Nessa ordem, a codificação e a formalização estão sempre no perigo de aniquilar a condição de agente dos camponeses porque o desvio das normas é tomado como uma infração.
No entanto, a diferença mais notória de Ploeg (2008) com respeito ao conceito de regime, é o poder de agência dos camponeses, que para o autor configura a emergência
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS de resistências, pressão da contraposição, novidades, alternativas e novos campos de ação. O autor defende a mudança paradigmática da modernização agrícola para o desenvolvimento rural, substituindo teórica, prática e politicamente o paradigma anterior, neste cenário ocorre a emergência das cadeias curtas. Além dos “turns” do consumo e da qualidade, outra motivação para esse processo estaria nas estratégias, nas práticas, nas identidades, nas políticas, nas instituições e nas novas redes incorporadas ao rural. O produto ao chegar ao consumidor envolto de informação, permite fazer conexões e associações com um mínimo de dados sobre o lugar e o espaço onde foi produzido, os valores e pessoas envolvidas e os métodos empregados. A singularidade do produto está imersa em um sistema de valores e práticas específicas, quanto mais escasso ele é no mercado pela distinção de suas qualidades e proveniência mais valorizado será.
A EMERGÊNCIA DE ALTERNATIVAS : FOODSHEET, FOODHUB E NESTED
MARKETS A emergência de alternativas alimentares como Foodshed, Food Hub e Nested
Markets articuladas na intercooperação e caraterizadas como nichos, apresentam na visão dos autores uma forma diferente de operar e enfrentar as formas convencionais do mundo industrial e mercado caraterizadas como Regime ou Império. As alternativas ocorrem a nível local, estão além de uma relação comercial, pois privilegiam a proximidade e a solidariedade, estabelecendo uma parceria entre produtores e consumidores.
Conforme Ploeg & Schneider(2015), estas novas práticas de desenvolvimento rural tornam-se sinérgicas a medida que desenvolvem três características: o fortalecimento da autonomia sobre os recursos localmente disponíveis, através da produção de novidades buscando soluções locais e originais que ajudam a evitar a dependência externa. Outro aspecto importante é a multi -funcionalidade, da propriedade, ou seja, o desenvolvimento de uma gama de produtos e serviços, visando o aproveitamento integral de todos os recursos disponíveis. Uma terceira característica importante é que as diferentes práticas estejam interligadas através de redes horizontais, criando relações de reciprocidade.
Novos padrões de relações de consumo se desenvolveram e prosperaram simultaneamente em diversos países com diferentes nuances e suscitaram diferentes formas de Políticas Públicas. Conceitos e iniciativas como Foodsheds, Food miles, Slow food, Nested Markets programas de articulação da gastronomia regional com produtos típicos e as compras governamentais de produtos locais são novas referências em abastecimento. Na velocidade destas transformações, o conceito de “cadeias curtas” tem abrigado, do ponto de vista institucional, as diversas formulações e valorizações destas novas relações. Embora os circuitos curtos se estabeleçam em modelos de comercialização fora das Centrais de Abastecimento, não são contraditórios ou antagônicos às cadeias globais, pela questão de escala produtiva e acesso aos mercados.
EMERGÊNCIA DE NOVIDADES NO VALE DO TAQUARI: A AGROECOLOGIA FERRARI
O Vale do Taquari está localizado na macrorregião nordeste do Rio Grande do Sul, é formado por 36 municípios que totalizam 316.298 habitantes. Desse total 72,08 % residem em áreas urbanas e 27,92% em área rurais. A ruralidade da região é representada por 31.645 propriedades com área média de 13,32 hectares, com produção de milho, erva-
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS mate e fumo. Na produção animal destacam-se bovinos, suínos e frangos, com destaque no Rio Grande do Sul, pelos sistemas integrados de produção das cadeias do leite e da carne de suínos e frangos, possui agroindústrias com marcas de reconhecimento nacional.
Conforme Schultz et al. (2009), a agricultura orgânica na Região do Vale do Taquari está presente em 15 municípios, representando 42% do total de municípios. Foram identificadas 66 propriedades com produção orgânica, representando 0,26% do total de propriedades existentes na região. Esse percentual se aproxima da média brasileira, onde os dados divulgados demonstram a existência de 15.000 propriedades com produção orgânica em nem todo o Brasil, ou seja, 0,27% do total. Podemos perceber que a atividade não atende a demanda de consumo, o que justifica-se pela pouca disponibilidade de assistência técnica, ausência de políticas públicas de incentivo em grande parte dos municípios e a falta de gerenciamento e coordenação das cadeias produtivas .
No contexto da diferenciação e emergência das cadeias curtas destaca-se no município de Arroio do Meio, a Agroecologia Ferrari que desde 2003 produz alimentos orgânicos. A proprietária Márcia, juntamente com o marido, Carlos Ferrari, buscam planejar e sistematizar as culturas na propriedade de 6,4 hectares, mas com apenas meio hectare é destinado à horta. Com o sistema de Colhe e Pague implantado no local, os visitantes que chegam à propriedade recebem uma cesta e um chapéu de palha e vão para a horta. Em meio aos canteiros, eles colhem as hortaliças, as frutas e os legumes que pretendem levar para casa. A proprietária e idealizadora, acompanha o cliente e explica sobre o controle biológico de pragas utilizado na produção dos orgânicos e dá uma aula de nutrição, ao falar da qualidade nutricional dos alimentos que produz. Para Márcia, o sucesso do Colhe e Pague, que duplicou as vendas na propriedade e ultrapassou os ganhos dos produtos comercializados para supermercado, feira do produtor e alimentação escolar, é a culminância do trabalho de 11 anos com a horta orgânica. Além do incremento nas vendas, a inovação incorporou no dia a dia dos Ferrari uma série de procedimentos de controle gerencial. Monitorar as entradas e saídas de caixa, calcular o preço de venda dos alimentos por quilo e organizar a propriedade de forma adequada para receber visitantes. A Agroecologia Ferrari é uma das propriedades orgânicas familiares certificadas do Vale do Taquari pela Rede Ecovida, a família toda se envolve nas atividades, o marido organiza os espaços e cuida da horta, Márcia recebe os visitantes e faz o gerenciamento da produção, a filha Ellen , de 13 anos, divulga as atividades nas redes sociais. A propriedade é muito visitada nos finais de semana, para Márcia acompanhar os visitantes, é muito gratificante, ela considera a atividade uma terapia, uma forma de fazer amizades, pois muitos clientes vem todos os finais de semana.
“Investimos em planejamento da plantação, compra de insumos, e na relação com os clientes, custos e vendas. Em relação à sistemática de cultivo, tudo é observado e controlado. Cuidamos da forma do plantio, sazonalidade, controle biológico, tudo rigorosamente acompanhado. O visitante que vem aqui além da experiência de colher seus alimentos, vai aprender a produzir de forma agroecológica”( Márcia Inês Sbruzzi Ferrari, proprietária do Colhe e Pague)
A propriedade faz parte de um roteiro turístico local, Caminhos da Forqueta, organizado na comunidade a partir da organização dos produtores que buscavam alternativas às cadeias tradicionais de produção de leite, aves e carnes. O roteiro foi implantado com assessoria técnica do SEBRAE, Dona Márcia foi ganhadora do prêmio SEBRAE Mulher de Negócios Ciclo 2013, na categoria Produtora Rural, pelo caráter
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS inovador em sua propriedade. A propriedade da família Ferrari é considerada um modelo de desenvolvimento no Vale do Taquari, pois seus proprietários de forma autônoma e resistente se propuseram a repensar o rural, desta forma acabam incidindo diretamente na configuração do espaço social e material, provocando adaptações e transformações, recriando a dinâmica comunitária e de desenvolvimento local.
O Colhe e Pague Ferrari através da relação entre produção e consumo, iniciam um processo de reconstrução da realidade social, não restrita somente a fatores ambientais como solo, água, fauna e flora, mas abrange questões que envolvem aspectos sociais, culturais e econômicos. Gliessman (2000), definiu agricultura sustentável como aquela que reconhece a natureza sistêmica da produção de alimentos, forragens e fibras, equilibrando, com equidade, preocupações relacionadas à saúde ambiental, justiça social e viabilidade econômica, entre diferentes setores da população, incluindo distintos povos e diferentes gerações.
PROBLEMATIZANDO AS IDEOLOGIAS, VALORES E JUSTIFICAÇÕES NO SISTEMA AGROALIMENTAR
O exercício de analisar as alternativas em relação aos valores que são promovidos nas cadeias curtas, poderia complementar a discussão de como gerar uma mudança sistêmica de escala mais ampla no sistema agroalimentar, assunto que parece uma recorrente pergunta e crítica a estas alternativas alimentares emergentes. Nesse sentido, o artigo tenta articular uma discussão sobre as ideologias, valores e práticas que organizam o funcionamento do sistema hegemônico e seus efeitos na vida das pessoas, numa tentativa de reconhecer o papel dos valores promovidos pelos sistemas sócio- econômicos e as suas possíveis mudanças. Os estudos sobre o conflito de valores e alvos do sistema capitalista de Kasser, Cohn, Kanner e Ryan (2007), mostram que os contextos que privilegiam os valores associados ao dinheiro, consumo, poder e competência, caraterísticos na lógica capitalista, debilitam e não estimulam os valores da benevolência, sentido de comunidade e cuidado do planeta. Isso tem implicações estruturais, no sentido de revelar as justificações e a agência de iniciativas como as do Colhe e Pague Ferrari.
Para realizar a análise que é proposta pelos autores, é introduzido o modelo de Schwartz, (1992; 1996) no qual os valores humanos e alvos são organizados em um círculo. Na figura, os alvos que são consistentes entre si são adjacentes no círculo, enquanto que alvos em conflito estão no lado oposto do círculo. Assim Schwartz (1992,1996; citado por Kasser et al., 2007, Fig 1) no seu modelo, caracteriza os valores de Auto- Realce (Conquista e Poder) em oposição aos valores de Auto-trascêndencia (Universalismo e Benevolência). Os valores do primeiro grupo, segundo Schwartz, citado por (Kasser et al., 2007) são conceitualmente emparelhados com os valores primários do capitalismo. A fala e modo de agir de Dona Márcia, transparecem a preocupação com a qualidade de vida de seus clientes, relações de reciprocidade e amizade, além da preocupação com o desenvolvimento comunitário, valores que estão além de meras relações mercantis capitalistas motivadas por valores de Auto- realce (Conquista e Poder) como postulado por Schwartz (1992,1996; Fig 1 citado por Kasser et al., 2007). Ao apropriar-se dos princípios da agroecologia, como forma de justificação de seu modo de vida, ela age motivada significativamente pelos valores de Auto-transcêndencia (Universalismo e Benevolência).
Figura 1. Modelo circumplexo de valores. Nota: Esta figura foi publicada originalmente em Experimental Social Psychology (Vol.25,pp 1-65). Copyright.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Reconhecendo a importância do estudo de Kasser et al (2007) no campo da psicologia, mas ao mesmo tempo, o limite de uma análise que compreende os motivos pessoais como se fossem meramente transformações de interesses estruturais, Boltanski (1999) coloca em relevância uma questão que vem complementar a discussão. O autor explica que os motivos que as pessoas têm para agir não estão simplesmente determinados por uma filiação a uma estrutura e assim sugere pensar os motivos morais ou os ideais das pessoas em suas ações cotidianas. Como o autor mesmo coloca, a dificuldade de se posicionar na análise meramente estrutural é que a partir dela não é possível responder uma questão central: Qual é o papel na vida social, das múltiplas críticas, justificações e referencias, aos ideais que surgem da vida cotidiana? Em que medida, nossos valores e atitudes são definidos pela estrutura social que estamos inseridos?
A família Ferrari, ao abandonar a agricultura convencional e adotar a produção de alimentos orgânicos seguindo os princípios da agroecologia, se opõem à ordem hegemônica, adotando outros princípios de vida, de produção e construção de relações, resgatando os valores e alvos da auto- transcêndencia de Kasser et al (2007) colocando aspirações nos seus projetos que estimulam um sentimento de comunidade e confiança. Em linhas gerais a agroecologia pretende apoiar a transição dos modelos de agricultura e desenvolvimento, insustentáveis, para modelos sustentáveis, conciliando a atividade agrícola e a manutenção das características ecológicas do ambiente, proporcionando meios dignos para as pessoas envolvidas. Está além da simples substituição de tecnologias e insumos, além da crítica aos métodos de produção, mas também aos objetivos finais da produção, assim como as formas de organização social, econômica e política que a originam e sustentam.
Segundo Boltanski e Thévenot (1999), situações de crítica tem como característica primeira o fato de que “as pessoas nelas envolvidas estão sujeitas a um imperativo de justificação”. Na justificação, tanto a crítica quanto a defesa dependem de um procedimento de comprovação: os atores que defendem estar de acordo com algum princípio de bem comum, precisam apresentar provas, situações e experiências que interliguem a situação e as grandezas a serem justificadas (ou criticadas) que são voltadas para a “ afirmação situada da agência de si”, portanto, um fenômeno de resistência. Se
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS olharmos que tanto no exercício da crítica quanto no exercício da justificação as pessoas expressam valores morais ou valores de justiça que tem importância para elas, nesse sentido devemos entender que a crítica representa um momento especial na vida social, um momento, de descontinuidade em uma rotina de não questionamento das ações no entorno. Trata-se de um momento no tempo no qual, segundo os autores, “pessoas, envolvidas em relações cotidianas, que estejam fazendo coisas juntas (...) e que têm de coordenar suas ações, chegam à conclusão de que algo está errado; de que eles não podem manter-se daquela forma por mais tempo; de que algo deve mudar”. Agir no social, dessa maneira, passa a ser deparar-se com os desafios situacionais e lançar mão competentemente de coisas do mundo para dar conta das ações/situações.
A agroecologia e a agricultura convencional capitalista contrastam -se em seus modelos produtivos, tomando a natureza como objeto. Em ambos os casos, a produção está vinculada a cosmovisões de mundo: enquanto a Agroecologia se nutre dos saberes culturais dos povos, de valores tradicionais que vinculam o momento da produção com as funções simbólicas de auto transcendência e o sentido cultural do metabolismo social com a natureza, a agricultura capitalista se funda na crença no mercado e na valorização da especialização tecnológica do processo e do crescimento sem limites, da busca pelo poder e conquista. Muito mais que uma mera crítica ao sistema agroalimentar, os princípios agroecológicos quando internalizados não configuram apenas uma outra forma de produzir, mas provocam a emergência de valores simbólicos inerentes ao ser humano, porém abafados pela cultura capitalista naturalizada na sociedade.
A emergência das cadeias curtas, relocaliza o sistema agroalimentar, que na escala local, acionam nos atores sociais ,valores diferentes que os que são operacionalizados pelos mercados de escala global, possibilitando que as interações mercantis sejam menos impessoais e mais enraizadas na sociabilidade, passando a considerar a ética, a confiança, a cooperação, fomentando alternativas ao sistema hegemônico, buscando um desenvolvimento que promova a autonomia, a solidariedade e o bem viver das pessoas.
Conclusão
Neste artigo, temos ressaltado especialmente o peso dos valores e instituições que suportam a ideologia dos sistemas hegemônicos num nível estrutural, mas também temos reconhecido a influência da crítica e as justificações na configuração de um novo ordenamento, como menciona Boltanski desde o nível do cotidiano, e desta forma este trabalho apresenta uma tentativa de evidenciar a agência social das alternativas alimentares, capazes de reconfigurar ao nível coletivo uma outra ordem social. Neste sentido, entendendo que os indivíduos possuem um “capital cultural” herdado do núcleo familiar (saberes, técnicas, modos) e consequentemente nesta instância começam a desenvolver comportamentos naturalizados, Arcos(2011) citando a Boltanski, considera evidente que certas justificações sociais são aceitadas pelos sujeitos como justificações ou são negadas como tal, determinando na maioria das vezes, as condições para a reprodução social. Se concordamos com o fato de que o alimento faz parte de um sistema que o privilegia como uma simples mercadoria, talvez a pergunta seja como deslocar a sua importância econômica e fomentar no sistema alimentar outro tipo de valores mais afins à transcendência. Seria possível, e em que contextos, desenvolver indicadores sociais e indicadores econômicos simultaneamente? Os autores que realizaram o estudo empírico dos custos psicológicos do capitalismo deixam a pergunta
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS aberta, incitando uma exploração acadêmica mais aprofundada. O que aconteceria se valores, ideologias e práticas da Auto- Transcendência fossem promovidos da mesma forma que são promovidos os de Auto- realce?
De qualquer forma Kasser et. al (2007) ressalta que todos os valores do modelo circumplexo convivem conosco, fazem parte do repertório cotidiano, mas diante das evidências, parecem estar ali com a potência de serem ativados e promovidos, ou pelo contrário, serem debilitados dependendo dos contextos. Nesse sentido, precisaríamos simplesmente de formas criativas para recordar permanentemente da importância dos valores de Auto- Transcendência para superar a racionalidade capitalista?
Caberia- nos perguntar se o Colhe e Pague da família Ferrari faz parte de um grupo de alternativas alimentares emergentes que constituem as condições da possibilidade de ação coletiva. Podemos olhar para as alternativas alimentares no seu conjunto como a via para tentar conciliar a lógica do interesse com a dos valores? Finalizando a análise que se faz neste artigo, parece significativo colocar essa questão cognitiva da crítica, a justificação e as argumentações como requisito fundamental visando uma mudança estrutural. As propostas teóricas de Boltanski, nos ajudam neste caso a compreender as justificações como uma forma (mas não a única) de definir uma ordem social e política entre as pessoas.
Agradecimentos
Agradeço à Sra. Márcia Inês Sbruzzi Ferrari por colaborar com esta pesquisa.
Referências Bibliográficas
ARCOS; H.E.R, Bernal J.C.G La justicia, la crítica y la justificación. Un análisis desde la perspectiva de la sociología pragmática. En Revista Colombiana de Sociologia. Universidad Nacional de Colombia. Vol 42. Num 1, 2011.
BOLTANSKY, Luc ;THÉVENOT, Laurent;The Sociology of Critical Capacity, European Journal of Social Theory 2(3): 359–377,1999
FRIEDMANN, H. 1993. The Political Economy of Food: A Global Crisis. New Left Review 197: 29-57.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da Universidade – UFRGS, 2000.
KASSER T, Cohn S, KANNER A.D, Ryan R.M Some Costs of American Corporate Capitalism: A Psychological Exploration of Value and Goal Conflicts. Psychological Inquiry by Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2007, Vol. 18, No. 1, 1–22
MCMICHAEL, P., 2009. ‘A Food Regime Genealogy’. Journal of Peasant Studies, 36(1): 139- 170..
NIEDERLE, Paulo André . Construção social de mercados e novos regimes de responsabilização no sistema agroalimentar. Revista Agriculturas (Impresso), v. 10, p. 4-7, 2013
PLOEG, J.D. van der. Camponeses e impérios alimentares. Porto Alegre: UFRGS, 2008.
PLOEG, J. D. van der. Newly emerging, nested markets: a theoretical introduction. In: HEBINCK, P.; PLOEG, J.D.; SCHNEIDER, S. (Org.). Rural Development and the Construction of New Markets. 1ed. Londres: Routledge, 2015. pp. 16 – 40.
SCHWARTZ, S. H (1992) Universals in the content and structure os values: Theory and empirical test in 20 countries. In M, Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, (Vol. 25) (pp.1-65). New York Academic Press.
SCHULTZ, Glauco; BARDEN, Julia, et al; Agricultura orgânica na região do Vale do Taquari/RS: Análise da estrutura e gerenciamento da cadeia produtiva de hortaliças orgânicas ; 2009. disponível em http://www.sober.org.br/palestra/13/1087.pdf, acessado em 10/07/2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Desvendando os sinais característicos da agricultura familiar que
fomentam o desenvolvimento territorial
Ox Sias D’avila1, Décio Souza Cotrim2
1Universidade Federal de Pelotas, [email protected] 2Universidade Federal de Pelotas, [email protected]
Resumo
A agricultura familiar apresenta alguns sinais característicos, que podem ser observados em suas relações
sociais, e, principalmente, no âmbito de mercado. Nesse artigo, dentre os sinais existentes, abordamos a
confiança, o espírito de cooperativismo e os laços fracos e fortes (GRANOVETTER, 1973), e se esses geram o
desenvolvimento de determinado território. Através de um levantamento teórico na literatura, encontramos
indícios nos quais sugerem que os sinais característicos encontrados na agricultura familiar permitam que
ocorra uma troca de experiências entre os agricultores, tanto material quanto cultural, além da oportunidade de
confiarem uns nos outros, e, acima de tudo, fomentam o desenvolvimento territorial. Porém, apenas os sinais
observados na agricultura familiar não são suficientes para promover o desenvolvimento territorial, necessita
estar em conjunto com recursos externos, como a implementação de políticas públicas, por exemplo,
responsáveis por boa parte de ações desenvolvimentistas
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Desenvolvimento Territorial; Sinais; Território.
Characteristic signs of family agriculture promoting territorial
development
Abstract
The family farming has certain characteristic signs, which can be seen in their social relations, and especially in
the market scope. In this article, from the existing signs, we approach the confidence, the spirit of cooperativism
and the weak and strong ties (GRANOVETTER, 1973), and these generate the development of the territory.
Through a theoretical survey of the literature, we found evidence of which suggest that the characteristic signs
found on family farms allow to occur an exchange of experiences among farmers, both material and cultural,
and the opportunity to trust each other, and above all foster regional development. However, only the signals
observed in family agriculture are not enough to promote regional development, needs to be in conjunction with
external resources such as the implementation of public policies, for example, and accounted for much of
developmental actions
.Keywords: Family Farm; Territorial Development; Signs; Territory.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
O primeiro indício de uso do termo “agricultura familiar”, foi na década de 1990, consequência de movimentos sindicais, melhoria de preços agrícolas, formas de comercialização mais rentáveis e diversificadas, implementação da regulamentação constitucional da previdência social rural, entre outras, que trouxe uma identidade própria de sindicalista ao trabalhador rural. Anteriormente, os agricultores familiares eram designados como pequeno produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda (SCHNEIDER, 2003). A agricultura familiar evoluiu ao longo dos anos, se adequou a cada fase e modernização que houve da agricultura, e conseguiu prosperar nos mais difíceis momentos.
Algumas vertentes teóricas consideram que os agricultores familiares são uma evolução do campesinato. Outros, defendem que o camponês ainda existe e que o agricultor familiar é uma classe a parte. Através de suas atribuições, a agricultura familiar se reproduziu e resistiu. Os produtores familiares, em décadas passadas, eram denominados camponeses. Karl Marx (1982), filósofo alemão, considera os camponeses uma classe única no sistema social, pois são proprietários do meio de produção, podendo-se tornar um empresário capitalista e trabalhador, tornando-se um trabalhador assalariado livre. O avanço do capitalismo, e consequentemente, a modernização do campo, levaria ao desaparecimento das pequenas propriedades em detrimento da ocupação de indústrias, e conduziria a extinção do campesinato (SILVA, 1986).
Segundo Jean (1994), as razões da sobrevivência da produção familiar durante as décadas foi: a capacidade de adoção de inovação; a interação dos agricultores e a formação de associações, organizações ou cooperativas; a introdução de tecnologia na agricultura, como os tratores Ford. Portanto, Marx estava errado quando teorizava sobre as pequenas explorações e o seu breve fim. As pequenas explorações, consideradas sem futuro, prosperaram e desenvolveram ganhos de produtividade tão extraordinários quanto os da indústria moderna.
O termo “desenvolvimento” pode ser definido como mudança, transformação, podendo ser positiva, desejada ou desejável. Significa fundamentalmente obter melhorias a partir de certas identidades culturais, em oposição, portanto, à perspectiva de convergência cultural inerente ao conceito de desenvolvimento como modernização, ou ao que alguns denominaram de weberianismo vulgar que toma desenvolvimento como transição da sociedade tradicional à sociedade moderna (MALUF, 2000).
No meio rural, é possível perceber, algumas características que são própria dos agricultores familiares e fazem parte de um território, como as relações de reciprocidade, a confiança, o cooperativismo, os laços entre os agricultores entre tantos outros. O grau de confiança, por exemplo, inseridos em algumas associações entre produtores, faz evoluir, por exemplo, relações entre os atores, e, que, possivelmente, fará desenvolver um território. Porém, a existência de comportamentos oportunísticos encontrados em algumas comunidades faz-se pensar que a individualidade de alguns produtores pode ruir um esquema que poderia ser tão eficaz. O poder econômico, muitas vezes é o responsável por essa individualidade. As associações entre os agricultores são benéficas pois dão mais oportunidades a agricultores com menor poder de produção e que se não tivessem essas associações, não teriam a possibilidade de comercializar a sua produção, além de aumentarem a diversificação de seus produtos como um todo.
Nesse sentido, o objetivo desse artigo é buscar e discutir quais as contribuições dos sinais característicos encontrados na agricultura familiar que podem promover o desenvolvimento de determinado território.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Metodologia
Este trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como o ato de buscar informações sobre determinado assunto, através de um amplo levantamento realizado em base de dados nacionais e internacionais, em periódicos, revistas e livros, cujo objetivo foi identificar a existência de artigos próximos ou similares a temática abordada. Este artigo baseia-se em uma revisão de literatura na forma de ensaio teórico, que segundo Meneghetti (2011), essa metodologia proporciona um melhor entendimento sobre a relação existente entre o sujeito e o objeto.
Resultados e discussão
Agricultura familiar
O segmento da agricultura familiar apresenta algumas características típicas em seu molde, como a utilização de mão-de-obra familiar, pequena dimensão de território de sua unidade produtiva, conservação de suas tradições culturais por diversas gerações, possuem racionalidade camponesa (ligado a atender as demandas da própria família e não as necessidades de mercado), conhecimento holístico e alta preocupação com o meio ambiente.
Uma característica típica dos agricultores familiares em relação ao trabalho é a sua pluriatividade. Os agricultores optam por diferentes atividades, urbanas ou rurais, mantendo a moradia e campo e uma ligação com a agricultura e a vida no espaço rural, que representa uma prática social que decorre da busca de outras fontes de renda, formas alternativas para garantir a sobrevivência e reprodução de suas famílias (SCHNEIDER, 2003). O fenômeno da pluriatividade está associado à crescente mercantilização da vida social e econômica dos agricultores familiares, a emergência de diferentes estilos de agricultura meio a um processo de inserção diferencial das unidades familiares aos mercados (NIERDELE, 2007).
A relação de identidade com a propriedade que a agricultura familiar apresenta, é outra característica que se destaca nesse segmento, pois eles valorizam o ambiente onde vivem e, geralmente, os antepassados do agricultor viveram e constituíram famílias nessa mesma unidade, o que torna essa propriedade carregado de um sentimento de posse e identificação (valores simbólicos).
A economia agrícola no Brasil, em grande parte, é influenciada por latifúndios que detém muitas parcelas de terra para a produção de poucas culturas, além disso, o mercado agrícola é dominado por grandes multinacionais. Essa forma de produção e comercialização exercem uma enorme pressão sobre os minifúndios, que não conseguem competir com os grandes latifúndios, por ter condição financeira deficiente e ter pouco ou nenhum apoio institucional, seja ele governamental, não governamental ou público. Segundo Abramovay (1998), esses agricultores se veem obrigados a procurar outras atividades para garantir seu sustento e sobrevivência de suas famílias, tendo que migrar para metrópoles onde terão mais oportunidades de trabalho ou ficando no campo, e trabalhando de forma assalariada, fora de sua propriedade.
O agricultor familiar moderno apresenta uma tríplice identidade: proprietário fundiário, empresário privado e trabalhador, e, deveria acumular renda por cada função. Como proprietário fundiário ele renuncia da renda fundiária para produzir, para que possa ser competitivo em relação a outras formas produtivas; é empresário privado pois possui seus meios de produção como as terras, máquinas, as benfeitorias, os animais, apesar de sua atividade ser
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS deficitária no plano contábil e; por fim, é, acima de tudo, trabalhador, pois trabalha por conta própria, com sua família, ainda que a produção familiar emprega assalariados (JEAN, 1994).
Sinais característicos da agricultura familiar
Os sinais mais proeminentes e mais facilmente encontrados na agricultura familiar são: a reciprocidade, a confiança, o cooperativismo, o associativismo, o capital social (BOURDIEU, 1980), a dádiva (MAUSS, 1974) e os laços sociais (GRANOVETTER, 1973). O resultado da aplicação desses sinais relacionando-os com o desenvolvimento territorial são os mesmos, pois todos contribuem de alguma maneira para o desenvolvimento de um território. A seguir descrevemos a confiança, o cooperativismo e os laços fracos e fortes (GRANOVETTER, 1973).
Segundo Putnam (1996), a confiança está diretamente relacionada com o capital social e suas interações que possam vir a ter nas relações sociais. Analisando a questão da confiança no processo de formação de redes de trabalho em um território rural, nota-se que para essas redes serem formadas, é necessário que os atores envolvidos manifestem a reciprocidade, o cooperativismo e acima de tudo, a confiança em seus parceiros. Para que aconteça a formação das redes no meio rural, precisa haver confiança entre os produtores, fazendo a sua própria regulação que lhe garantam resultados mais efetivos em comparação de que quando comercializam seus produtos sozinhos ou que não depositam confiança em suas relações sociais.
O cooperativismo se caracteriza por ser um movimento social, e pode ser entendido como uma evolução do termo associativismo, o qual surgiu nas sociedades mais remotas pela necessidade de se encontrar soluções para ameaças e problemas comuns a determinados grupos de indivíduos. No modelo cooperativista, o capital financeiro produzido em uma determinada localidade retorna para todos os seus cooperados, seja na forma de investimentos em sua própria cooperativa ou por meio de uma política de distribuição de resultados. O ideal cooperativista tem como fundamento o desenvolvimento do capital humano, base da constituição de força de trabalho necessária para o pleno desenvolvimento das atividades econômicas.
Ainda que existam cooperativas agrícolas que visam somente o fator econômico, a acumulação de capital e possuam comportamentos oportunísticos por parte de seus agentes, nem todas as formas de cooperação são feitas dessa forma. A função de cooperar, que grande parte dos agricultores familiares possuem, não visa somente fins econômicos, visa, também, o bem estar social dos atores que estão envolvidos nessas cooperativas, elevando o social a um nível mais alto do que se impõe à oferta e à demanda. São observados nas ações de cooperativismo feitas por agricultores familiares a produção de valores materiais e a reprodução de valores humanos, como a reciprocidade, a confiança nos modos de redistribuição, a generosidade e a amizade entre os próximos, a responsabilidade e os valores culturais entre gerações.
Granovetter (1973) analisou os laços sociais existentes, e os classificou como fortes e fracos. Os laços fortes são aqueles que os indivíduos depositam mais tempo, emoção, afeto e trocas, como por exemplo a amizade, e geralmente esses laços são caracterizados por ligarem indivíduos de uma mesma família. Já nos laços fracos o investimento por parte dos indivíduos é menor, não tem tanto envolvimento emocional, são as relações mais afastadas como por exemplo com pessoas conhecidas ou colegas. Os laços fracos são decisivos porque estabelecem pontes entre as redes, permitindo assim o acesso a universos sociais diversificados e a uma maior variedade de informações.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Segundo Granovetter (1973), é através dos laços fracos que ocorre a expansão e forças das redes. A explicação se baseia, segundo ele, que se dois indivíduos têm relações fortes, é provável que haja uma superposição em suas relações, e a rede, como um todo, é relativamente limitada, ou seja, não evolui. Portanto, os responsáveis pela ampliação dos limites da rede, conectando grupos afastados sem ligações entre si, são os laços fracos. A importância dos laços fracos podem ser observadas em alguns atores, que através de seus laços e dentro de uma rede, conseguem atingir e mobilizar mais pessoas sem que haja perda de confiança.
Dimensões do território
O conceito de território não deve e não pode ser relacionado apenas aos seus respectivos estados nacionais e suas divisões administrativas (estados e municípios). Segundo Abramovay (2000, p. 6), o território possui uma maior abrangência, não se limitando a uma dimensão, pois “representa uma trama de relações com raízes históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico”, onde o território seria parte integrante do espaço de influência de uma sociedade, através de sua organização, sua cultura e práticas dentro de uma processo coletivo.
Para Marteleto e Silva (2004), as redes são sistemas compostos por “nós” e conexões entre eles que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos sociais (indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação. Para Haesbaert (2010), as concepções usuais de território se separam em três vertentes básicas: a jurídico-politica, caracterizada pela dimensão material, concreta, onde existe formas de poder, na maioria das vezes visto como o poder político do Estado; a culturalista, é composta pela dimensão simbólica, é visto sobre tudo como produto de apropriação/valorização simbólica de um grupo sobre o seu espaço e; por fim, a econômica, é bem menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações humanas e se destaca pelas relações capital-trabalho.
Desenvolvimento Territorial
O desenvolvimento territorial é compreendido por sua amplitude e em algumas abordagens, por sua multidimensionalidade. Segundo ABRAMOVAY (2000, p. 6), o território possui uma ampla abrangência, não se limitando apenas a uma dimensão e pode ser caracterizado como uma “uma trama de relações com raízes históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico”, onde o território seria parte integrante do espaço de influência de uma sociedade, através de sua organização, sua cultura e práticas dentro de uma processo coletivo.
A interação e a proximidade social identificadas nas dinâmicas territoriais, através das relações específicas de atores e organizações, e com a valorização de seus conhecimentos, tradições e ecossistemas, são um componente fundamental para a dimensão territorial do desenvolvimento (ABRAMOVAY et al., 2003).
Síntese dos achados
Os sinais estudados no artigo, como a confiança, a cooperação e os laços fracos e fortes, permitem que os agricultores familiares desenvolvam a si próprios e os demais que vivem em sua volta, e assim desenvolvam o território. Isso acontece pois esses sinais permitem que os agricultores familiares não fiquem estagnados, mas ao contrário, eles são os canais para que haja trocas não só materiais, mas culturais, de experiências e acima de tudo, de progredirem no território.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS A confiança, sendo um sinal encontrado na agricultura familiar, é uma característica basilar que pode vir a fomentar o próprio desenvolvimento de um determinado território a partir das relações que os agricultores possam vir a ter com outros agricultores, como por exemplo, a formação de uma cooperativa ou uma feira para comercializar seus produtos em diferentes âmbitos de mercado.
A partir do momento que um ator de determinada comunidade, passa a se comunicar com um ator de outra comunidade, estreitam seus laços e passam a fortalecer os laços fracos, que como foi visto anteriormente, é importante para a ampliação das redes territoriais. Essa interação entre indivíduos e grupos propicia, além de troca de novas informações, oportunidades no mercado de trabalho, desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida no meio rural, também, a troca de experiências nas práticas agrícolas, a troca de confiança e de valores culturais que cada agricultor carrega consigo. Esse acesso à informação, especialmente aquele existente fora do grupo, sejam elas repassadas por empresas, governos ou outro ator, tem papel fundamental na dinâmica do desenvolvimento territorial.
Com isso, através dos laços, da reciprocidade e da cooperação, os agricultores familiares podem formar associações e cooperativas, e assim, qualificar mais o seu produto no mercado, participando de mercados mais dinâmicos, competitivos e exigentes em inovações ou até de criarem novos mercados consumidores.
Conclusões
Os sinais característicos encontrado na agricultura familiar, através da confiança, cooperativismo e laços fortes e fracos (GRANOVETTER, 1973), servem de base para que todas as ações adiante sejam possíveis de se realizar. Esses sinais estão interligados e a existência de um, prioritariamente, depende da existência de outro. Por exemplo, para a formação e a continuidade de uma cooperativa, é necessário que haja a confiança e a existência de laços fracos entre os cooperados. É através desses sinais que os agricultores familiares podem formar organizações, associações ou cooperativas, permitindo a expansão de seus hábitos, de seus valores humanos, de suas culturas, e com isso, tornando-se chave principal para o desenvolvimento do território no qual ele está inserido.
Ainda que os sinais encontrados na agricultura familiar sejam fundamentais para promover o desenvolvimento territorial, apenas eles não são suficientes para fomentar esse desenvolvimento. Tem de haver forças externas, investimentos vindos de fora do território, que junto com as forças internas, propiciam o desenvolvimento. No Brasil, em se tratando de agricultura familiar, essa força externa tem sua origem muitas vezes, nos programas governamentais, em forma de políticas públicas, como o PRONAF, o Bolsa Família, ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências Bibliográficas
ABRAMOVAY, R. Agricultura familiar e desenvolvimento territorial. Reforma agrária, v. 28, n. 1, p. 2, 1998.
ABRAMOVAY, R. A rede, os nós, as teias: tecnologias alternativas na agricultura. Revista
de Administração Pública, v. 34, n. 6, p. 159 a 177, 2000.
ABRAMOVAY, R.; SAES, S.; SOUZA, M. C.; MAGALHÃES, R. Mercados do empreendedorismo de pequeno porte no Brasil. Pobreza e mercados no Brasil, uma análise
de iniciativas de políticas públicas, 2003.
BOURDIEU, P. Le capital social. Actes de la recherche en sciences sociales, v. 31, n. 1, p. 2-3, 1980.
GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380, 1973.
HAESBAERT, R. Território e multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia, v. 9, n. 17, 2010.
JEAN, B. A Forma Social da Agricultura Familiar Contemporânea: sobrevivência ou criação da economia moderna. Cadernos de Sociologia da PPGS/UFRGS, v.6, P.51-75, 1994.
MALUF, R. Atribuindo Sentido a noção de Desenvolvimento Econômico, Revista Sociedade
e Agricultura, UFRRJ, Rio de janeiro, 2000.
MARTELETO, R. M.; SILVA, A. B. de O. Redes e capital social: o enfoque da informação para o desenvolvimento local. Ciência da informação, v. 33, n. 3, p. 41-49, 2004.
MARX, K. O capital: o processo global de acumulação capitalista. São Paulo: Difel, v. 1, 1982.
MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades. Sociologia e
antropologia, v. 2, 1974.
MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio teórico. Revista de Administração
Contemporânea, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011.
NIEDERLE, P. A. Mercantilização, estilos de agricultura e estratégias reprodutivas dos
agricultores familiares de Salvador das Missões, RS. 218f. Dissertação (Mestrado) – Desenvolvimento Rural, UFRGS, 2006.
PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Revista Brasileira de
Ciências Sociais. São Paulo, v.18, n.51, p.99-121, 2003.
SILVA, O H da. Alguns comentários sobre o destino do campesinato em Marx. Revista
Economia Rural. Brasília, v.24, n.1, p. 101-116, 1986.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A qualidade das cervejas especiais como estratégia de mercado das microcervejarias de Porto Alegre
Ox Sias D’avila1, Fabio Clasen Chaves2, Mario Duarte Canever3
1Universidade Federal de Pelotas, [email protected] 2Universidade Federal de Pelotas, [email protected] 3Universidade Federal de Pelotas,[email protected]
Resumo
Como consequência do aumento da competitividade industrial e a crescente valorização em atender os desejos e
necessidades dos clientes, as empresas optam por estratégias que lhe garantam sobrevivência e vantagem
competitiva frente a seus concorrentes. O setor cervejeiro passou por algumas modificações nos últimos anos no
país. Novos hábitos de consumo propiciaram um novo nicho de mercado, o das cervejas especiais. Com isso,
tem se instalado no país nos últimos anos, um grande número de microcervejarias especializadas em produzir
cervejas especiais. Este artigo apresenta um estudo qualitativo que buscou identificar as forma de obtenção
qualidade dentro das microcervejarias e seu potencial como estratégia competitiva nesse mercado. Foram
entrevistas, utilizando questionário semi-estruturado, com microcervejarias localizadas no Bairro Anchieta, em
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O levantamento realizado com os gestores comprovou que o diferencial
qualitativo se apresenta como estratégia de mercado das microcervejarias e está ligado aos insumos e
processos de fabricação, sendo eles a mão-de-obra qualificada, a matéria-prima de qualidade, os equipamentos
tecnológicos e o conhecimento da técnica de produção.
Palavras-chave: Qualidade; Estratégia; Cervejas Especiais; Microcervejaria.
Quality of specialty beers as a market strategy of Porto Alegre microbreweries
Abstract
As a consequence of increasing industrial competitiveness and increasing value to meet the desires and needs of
customers, companies opt for strategies that ensure her survival and competitive advantage over competitors.
The beer industry has undergone some changes in recent years in the country. New consumption habits provided
a new market niche, specialty beers. Thus, in recent years, a large number of microbreweries specialized in
producing specialty beers has been installed in the country. This article presents a qualitative study aimed at
identifying how microbreweries obtain quality and its potential as a competitive marketing strategy for these
businesses. Interviews were conducted using a semi-structured questionnaire with microbreweries in Anchieta
burrow of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. The survey with the managers showed that the qualitative difference
represented a market strategy of microbreweries and is connected to raw materials and manufacturing
processes, skilled labor, raw material quality, technological equipment and knowledge of the production
technique.
.Keywords: Quality; Strategy; Specialty Beers; Microbrewery
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Introdução
A cerveja é uma bebida obtida a partir da fermentação alcoólica do mosto cervejeiro por leveduras. Seus principais componentes são o malte de cevada, a água e o lúpulo (MAPA, 2009). É uma das bebidas mais consumidas e difundidas mundialmente, e sua cadeia produtiva tem relevância para a economia de muitos países, a partir da geração de empregos, coleta de impostos entre outros (VARNAM; SUTHERLAND, 1997).
Atualmente percebe-se a emergência de um padrão de consumo que busca por sofisticação, distinção e qualidade, seja no mercado de vinhos finos, cafés ou cervejas especiais (STEFENON, 2012) independente dos altos preços. Tal atitude exerce influência direta no setor produtivo, que entende os sinais emitidos pela demanda e se reestruturam para atender diferentes nicho de mercado. As cervejas especiais parecem estar parcialmente substituindo as cervejas comuns produzidas em larga escala, de baixo preço e sem necessariamente atender atributos de qualidade buscados por consumidores críticos (MURRAY; O’NEILL, 2012). Novas cervejas, produzidas em pequena escala, de variados estilos, aromas e sabores, ainda que com preço elevado, tem se destacado por satisfazer a demanda de um nicho de mercado até recentemente desabastecido (ARAÚJO et al., 2003).
Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil em 2014 tinha em torno de 250 microcervejarias e atualmente esse número se elevou para 400 (MAPA, 2016). O Brasil, ocupa a quarta posição no ranking de produção de cervejas, tendo uma média per capita de consumo de cerveja de 47,6 litros (MAPA, 2014). Em 2016, a projeção de crescimento do mercado das cervejas especiais é de 10% (ABRACERVA, 2016).
A produção industrial é altamente competitiva e os consumidores parecem estar mais exigentes quanto a qualidade dos produtos. A qualidade precisa ser entendida como prática gerencial, assim indústrias que vislumbrem a qualidade como uma estratégia de mercado podem garantir sua sobrevivência e conseguir vantagens competitivas frente a seus concorrentes. A atenção com a qualidade deve estar presente ao longo da cadeia produtiva do campo à mesa.
Esse estudo teve como objetivo, através de uma análise qualitativa, analisar a qualidade como estratégia competitiva para a sustentação das microcervejarias e identificar os processos de obtenção da qualidade e sua relação com o mercado consumidor.
Fundamentação Teórica
Estratégias
Ao se falar em indústria, empresa ou ambiente organizacional e todos os processos envoltos, é pouco provável não estar incluído junto a esses termos a palavra estratégia. Ansoff (1979) sustenta que a estratégia é um processo que compõe uma empresa, possui controle e interação entre os dinâmicos ambientes interno e externo, visando a maximização dos lucros da organização. Segundo Mintzberg (1987), as estratégias são decisões tomadas pelas empresas a partir da racionalidade dos gestores, e podem ser influenciadas pelas limitações cognitivas de seus gestores e pelas imperfeições existentes no mercado.
Para Porter (1989), cada estratégia é caracterizada por um número de atividades que a sustenta e fortalece. Sendo assim, uma vantagem competitiva não advém do desempenho eficiente de algumas atividades, e sim do conjunto de atividades que amparam a estratégia.
Estratégias em microcervejarias
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Existem na literatura poucos estudos que versam sobre a temática das estratégias competitivas das microcervejarias. Algumas pesquisas sobre a indústria norte-americana apontam para a concorrência entre os mercados de cervejas em larga escala e das microcervejarias (WESSON; FIGUEIREDO, 2001). Outros tratam da concentração e distribuição do mercado cervejeiro influenciando nas decisões estratégicas (TREMBLAY et al., 2005). Há também estudos que tratam da análise da perspectiva do mercado microcervejeiro norte-americano sob a ótica da hiperdiferenciação e do marketing (CLEMONS et al., 2006).
Os estudos brasileiros analisam o mercado das cervejas especiais sob uma ou no máximo duas óticas. Kalnin (1999), em seu estudo, foca em estratégias voltadas ao produto. Rodrigues e Colmenero (2009) analisam as microcervejarias, especialmente focados nos serviços de distribuição. Stefenon (2012) analisa o produto das microcervejarias referentes à adoção de estratégias com foco na diferenciação, enquanto Moreira (2014) e Rocha (2015), focam no produto e serviço, respectivamente. Estes analisam a concorrência de mercado e a formulação de estratégias competitivas a partir da geração de conhecimento do processo produtivo. Por fim, Coelho-Costa (2015), aborda a temática sobre a perspectiva do turismo, onde as microcervejarias poderiam criar uma vantagem competitiva através do turismo cervejeiro.
Como em qualquer negócio, o sucesso parece estar associado a um conjunto de estratégias. Neste sentido, Keblan e Nickerson (2012), ao realizarem um diagnóstico das microcervejarias dos Estados Unidos, constataram que essas empresas utilizam principalmente as seguintes estratégias: qualidade, linha de produtos diversificada, distribuição, gestão da produção, marketing e vendas (Tabela 1). A partir dessas estratégias cada empresa direciona táticas que traduz no mercado o seu foco competitivo.
Tabela 1 – Estratégia competitiva das microcervejarias Estratégia Competitiva Tática
Qualidade Superior das
cervejas
Utilizam equipamentos automatizados e tecnológicos para a produção das cervejas. Utilizam apenas os melhores ingredientes disponíveis (cevada, lúpulo, fermento, etc.) para a elaboração dos seus produtos. A maioria dos fabricantes de cerveja obtém os seus insumos para a produção através de lojas de insumos e revendas.
Fonte: Adaptado de Keblan e Nickerson (2012).
Qualidade
A qualidade tem aspectos objetivos que incluem características intrínsecas do produto influenciadas for fatores intrínsecos (estabilidade química dos componentes), extrínsecos (temperatura, atmosfera gasosa, luminosidade) e subjetivos serve para satisfazer uma certa necessidade do consumidor. Qualidade ótima é quando a combinação de atributos objetivos tem o máximo de aceitação pelo consumidor (SIMPSON, 2012).
A qualidade vem se tornando um parâmetro de diferenciação de produtos e serviços há bastante tempo e a construção de sua definição vem sofrendo modificações no decorrer dos anos. Para Juran (1951), a qualidade está atrelada a adequação ao uso dos produtos e tem como objetivo principal satisfazer a necessidade dos clientes. Feigenbaun (1961), também analisa a qualidade dos produtos por essa ótica, onde a principal função é atender as exigências dos clientes. Já Crosby (1979), afirma que produtos ou serviços são de qualidade quando estão em conformidade com as exigências estipuladas pelos clientes.
A qualidade, também, pode ser utilizada como estratégia nas organizações, visto que impacta no market share e no retorno de investimento das organizações (PHILIPS, CHANG E
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS BUZZEL, 1983). Ainda, segundo Gavin (1983), a qualidade pode impactar positivamente na produtividade das empresas bem como reduzir os custos de produção. Dentro das empresas, a qualidade dos produtos e serviços pode ser obtida a partir da automação do processo produtivo (FLEURY, 1990; FARIA, 2003), de equipamentos de alto padrão tecnológico (FREEMAN; SOETE, 1997) e matéria-prima de alta qualidade (MOURA, 1996).
Segundo Campos (1992), um produto de qualidade é aquele que atende de forma segura e confiável todas as exigências dos clientes. A qualidade de um produto pode ser descrita a partir de um conjunto de características favoráveis que resultam em um desempenho superior do produto, resultante de processos em toda cadeia produtiva, afetando o preço final do produto (CASWELL; MOJDUSZKA, 1996).
A qualidade pode ser definida sob a ótica do cliente, denominada como qualidade percebida. Seguindo essa lógica, Anderson e Fornell (1994) definem qualidade como um conjunto de atributos que aumentem o desempenho do produto na qual o cliente precisa e que lhe satisfaça. A qualidade percebida pode ser entendida como a avaliação que o cliente realiza sobre o produto e serviço, baseado na confiabilidade (ZEITHAML; BITNER, 2003).
Quando se trata da qualidade dentro do nicho de mercado das cervejas especiais, essa característica pode ser uma ferramenta fundamental para se obter vantagem competitiva frente a concorrentes, pois segundo Araújo et al. (2003), a qualidade impacta no comportamento do consumidor, que preza por produtos de qualidade elevada e que satisfaçam seus desejos.
Metodologia
Na realização dessa pesquisa, optou-se por utilizar uma abordagem metodológica qualitativa. As pesquisas qualitativas têm como finalidade a aproximação da teoria e dos fatos, a partir da descrição e interpretação dos dados obtidos, seja em conjunto ou únicos, ressaltando a relação entre o contexto e a ação. Ainda, a abordagem qualitativa propicia uma análise mais aprofundada do fenômeno estudado, ressaltando o nível de realidade que não pode ser quantificado (MINAYO et al.¸ 2001).
O trabalho é caracterizado por ser um estudo de caso múltiplo objetivando explorar e conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema através de levantamentos bibliográficos e visitas as microcervejarias com entrevistas aos seus gestores. O estudo de caso busca retratar a realidade completa e profunda, bem como, através de um questionamento empírico, buscando investigar um fenômeno dentro de sua realidade (YIN, 2001).
Seleção dos entrevistados
Para fins de delimitação dos entrevistados, as entrevistas foram realizadas apenas com os gestores das microcervejarias. As entrevistas foram baseadas na teoria de Keblan e Nickerson (2012) sobre a qualidade superior do produto das microcervejarias e foi composta por sete perguntas. A pesquisa focou apenas nas microcervejarias formalizadas, ou seja, aquelas com registro de operação emitido pelo MAPA. Foram entrevistadas oito microcervejarias através de um questionário semi estruturado e aberto. A realização dessas entrevistas se deu na segunda quinzena do mês de novembro de 2015, em Porto Alegre, mais precisamente no bairro Anchieta. O número de microcervejarias formalizadas no bairro Anchieta são nove, onde juntas produzem cerca de 110 mil litros de cerveja por mês.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Procedimentos analíticos e de interpretação dos dados
As entrevistas foram gravadas, transcritas e a partir dessas informações realizou-se a análise de conteúdo. Segundo Malhorta (2006), a análise de conteúdo é uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa dos dados observados e de seu conteúdo. A coleta de dados foi realizada por meio da análise de documentos e entrevistas, pois são essas as fontes mais utilizadas no estudo de caso (GIL, 1991). A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), é dividida em três etapas: começando com uma pré-análise do material obtido; passando pela categorização e codificação dos dados e por fim, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Para facilitar a análise de conteúdo, foi realizada a técnica de categorização, através do software ‘Maxqda®’, que separou os dados obtidos em categorias e subcategorias.
Análise dos resultados
A análise de conteúdo propiciou a construção da dimensão estratégica referente a qualidade, bem como seu constructo, categorias e táticas (Tabela 2).
Tabela 2 – Dimensão estratégica, constructo, categoria e subcategoria da qualidade Dimensão Constructo Categoria Subcategoria
Qualidade
Qualidade do produto
Insumos
1.Equipamentos tecnológicos 2.Matéria-prima de qualidade
3.Mão-de-obra qualificada 4.Mix dos três
Processos
1.Higiene na produção 2.Conhecimento da técnica é o
principal fator para se obter qualidade Fonte: Elaborado pelos autores
A figura 1 traz o panorama geral do que foi obtido pela análise de conteúdo das entrevistas. Os gestores, ao serem perguntados sobre o que compõe a dimensão qualidade como estratégia competitiva no mundo das cervejas especiais, salientaram sobremaneira a categoria insumos produtivos. A importância é dada pela frequência com que os gestores citaram a referida categoria e subcategoria. Na Figura 1, esta métrica é sinalizada pela espessura da seta que liga o constructo à categoria e subcategoria. Assim, os insumos são imprescindíveis para a obtenção da qualidade, inclusive em um nível de frequência superior à categoria dos processos. A tática ou subcategoria que recebeu mais destaque dentre todas, é diretamente relacionada aos insumos (categoria). Esta subcategoria é a combinação de equipamentos tecnológicos, matérias-primas de qualidade e mão-de-obra qualificada, a qual foi nominada de ‘mix dos três’. Portanto, para os gestores, há a necessidade de múltiplos insumos superiores e não apenas um ou outro.
Apesar de não ter sido a categoria mais citada durante a pesquisa, os processos dentro da produção são fundamentais. Segundo o presente estudo, o conhecimento da técnica por parte do cervejeiro é o fator nesta categoria que mais possibilita obter qualidade no produto final. A partir disso se pode afirmar que existe uma forte relação entre o conhecimento do ‘saber-fazer’ com a qualificação da mão de obra, a matéria prima de qualidade e os equipamentos tecnológicos. A análise mostra que a competência necessária para o domínio dos processos produtivos fundamentais, assim como a aquisição de matéria-prima adequada, equipamentos, e o próprio processo de gestão do “negócio” são resultados do conhecimento do mestre cervejeiro.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figura 1 – Diagrama da dimensão estratégica da qualidade observadas nas microcervejarias.
Nota:A espessura das setas de ligação entre a dimensão e as categorias e subcategorias é igual a ¼ ponto para cada vez que estas foram mencionadas nas entrevistas.
Os entrevistados afirmaram que a qualidade é uma das estratégias fundamentais para o sucesso neste mercado. É também importante a manutenção (constância) da qualidade dos lotes no tempo. Ou seja, o produto deve ser o mais homogêneo possível e apresentar um padrão de identidade e qualidade.
Com isso, os resultados apontam que a qualidade pode ser de fato uma estratégia competitiva fundamental às microcervejarias. A qualidade deriva da combinação entre quatro fatores principais: equipamentos tecnológicos, a mão-de-obra qualificada, a matéria-prima de qualidade e o conhecimento do cervejeiro. É imprescindível que dentro do processo produtivo haja o conhecimento por trás da aquisição de matéria-prima de qualidade, da inserção de equipamentos tecnológicos à produção e a qualificação da mão-de-obra.
Considerações finais
O artigo buscou evidenciar como a qualidade das microcervejarias é traduzida em estratégia competitiva. Segundo os relatos dos gestores entrevistados na pesquisa, se conclui que a qualidade, quando bem administrada e seguindo alguns requisitos de relacionamentos entre processos e insumos, pode tornar-se uma estratégia de mercado e garantir uma fonte de competição às microcervejarias no nicho de mercado das cervejas especiais.
Se a qualidade do produto (intrínseca) é superior, muitos clientes perceberão e poderão ajudar na construção e reconhecimento da marca da microcervejaria. Neste sentido, o consumidor pode ser um grande aliado das microcervejarias, pois estes podem disseminar informações e propagar a imagem superior do produto e da empresa.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências Bibliográficas
ABRACERVA – Associação Brasileira de Cerveja Artesanal Disponível em: <https://www.facebook.com/abracerva/ >. Acesso em: 15 de junho. 2016.
ANDERSON, E. W.; FORNELL, C. A customer satisfaction research prospectus. Service Quality: new direction in theory and practice. Thousand Oaks, Sage publications, 1994.
ARAÚJO, F. B.; SILVA, P. H. A.; MINIM, V. P. R. Perfil sensorial e composição físico-química de cervejas provenientes de dois segmentos do mercado brasileiro. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 23, n. 2, p. 121-128, 2003.
ANSOFF, H. I. Strategic management. London: Macmillan, 1979.
BARDIN, L. L'analyse de contenu. Paris: Presses universitaires de France, v. 69, 1977.
CAMPOS, V. F. TQC: controle de qualidade total (no estilo japonês). Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni: UFMG, 1992.
CASWELL, J. A.; MOJDUSZKA, E. M. Using informational labeling to influence the market for quality in food products. American Journal of Agricultural Economics, v. 78, n. 5, p. 1248-1253, 1996.
CLEMONS, E. K.; GAO, G. G.; HITT, L. M. When online reviews meet hyperdifferentiation: A study of the craft beer industry. Journal of Management Information Systems, v. 23, n. 2, p. 149-171, 2006.
COELHO-COSTA, E. R. A bebida de Ninkasi em terras tupiniquins: O mercado da cerveja e o Turismo Cervejeiro no Brasil. Revista Iberoamericana de Turismo, v. 5, n. 1, p. 22-41, 2015.
CROSBY, P. B. Quality is Free. New York: McGraw-Hill, 1979.
FARIA, J. H. Trabalho, tecnologia e sofrimento: as dimensões desprezadas do mundo do trabalho. Revista Educação & Tecnologia, n. 6, 2003.
FEIGENBAUM, A. V. Total Quality Control. New York: McGraw-Hill, 1961.
FLEURY, A. C. C. Capacitação tecnológica e processo de trabalho: comparação entre o modelo japonês e o brasileiro. Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 4, p. 23-30, 1990.
FREEMAN, C.; SOETE, L. The economics of industrial innovation. Psychology Press, 1997.
GARVIN, D. A. Quality on the line. Harvard Business Review, v. 61, n. 5, p. 65-73, 1983
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.
KALNIN, J.L. Avaliação estratégica para implantação de pequenas cervejarias. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, Florianópolis, UFSC, 1999.
KEBLAN, J.; NICKERSON, I. To brew, or not to brew - That is the question: An analysis of competitive forces in the craft brew industry. Journal of the International Academy for Case Studies, Vol. 18, No. 3, 2012.
MALHORTA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Disponível em: <www.agricultura.gov.br >. Acesso em: 10 junho. 2016.
MINAYO, M.; DESLANDES, S.; NETO, O. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 19 ed. Petrópolis: Vozes. 2001.
MINTZBERG, H. Crafting strategy. Harvard Business Review, v. 65, n. 4, p. 65-75, 1987.
MORADO, R. Larousse da Cerveja. Larousse do Brasil. São Paulo, 2009.
MOREIRA, E. T. Análise da Competitividade do Segmento de Cerveja do Brasil, 1997-2012. Informações Econômicas, SP, v. 44, n. 3, maio/jun. 2014.
MOURA, L. R. Informação: a essência da qualidade. Ciência da informação, v. 25, n. 1, 1996.
MURRAY, D. W.; O’NEILL, M. A. Craft beer: penetrating a niche market. British Food Journal, v. 114, n. 7, p. 899–909, 2012.
PHILLIPS, L. W.; CHANG, D. R.; BUZZELL, R. D. product quality, cost position, and business performance: a test of some key hypotheses. Journal of Marketing, v. 47, n. 2, p. 26-43, 1983.
PORTER, M. E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
ROCHA, J. C.; D’ARRIGO, F. P.; BACK, G. D.; NUNES, C. M. S.; FACHINELLI, A. C. A ciranda do conhecimento: os mistérios dos mestres cervejeiros como fonte de vantagem competitiva. Revista Científica Sensus: Administração, v.5, n. 1, p. 51-64, 2015.
RODRIGUES, I. M.; COLMENERO, J. C. Diagnóstico da estrutura de distribuição da indústria cervejeira. XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2009.
SIMPSON, B. K. Food Biochemistry and Food Processing. 2ndEd. 2012. John Wiley & Sons,
STEFENON, R. Vantagens Competitivas Sustentáveis na Indústria Cervejeira: o Caso das Cervejas Especiais. Revista Capital Científico, v. 10, n. 1, 2012.
TREMBLAY, V. J.; IWASAKI, N.; TREMBLAY, C. H. The dynamics of industry concentration for US micro and macro brewers. Review of Industrial Organization, v. 26, n. 3, p. 307-324, 2005.
VARNAM, A. H.; SUTHERLAND, J.P.; Bebidas, tecnologia, química y microbiologia. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza, Espanha, 1997.
WESSON, T.; DE FIGUEIREDO, J. N. The importance of focus to market entrants: A study of microbrewery performance. Journal of Business Venturing, v. 16, n. 4, p. 377-403, 2001.
YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre, Bookman, 2001.
ZEITHAML, V.; BITNER, M. Marketing de serviços: a empresa com foco no cliente. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A dinâmica da difusão tecnológica para usuários da agricultura inteligente
Dieisson Pivoto1, Carlos Alberto Oliveira de Oliveira2, Paulo Dabdab Waquil3, Vitor Dalla
Corte4, Karla Betania de Oliveira Lima5, Edson Talamini6.
1Doutorando em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, email:
[email protected] 2 Pesquisador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária; Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e-mail: carlos-
[email protected] 3 Professor da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) e do Programa de Pós Graduação em Agronegócios da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: [email protected] 4 Professor e coordenador do PPG em Administração da Faculdade Meridional – IMED – Passo Fundo e-mail:
[email protected] 5 Tecnóloga em Processos Gerenciais; Centro Universitário La Salle, e-mail: [email protected] 6 Professor da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) e do Programa de Pós Graduação em Agronegócios da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: [email protected]
Resumo. Inúmeros são os fatores que determinam a adoção de tecnologias por parte dos indivíduos. O simples
desenvolvimento de inovações não garante a sua difusão e adoção. A agricultura inteligente, conjunto de
tecnologias e ferramentas oriundas da Agricultura de Precisão e Tecnologia de Informação, apresenta-se como
uma nova forma de manejo e gestão agrícola, exigindo entendimento dos caminhos e formas de difusão dessas
tecnologias. Com base no exposto, o trabalho tem como objetivo identificar quais os agentes influenciam a adoção
de agricultura inteligente em propriedades produtoras de grãos no sul do Brasil. Foi elaborado um questionário
estruturado com base no referencial teórico sobre adoção e difusão de tecnologias e em entrevistas preliminares
realizadas com especialistas. Aplicou-se uma amostragem piloto com 32 produtores rurais de grãos. Os canais e
agentes que mais influenciam na adoção de tecnologias de agricultura inteligente pelos produtores rurais foram
as feiras e exposições agropecuárias e os consultores e a assistência técnica. Os vizinhos apresentaram o menor
grau de influência sobre a decisão de adotar tecnologias no presente estudo.
Palavras-chave. Agronegócios, Economia Agrícola, Comunicação Rural, Adoção de Tecnologias.
The dynamics of technological diffusion to users of smart agriculture
Abstract. There are many factors that determine the adoption of technologies by individuals. The simple
development of innovations does not guarantee their diffusion and adoption. The smart agriculture, set of
technologies and tools derived from Precision Agriculture and Information Technology, is presented as a new
form of agricultural management, requiring understanding of the ways and forms of diffusion of these
technologies. The study aims to identify which agents influence the adoption of smart agriculture by farmers of
grains in southern Brazil. A structured questionnaire based on the theoretical framework of adoption and diffusion
of technologies and preliminary interviews with experts was prepared. It was applied with pilot sample of 32 grain
farmers. The channels and agents that influence over the adoption of smart agriculture technologies by farmers
were the agricultural fairs and exhibitions and the consultants and technical assistance. Neighbors showed the
lowest degree of influence on the decision to adopt technology in this study.
Keywords. Agribusiness, Agricultural Economics, Rural Communication, Technology Adoption.
Introdução
O desenvolvimento da mecanização, eletrônica e tecnologias de informação introduziu
mudanças radicais no ambiente de trabalho agropecuário e no meio rural nos últimos anos. Uma
dessas mudanças refere-se à demanda por informações atualizadas do sistema de produção e
externas a este (mercados e agentes envolvidos no processo produtivo), com o objetivo de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS fornecer subsídios para a tomada de decisão no emprego dos fatores de produção, bem como
as questões estratégicas e gerenciais nas unidades de produção agrícola.
Nesse contexto, surge o conceito de smart farming (SF) ou agricultura inteligente que
se baseia na incorporação das tecnologias de informação e comunicação em máquinas,
equipamentos e sensores nos sistemas de produção e no meio rural, permitindo a geração de
um grande volume de dados e informações. Esse conceito emerge a partir de dois campos do
conhecimento, a Agricultura de Precisão (AP) e as Tecnologias de Informação (TI).
Os sistemas de agricultura inteligente tendem a desempenhar um papel importante na
melhoria das atividades agropecuárias. Os avanços dos sistemas de agricultura inteligente
demandarão capacidades gerenciais nas propriedades rurais intensivas em tecnologias da
informação e comunicação (TICs), conforme trabalho de cenários desenvolvido pela Embrapa
(2014). A evolução de redes de comunicação e de transmissão de dados faz com que surjam
perspectivas para novas formas de integração de atores e de cadeias produtivas, bem como
novos processos e funções nas propriedades rurais.
Por outro lado, o simples desenvolvimento de inovações não garante a sua difusão e
adoção no ambiente rural, e, mais especificamente, agrícola. Inúmeros são os fatores que
determinam a adoção de tecnologias por parte dos indivíduos. Há estudos que abordaram as
decisões de difusão e adoção de tecnologias na agricultura em diferentes campos do
conhecimento e com diferentes modelos de análise como a inovação-difusão (ROGERS, 1962),
pioneiro em estudos de adoção de tecnologia.
Entretanto, a agricultura inteligente apresenta-se como uma nova forma de agricultura,
com um conjunto de ferramentas e tecnologias que exige entendimento dos caminhos e formas
de difusão dessas tecnologias. Recursos públicos significativos são empregados em órgãos de
pesquisa e extensão rural para difusão de tecnologias consideradas importantes para um dado
setor. Na esfera privada, há o investimento das empresas em departamentos de marketing e
vendas para que os produtores rurais adotem suas tecnologias, ou seja, comprem produtos e
serviços. Por outro lado, cada tecnologia apresenta uma especificidade para chegar até o
produtor e ser adotada. A agricultura inteligente é um exemplo disso, e precisa ser melhor
entendida para aumentar a efetividade e uso pelos produtores rurais.
Com base no exposto, o trabalho tem como objetivo identificar quais os agentes
influenciam a adoção de agricultura inteligente em propriedades produtoras de grãos no sul do
Brasil.
Difusão e adoção de tecnologias
A literatura ligada a difusão e adoção de tecnologias é ampla e interdisciplinar, tendo
contribuições da área da economia, sociologia, psicologia e neurociência, extensão rural e
antropologia (PANNELL, et al. 2006). Ao revisar a literatura econômica observa-se algumas
abordagens principais sobre difusão tecnológica como: os modelos epidemiológicos
(GRILICHES, 1957; MANSFIELD, 1961); os modelos de difusão equilibrada (DAVIES,
1979); e os modelos evolucionários (NELSON E WINTER, 1982; SILVERBERG, DOSI E
ORSENIGO, 1988).
Griliches (1957) e Mansfield (1961) foram pioneiros em identificar as regularidades
empíricas dos caminhos da difusão tecnológica, tipicamente representadas por curvas logísticas
como relata Vieira Filho (2009). No trabalho de Griliches (1957) observa-se que a semente
híbrida se difundiu com diferentes velocidades no cinturão do milho norte-americano, com
maior velocidade de difusão em regiões dinâmicas e, de forma mais lenta entre os produtores
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS mais tradicionais, em estados mais isolados como Alabama. A agricultura inteligente apresenta-
se como um conjunto de tecnologias, em contraste com a tecnologia do milho híbrido que é
pontual, sendo que algumas tecnologias e ferramentas podem ser adotadas parcialmente, em
razão do interesse e das características socioeconômicas dos produtores.
Outro pioneiro a trabalhar com estudos ligados a adoção de tecnologias, tendo sua
análise base sociológica, foi Rogers (1962). Este destacou algumas características que fazem
com que uma inovação se espalhe e seja utilizada. Entre elas estão a vantagem relativa da
inovação, em comparação com a geração anterior de produtos; a comparabilidade das inovações
aos produtos existentes; a complexidade ou simplicidade no uso da tecnologia, incluindo as
percepções deste; possibilidade de teste; e por fim, a facilidade para outros em observar o seu
uso e efeitos (ROGERS, 1962).
Outros autores que trabalharam com a adoção de tecnologias no contexto da agricultura
são Pannel et al. (2006). Para esses autores a adoção ocorre com base em percepções subjetivas
ou expectativas em vez de uma verdade objetiva, dependendo de três grandes conjuntos de
questões: i) o processo de aprendizagem e experiência; ii) as características e circunstâncias do
proprietário dentro de seu ambiente social e iii) das características práticas da aplicação da
tecnologia.
Procedimentos metodológicos
Para atender os objetivos da pesquisa foi elaborado um questionário estruturado com
base no referencial teórico sobre adoção e difusão de tecnologias e em entrevistas preliminares
realizadas com especialistas. O questionário apresentou diversos constructos. No presente
estudo apresenta-se parte dos resultados provenientes deste piloto, consistindo na
caracterização socioeconômica dos respondentes, informações da propriedade, tecnologias
adotadas e indicação do grau de importância dos agentes influenciadores para a adoção de
tecnologias.
As variáveis ligadas aos agentes influenciadores para adoção de tecnologias foram
construídas por meio de escala intervalar de grau de influência, com cinco pontos, sendo 1
(pouco influente) e 5 (muito influente). Antes da aplicação do questionário, este foi validado
por oito profissionais e pesquisadores da área (em agricultura de precisão, economia agrícola e
administração rural). Após a validação realizou-se um teste com cinco produtores para verificar
a compreensão acerca das questões presentes no questionário.
Após a etapa de teste, o questionário foi inserido em uma plataforma on-line por meio
de programação para aumentar a abrangência da coleta de dados. Aplicou-se um piloto com 32
produtores rurais. A amostra foi composta por produtores rurais de grãos. Os questionários
foram enviados por meio de listas de e-mails de revendas de máquinas e equipamentos
agrícolas, sindicatos rurais e consultores técnicos. O piloto foi aplicado com produtores do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Resultados e Discussões Ao analisar as características socioeconômicas dos respondentes, Tabela 1, visualiza-se
características singulares da amostra. Na variável idade dos respondentes, observa-se a
concentração dos respondentes entre 22 a 40 anos. Diferente de outros estudos com população
rural, nesse não se observa um envelhecimento dos proprietários e gestores rurais. Isso, deve-
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS se ao uso de questionário on-line no piloto da pesquisa, favorecendo a seleção de entrevistados
com maior frequência de uso computadores e, por consequência, com idade menor.
Da mesma forma, observa-se um elevado grau de instrução entre os respondentes, com
78,13% possuindo ensino superior. Esse elemento pode representar uma dinâmica diferente
dos estudos de adoção convencionais, pois a amostra é composta por indivíduos com elevado
grau de instrução. A difusão menos acelerada, como observado no caso do milho híbrido em
algumas regiões americanas se faz presente nas regiões em que os agricultores são desprovidos
de adequada capacidade de absorção, dificultando o processo de aprendizado (COHEN &
LEVINTHAL, 1982). Tabela 1. Descrição das variáveis socioeconômicas e características da propriedade com frequências observadas
na amostra.
Variável Categoria % Idade (I)
I ≤ 22 3,13
22 < I ≤ 31 31,25
31 < I ≤ 40 37,50
40 < I ≤ 49 9,38
49 < I ≤ 58 12,50
I > 58 6,25
Grau de Instrução Ensino fundamental 9,38
Ensino médio 12,50
Ensino superior completo 50,00
Pós-Graduação 28,13
Área Total da Propriedade (A) A ≤ 200 há 35,48%
200 ha < A ≤ 1000 ha 32,26%
1000 há < A ≤ 3000ha 25,81%
A > 3000 6,45%
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa.
Ao analisar a área total da propriedade, observa-se uma distribuição dos respondentes
nas três primeiras categorias. A maior parcela dos respondentes apresenta área até 200 hectares.
Na sequência observa-se produtores com até 1000 hectares de área, apresentando participação
similar ao estrato de até 200 hectares. Essas duas categorias de produtores despertam atenção
para a temática proposta. Muitos produtores dessa categoria podem apresentar dificuldade de
adotar as tecnologias de agricultura inteligente, em razão de escala mínima necessária para
utilizar algumas tecnologias.
No Quadro 1 visualiza-se as tecnologias adotadas de AP e TI pelos produtores
amostrados. Observa-se que a tecnologia com maior adoção por parte dos produtores rurais em
AP foi a amostragem georeferenciada do solo. Em seguida observa-se a aplicação de
fertilizantes e corretivos a taxa variável. Essas duas tecnologias foram as primeiras a serem
utilizadas dentro do conjunto de práticas da Agricultura de Precisão no Brasil (BERNARDI &
INAMASU, 2014). O fato destas tecnologias serem muitas vezes terceirizadas pelos produtores
rurais, evitando o investimento em equipamentos, pode ter facilitado a adoção.
Os mapas de colheita apresentaram uma adoção considerável. Essa é uma tecnologia
que demanda colhedoras com maior tecnologia. Outra ferramenta que desperta atenção são os
VANTS e drones, que apresentaram um percentual de adoção de 9,68%. Por ser uma tecnologia
recente, não se esperava observar produtores adotando essa ferramenta e suas possíveis
aplicações na agricultura. Por outro lado, esses produtores podem ser classificados, com base
em categorização proposta por Rogers (1962) como inovadores. Rogers (1962) ressalta que
essa categoria tem um comportamento de buscar por inovações, sendo muito ansiosos por testar
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS novas ideias. Os drones são um exemplo, em que a aplicabilidade e resultados na agricultura
não está claro, entretanto os produtores inovadores já estão utilizando.
Quadro 1. Percentual de adotantes de tecnologias ligadas a agricultura inteligente
Agricultura Inteligente Tecnologias, ferramentas e processos % de usuários
% não usuários
Agricultura de Precisão - AP
Amostragem georeferenciada do solo 66,67
33,33
Aplicação de fertilizantes e corretivos a
taxa variável
64,52
35,48
Piloto automático para pulverização 56,25
43,75
Controle automático de seções na
aplicação de agroquímicos e fertilizantes
53,33
46,67
Mapas de colheita 35,48
64,52
Piloto automático para semeadura 24,14
75,86
Utilização de VANTS ou drones para
gerar mapas de vegetação ou para o
manejo das lavouras
9,68
90,32
Telemetria para transmissão de dados de
forma remota
6,45
93,55
Tecnologia de Informação - TI
Utiliza aplicativos no celular ou
smartphone para auxiliar na gestão e
manejo agrícola.
81,25
18,75
Realiza transações bancárias pela
internet ou pelo celular.
80,65
19,35
Utiliza programas ou planilhas de cálculo
(Excel) para o controle de fluxo de caixa
mensal e gestão de custos.
71,88
28,13
Realiza planejamento anual das
atividades com auxílio de programas de
computador.
67,74
32,26
Utiliza softwares/programas para gestão
da propriedade (gestão de custos, gestão
de pessoas, gestão produtiva, armazenar
dados da propriedade, manejo
fitossanitário, gestão de frota, manejo do
solo).
64,52
35,48
Realiza o monitoramento em tempo real
via celular ou computador das operações
agrícolas (semeadura, colheita, aplicação
de agroquímicos) por meio de sensores
nas máquinas e equipamentos, fazendo
intervenções quando estas não estão
adequadas?
14,29
85,71
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa.
Quanto as tecnologias de informação utilizadas destacam-se o uso de smartphones para
auxiliar na gestão da propriedade, sendo adotado por 81,25% dos respondentes. Observa-se, da
mesma forma, um elevado percentual de produtores que realiza o planejamento das atividades
agropecuárias com auxílio de programas de computador. Outro resultado que não era esperado
é o monitoramento instantâneo das operações a campo. Com o uso de telemetria e aplicativos
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS de celular visualiza-se um aumento no número de produtores que acompanha as atividades a
distância, conseguindo tomar decisões por ter informações disponíveis.
Na Tabela 3, visualiza-se o grau de influência dos agentes para a decisão de adotar
tecnologias e ferramentas de agricultura inteligente. Observa-se que as feiras e exposições e os
consultores e assistência técnica são os principais influenciadores para os produtores rurais
adotarem tecnologias de agricultura inteligente.
Tabela 3. Grau de influências dos agentes na adoção de agricultura de precisão e tecnologias de informação.
Influenciadores Média Desvio Padrão Feiras e exposições agropecuárias 3,43 1,33
Consultores e Assistência técnica (exemplo: agrônomos) 3,40 1,36
Empresas e revendas desses equipamentos 3,30 1,16
Filhos 3.07 1,23
Universidade 2,93 1,55
Cooperativas e associações 2,45 1,30
Vizinhos 2,30 0,97
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa.
As feiras e exposições são os locais em que as tecnologias e ferramentas novas são
divulgadas para os produtores rurais. Muitas empresas que comercializam essas tecnologias
lançam seus produtos nesses eventos. Esse resultado mostra, que instituições de pesquisa,
organizações de assistência técnica e difusão de tecnologia, além das empresas que
comercializam esses equipamentos, precisam atentar e estarem preparadas para atrair a atenção
dos produtores nestes eventos para a difusão dessas tecnologias serem efetivas.
Antes de utilizar uma tecnologia, os indivíduos, e de forma específica os produtores
rurais buscam de forma mais intensa informações externas para tomar a decisão entre usar ou
não usar uma tecnologia (PANNELL, 2006). Essas informações serão decisivas para a primeira
etapa, adquirir e testar a tecnologia. Entretanto, conforme relata Pannell (2006), após o processo
de teste, a experiência pessoal tem maior influência sobre a adoção posterior.
O segundo agente com maior influência na adoção de tecnologias de agricultura
inteligente são os consultores e a assistência técnica. Esses agentes já foram muito utilizados
para difusão de tecnologias ao longo da revolução verde em razão do vínculo com o produtor
rural e por estar em contato com centros de pesquisa e universidades. Observa-se, novamente
que estes são centrais no processo de difusão de tecnologias de agricultura inteligente. Por outro
lado, diferente das tecnologias ligadas a revolução verde em que as tecnologias eram tangíveis,
ligadas principalmente a química, física e mecanização, na agricultura inteligente as inovações
são intangíveis, em alguns casos, ligadas a softwares e processos, demandando maior
conhecimento e atualização dos profissionais da assistência técnica. Essa foi uma das principais
observações feitas pelos respondentes, a percepção destes que falta atualização da assistência
técnica nessas novas tecnologias, tema que poderá ser abordado em outro trabalho.
Esperava-se que cooperativas e associações tivessem um grau maior de influência na
adoção de tecnologias de agricultura inteligente. Por outro lado, de acordo com a metodologia
proposta isso não foi observado, sendo os agentes com menor influência na adoção de
tecnologias. De um lado os resultados sugerem que as cooperativas e associações não são a
fonte prioritária para busca de inovação pelos produtores rurais. Cabe ressaltar, por outro lado,
que muitas cooperativas e associações no sul do Brasil são responsáveis pelas maiores feiras e
exposições agropecuárias, tendo participação indireta na difusão de novas tecnologias.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Conclusões
A agricultura inteligente está sendo difundida no contexto das propriedades rurais
amostradas. Destaca-se o uso de sistemas autônomos pelos produtores rurais, como o piloto
automático para pulverização, bem como aplicativos para celulares e smartphones. Outras
tecnologias como VANTS e Drones começam a ser empregados no meio agrícola para auxiliar
na coleta de informações.
Os canais e agentes que os produtores têm contato e que mais influenciam na adoção de
tecnologias de agricultura inteligente são as feiras e exposições agropecuárias e os consultores
técnicos. As feiras e exposições são o espaço em que os produtores tem o primeiro contato com
as novas tecnologias, sendo importante para a decisão de adquirir e testar uma tecnologia.
Os vizinhos apresentaram o menor grau de influência na decisão de adotar tecnologias
no presente estudo. Devido ao perfil socioeconômico dos respondentes e de muitos, em razão
das tecnologias adotadas, serem pioneiros, os vizinhos não são um canal preferencial para
buscar inovações. Muitos desses produtores, possivelmente servem de referência e influenciam
a entrada dessas inovações no sistema social em que estão inseridos.
Em trabalhos posteriores espera-se comparar o grau de influência dos diferentes agentes
de acordo com cada tecnologia adotada, bem como analisar outras variáveis socioeconômicos
que influenciam no processo de adoção dessas tecnologias. Recomenda-se a ampliação do
estudo para um grupo maior de produtores, aumentando o poder de inferência sobre a população
de produtores de grãos analisados.
Referências Bibliográficas
BERNARDI, A. .C INAMASU, R.Y. Adoção da Agricultura de Precisão no Brasil In: Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. BERNARDI, A.C.C et al. (Org.). Brasília, DF: Embrapa, 2014. Cap. 60.
COHEN, W.M. D.A.; LEVINTHAL D. A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation Administrative. Science Quarterly, v. 35, n. 1, p. 128-152, 1990.
DAVIES, S. The diffusion of process innovation. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
EMBRAPA. Visão 2014-2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira: síntese. Brasília, DF: Embrapa, 2014.
Disponível em: < https://www.embrapa.br/documents/1024963/1658076/O+Futuro+de+Desenvolvimento+Tecnol%C3%B3gico+da+Agricultura+Brasileira+-
+s%C3%ADntese.pdf/ddb0a147-234d-47f1-8965-1959ef82311d> Acesso em: 10 set. 2015.
GRILICHES, Z. Hybrid corn: an exploration in the economics of technological change. Econometrica, v. 25, n. 4, p. 501-522, 1957.
MANSFIELD, E. Technical change and the rate of imitation. Econometrica, v. 29, n. 4, p. 741-766, 1961.
NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Harvard: Harvard University Press, 1982.
PANNEL, D.J et al. Understanding and promoting adoption of conservation practices by rural landholders conservation practices by rural landholders. Australian Journal of Experimental Agriculture, Austrália, v. 46, p. 1407-1424, 2006.
ROGERS, E. M. Diffusion of innovations. New York: The Free Press. 1962.
SILVERBERG, G.; DOSI, G.; ORSENIGO, L. Innovation, diversity and diffusion: a self-organisation model. The economic journal, v. 98,
p. 1.032-1.054, 1988.
VIEIRA FILHO, J. E. R. Inovação tecnológica e aprendizado agrícola: uma abordagem schumpeteriana. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2009.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Perfil Socioeconômico dos Produtores de Vinho Colonial no Município de
Bento Gonçalves e Garibaldi Participantes do 3º Festival Nacional do Vinho Colonial no Estado do Rio Grande do Sul
Kevylin Oliveira da Silva1, Saionara Wagner Araujo
2, Liris Kindlein
3
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [email protected]
Resumo
Transformações recentes que envolvem a vitivinicultura no Brasil vêm estimulando uma articulação dos
produtores para formulação de políticas públicas que promovam a revitalização da vitivinicultura no Estado do
Rio Grande do Sul. Esta pesquisa teve como intuito caracterizar o perfil socioeconômico e o sistema de
produção de produtores de vinho colonial participantes do 3º Festival Nacional do vinho Colonial. Os
equipamentos utilizados no processamento da uva para a elaboração do vinho colonial, ainda são bastante
rudimentares, construídos nas propriedades ou nas comunidades e vem passando de geração em geração,
porém, muitos produtores vêm investindo em inovação tecnológica.
Palavras – chave: Vitivinicultura, Agricultura familiar, Vinho Colonial
Socioeconomic profile of Colonial Wine Producers in the city of Bento Gonçalves and Garibaldi Participants of the 3rd National Colonial Wine
Festival in Rio Grande do Sul State
Abstract
Recent changes What involve the wine industry in Brazil VEM stimulating a Producers Joint paragraph
Formulating Public Policies Promote the revival of viticulture in the state of Rio Grande do Sul . This study was
aimed to characterize the socioeconomic profile and Producers Production System wine colonial Participants of
the 3rd National Colonial wine Festival.The equipment used in the processing of grapes for the elaboration of
colonial wine, are still quite rudimentary , built on the properties or communities and is passed from generation
to generation , but many producers are investing in technological innovation
Keywords: Viticulture , Family Agriculture, Colonial Wine
Introdução
A produção de uva e vinho colonial na serra gaúcha faz parte da história da atividade
agrícola do Rio Grande do Sul, as primeiras experiências com o cultivo e a produção de vinho
vieram na bagagem social e cultural dos primeiros imigrantes italianos. Agricultura familiar é
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS a atividade desenvolvida por agricultores que exploram áreas inferiores a 50 hectares e
organizam o processo de trabalho e gestão de atividades agrícolas em torno da disponibilidade
da mão de obra (COSTABEBER, 1998). Os agricultores familiares apresentam nas suas
características sociais e tradicionais uma estreita relação histórica com o campesinato, onde se
verifica que a gestão e as atividades produtivas são coordenadas pela família
(WANDERLEY, 2001; MORAES, 2006). A produção destinada ao consumo familiar e para
comercialização, a prioridade pelo bem-estar do grupo doméstico, como afirma Chayanov
(1974), são outros fatores que distinguem a agricultura familiar dos demais empreendimentos
situados no meio rural. Outra característica refere-se à diversidade econômica, social e
cultural das famílias, que possuem distintas formas de produção, utilização de recursos,
trabalho, sociabilidade e negociação de produtos.
Quanto às atividades produtivas, destaca-se a Agroindústria Rural Familiar – ARF
trata-se da forma de organização onde as famílias rurais produzem, processam e/ou
transformam parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, com o objetivo de agregar valor ao
produto que será comercializado. Na agroindústria, a família assume a responsabilidade no
que tange às escolhas sobre quais serão as atividades produtivas que irão desempenhar, assim
como o uso e destinação de recursos econômicos, sociais e ambientais (MIOR, 2007;
PELEGRINI; GAZOLLA, 2008).
No Brasil e principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, a Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER) têm um papel fundamental no diálogo entre os centros de
pesquisa agropecuários e o meio rural, contribuindo ativamente no que diz respeito aos
processos de desenvolvimento local. No Brasil, as ações de extensão rural estão presentes
desde o final da década de 40, com a criação da Associação de Crédito e Assistência Técnica
Rural de Minas Gerais e, conforme discutido na literatura, sempre foram movidas pela ideia
de que o incremento de técnicas modernas de produção causariam melhorias nas condições de
vida dos indivíduos envolvidos (PIRES, 2003).
A vitivinicultura está presente em diversos estados brasileiros e se constitui em uma
atividade geradora de emprego e renda, proporcionando sustentabilidade à pequena
propriedade de agricultura familiar. O Rio Grande do Sul é maior Estado produtor de uvas do
Brasil e concentra a produção na Serra Gaúcha onde a vitinicultura é desenvolvida em
pequenas propriedades, que possuem 15 ha de área, em média l, sendo destes 40% a 60% de
área útil e cerca de 2,5ha de vinhedos (MELO, 2000). A agroindústria do vinho nacional,
centrada no Rio Grande do Sul, assumiu historicamente a liderança da produção e
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS abastecimento da demanda do mercado interno brasileiro. A partir da década de 70,
começaram a ocorrer investimentos com a implantação e/ou modernização das unidades
produtivas, motivados por um mercado interno com potencial para produtos de melhor
qualidade (vinhos finos) e de maior preço.
Neste sentido a produção e comercialização de vinho colonial é uma atividade secular e
está presente na maioria das áreas produtoras tradicionais, como a Serra Gaúcha. O vinho
colonial, além de requerer a responsabilidade técnica de um profissional, deve atender a todos
os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQs) estabelecidos na legislação que regulamenta a
produção vinícola em geral, a Lei do Vinho. Neste contexto o projeto de lei N° 12.959, DE 19
DE MARÇO DE 2014, foi aprovado, onde considera o vinho produzido por agricultor
familiar ou empreendedor familiar rural do qual é a bebida elaborada de acordo com as
características culturais, históricas e sociais da vitivinicultura. O vinho produzido por
agricultor ou empreendedor rural deve ser elaborado com no mínimo de 70% (setenta por
cento) de uvas colhidas no imóvel rural do agricultor familiar e na quantidade máxima de
20.000 (vinte mil litros) por ano. Com a aprovação da nova lei, o pequeno vitivinicultor não
precisará constituir empresa para vender a bebida (MENEGOTTO, 2014).
METODOLOGIA
O presente estudo desenvolveu-se no 3º Festival Nacional do Vinho Colonial no
município de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul nos distritos de Tuiuty, Faria
Lemos, Vale dos Vinhedos e São Pedro, no período de outubro e novembro de 2015. Foram
entrevistados 32 produtores familiares de vinho colonial, selecionados previamente por
intermédio de profissionais da Emater, EMBRAPA e o Instituto Federal do Rio Grande do
Sul. O Festival Nacional do Vinho Colonial tem o intuito de preservar a identidade e a
maneira tradicional da elaboração de vinhos, mantendo a história, cultura e o saber local. O
festival teve início no ano de 2013, e é sempre realizado em quatro distritos de Bento
Gonçalves.
O presente estudo caracterizou-se como um estudo de caso, com caráter descritivo e
exploratório, estudos como este possibilitam estudar em profundidade o grupo, organização
ou fenômeno (GIL, 2009).
Para a recolha dos dados foi utilizada a técnica amostral por conveniência e aplicado o
inquérito por questionário. Foi aplicado um questionário estruturado a 32 produtores
familiares de vinho colonial, por intermédio de entrevista direta e pessoal, aplicados por
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS discentes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-
UFRGS. Nesta pesquisa as análises estatísticas foram executadas por intermédio do programa
PASW Statistics 18, onde, além das estatísticas descritivas, direcionadas ao estudo de
frequências para todas as variáveis enfocadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cultivo da uva e elaboração do vinho colonial faz parte da história dos produtores da
serra gaúcha que lidam com a terra na região, desde a chegada da colonização italiana a partir
do século XIX no Estado do Rio Grande do Sul. Foram entrevistados 32 vitivinicultores entre
eles 96,9 % residentes no município de Bento Gonçalves e 3,1% residiam no município de
Garibaldi ambos no Rio Grande do Sul. Os produtores familiares inquiridos, com
predominância de 93,8% são do sexo masculino e apenas 6,2% do sexo feminino, e residem,
na sua maioria na Unidade Produtiva Agrícola (UPA), ou seja, na zona rural e apenas 6,2%
residem na zona urbana, porém a UPA está localizada na zona rural.
Observa-se, dentre os produtores que participaram da pesquisa, que a produção e a
comercialização em pequena escala de vinho colonial, faz parte do cotidiano de grande parte
das famílias a mais de décadas, conforme podemos constatar na Tabela 1 abaixo, salientando
que para 31,3% a mais de três décadas mantém a produção de vinho.
Tabela 1. Anos de Produção de Vinho Colonial
Anos de Produção Nº de Vitivinicultores Coloniais % 1 á 10 anos 12 37,4
11 á 30 anos 10 31,3
> 31 anos 10 31,3
Total 32 100,0
Pode-se constatar também, que a maioria dos entrevistados, 87,5%, possui idade
superior a 30 anos, mas que 12,5% tem entre 18 e 30 anos, o que pode nos indicar que pelo
menos em algumas propriedades os jovens estão mantendo a tradição da produção de vinho
colonial, diferente do encontrado por Otani (2010) em sua pesquisa na região de Jundiaí-SP,
onde os produtores de vinho artesanal que em sua pesquisa não constatou nenhum produtor
com idade inferior a 30 anos e sim uma expressiva predominância de 77,2% dos produtores
de vinho artesanal com idade superior a 50 anos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Quando questionados sobre a motivação de continuar na atividade, os principais
motivos relatados são: manter a tradição familiar, o prazer de estar em contato com a terra e
mencionaram o elemento renda para a permanência nesta atividade. Esses quesitos também
foram relacionados por Gomes 2003, Otani 2010, além do apego a tradicional atividade
alguns fatores que reforçam a tendência dos produtores para permanecer na atividade podem
ser os fáceis acessos aos locais em que habitam assim como às infraestruturas fomentadas
pela expansão urbana no setor rural, como luz, água encanada, asfalto, transporte e etc.
Cabe salientar também que, embora esses produtores pretendam continuar na atividade,
enfrentam dificuldades principalmente no que diz respeito à mão de obra especializada. Como
a utilização dessa mão de obra é eventual, no período de colheita, é difícil encontrar
trabalhadores disponíveis, pois em toda esta região a colheita da uva se dá na mesma época.
Por isso, 71,9% dos produtores declararam que trabalham sozinhos ou contam apenas com o
auxílio do cônjuge e filhos em suas propriedades.
Os vitivinicultores acima de 46 anos, que tradicionalmente se dedicam com
exclusividade ao trabalho agrícola e à tradição na elaboração do vinho colonial, conduzem as
atividades como os antepassados, porém atualmente vem legalizando a atividade para se
enquadrar na Lei nº 12.959 vigente desde março de 2014, que permite que o agricultor
familiar possa elaborar o vinho conforme as características culturais, históricas e sociais da
vitivinicultura desenvolvida por aquele que atenda às condições da política nacional da
agricultura familiar.
Neste sentido, o vinho colonial produzido por agricultor familiar ou empreendedor
familiar rural deve ser elaborado com o mínimo de 70% de uvas colhidas no imóvel rural do
agricultor familiar e na quantidade máxima de 20.000 litros anuais. A elaboração, a
padronização e o envasilhamento do vinho elaborado por agricultor familiar devem ser
realizados exclusivamente na propriedade rural, adotando-se os preceitos das Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e sob a supervisão de responsável técnico habilitado. E pode ser
comercializado diretamente com o consumidor final, na propriedade rural onde foi elaborado
o vinho, em estabelecimento mantido por associação ou cooperativa de produtores rurais ou
em feiras da agricultura familiar.
Os produtores entrevistados relataram que buscam sim se enquadrar na legislação
vigente, porém afirmam que a mesma, deve passar por novas adequações, pois, poucos
produtores se enquadram a lei nº 12.959. Todavia a legislação permite a elaboração de até
20.00 litros anuais de vinho, sendo que a realidade dos produtores familiares da serra gaúcha
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS ultrapassa essa quantidade estipulada, sendo assim muitos vitivinicultores não se enquadram
na legislação.
Conforme os dados pesquisados, os produtores tem como renda principal a
vitivinicultura, e para compor a renda total da família eles possuem outras produções para
comercialização como hortifrutigranjeiros, em 18,7% das propriedades, seguida por
atividades relacionadas à agroindústria familiar em 15,6% com o processamento de de geleias
e artesanato, em 9,4% há atividade de turismo rural entre outras, como pode ser observado na
Tabela 2 abaixo. Essas fontes que podem ser observadas na Tabela 2. Um fator interessante
em relação à composição da renda familiar foi o fator agropecuário, nenhum dos entrevistados
utiliza da agropecuária como fonte de renda, conforme Otani (2010) dos 35 produtores rurais
entrevistados 40% deles utilizam a agropecuária como fonte de renda secundária. Outro fator
relevante do mesmo estudo é que apenas 8,6% dos produtores trabalham exclusivamente com
a vitivinicultura e possuem de uma a duas fontes de renda adicional, diferentemente
encontrado dos entrevistados do 3º Festival Nacional do Vinho Colonial no município de
Bento Gonçalves/RS, em que 62,5% dos produtores têm como renda única a vitivinicultura e
apenas 37,5% agregam outra atividade como renda adicional familiar.
Tabela 2. Composição da Renda Familiar
Fontes de Renda Nº de Produtores %
Vitivinicultura 32 100
Agropecuária 0 0
Turismo 3 9,4
Hortifrutigranjeiros 6 18,7
Agroindústria 5 15,6
Dado o processo histórico de ocupação com intenso fracionamento de terra, a grande
maioria dos vitivinicultores ocupa uma pequena área de terras. A unidades produtivas
entrevistadas 62,6% possuem uma área de 6 a 20 hectares, seguida com 18,7% com 1 á 10
hectares e igualmente com 18,7% propriedades que possuem mais de 21 hectares. Entre essas
UPAs 81,3% não compram uvas de terceiros para produzir o vinho e apenas 18,7% compram
uvas para auxiliar na produção do vinho colonial. A pesquisa demonstrou que a uva Isabel,
destinada ao consumo in natura e elaboração de vinhos, é cultivada em quase todas as UPAs,
sendo 21% e seguidamente por Cabernet Sauvignon 10,5%.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Considerações Finais
No tocante universo da produção de vinho em litros por ano, os vinicultores pesquisados que
comercializam este produto, constatou-se que uma parcela importante produz grande
quantidade de vinho colonial por ano. Mais da metade deles 59,4% produz mais que 31.000
litros por ano, sendo que apenas 21,9% elaboram menos de 20.000 litros. Sendo que 78,2%
dos entrevistados não se enquadram na legislação vigente que legaliza o vinho colonial, pois
ultrapassam a quantidade permitida de 20.000 litros/por ano produzida por produtor familiar.
E apesar da grande variedade de cultivares produzidas por esses produtores
entrevistados, a maior concentração da produção de vinho se dá com as variedades Isabel
21,8% e Bordô 8,8%. Os equipamentos utilizados no processamento da uva para a elaboração
do vinho colonial, ainda são bastante rudimentares, construídos nas propriedades ou nas
comunidades e vem passando de geração em geração, porém, muitos produtores vêm
investindo em inovação tecnológica (SILVA, 1995; TEECE, 1996; PADILHA, 2010).
Mesmo que ainda esses produtores não possuam rótulo registrado junto ao Ministério da
Agricultura, apenas 1 não faz venda direta ao consumidor ou em feiras.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Lei nº 12.959, de 19 de março de 2014. CAPORAL, F. R; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e sustentabilidade. Base conceptual para nova Extensão Rural. In Word Congresso of Rural Sociology,10. Rio de Janeiro, 1998. CHAYANOV, A. V. La Organización de la unidad economica campesina. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. GOMES, R. C. C. Política Habitacional e Urbanização no Brasil. Scripta Nova, Revista Eletrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona,Vol. VII, 2003. ISSN 1138-9788 MELO, L. M. R de. Competitividade e reconversão: avaliação da vitivinicultura da serra gaúcha frente ao mercosul e a abertura de mercado. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2000. MENEGOTTO, R. J. . Lei do vinho colonial gera dúvidas na Serra, 2014. Disponível em : < http://pioneiro.clicrbs.com.br> Acessado em 05 de Fevereiro de 2015 MIOR, L. C. Agricultura familiar, agroindústria e desenvolvimento territorial. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, Florianópolis, 2007.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS MORAES, E.G. A Arquitetura Rural das Unidades de Produção de Uva e Vinho Artesanal na Bacia do Rio Jundiaí-Mirim. Campinas,2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil na área de concentração de Recursos Hídricos) Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, 2006. OTANI, M. N.. Estratégias de reprodução social em áreas periurbanas: os produtores de vinho artesanal comercial em Jundiaí. Campinas, 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, 2010.
PADILHA, A. C. M; SEVERO, L. S.; DELGADO, N. A. SILVA, T. N. Inovação Tecnológica em
Indústrias Competitivas do Agronegócio: uma análise na cooperativa vinícola Aurora
Ltda. – RS ESTUDO & DEBATE , v. 17, n. 1, p. 91- 109, Lajeado, 2010 PELEGRINI, G.; GAZOLLA, M. A agroindústria familiar no Rio Grande do Sul: limites e potencialidades a sua reprodução social. Frederico Westphalen: URI, 2008. PIRES, M. L. L.e SILVA. A (re)significação da extensão rural. O cooperativismo em debate. In: LIMA, Jorge R. T. (Org.). Extensão rural e desenvolvimento sustentável. Recife: Bagaço, 2003, 45-70. SILVA, C.R.L. Inovação tecnológica e distribuição de renda: impacto distributivo dos ganhos de produtividade da agricultura brasileira. São Paulo: IEA – Instituto de Economia Agrícola, 1995.
TEECE, D. J. Firm Organization, Industrial Structure, and Technological Innovation.
Journal of Economic Behavior & Organization. Vol. 31, pg. 193- 224, 1996
WANDERLEY, M. N. B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: Tedesco, J.C. (Org.). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 3.ed. Passo Fundo: Editora da UPF, 2001.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Setor Agrícola Brasileiro: um estudo sobre a diversificação do uso da terra
no estado de Santa Catarina
Igor Martello Olsson1, Melissa Watanabe2, Carla Spillere Busarello3
1UNESC, [email protected]/UNESC, [email protected]/UNESC, [email protected]
Resumo. Servindo como base para o desenvolvimento do homem, a terra passa por constantes mudanças,
ligadas com a utilização que recebe perante à necessidade que lhe é atribuída e por suas condições
edafoclimáticas regionais. Portanto, diversos são os fatores motivadores que tornam o estudo do uso da terra
um fator relevante e que deve ser levado em conta na tomada de decisões. A dinâmica do uso da terra apresenta
características relevantes frente a diferentes usos na produção de alimentos, fibras ou energia. Este estudo
identificou a partir de séries históricas de área plantada das culturas temporárias e permanentes por município
de Santa Catarina no período de 1990 a 2010. Foi utilizado como procedimentos metodológicos fontes de dados
secundários do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), desta forma o meio de investigação foi
documental bibliográfica. Após a análise dos produtos demandantes em áreas no estado, observou-se a
característica dos municípios que são os maiores demandantes de área dos produtos selecionados. Há uma
concentração nos municípios a oeste do estado, a exceção foram municípios ao sul na produção de arroz e
fumo. Assim, a localização geográfica das produções agrícolas estão diretamente relacionadas com às
necessidades fisiológicas das plantas e seu valor no mercado.
Palavras-chave. Uso da Terra, Diversificação Agrícola. Agricultura.
Brazilian Agricultural Sector: a study about the land use
diversification in Santa Catarina
Abstract. Used as base for the development of human beings, the earth goes through constant changes due to
the use it receives before the need assigned to it and its regional climate and soil conditions. So many are the
motivating factors that make the study of land use a relevant factor that should be taken into account in decision
making. The dynamics of land use presents relevant characteristics in the different uses in the production of
food, fiber and energy. This study identified from historical acreage of temporary and permanent crops series by
the municipality of Santa Catarina in 1990 and 2010. It was used as methodological procedures secondary data
sources from the Brazilian Institute of Research and Statistics (IBGE), this way means research was
documentary literature. After analyzing the applicants products in areas in the state, observed the characteristic
of the municipalities that are the largest producers of selected products. There is a concentration in the cities
west of the state, the exception were municipalities south in the production of rice and tobacco. Thus, the
geographical location of agricultural production are directly related to the physiological needs of plants and
their value in the market
Keywords. Land Use, Agricultural Diversification. Agriculture.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Introdução
Servindo como base para o desenvolvimento do homem, desde os primórdios, aterra passa por constantes mudanças, ligadas em certas ocasiões, com a utilização que recebeperante a necessidade que lhe é atribuída por seu utilizador. Portanto, diversos são os fatoresmotivadores que tornam o estudo do uso da terra um fator relevante e que deve ser levado emconta na tomada de decisões.
A dinâmica do uso da terra apresenta características relevantes frente a diferentesusos na produção de alimentos, fibras ou energia. As possibilidades de uso da terra estãorelacionadas diretamente às dimensões biofísicas, socioeconômicas e culturais quecompreendem a geografia humana daqueles que nela vivem e que dependem da decisão damelhor utilização daquele espaço geográfico (WATANABE, 2009).
O presente estudo aporta, em seu embasamento teórico, questões relacionadas aouso da terra, um campo multidisciplinar de estudo, com forte ênfase na geografia humana efísica, relacionando-as à inovação tecnológica e à biofísica e ambiental, entre outrasdisciplinas. Na sua realização, são buscados e analisados dados referentes à localização eextensão das áreas cultivadas, produção, valores da produção e industrialização e índicesdemográficos e socioeconômicos.
De caráter descritivo documental e analítico quantitativo, o presente trabalho tevesuas considerações baseadas em análises quantitativas comparativas, utilizando-se das sérieshistóricas de produção e área destinada ao cultivo das lavouras temporárias e permanentes,bem como das áreas totais das cidades analisadas.
Por fim, o presente trabalho tem como objetivo identificar o uso da terra agrícolados municípios do estado de Santa Catarina no período de 1990 a 2010. Para tal, é descrito opanorama socioeconômico do estado e tabulados os dados referentes às culturas temporárias epermanentes de Santa Catarina.
Uso da Terra
A definição de uso da terra aqui adotada é dada pela forma de exploração humanada cobertura vegetal da terra. Tal uso está associado às questões biofísicas, socioeconômicas eaos contextos culturais que compreendem a geografia humana daqueles que nela vivem e quedependem da decisão da melhor utilização daquele espaço geográfico. Sobre seudesenvolvimento e mudança, é importante compreender quais e como são tomadas as decisõese quais são os fatores que as impactam (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; VERBURG et al.,2006; WATANABE, 2009). Para Youet al. (2010), o uso da terra é influenciado pelo preço dasproduções, pela migração de pessoas das áreas rurais para as urbanas, por políticasgovernamentais e pelo crescimento da indústria urbana.
Segundo Boserup (2008), a expansão das áreas utilizadas na agricultura éresultado da inabilidade e/ou impossibilidade da aplicação de métodos e/ou tecnologias maisavançadas nos cultivares. Busca-se, portanto, aumentar a produtividade, manter o espaçoutilizado para a agricultura e, consequentemente, manejar as áreas de maneira que possam serreutilizadas. Logo, observa-se, conforme citado anteriormente, que o desenvolvimentoagrícola não está ligado apenas à avanços tecnológicos, mas aos métodos de manejo aplicadasàs áreas agricultáveis.
Para Watanabe (2009), gerenciar o uso da terra nas dimensões biofísicas,socioeconômicas e culturais, buscando maximizar o retorno proveniente dos espaçosgeográficos, aparece como método para aperfeiçoar a capacidade de retorno econômico das
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
áreas utilizadas. Por sua vez, compreender que tais áreas possuem caráter finito, éfundamental para que a expansão agrícola aconteça de modo organizado e buscandoconstantemente aumentar a produtividade enquanto garante a capacidade produtiva futuradaquela área.
A manutenção do nível de fertilidade do solo depende, portanto, do equilíbrio dosfatores físicos e químicos, obtido através do manejo adequado do uso da terra, em relação àsnecessidades do cultivo da área. Logo, a conservação da capacidade produtiva à longo prazoestá diretamente relacionada à perda do retorno imediato dos produtores rurais (FRASER,2004).
A falta de ações mitigadoras quanto aos efeitos negativos da produção agrícola noambiente tende, conforme o reuso da área persiste, a propiciar erosões, redução dabiodiversidade, índices de contaminações e de compactação, impermeabilização e salinizaçãodo solo. Ainda que sejam problemáticos de forma individual, a ocorrência de múltiplosimpactos negativos em um mesmo local aumenta ainda mais o impacto causado pelos efeitosindividuais (FRASER, 2004; BRADFORD et al., 2006; AMSALU; STROOSNIJDER;GRAAFF, 2007; YADAV; MALANSON, 2008).
As mudanças no uso da terra podem ter como origem fatores variados, derivadasde ações e decisões humanas ou provenientes de questões ambientais, bem como de suainterações (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003). O principal desafio é identificar claramentequais os principais condicionantes dentre as múltiplas variáveis associadas à mudança no usoda terra e identificar os riscos e vantagens inerentes à cada um destes condicionante(LAMBIN et al., 2001).
Dentre os estudos de caso, são repetidamente consideradas como condicionantesreferentes à: diminuição da produtividade das áreas; geopolíticas que promovem interesses degrupos específicos; indução à inovação; urbanização e consequente mudanças nos padrões deconsumo da população; criação de oportunidades econômicas em novos mercados, entreoutros (LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003).
Como um dos principais fatores para as tomadas de decisão no uso da terra, oclima relaciona-se diretamente nas possibilidades produtivas das regiões, bem como nas suascoberturas vegetais (SALA et al., 2000; PATZ et al., 2005; ROUNSEVELL et al., 2005;BRADFORD et al., 2006). A agricultura, tendo em vista a natureza da plantação, écriticamente dependente de condições climáticas e ambientais para o desenvolvimento docultivar e o retorno esperado da produção.
Tendo sua vida dividida em ciclos, os processos de plantio, germinação,crescimento e florescimento da planta, bem como a produção e maturação dos grãosdependem de temperatura e fotoperíodo ideais (WATANABE, 2009). Logo, áreas plantadasno mundo como a região sudeste do Canadá, noroeste e norte dos Estados Unidos, nordeste daEuropa e a planície da Manchúria chinesa são exemplos de locais que possuem maiorsensibilidade à variações climáticas (RAMANKUTTY et al., 2002; LOBELL; ASNER,2003).
Associando-se às questões climáticas, a quantidade de umidade do solo é fatorrelevante para o desenvolvimento adequado da planta. Portanto, a distribuição de chuva nasregiões é outro indicador levado em consideração quando analisada a necessidade hídrica docultivo, tendo em vista que a agricultura irrigada é restrita a locais que possuam fonteshídricas suficientes para a irrigação do cultivo, excetuam-se, por exemplo, as áreas dosdesertos subtropicais da África, Ásia e Austrália (RAMANKUTTY et al., 2002).
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Metodologia
Os dados de área plantada municipais das culturas a serem selecionadas serãoconvertidos em frações de produção (razão entre a área plantada de cada cultura em particulare a área total municipal). Vale ressaltar que o somatório dos dados de área plantada de todasas culturas pode, em alguns municípios, apresentar valores maiores que a sua área municipaltotal, isso porque, nesses municípios, pode haver o uso múltiplo de áreas, ou seja, a utilizaçãoda mesma área com um, dois ou até três cultivos no mesmo ano. No presente trabalho, comono trabalho de Leff, Ramankutty e Foley (2004), assume-se que todas as culturas apresentamo mesmo padrão de cultivo, ou seja, como se fossem sempre singulares e anuais.
Utilizando como referência o último ano de dados presentes no IBGE, 2014 paraas seguintes análises iniciais: soma de áreas totais do Estado por cultura analisada, seleção dasculturas que apresentam mais de 50 mil hectares plantados para análises subsequentes. Parahaver uma maior homogeneidade nos dados foi utilizado médias relacionadas a três períodos:1990 a 1999; 2000 a 2009; 2010 a 2014. Com estas médiasforam feitos cálculos deproporções de áreas, ou seja, quantidade de área municipal para uma determinada cultura emrelação à área total do município.
Assim, a partir dos cálculos referentes à proporções das médias de área plantadaem relação a área total do município observou-se as seguintes características:proporção dasmédias por município, maiores proporções de áreas plantadas nas culturas selecionadas;relação entre as três médias selecionadas, as culturas selecionadas e municípios com maioresproporções de área plantada.
Foram também analisadas outros fatores como: municípios que aparecem entre oscom maiores proporções de área plantada em mais de uma cultura, em relação às suasdiferentes médias. Analisou-se também as culturas que apresentam um maior número demunicípio com alguma área destinada a elas.
Assim, o presente estudo visa analisar como ocorreu o uso da terra agrícola nosmunicípios catarinenses. Primeiramente foi tabulado os dados do Instituto de Geografia eEstatística – IBGE, com os dados de área plantada a partir das produções agrícolas municipaisdas culturas temporárias e permanentes de 1990 à 2014.
Vale ressaltar que as culturas temporárias que são analisadas pelo Sistema IBGEde recuperação automáticas SIDRA são: Abacaxi, algodão, alho, amendoim, arroz, aveia,batata-doce, batata-inglesa, cana-de-açúcar, cebola, centeio, cevada, ervilha, fava,feijão,fumo, girassol, juta, linho, malva, mamona, mandioca, melancia, melão, milho, rami, soja,sorgo, tomate, trigo, triticale, Já as culturas permanentes são: abacate, algodão, azeitona,banana, borracha, cacau, café, caqui, castanha-de-caju, chá-da-Índia, coco-da-Bahia, dendê,erva-mate, figo, goiaba, guaraná, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, marmelo,noz, palmito, pera, pêssego, pimenta-do-reino, sisal, tangerina, tungue, urucum, uva (IBGE,2016).
Apresentação e Análise de Dados
Quanto a produção do Estado Santa Catarina, observa-se que a área de produçãose manteve praticamente igual a área utilizada na década de 1990. Contando com 152,8 milhectares e uma produção de 567,7 mil toneladas no ano de 1990, tal unidade federativadestaca-se pela capacidade de produção alcançada com a mesma área, chegando em 2010,último ano analisado pela pesquisa, com uma área plantada de 150,47 mil hectares (áreamenor do que o primeiro ano analisado), mas com uma produção de 1.041,6 mil toneladas. O
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
estado obteve mesmo com uma área destinada ao plantio 2,3 mil hectares menor, 473,3 miltoneladas a mais em produção de arroz (OLSSON et al., 2014).
Ao observar a média dos anos 1990 a 1999, observou-se que 31 municípiosapareceram com grandes proporções de área plantada. Municípios como Marema, Quilombo,Serra Alta, dentre outros apresentaram altas proporções na cultura do milho. O Município deMarema está localizado na região mais a Oeste do Estado, tem uma população de poucomenos de 2 mil habitantes e dedica-se a agricultura em uma área de aproximadamente 10 milhectares. Assim apresenta-se uma área pequena e uma proporção alta na cultura do milho.
Ao observar a média dos anos 2000 a 2009, observou-se também que 31municípios apareceram com grandes proporções de área plantada. Municípios como Iporã doOeste, Quilombo, Flor do Sertão, dentre outros apresentaram altas proporções na cultura domilho. O Município de Iporã do Oeste está localizado na região mais a Oeste do Estado, temuma população de pouco menos de 9 mil habitantes e dedica-se a agricultura em apresentauma área territorial de aproximadamente 19 mil hectares.
Da mesma forma que na média dos anos de 2000 a 2009, de 2010 a 1014, o milhoapresentou o município de Iporã do Oeste com maior proporção de área. Já a soja o municípioque apresentou maior proporção de área plantada foi Ipuaçu, município este localizado aOeste do Estado. Ipuaçu apresenta uma área territorial de 26 mil hectares e uma população depouco mais que 7 mil habitantes.
Outro fator que deve ser considerado ao analisar áreas plantadas, são as culturasque apresentam uma maior dispersão entre os municípios de um estado. Isso se faz relevantepois uma vez que uma determinada cultura está presente em uma grande maioria demunicípios ela se torna automaticamente importante para o estado. Esta importância pode sedar conforme já mencionado anteriormente por Lambin, Geist eLepers (2003), devido adimensõesbiofísicas, socioeconômicas e culturais. Desta forma, a tabela 1, apresenta asculturas que mais apresentam municípios com área plantada.
Pode-se observar que a cultura do milho é a que apresenta maior dispersão com286 municípios, ficando ausente apenas 9 municípios que são localizados na região litorâneado Estado e são consideradas balneários. Vale também ressaltar, que estes dados sãoproduções comerciais não computando nela os plantios de uso para a subsistência.
Tabela 1 – Culturas agrícolas e número de municípios que apresentam respectivas área plantada em 2014
Cultura Num. de Municípios
Milho 286
Feijão 267
Mandioca 247
Fumo 218
Uva 192
Soja 182
Laranja 160
Arroz 157
Trigo 145Fonte: Adaptada de IBGE (2016)
Cultura como a erva mate, culturalmente tão reconhecida no estado, estáatualmente em apenas 98 municípios catarinenses. Já a maçã, fruta que tem uma dependênciagrande das dimensões biofísicas apresentam-se em apenas 37 municípios, o que demonstra agrande concentração em poucos municípios a sua produção.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Considerações Finais
O processo de produção agrícola é uma das mais importantes atividades humanasmodernas. Uma vez que nem todas as pessoas estão envolvidas com o processo produtivo quelhe confere seu próprio alimento, a dedicação de pessoas específicas para este fim é condiçãode sobrevivência de uma sociedade. Assim o presente trabalho buscou analisar como ocorre aprodução agrícola no Estado de Santa Catarina. A partir de uma análise das teorias queabordam o uso da terra, fez-se uma análise da teoria Malthusiana e seu contraponto com ateoria boserapeana a qual inclui a variável da melhoria tecnológica no processo de adaptaçãohumana na melhoria dos processos produtivos agrícolas. Observação tal que conduz apossibilidades de melhor uso dos recursos, a menores custos e com menores impactos e comganhos em produtividade.
Como resultado observou-se que as commodities soja e milho foram as culturasque apresentaram maiores áreas no estado. Vale ressaltar também que o milho é o produto queapresenta uma maior dispersão no estado, estando presente na forma comercial a quase todosos municípios. Outro produto bastante regional aparece entre os que apresentam significativaárea plantada, que é o fumo.
Após a análise dos produtos demandantes em áreas no estado, observou acaracterística dos municípios que são os maiores produtores dos produtos selecionados.Observa-se que ficou concentrado a maioria nos municípios a oeste do estado e exceçãoforam municípios ao sul na produção de arroz e fumo. Essa característica é explicada pelanecessidade de que as commodities agrícolas como soja, milho, trigo são demandantes decondições edafo-climáticas específicas com solos mais férteis e maior profundidade dehorizonte A (local de fixação da planta), presentes mais a oeste do estado. Já quando observao arroz, a característica principal é por ser demandante de água, que apresenta abundante nosul do estado. Já o fumo é devido a necessidade de solos mais arenosos e sem a necessidadede solos muito férteis.
Outro fator relevante observado foi a localização geográfica das produçõesagrícolas estão diretamente relacionadas com às necessidades fisiológicas das plantas e seuvalor no mercado. Para estudos futuros sugere-se justamente esta correlação entre produçãomunicipal, renda municipal e variações dos preços agrícolas ao longo do tempo e o quantoessas variáveis impactam no desenvolvimento local e regional.
Referências Bibliográficas
AMSALU, A.; STROOSNIJDER, L.; GRAAFF, J. D. Long-term dynamics in land resource use and the driving forces in the Beressa
watershed, highlands of Etiópia. Journal of Environmental Management, London, v. 83, n. 4, p. 448-459, 2007.
BOSERUP, E. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure. 3 ed. New Brunswick: Transaction Publishers, 2008. 124 p.
BRADFORD, J. B., et al. The influence of climate, soils, weather, and land use on primary production and biomass seasonality in the
US Great Plains. Ecosystems, New York, v. 9, n. 6, p. 934-950, 2006.
FRASER, E. D. G. Land tenure and agricultural management: soil conservation on rented and owned fields in southwest British
Columbia. Agriculture and Human Values, Holanda, v.21, n. 1, p. 73-79, 2004.
FOLEY, J. A. et al. Global consequences of land use. science, v. 309, n. 5734, p. 570-574, 2005.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.Sidra/Produção Agrícola Municipal. 2016. Disponível em: <www.ibge.gov.br>Acesso em: 15 Abr 2016.
LAMBIN, E. F. et al. The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. Global Environmental Change, Inglaterra, v. 11, n. 4, p. 261-269, 2001.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
LAMBIN, E. F.; GEIST, H. J.; LEPERS, E. Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. Annual Review of
Environment and Resources, California, v. 28, p. 205-241, 2003.
LEFF, B.; RAMANKUTTY, N.; FOLEY, J. A. Geographic distribution of major crops across the world. Global Biogeochemical Cycles, Washington, v. 18, n. 1, p. GB1009, 2004.
LOBELL, D. B.; ASNER, G. P. Climate and management contributions to recent trends in U.S. agricultural yields. Science, Washington, v. 299, p. 1032, 2003.
OLSSON, I. M. ; OLIVEIRA, L. R. ; WATANABE, M. ; YAMAGUCHI, C. K. . O estudo de produção agrícola nos municípios de Amesc e Amrec no estado de Santa Catarina, sob a ótica do uso e mudança do uso da terra. In: VII Encontro de Economia Catarinense, 2014, Rio do Sul. Anais do VII Encontro de Economia Catarinense, 2014.
RAMANKUTTY, N. et al. The global distribution of cultivable lands: current patterns and sensitivity to possible climate change. Global Ecology and Biogeography, Oxford, v. 11, n.5, p. 377-392, 2002.
RAMANKUTTY, N.; FOLEY, J. A.; OLEJNICZAK, N. J.People on the land: changes in global population and croplands during the
20th century. AMBIO: A Journal of the Human Environment, Stockholm, v. 31, n. 3, p. 251-257, 2002.
ROUNSEVELL, M. D. A. et al. Future scenarios of European agricultural land use: II. projecting changes in cropland and grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam, v. 107, n. 2-3, p. 117-135, 2005.
SALA, O. E. et al. Global biodiversity scenarios for the year 2100.Science, Washington, v.287, n. 5459, p. 1770-1774, 2000.
WATANABE, M. Diversificação de Commodities no Uso da Terra na Agricultura do Estado do Paraná, Brasil. 2009. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
YADAV, V.; MALANSON, G. Spatially explicit historical land use land cover and soil organic carbon transformations in Southern
Illinois. Agriculture, Ecosystems &Environment, Amsterdam, v. 123, n. 4, p. 280-292, 2008.
YOU, L.; SPOOR, M.; ULIMWENGU, J.; ZHANG, S. Land use change and environmental stress of wheat rice and corn production in China. China Economic Review, v 22, n. 4, p 461-473, 2011.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
PAPEL DO AGRONEGÓCIO NA AGRICULTURA FAMILIAR
Bettina Guterres Menezes11, Rosângela Oliveira Soares Lanes 2
2
1 Acadêmica do sexto semestre do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio. Discente do IFF JC. [email protected]. 2 Mestre em Desenvolvimento. Administradora. Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha- – Campus Júlio de Castilhos. [email protected]
Resumo
O presente trabalho teve como objetivo demonstrar que o agronegócio não é só uma agricultura industrial e
nem trabalha apenas com essa atividade, ele também tem a função de trabalhar e ajudar para o
desenvolvimento da agricultura familiar. Para tanto, a metodologia norteou a aplicação da pesquisa
caracterizada como uma pesquisa tipo exploratória e que utiliza o método a base de referências de sites,
trabalhos acadêmicos e artigos. Os resultados demonstram que o agronegócio é importante para a economia do
Brasil, pois contribui para o crescimento e desenvolvimento do PIB, porém essa contribuição vem das grandes
produções tanto das agrícolas (monoculturas), quanto da pecuária (avicultura, bovinocultura de corte,
suinocultura e entre outros). Porém com o aumento dessas atividades, está comprometendo o meio ambiente
com a intensificação dos desmatamentos, do uso indiscriminado de agrotóxicos, prejudicando a saúde da
população e o meio ambiente do país. A solução para obter um alimento mais saudável é através da agricultura
familiar, pois a mesma ganha cada vez mais destaque na questão ambiental, pois a sua produção se sobressai
por adotar práticas ambientalmente mais sustentáveis, em função, principalmente de sua característica de
produção em pequena escala e por evitar os riscos proporcionados pelas monoculturas de grandes
propriedades. Por fim, se o agronegócio contribuir mais com a agricultura familiar, a população terá muito
mais alimentos saudáveis, os produtores conseguem aumentar a sua renda, e consequentemente mantém o canal
curto entre os agricultores familiares e consumidores, com agregação de valor e a geração de capital.
Palavras-chave. Agronegócio, Agricultura Familiar, Alimentação Saudável.
AGRIBUSINESS ROLE IN THE FAMILY FARM
Abstract. This study aimed to demonstrate that agribusiness is not only an industrial agriculture and not only
works with this activity, it also has the function to work and help for the development of family farming.
Therefore, the methodology guided the application of research characterized as an exploratory research and
using the method of reference sites base, academic papers and articles. The results show that agribusiness is
important to the economy of Brazil, it contributes to the growth and development of GDP, but this contribution
comes from the big productions of both agricultural (monocultures), and livestock (poultry, beef cattle, swine
and among others). But with the increase of these activities, it is compromising the environment with the
intensification of deforestation, the indiscriminate use of pesticides, harming people's health and the
environment of the country. The solution for a healthier food is through family farming, because it is becoming
increasingly prominent in environmental issues, as its production stands to adopt more environmentally
sustainable practices, mainly due to its characteristic of production in small scale and to avoid the risks brought
by monocultures of large estates. Finally, if agribusiness contribute more to family farming, the population will
be much healthier food, farmers can increase their income, and thus keeps the short channel between farmers
and consumers, adding value and generating capital.
Keywords. Agribusiness, Family Agriculture, Healthy Eating.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 1. INTRODUÇÃO
Segundo NOVAES et. al (2010) o agronegócio é caracterizado como uma das principais atividades econômicas do Brasil, pois tem grande participação no PIB e no saldo da balança comercial, os quais mostram que nos últimos anos o agronegócio tem favorecido o avanço da economia brasileira em nível mundial, colocando o país como um dos maiores produtores e exportadores do mundo, em especial na produção e exportação de alimentos.
Para tanto, há uma grande preocupação mundial em relação à segurança alimentar, que nada mais é oferecer a população alimentos de boa procedência e qualidade, garantindo assim um alimento mais saudável e seguro, tornando-se um elemento diferenciador para muitos segmentos do agronegócio (LEONELLI; AZEVEDO, 2001). E um desses segmentos que oferece esse tipo de segurança é a agricultura familiar, devido à exigência dos consumidores por preferirem alimentos mais saudáveis e sem agrotóxicos, ou seja, por alimentos mais orgânicos.
No entanto por mais que o objetivo do agronegócio brasileiro seja por buscar saldos positivos na balança comercial e que receba forte contribuição das exportações agrícolas, sendo importante para o crescimento econômico do país, isso pode fazer com que ofusque a importância da Agricultura Familiar dentro do cenário econômico produtivo, porém não podemos esquecer seu papel fundamental no abastecimento alimentar brasileiro, pois contribui para a geração de renda, para o controle da inflação e para a melhoria no nível de sustentabilidade das atividades agrícolas do país (CODAF, 2016).
Além disso, a agricultura familiar ainda destaca-se por diversificar suas produções, ou seja, consegue exercer várias atividades na propriedade como avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, horticultura, fruticultura e dentre outras, por mais que toda essa produção seja em pequena escala, conseguem manter qualidade nos produtos e consequentemente distribuí-los aos consumidores, pois a sua localização geográfica permite se aproximar dos consumidores, privilegiando, principalmente, as comunidades mais distantes das grandes cidades e, por consequência, dos grandes centros de distribuição (CODAF, 2016).
Portanto o presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do papel do agronegócio na agricultura familiar, pois há falta de informação sobre esse assunto. 2. MATERIAL E MÉTODO
Segundo CALEGARE (2007) a realizar uma pesquisa é uma atividade básica e essencial para o desenvolvimento do conhecimento, pois através dele buscam-se novas informações, novas propostas e novas ações para o desenvolvimento socioeconômico-ambiental.
A natureza deste trabalho, de acordo com o tema e os objetivos estabelecidos, caracteriza-se como uma pesquisa tipo exploratória e utiliza o método a base de referência de sites, trabalhos acadêmicos e artigos.
Uma pesquisa exploratória-bibliográfica é aquela realizada com base em material publicado em livros, jornais, revistas, sites na internet, e que sejam disponibilizados ao público em geral (VERGARA, 2014).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com BATALHA e SILVA, (2007) mostram que o agronegócio foi conceituado a partir de dois autores norte-americanos, são eles, John Davis e Ray Goldberg, que em 1957 lançaram o termo conhecido como agribusiness nos Estados Unidos. No entanto os autores apresentaram o agronegócio de forma sistêmica e integrada e não de
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS forma isolada como até então a agricultura e a pecuária eram tratados e assim Davis e Ray Goldberg definiram o conceito de agronegócio como:
"a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles."
A atividade agrícola é a principal atividade econômica no Brasil, assim o agronegócio passou a ter maior importância com a influência da abertura econômica vigente no país a partir da década de 1980 (NOVAES et. al. 2010).
Conforme o relatório da CEPEA de abril de 2016 em relação ao PIB do agronegócio brasileiro mostra que o mesmo acumulou alta de 1,55 % no primeiro quadrimestre do ano. Esse destaque foi no ramo agrícola, o qual cresceu 2,37% no período frente à queda de -0,22% do ramo pecuário. Pois o movimento de alta no ramo agrícola atrelou-se ao maior patamar de preços, notadamente do segmento primário, destacando-se as altas para as expressivas culturas o milho e o algodão. Já a agroindústria e os agrosserviços mostraram um desempenho contrário com relação aos segmentos nos ramos agrícola e pecuário, pois na indústria de base agrícola, teve desempenho positivo, destacaram-se as altas em celulose e papel, açúcar, etanol, beneficiamento de produtos vegetais, açúcar e óleos vegetais. Já no segmento industrial da pecuária, apenas a indústria de laticínios cresceu ligeiramente no acumulado do quadrimestre.
Na América do Sul, o Brasil é o maior país em extensão de área, com 851 milhões de hectares de área. Desta forma com essa longa extensão territorial e com condições climáticas favoráveis, permite o país desenvolver uma agricultura diversificada, produzindo em zonas temperadas e tropicais. Para tanto, em 2006 existiam aproximadamente 90 milhões de hectares disponíveis para a atividade agropecuária, podendo se esperar um potencial crescimento do agronegócio, baseado na expansão da fronteira agrícola, impulsionado pelo aumento de produtividade dos últimos anos (SRIA/MAPA, 2006).
Nesse contexto de aumentar as áreas de produtividade agrícola e pecuária do país torna-se um fator de grande importância e preocupante para o futuro do agronegócio que é a questão ambiental, pois os novos desmatamentos, em especial para as áreas de expansão da soja, no norte do país, podem criar um sério problema de sustentabilidade. Sendo assim não se pode permitir o atropelo do aspecto econômico sobre os impactos que isso pode causar nas próximas gerações (GUANZIROLI, 2006).
E conforme aos estudos realizados pela ONU as perspectivas do agronegócio brasileiro, apontam que o país deverá ser o maior produtor agrícola até 2017 (SRIA/MAPA, 2006).
Por conseguinte, com essa projeção de o país ser o maior produtor agrícola, consequentemente irá também aumentar mais ainda o uso de agrotóxicos. Pois o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, segundo os autores SPADOTTO e GOMES, 2016 anualmente no mundo são utilizados aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. Já no Brasil o consumo anual de agrotóxicos tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais. Expresso em quantidade de ingrediente-ativo (i.a.), são consumidas anualmente cerca de 130 mil toneladas no país; representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período.
Isso se deve também ao grande aumento de comercialização de agrotóxicos no país, de acordo com os dados do IBGE mostra que a utilização de produtos químicos para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas mais que dobrou em dez anos. Ainda o instituto demonstra um relatório que entre os anos 2002 e 2012, a comercialização de agrotóxicos no país
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS passou de quase três quilos por hectare para sete quilos por hectare, gerando um aumento de 155%. Já São Paulo lidera o ranking dos estados onde a venda de agrotóxicos é maior, seguido de Goiás e Minas Gerais (JORNAL NACIONAL, 2016).
Conforme o que foi relatado nos parágrafos anteriores percebe-se que nós consumidores estamos cada vez mais consumindo alimentos com alta densidade de agrotóxicos, o que coloca nossa saúde e a do meio ambiente do país em risco. A solução para diminuir esse uso indiscriminado de agrotóxicos é o agronegócio dar mais atenção para a produção de alimentos produzidos pela agricultura familiar.
Pois conforme o autor SCHUTTER, (2014) a produção da agricultura familiar será a força motriz da sustentabilidade agroalimentar. No entanto Andrioli (2009, p. 13) defini a Agricultura Familiar como aquela:
“constituída por famílias de agricultores que com seu próprio trabalho produzem alimentos”.
De acordo com BUAINAIM e ROMEIRO (2000), afirmam que a agricultura familiar desenvolve-se, em geral, através dos sistemas complexos de produção, combinando várias culturas, criações animais e transformações primárias, tanto para o consumo da família como para o mercado.
A agricultura familiar caracteriza-se por predominar pequenas propriedades, o número de beneficiados com os resultados financeiros também é um diferencial, o que possibilita a geração de renda em regiões distantes de centros industrializados, oferecendo alternativa, inclusive, contribuindo para fixação do homem no campo (CODAF, 2016).
A mesma ganha cada vez mais destaque na questão ambiental, pois a sua produção se sobressai por adotar práticas ambientalmente mais sustentáveis, em função, principalmente de sua característica de produção em pequena escala e por evitar os riscos proporcionados pelas monoculturas de grandes propriedades. O que acaba agregando a isso os estímulos à produção de alimentos orgânicos ou obtidos por meio da agroecologia, que conferem aos produtos da Agricultura Familiar diferencial competitivo na busca por qualidade e responsabilidade socioambiental (CODAF, 2016).
Em uma temática central para o ano de 2014, a Organização das Nações Unidas – ONU escolheu para discutir a importância da agricultura familiar, pois a mesma engloba 4,3 milhões de unidades produtivas (84% do total) e 14 milhões de pessoas ocupadas, o que representa em torno de 74% do total das ocupações distribuídas em 80.250.453 hectares (25% da área total), no Brasil (KERBES et. al., 2016).
Nesse contexto, a agricultura familiar ainda é responsável por suprir a demanda por alimentos saudáveis dos brasileiros, segundo dados da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (CONTAG) 70% da produção de alimentos consumidos provêm desta fonte (KERBES et. al., 2016).
No mesmo sentido a saída que os pequenos agricultores encontram para vender seus produtos, conquistar os consumidores e ganhar espaço é através das feiras nos centros da cidade. É uma forma que eles utilizam para aumentar a sua renda, e, além disso, contribuem para uma saúde mais saudável aos seus consumidores.
É importante que essa feira seja atuada em grupo, pois assim fortalecem a comercialização dos produtos no sentido de no grupo um poder auxiliar ao outro na definição de preços e investimentos necessários, bem como, na oferta de uma maior diversificação de produtos fazendo com que os consumidores encontrem todos os tipos de alimentos não industrializados em um só local (BRANDÃO et. al., 2015).
Entretanto a agricultura familiar enfrenta algumas dificuldades como:
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS - As áreas de produção muitas vezes estão localizadas no meio das fazendas que produzem monoculturas, principalmente a soja, que em épocas de aplicação de venenos acabam atingindo principalmente a produção hortícula e frutífera e os produtores acabam perdendo sua produção; - Falta de informação sobre os incentivos que o governo oferece; - Os agricultores que são da reforma agrária, muitos estão em situação irregular em suas terras; - Falta de assistência técnica.
As políticas públicas são uma maneira de fortalecer mais a agricultura familiar, no entanto é preciso situar-se de quando foram criadas as políticas para a mesma, a princípio o Estado brasileiro em meados de 1990 passou a reconhecer a agricultura familiar, uma categoria social e política (GRISA et. al., 2015).
Desta forma, foram criadas e reconhecidas pela Constituição Federal de 1988, a qual incitou novos espaços de participação social e os direitos, assim a primeira criação da política pública para a agricultura familiar foi o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf) em 1995 desencadeou a emergência de outras políticas diferenciadas de desenvolvimento rural; a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999, e da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) no interior deste em 2001, institucionalizaram a dualidade da estrutura agrária e fundiária no País; e em 2006, foi regulamentada a Lei da Agricultura Familiar que reconheceu a categoria social, definiu sua estrutura conceitual e passou a balizar as políticas públicas para este grupo social. Além disso, o Brasil passou a destacar-se pelas organizações internacionais multilaterais pela estrutura política e institucional que construiu ao longo dos anos para a agricultura familiar, cujos formatos, objetivos e políticas têm sido “exportados” para outros países (GRISA et. al., 2015).
O Pronaf é destaque, pois se constituiu na principal política agrícola para a agricultura familiar (em número de beneficiários, capilaridade nacional e recursos aplicados) e, historicamente, tem contado com um montante crescente de recursos disponibilizados, atingindo, no Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, o valor de R$ 24,1 bilhões. Ilustrando seu viés de fortalecimento da produção agrícola, diversos estudos apontam que o programa tem beneficiado principalmente as unidades familiares localizadas nas regiões Sul e Sudeste, e promovido o cultivo de produtos competitivos no mercado internacional, os quais são controlados por poucas empresas do sistema agroindustrial e cuja forma de produção está assentada no uso generalizado de insumos modernos (GRISA, et. al., 2015). 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, observou-se que o agronegócio está ainda muito ligado apenas as grandes produções tanto nos setores agrícolas, como nos setores pecuários, o que acaba ofuscando a agricultura familiar que é de extrema importância para suprir a alimentação dos brasileiros.
Para tanto, o agronegócio tem como alternativa os Tecnólogos em Agronegócio para ajudar a agricultura familiar, através das seguintes sugestões: - Unir os agricultores familiares formando um grupo para criar associações para fortalecer a classe, e consequentemente tornar as feiras legais; - Ajudar os agricultores a divulgar melhor os seus produtos chamando os consumidores através do marketing; - Propor inovações nos seus produtos como, por exemplo, utilização de embalagens adequadas para o produto e uma forma de garantir a segurança do mesmo, assim consegue-se agregar valor aos produtos;
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS - Procurar ampliar o canal de comercialização, não ficando só em feiras, mas procurar comercializar para a merenda escolar oferecendo uma alimentação mais saudável para os alunos, além da merenda, para os supermercados da cidade e região; - Informar que políticas públicas o governo oferece para a agricultura familiar; - Informar também sobre a legislação ambiental definida pelo governo; - Buscar cursos gratuitos para melhorar a qualificação dos produtores; - Manter eles atualizados sobre o mercado; - E dentre outras sugestões.
Nesse mesmo sentido, se o agronegócio contribuir mais com a agricultura familiar, a população terá muito mais alimentos saudáveis, os produtores conseguem aumentar a sua renda, e consequentemente mantém o canal curto entre os agricultores familiares e consumidores, com agregação de valor e a geração de capital.
REFERÊNCIAS ANDRIOLI, Antônio Inácio. Tecnologia e agricultura familiar: uma relação de educação. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009. p. 13 BATALHA, M. O.; SILVA, A. L. Gerenciamento de sistemas agroindustriais: definições, especificidades e correntes metodológicas. In: BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão agroindustrial:GEPAI: Grupo de estudos e pesquisas agroindustriais – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2007. p. 1-60. BRANDÃO, Janaína Balk; MAIER, Andréia Furtado da Fontoura; GUIMARÃES, Gisele Martins; POSSANI, Laura. As Feiras Enquanto Espaço de Construção de Identidade: Um de Estudo de Caso em de Alegrete e Itaqui-RS. 53º Congresso da Sober (Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural) 26 a 29 de Julho de 2015 – João Pessoa, PB. Disponível em: <http://www.sober.org.br/>. Acesso em 04 agosto de 2016. BUAINAIM, A. M.; ROMEIRO, A; A agricultura familiar no Brasil: agricultura familiar e sistemas de produção. Projeto: UTF/BRA/051/BRA. Março de 2000. 62p. Disponível em: < http://www.infobibos.com/Artigos/2008_4/AgricFamiliar/> Acesso em: 12 de junho de 2016. CALEGARE, L. Proposta de um modelo de gestão de resíduos de serviços de saúde para os hospitais da Quarta Colônia/RS. Santa Maria. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007. CEPEA-USP. CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/other/Cepea_PIB_BR%201994%202008.xls>. Acesso em: 04 agosto 2016. CODAF-UNESP-SP. Competências Digitais para Agricultura Familiar. A Importância da Agricultura Familiar. Disponível em: <http://codaf.tupa.unesp.br/informacoes/a-importancia-da-agricultura-familiar>. Acesso: 06 agosto de 2016 DAVIS, John H. & GOLDBERG, Ray A. A Concept of Agribusiness. Division of Research. Graduate School of Business Administration. Harvard University, Boston, 1957. 136 p.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Supl. 1, p. S125-S146, 2014 – Impressa em Fevereiro de 2015. GUANZIROLI, C. E. Agronegócio no Brasil: perspectivas e limitações. Economia. Universidade Federal Fluminense, 2006. (Texto para discussão nº 186). Disponível em: <http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD186.pdf>. Acesso em 04 jul. 2009. JORNAL NACIONAL. Uso de agrotóxico no Brasil mais que dobrou em dez anos, aponta IBGE.
Disponível em:
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/uso-de-agrotoxico-no-brasil-mais-que-dobrou-em-dez-anos-aponta-ibge.html>. Acesso em: 06 agosto de 2016. KERBES, Laerte; TASSI, Mariangela de Fatima Alves; BOURSCHEIDT, Vanderlei; DEIMLING, Moacir Francisco. Avaliação das Práticas de Gestão de Materiais em uma Pequena Propriedade Rural. IX EGEPE (Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas), 16 a 18 de março de 2016. Passo Fundo/RS. Disponível em: < http://www.egepe.org.br/2016/index.php>. Acesso em: 04 agosto de 2016. LEONELLI, F.C.V.; AZEVEDO, P.F.; Sistemas de Identidade Preservada em Cadeias Agroindustriais: o caso de produtos não geneticamente modificados. In: III Workshop Brasileiro de Gestão de Sistemas Agroalimentares (Egna), 3. , 2001. Ribeirão Preto: USP, 2001. Disponível em: <http://www.fearp.usp.br/egna/resumos/Leonelli&Azevedo%20.pdf>. Acesso em: 05 agosto 2016. NOVAES, Amilton Luiz; MOREIRA, Bruno Cristaldo Romero; OLIVEIRA, Letícia; TALAMINI, Edson; VIANA, José Jair Soares. Análise dos Fatores Críticos de Sucesso do Agronegócio Brasileiro. 48º Congresso Sober (Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural) 25 a 28 de Julho de 2010 – Campo Grande, MS. Disponível em: <http://www.sober.org.br/>. Acesso em 06 agosto de 2016. SAPADOTTO, Cláudio Aparecido; GOMES. Marco Antonio Ferreira. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_40_210200792814.html>. Acesso em: 06 agosto de 2016. SRIA/MAPA. SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Agronegócio brasileiro: desempenho do comércio exterior.– 2. ed. – Brasília: SRIA/MAPA, 2006. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/MENU_LATERAL/AGRICULTURA_PECUARIA/RELACOES_INTERNACIONAIS/ESTUDOS_PUBLICACOES/AGRO(B)_2.PDF>. Acesso em: 31 julho 2016. SCHUTTER, O de. Report of the special rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. 2014. Disponível em:
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS <http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_en.pdf, 2014> Acesso em: 06 de agosto 2016. VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A importância da inovação tecnológica na gestão rural: um estudo de caso
da VS Agro
Álvaro Sérgio Oliveira1, Marcos Roberto Casarin Jovanovichs2, Rosângela Oliveira Soares
Lanes³
¹ Tecnólogo em Agronegócio - IF Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos, [email protected] ²Mestrando em Agronegócio - UFSM - Campus Palmeira das Missões,
[email protected] ³Mestre em Desenvolvimento/UNIJUI – Docente no IF Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos,
[email protected] Resumo As atividades que envolvem o Agronegócio são extremamente amplas, o que exige melhoria contínua nos processos, desde a produção, o beneficiamento, a transformação, a logística e a comercialização, desde as unidades de produção agropecuária, até o consumidor final. O objetivo deste trabalho será mostrar o cotidiano de uma empresa rural a cerca de sua gestão, que deve atender as particularidades do setor agrícola e entender porque o uso de inovações tecnológicas é cada vez mais necessário aos produtores rurais, para tornar o seu empreendimento competitivo nos âmbitos econômicos sociais e ambientais. Para busca do resultado desta pesquisa utilizou-se a ferramenta Análise Swot, que demonstrará as forças e fraquezas internas e externas bem como as oportunidades e ameaças, que a VS Agro identifica na sua gestão.
Palavras-chave. Agronegócio. Análise Swot. Inovação tecnológica.
THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE
RURAL MANAGEMENT: A CASE STUDY OF VS AGRO Abstract Activities involving agribusiness are extremely extensive, which requires continuous improvement in its processes, from the production, processing, transformation, logistics and commercialization, from the agricultural production units up to the end consumer. The objective of this work is to show the daily life and management of a rural company, which should suit the characteristics of the agricultural sector, as well as understand why the use of technological innovation is increasingly necessary for farmers in making their business competitive in the economic, social and environmental spheres. In order to search for the result of this research, the tool Swot Analysis was utilized, which will demonstrate the internal and external strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats that the VS Agro identifies in its management. Key words. Agribusiness. SWOT analysis. Technological innovation. Introdução
O agronegócio ocupa uma posição de destaque na economia mundial e brasileira com função importante na produção e disponibilização de alimentos para a crescente população. As atividades que envolvem o agronegócio são extremamente amplas, o que exige melhoria contínua nos processos, desde a produção, o beneficiamento, a transformação, a logística e a comercialização, desde as unidades de produção agropecuária, até o consumidor final. O objetivo deste trabalho será mostrar o cotidiano de uma empresa rural a cerca de sua gestão, que deve atender as particularidades do setor agrícola e entender porque o uso de inovações tecnológicas se faz cada vez mais necessárias para o sucesso do empreendimento rural. Os
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
resultados da pesquisa poderão servir de referência para o gestor, e assim ter melhores subsídios para a tomada de decisões.
Atualmente, é cada vez mais premente, ao produtor rural, fazer uso de instrumentos que facilitem a tomada de decisão. De acordo com Tejon (2016), [...] O produtor rural que vai ao futuro vai ser um gestor de dados, vai ter que usar a informática, vai ter que usar assessores, vai ter que usar “essas novas tecnologias.
Metodologia
Para tal estudo, foi utilizada a metodologia do estudo de caso (YIN, 2015), através da observação dos processos realizados pela empresa, coleta e análise dos dados para posterior elaboração do documento. Também se buscou referenciais teóricos em livros e artigos referentes ao assunto para fortalecer a discussão (VERGARA, 2014) e, por fim, foi utilizada a ferramenta de Análise SWOT (KOTLER, 2012). Para melhor compreensão sobre o que levou a VS Agro a obter sucesso em sua atividade e, talvez, sugerir soluções para minimizar problemas encontrados na gestão da empresa.
Figura 1: Fluxograma da metodologia utilizada na presente pesquisa. Fonte: Adaptado de Yin, 2015.
Desenvolvimento
Descrição da Empresa – VS Agro
A pesquisa foi realizada na empresa VS Agro, localizada no município de Júlio de Castilhos, RS. A escolha dessa propriedade rural se deu, por ser considerada uma empresa de médio porte, estruturada e com uma gestão administrativa evidente.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O munícipio de Júlio de Castilhos localiza-se na região Centro Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, a uma distância de 354 km de Porto Alegre. Possui uma superfície de 1.930.389 km² (IBGE, 2015). Júlio de Castilhos faz divisa com 13 municípios.
A população, de Júlio de Castilhos em 2010, era de 19.579 habitantes (IBGE, 2015). De acordo com Lanes (2014, p. 61) somente 17,7 % dos mesmos residiam na zona rural. No meio rural, existem 979 propriedades, sendo que a grande maioria é de agricultores familiares.
A VS Agro, de origem familiar teve início em meados de 1979, quando o casal adquiriu seu primeiro lote de terras. Uma área de 20,9 hectares localizada no Cerrito, distrito de Júlio de Castilhos, RS. Na oportunidade em que saíram do interior de Nova Palma – RS e estabeleceram-se em solos castilhenses. O trabalho na lavoura, juntamente com a profissão de caminhoneiro, geravam renda e sustentabilidade à família.
A empresa estudada é uma média propriedade rural familiar. A sede está localizada no distrito denominado Portão, município de Júlio de Castilhos - RS, situada a 10,5 Km da cidade pela estrada que liga Júlio de Castilhos a Pinhal Grande – RS, conforme Figura 2.
Figura 2: Localização da propriedade, 2016.
Fonte: Elaborado pelo Autor em Google Earth, 2016.
Quanto ao tamanho, as propriedades rurais são definidas a partir da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que classifica os imóveis rurais (INCRA, 2013). Diante disso a empresa estudada é considerada uma média propriedade rural que segundo a mesma Lei vai de 4 a 15 módulos fiscais, que no município de Júlio de Castilhos é de 35 hectares.
A propriedade é caracterizada como familiar, pois praticamente todo o trabalho é realizado pelo pai e pelo filho. O trabalho efetuado é um somatório de forças, experiência. Trabalho e capital de um. Assessoria técnica, administrativa e mão-de-obra do outro.
Administração da propriedade rural
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O papel do administrador na empresa rural tem a função primordial para o desempenho da propriedade. No entendimento de Callado (2011, p. 20)
Um aspecto fundamental para a contextualização contemporânea do agronegócio está associado a maneira pela qual sua gestão tem incorporado diversas práticas tradicionalmente relacionadas a organizações industriais, comerciais e prestadoras de serviços tipicamente urbanos.
O gestor rural necessita não só o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência para o diagnóstico da sua empresa, estes fatores determinam parte do seu sucesso na agropecuária. As operações de gestão agrária são consideradas sob um tríplice aspecto: o técnico, o ambiental e o financeiro.
A importância da apropriação de práticas administrativas sistêmicas dentro dos negócios agroindustriais é comentada por Farina (2000, p. 23), que evidencia as relações entre os seguimentos componentes de uma cadeia produtiva relativamente aos padrões de concorrência, crescimento e competividade.
Dessa forma, Callado (2011, p. 23) considera, “[...] gestão administrativa abrange dois aspectos principais: o processo produtivo e as atividades comerciais”. Ainda, o mesmo cita o que considera ser atividades internas.
Operação de manutenção dos vários fatores produtivos; Escolha e coordenação dos procedimentos de execução das varias operações empresariais; Execução das várias operações produtivas para obtenção do produto. (CALLADO; 2011, p.23).
Para o autor as atividades externas, devem ser consideradas, tais como “aquisição de todos os materiais e de outros fatores produtivos necessários à produção; colocação no mercado dos produtos e subprodutos obtidos; operação de financiamento”. Callado (2011, p. 23). Devido às transformações ocorridas no contexto do Agronegócio surge um novo posicionamento para a propriedade rural, que no início de suas atividades de forma tradicional, com uma visão limitada do negócio. Vale ressaltar, que a globalização e evolução da tecnologia, possibilitou o acesso e uma diferente perspectiva, no âmbito rural.
Bens e Tecnologias
Bessant e Tidd (209) afirmam que a inovação é a aplicação de conhecimentos e saberes através de mudanças que resultam em novos processos, produtos, serviços ou até em uma nova abordagem.
A propriedade rural, objeto desse estudo busca a inovação para manter a qualidade da sua produção. Nestes aspectos faz uso de diferentes tecnologias que asseguram um bom gerenciamento e segurança, tanto no que tange a administração rural, segurança da propriedade, garantias na produção bem como para gerar informações confiáveis para tomada de decisões. A empresa possui no seu aporte tecnológico os seguintes bens:
• Agricultura de precisão; • Sementes geneticamente modificadas; • Plantio direto; • Sistema de irrigação por pivôs;
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
• Sistema irriga1 • Internet; • Monitoramento por câmeras (da propriedade); • Maquinário com (GPS); • Software para controle rígido das movimentações financeiras: geram
informações confiáveis para tomada de decisões. Assim sendo, estas tecnologias (Figura 3) auxiliam na tomada de decisões e tornam a empresa rural diferenciada e competitiva.
Figura 2: Bens e tecnologias utilizadas pela VS Agro. Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016.
No entendimento dos autores (BESSANT e TIDD, 2009), inovação é um processo que precisa ser gerenciado. Tal afirmação corrobora com a atividade realizada pela VS Agro, ao utili zar diversas tecnologias para auxiliar nas atividades da empresa, podendo obter dados e ações mais precisas.
Resultados
Após ter acompanhado as atividades optou-se, por meio da aplicabilidade da ferramenta de análise SWOT. Essa ferramenta consiste em um suporte importante para a tomada de decisão e é frequentemente usada como forma de sistematicamente analisar os ambientes interno e externo da organização.
1 Sistema Irriga iniciou em 1993, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1993. O Sistema Irriga® gerencia o manejo e monitoramento de irrigações a serem aplicadas pelos diferentes métodos e sistema de irrigação. Atua no monitoramento de áreas irrigadas em todo o Brasil, com escritórios nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Disponível em https://www.sistemairriga.com.br/?servico=tecnologia.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Kotler (2012, p. 49) “avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa é denominada análise SWOT”. Para fazer uma análise da gestão como um todo no que tange a administração, trazer a tona os aspectos positivos e negativos da atual administração.
Depois de vivenciar as rotinas da empresa e também compreender o contexto atual da propriedade e dos recursos existentes, foi aplicada a ferramenta de análise SWOT, dessa forma, contextualizou-se o levantamento dos itens obtidos através dos processos aplicados na propriedade.
No primeiro momento, o diagnóstico considera o ambiente interno, observando seus pontos fortes e fracos. No segundo momento busca-se identificar as oportunidades e ameaças que afetam diretamente a propriedade e são incontroláveis pela mesma.
A análise interna conforme, o Quadro 1, verificou os pontos fortes e pontos fracos que estão no ambiente da empresa rural estudada e que afetam o seu desempenho organizacional. As forças internas são aspectos positivos que a propriedade rural deve manter ou ainda melhorar.
Por outro lado, o empreendimento rural também apresenta fraquezas internas, que precisam ser melhorados ou neutralizados para não atrapalharem o seu desempenho.
Quadro 1 : Análise do ambiente interno: forças internas e fraquezas internas, da VS Agro 2016. Fonte: Adaptado de KOTLER, 2012.
Forças Internas Fraquezas Internas
- Agregação de valor de parte da produção; - Área própria; - Controle rígido das movimentações financeiras; - Disponibilidade de água; - Equipamentos e máquinas; - Estrutura física da empresa; - Experiência e conhecimento prático da atividade; - Gestão Familiar; - Mão de Obra predominante familiar; - Organização da estrutura e funcionamento; - Profissionalização do Proprietário; - Proprietário reside na empresa; - Sistema de Irrigação.
- Áreas descentralizadas; - Confronto na escolha de culturas; - Custo e receita; - Deslocamento de maquinário; - Dificuldade de contratação de mão de obra
qualificada quando necessário; - Falta de um sistema de comunicação interna (rádio
comunicador); - Sobrecarga (física e mental) de funções devido ao
acumulo de atividades exercidas pelos proprietários.
A propriedade apresenta como forças internas a estrutura física com bons equipamentos e máquinas não dependendo de terceiros no processo produtivo, suas benfeitorias também se encontram em bom estado procurando sempre por parte do proprietário a sua conservação e manutenção, contemplando uma casa de alvenaria, um galpão de que é utilizado para guardar os equipamentos agrícolas, guardar os insumos. Possui energia elétrica, água encanada e telefone que permitem o desenvolvimento. Sua mão de obra é basicamente familiar contando com ajuda de mão de obra sazonal em períodos de safra e de demanda de maiores serviços.
Como fraqueza interna é possível destacar a cultura predominante, onde o proprietário toma as decisões principais. Esse aspecto da empresa ser familiar, sua postura de gestão é limitada em alguns casos para a resolução de problemas rotineiros e a difícil inserção de novas ideias no negócio.
Quadro 2: Análise do ambiente externo: oportunidades e ameaças da VS Agro, 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Fonte: Adaptado de KOTLER, 2012.
Oportunidades Ameaças
- Boa aceitação do produto no mercado; - Concorrência; - Contratos Futuros; - Expansão de área; - Exploração de novos mercados; - Novas Culturas; - Tecnologia a serviço da produtividade; - Unidade de recebimento próximo; - Venda de Resíduos da produção.
- Aumento da Insegurança (assalto); - Autocusto da produção dos grãos; - Estrada de terra; - Fonte de energia elétrica deficiente; - Inadimplência das cooperativas; - Intempéries climáticas; - Política do país Instável; - Tempo elevado de descarga nas unidades de
recebimento; - Variação cambial.
Analisando as oportunidades (Quadro 2), é identificado que existe boa aceitação dos produtos finais no mercado, isso indica um baixo risco na comercialização dos produtos agropecuários. A demanda crescente pelos produtos agrícolas, a exportação, a tecnologia à serviço da produtividade, o que gera queda nos custos operacionais e maior rentabilidade.
E, por último, a proximidade com os fornecedores de produtos e serviços, como uma oportunidade que facilita a solução de problema. Entretanto, devemos considerar que o maior potencial da propriedade hoje é a manutenção na atividade agrícola.
Esse panorama abrange algumas dimensões que afetam diretamente ou indiretamente a atuação, o desenvolvimento e o crescimento das atividades da propriedade rural, levando a mesma a tomar atitudes de reação sobre essas dinâmicas.
Considerações
O objetivo deste trabalho foi relatar o cotidiano de uma empresa rural acerca de sua gestão, compreender as particularidades do setor agrícola e entender porque o uso de inovações tecnológicas se faz cada vez mais necessárias para o sucesso do empreendimento rural. Para tanto, a análise SWOT apresentou resultados que poderão servir de referência para o gestor, para a tomada de decisões.
Percebeu-se a evolução da VS Agro através da profissionalização de seus proprietários, do controle rígido das movimentações financeiras e da percepção de se ter um olhar sistêmico sobre os processos que envolvem a obtenção de um produto ou serviço. Também o planejamento estratégico e presente no cotidiano da empresa, ou seja, a empresa sabe o que faz e onde quer chegar no curto e longo prazo através da análise de cenários (fraquezas, ameaças, pontos fortes e pontos a melhorar).
A empresa demonstra em sua gestão a visão inovadora, visto que investe em novas tecnologias como agricultura de precisão, irrigação, softwares para coleta e interpretação de dados e busca novos mercados através da implantação de culturas como feijão, milho saindo da monocultura do soja e promovendo a diversificação da produção.
Dessa forma, poderá tornar a unidade produtiva competitiva no seu segmento e principalmente estimulará a sucessão familiar. Poderá desenvolver um ambiente agradável para o crescimento pessoal e financeiro dos proprietários, familiares e colaboradores com o aumento da auto-estima de todos envolvidos no processo.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO 6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Referências
BESSANT, J. R.; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. CALLADO, Antônio André Cunha (org). Agronegócio. 3º ed. São Paulo: Atlas, 2011.
FARINA, E. M. M. Q. Organização industrial no agribusiness . In: ZYLBERZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava (Org.). Economia e
gestão dos negócios agroalimentares . São Paulo: Pioneira, 2000.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades 2015. Disponível em: URL: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431120. Acesso em 20.jul de 2016.
INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Tabela de módulo fiscal. Disponível em: www. http://www.incra.gov.br/tabela-modulo-fiscal Acesso em: 12 abr. 2016.
INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Tamanho das Propriedades Rurais . Disponível em: http://www.incra.gov.br/tamanho-propriedades-rurais . Acesso em 4 jul. 2016.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.
LANES, Rosângela Oliveira Soares. Entraves e avanços na implantação das boas práticas de fabricação em pequenas agroindústrias
familiares em Júlio de Castilhos/RS . Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento). Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ – 2014.
TEJON, José Luiz Megido:Visão do Agronegócio na Atualidade. [jun 2016]. Entrevistador: Marcelo Brum. Entrevista concedida a TV A Voz do Campo.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Tradução: Cristhian Matheus Herrera. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O desenvolvimento da olivicultura no Rio Grande do Sul: elementos que influenciam a formação da cadeia produtiva
Denise Saueressig¹
Glauco Schultz²
¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(CEPAN/UFRGS).
² Doutorado e Mestrado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEPAN/UFRGS).
Professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
Resumo: Tradicional importador de azeite de oliva, o Brasil registrou, nos últimos anos, o crescimento do
cultivo de olivais em algumas regiões, sendo que o Rio Grande do Sul desponta como principal estado produtor.
Considerando o contexto recente da atividade, ainda existem poucos estudos e pesquisas científicas realizadas na
área no País. Este trabalho tem o objetivo de contribuir com a geração de conhecimentos a respeito do setor, que
vem demonstrando expansão no Estado com o interesse e o trabalho de empreendedores e de instituições de
pesquisa e do governo. O estudo identifica os elementos que colaboraram para a estruturação da cadeia produtiva
da olivicultura especialmente entre os anos de 2005 e 2015. Foi possível, por meio da revisão teórica, além da
pesquisa em fontes secundárias, identificar os motivadores para a formação da referida cadeia e as possibilidades
e desafios para a continuidade deste processo de desenvolvimento. O trabalho demonstra que os produtores
gaúchos reúnem as condições necessárias para a manutenção do crescimento da atividade e que são justificadas
por fatores como condições de solo e clima propícias, demanda de mercado e ambiente organizacional favorável.
Palavras-chave: Olivicultura. Azeite de Oliva. Cadeia Produtiva.
The development of olive oil production in Rio Grande do Sul: elements
that influence the formation of the production chain Abstract: Traditional olive oil importer, Brazil registered in recent years, the growth of the olive cultivation in
some regions, and the Rio Grande do Sul State's main stands out as producer. Considering the recent context of
the activity, there are still very few studies and scientific researches carried out in the area in the country. This
research has the objective of contributing to the generation of knowledge about the sector, demonstrating the State
expansion with the interest and the work of entrepreneurs and research institutions and the government. The study
identifies the elements that contributed to the structuring of olive production chain especially between 2005 and
2015. It was possible, through the theoretical review, in addition to the research on secondary sources, identify
the motivators for the formation of this chain and the opportunities and challenges to the continuity of this process
of development. The study demonstrates that the gauchos bring together the necessary conditions for the
maintenance the growth of activity that are justified by factors such as propitious climate and soil conditions,
market demand and favourable organizational environment.
Keywords: Olive Tree. Olive Oil. Production Chain.
Introdução
O Brasil é um tradicional importador de azeite de oliva. Nos supermercados, os consumidores estão acostumados a encontrar marcas com origem nos grandes países produtores, como Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Os olivais são cultivados principalmente nas regiões
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS semiáridas do Mar Mediterrâneo, onde a planta se desenvolve em condições de elevadas temperaturas e baixo volume de chuva nos meses de verão (Coutinho et al., 2015). Nos últimos anos, um movimento crescente de empreendedores interessados na fabricação do azeite resolveu investir no cultivo de olivais e elaborar sua própria produção no Brasil. Assim, foram formados polos em estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. As iniciativas que surgiram, além do aporte dos empresários, contam com a colaboração de universidades, órgãos do governo e instituições de pesquisa e extensão rural. No Rio Grande do Sul, o desenvolvimento da olivicultura foi significativo especialmente nos últimos anos. A área cultivada com olivais passou de 12 hectares em 2005 para 1.670 hectares em 2015, segundo a Emater/RS (Encontro Estadual de Olivicultura, palestra do engenheiro agrônomo Tailor Luz Garcia, A Olivicultura no Rio Grande do Sul, Bagé/RS, 25/11/2015). A evolução dos números vem acompanhada da estruturação de uma cadeia produtiva composta por fornecedores, produtores, indústrias, varejo e mercado consumidor. Ao mesmo tempo, agrega elementos além deste complexo vertical, como os ambientes organizacional e institucional. É o que Zylbersztajn (1995; 2010) define como sistema agroindustrial (SAG). A demanda de empreendedores da olivicultura por serviços, informações e tecnologias capazes de suprir carências encontradas no processo produtivo motivou o governo do Estado do Rio Grande do Sul a investir em estratégias para fortalecimento da cadeia, num exemplo de envolvimento organizacional. Batalha e Silva (2014) afirmam que uma análise em termos de cadeia de produção agroindustrial permite uma visão global do sistema e a melhor coordenação entre os agentes envolvidos diretamente com as atividades de produção e os agentes “de apoio”, entre os quais se destaca o governo. Entre as iniciativas que surgiram nos últimos anos está o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), lançado em 2015 no âmbito da Câmara Setorial das Oliveiras na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. O presente trabalho descreve as principais ações propostas pelo programa governamental, traça um breve histórico do cultivo de olivais no Rio Grande do Sul e apresenta o perfil da produção atual. Com o apoio do referencial teórico que abrange cadeias produtivas, agribusiness e sistemas agroindustriais, o estudo utilizou dados secundários para analisar e demonstrar a relevância do processo de estruturação da olivicultura no Rio Grande do Sul e, da mesma forma, indicar potencialidades e desafios para a continuidade do crescimento da atividade. Discussão Teórica As mudanças nos sistemas agrícolas, especialmente na segunda metade do século XX motivaram uma série de estudos sobre as operações que envolvem mais do que a produção propriamente dita, agregando as atividades a jusante e a montante do processo. O trabalho mais reconhecido é o realizado por John Davis e Ray Goldberg na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1957. Os dois pesquisadores, conforme citado por Batalha e Silva (2014), foram responsáveis pela criação do conceito de agribusiness, que envolve a soma de todas as operações de produção, armazenamento, processamento e distribuição, tanto de insumos quanto de produtos agrícolas e seus derivados. Assim, a atividade agrícola passa a fazer parte de uma extensa rede de agentes
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS econômicos. Graziano da Silva (1996, p.66) considera que os trabalhos de Harvard tiveram “o grande mérito de deslocar o centro da análise de ‘dentro para fora da fazenda’, evitando tratar o setor agrícola como isolado do resto da economia”. A noção de commodity system approach (CSA) é abordada em estudo posterior de Goldberg em 1968 e envolveu os sistemas de soja, trigo e laranja nos Estados Unidos. A partir desta definição, o pesquisador passa a aplicar conceitos com origem na economia industrial, indo além do referencial teórico da matriz insumo-produto (Batalha e Silva, 2014). Outra abordagem surge a partir de estudos da escola de economia francesa que levaram à criação do conceito de cadeia (filière), que reafirma o crescimento da interação entre as diferentes etapas do processo produtivo, desde a industrialização de insumos até a fabricação de alimentos. Graziano (1996, p.67) cita que mais do que “traduzir” o termo agribusiness para o francês, Louis Malassis, em 1973, “enfatizou a sua dimensão histórica, situando o complexo agroindustrial como característico da etapa do desenvolvimento capitalista em que a agricultura se industrializa”. No Brasil, termos como cadeia de produção, complexo agroindustrial e agronegócio passam a ser utilizados mais frequentemente a partir da década de 1980, num processo de reflexão teórica a respeito das transformações percebidas na produção rural do País. Trabalhos desenvolvidos desde 1990 pelo Centro de Conhecimento em Agronegócios (Pensa), da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), estão entre as pesquisas que colaboraram para a disseminação destes conceitos nos meios acadêmico e econômico brasileiros. Uma das propostas conceituais dos pesquisadores do Pensa refere-se ao sistema agroalimentar (SAG), que será utilizado na presente pesquisa por envolver, além dos agentes da cadeia produtiva, o ambiente institucional e as organizações de suporte relacionados à mesma. Zylbersztajn (2010, p.13) define o SAG como “um conjunto de relações contratuais entre empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor de determinado produto”. O autor ressalva que embora o SAG represente um conceito mais amplo, a literatura de cadeias produtivas também considera aspectos institucionais. Uma característica dos SAGs são as modificações que podem ocorrer ao longo do tempo, já que as relações entre os agentes podem sofrer mudanças originárias em fatores externos ou tecnológicos. Percebe-se, ao analisar a cadeia produtiva da olivicultura no Rio Grande do Sul, que transformações vêm ocorrendo nos últimos anos, também como consequência de um sistema que ainda se encontra em estruturação. Zylbersztajn (2010) enumera os agentes que compõem o SAG para um melhor entendimento do seu funcionamento. São eles: consumidor; varejo; atacado; agroindústria e produção primária. Os ambientes institucional e organizacional representam as margens que amparam o fluxo formado pelos agentes (Figura 1). Figura 1 – Sistema de Agribusiness e Transações Típicas ___________________________________________________________________________
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Ambiente Organizacional: Associações, Informação, Pesquisa, Finanças, Cooperativas, Firmas
T1 T2 T3 T4 T5
Ambiente Institucional: Cultura, Tradições, Educação, Costumes ___________________________________________________________________________ Fonte: Adaptado de Zylbersztajn, 1995; 2010 Metodologia A discussão teórica de conceitos como cadeia produtiva, agribusiness e sistema agroalimentar (SAG) sustenta a pesquisa sobre a olivicultura no Rio Grande do Sul, que é abordada no presente estudo devido à relevância do crescimento da atividade especialmente nos últimos dez anos. O enfoque sobre a abordagem de SAG, de Zylbersztajn (1995; 2010), ajuda a entender como os ambientes organizacional e institucional vêm colaborando para a estruturação da referida cadeia. A pesquisa qualitativa envolveu, além do referencial bibliográfico, a consulta a dados secundários em fontes e publicações diversas. Anterior à análise da cadeia da olivicultura no Estado gaúcho, o trabalho apresenta um breve panorama sobre a produção mundial e outras iniciativas desenvolvidas no Brasil. Olivicultura no mundo A história da oliveira remete aos tempos bíblicos, indicando que é um dos cultivos mais antigos do mundo. Há relatos da existência da planta na Palestina entre 3 mil e 4 mil anos a.C. Atualmente, a área cultivada com oliveiras no mundo é de aproximadamente 10 milhões de hectares, sendo que 90% desse total estão na costa do Mar Mediterrâneo (Coutinho et al., 2015). O International Olive Council (IOC), organização criada em Madri, na Espanha, em 1959, estima que a produção mundial de azeite de oliva cresceu de cerca de 1 milhão de toneladas em 1958/1959, para 2,988 milhões de toneladas em 2015/2016 (IOC, 2016). A Espanha é o maior produtor, com aproximadamente 60% do total. Excluindo o comércio entre os países da comunidade europeia, o Brasil foi o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo no ciclo agrícola 2014/2015 (01 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015), atrás apenas dos Estados Unidos. Neste período, o País importou 67.648,6 toneladas. Já os EUA responderam por importações de 311 mil toneladas (IOC, 2016). O incremento das importações tem razões como a divulgação de benefícios da dieta mediterrânea na saúde, a entrada de produtos no mercado interno com preços mais acessíveis e
Insumos Agricultura Indústria Alimentos e Fibras
Distribuição Varejo
Distribuição Atacado
Consum
idor
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS o aumento do poder aquisitivo de algumas classes sociais no País (Bertoncini et al., 2010). Ao definir os agentes que compõem o SAG, Zylbersztajn (2010, p.16) salienta que o consumidor é o ponto focal para onde convergem os produtos do SAG. “O consumidor moderno vem apresentando algumas mudanças que são fruto da globalização dos hábitos e padrões, preocupação com a qualidade e aspectos da saúde”. Ainda que as importações de azeite de oliva tenham aumentado no período citado, o consumo per capita no Brasil é baixo quando comparado com outros países. Enquanto os brasileiros consomem em torno de 200 gramas por habitante/ano, os gregos, por exemplo, registram índice de 23 quilos por pessoa ao ano (Bertoncini et al., 2010). São números que revelam o grande potencial que existe para o produto no mercado interno. Olivicultura no Brasil Além da cadeia produtiva formada no Rio Grande do Sul e que é objeto de estudo do presente trabalho, o Brasil registrou, nos últimos anos, iniciativas de cultivo de olivais e industrialização do azeite em outros estados. Algumas experiências e projetos mais adiantados são relatados em microclimas favoráveis à cultura, como a Serra da Mantiqueira nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Já na Região Sul, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) realiza ações na área para atender a demanda crescente de produtores pela cultura (Epagri, 2016). Experiências bem-sucedidas caminham lado a lado com desafios para a consolidação da olivicultura brasileira. São aspectos presentes desde o manejo até o controle de qualidade do produto final. “[...] é necessário o alinhamento entre os diferentes elos da cadeia (produtores, beneficiadores, comerciantes e consumidores) para garantir a competitividade do setor e a instituição de marcas de azeite e azeitonas de mesa genuinamente nacionais”. (Coutinho et al., 2015, p.16-17). Em âmbito nacional, em 01 de fevereiro de 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou a Instrução Normativa Nº 1 que define padrões oficiais de classificação do azeite de oliva e do óleo do bagaço de oliva. Foi a primeira legislação nacional sobre a produção e que envolve requisitos de identidade, qualidade, classificação e rotulagem (MAPA, 2012). Esforços e iniciativas por parte de governos se enquadram nas definições retratadas por Zylbersztajn (2010) nos sistemas agroindustriais (SAGs), em que as relações verticais ao longo das cadeias produtivas devem servir de balizador para a formulação de estratégias empresariais e políticas públicas. Para Batalha e Silva (2014, p.22):
A utilização do conceito de cadeia de produção como instrumento de formulação e análise de políticas públicas e privadas busca fundamentalmente identificar os elos fracos de uma cadeia de produção e incentivá-los através de uma política adequada. Segundo esta visão, o sucesso de uma cadeia de produção agroalimentar é o resultado do desenvolvimento harmonioso de todos os agentes que atuam na cadeia.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Leis e regras se enquadram no ambiente institucional do SAG, segundo Zylbersztajn (2010). A mudança nas organizações, segundo o autor, pode ocorrer com rapidez, enquanto as instituições apresentam mudanças mais lentas. “Assim sendo, a dinâmica das empresas adapta-se ao ambiente institucional, mas também busca modifica-lo, exercendo pressões sobre o legislativo em busca de regras mais adequadas aos seus interesses” (Zylbersztajn, 2010, p.20). Olivicultura no Rio Grande do Sul Existem registros da presença de olivais no Rio Grande do Sul no início dos anos 1800, quando a planta teria sido introduzida pelos imigrantes açorianos e, posteriormente, italianos e espanhóis. No entanto, o cultivo chegou a ser proibido pela Coroa portuguesa para que não existisse concorrência com os azeites de Portugal (Pró-Oliva, 2016). O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire visitou o Estado em 1820 e, em seus relatos que deram origem ao livro “Viagem ao Rio Grande do Sul”, descreveu na sua passagem por Porto Alegre que “plantaram-se algumas oliveiras que produziram muito bons frutos, mas em pequena quantidade” (Saint-Hilaire, 2002, p.58). No final dos anos 1930, o governo do Estado importou plantas da Argentina para realizar estudos em estações de pesquisa. Já em 1948, foi criado em caráter oficial o Serviço Oleícola, órgão integrante da Secretaria da Agricultura (Pró-Oliva, 2016). No entanto, a carência de base técnica, de tecnologias apropriadas e de manejo adequado são algumas das razões para insucessos na produção nas décadas seguintes. A partir dos anos 2000, a iniciativa de empresários de diferentes setores da economia passou a influenciar os rumos da olivicultura no Rio Grande do Sul e chamar a atenção para esta que representa agora uma alternativa de diversificação da matriz produtiva especialmente para municípios da metade sul do Estado. A região, com base em avaliações técnicas, reúne as melhores condições para o cultivo da oliveira, planta que não tolera excesso de umidade e que se desenvolve melhor quando as estações são bem definidas, com inverno frio e verão seco e quente (Coutinho et al., 2015). Em 2013, após estudos realizados entre especialistas de diferentes instituições do Brasil e do exterior, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou o Zoneamento Edafoclimático da Olivicultura para o Rio Grande do Sul. A publicação é voltada a esclarecer as regiões com aptidão para o cultivo, assim como aquelas que não reúnem as melhores condições para o desenvolvimento da planta. “O Estado dispõe de quase 6,8 milhões de hectares de terras com aptidão edafoclimática ‘recomendável’, dos quais 51% localizam-se na metade sul do Rio Grande do Sul e 10,6 milhões de hectares com aptidão edáfica ‘pouco recomendável’”. (Alba et al., 2013, p.5). Orientações técnicas são importantes para todas as culturas agrícolas e, no caso da olivicultura, passa a ter papel fundamental num momento em que a cadeia busca consolidação e suporte para o crescimento. O envolvimento de pesquisadores de diferentes instituições e universidades oferecem suporte aos produtores que investem na cadeia. A participação de prefeituras de municípios produtores, viveiristas, além da pró-atividade dos próprios empreendedores constituem um ambiente organizacional de importância significativa para a continuidade da
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS evolução da cadeia. Associações de produtores criadas nos últimos anos também colaboram para a organização da atividade. Em 2012, a Secretaria da Agricultura criou a Câmara Setorial da Olivicultura e, em julho de 2015, foi lançado oficialmente o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), que é estruturado em ações de subprogramas: Defesa Sanitária e Produção de Mudas de Qualidade; Aumento da Produção e Produtividade dos Olivais – Assistência Técnica e Pesquisa; Industrialização de Azeites e Conservas; e Crédito – Linhas de Financiamento (Pró-Oliva, 2015).
O programa também relaciona gargalos que precisam ser trabalhados, como a carência de insumos registrados para a cultura; a necessidade da normatização na produção de mudas; a pouca assistência técnica disponível; a dificuldade no levantamento de dados; os baixos recursos para pesquisas; e a falta de mão de obra especializada, segundo informou o engenheiro agrônomo Paulo Lipp João (Bagé/RS, Encontro Estadual de Olivicultura, 25/11/2015, palestra). Os desafios identificados não impediram o crescimento da olivicultura no Rio Grande do Sul entre os anos de 2005 e 2015. A Emater/RS informa que a área cultivada neste período passou de 12 hectares para 1.670 hectares. A produção está presente em 55 municípios, envolve 139 produtores, seis indústrias de extração e 13 marcas de azeite (Garcia, 2015). As unidades de extração pertencem a produtores, que além da industrialização da sua própria colheita, adquirem a produção de terceiros. Zylbersztajn (2010) lembra que a multifuncionalidade do espaço rural vem crescendo nos últimos anos, levando ao desenvolvimento de outras atividades de renda, e não mais apenas a agricultura. O processo, diz o autor, motiva a formação de um novo perfil do tradicional homem do campo. Considerações Finais A abordagem teórica e os elementos identificados na olivicultura do Rio Grande do Sul permitem analisar a atividade a partir dos conceitos de cadeia produtiva e de sistema agroindustrial (SAG). Foi possível, por meio do presente trabalho, avaliar o contexto e os elementos que colaboram para a estruturação e desenvolvimento desta cadeia ainda jovem no cenário econômico gaúcho. A pesquisa buscou, em dados coletados sobre o setor, demonstrar que o crescimento da olivicultura nos campos do Rio Grande do Sul foi bastante significativo entre os anos de 2005 e 2015, o que expressa a relevância do presente estudo. Fatores como demanda do mercado e potencial para aumento do consumo, condições de solo e clima favoráveis e experiências bem-sucedidas com produção de alta qualidade estão entre as razões para a evolução registrada nos últimos anos. Ao mesmo tempo, é identificada a necessidade e pertinência de novos e aprofundados trabalhos a respeito do tema. É importante continuar as análises sobre os percursos e desafios para a continuidade do desenvolvimento da referida cadeia, assim como a investigação da evolução da mesma a partir de iniciativas públicas e privadas e que configuram o ambiente organizacional e institucional no entorno dos agentes do sistema.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO
AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS Referências Bibliográficas ALBA, J. M. F; et al., editores técnicos. Zoneamento edafoclimático da olivicultura para o Rio Grande do Sul. Brasília: Embrapa, 2013. Disponível em: <https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/994782/zoneamento-edafoclimatico-da-olivicultura-para-o-rio-grande-do-sul>. Acesso em: 02/08/2016. BATALHA, M. O.; SILVA, A. L. Gerenciamento de sistemas agroindustriais: definições, especificidades e correntes metodológicas. In: BATALHA, M. O, (Coord.). Gestão Agroindustrial. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014. BERTONCINI, E. I.; TERAMOTO, J.R.S; PRELA-PANTANO, A. Desafios para produção de azeite no Brasil. 2010. Artigo em Hypertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2010_4/DesafioOliva/index.htm>. Acesso em 22/07/2016. COUTINHO, E. F.; et.al, editores técnicos. Oliveira: aspectos técnicos e cultivo no Sul do Brasil. Brasília: Embrapa, 2015. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA (EPAGRI). 2016. Disponível em: <http://www.epagri.sc.gov.br/?p=14353>. Acesso: 04/08/2016. GARCIA, T. L. A Olivicultura no Rio Grande do Sul. Palestra. Encontro Estadual de Olivicultura. Bagé, 25/11/2015. Disponível em: http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/7432/?Pr%C3%B3-Oliva. Acesso em: 28/07/2016. INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL. 2016. Market Newsletter - 2015. Disponível em: <http://www.internationaloliveoil.org/news/view/686-year-2016-news/662-market-newsletter-december-2015>. Acesso em: 02/08/2016. JOÃO, P. L. Programa Estadual de Olivicultura. Palestra. Encontro Estadual de Olivicultura. Bagé, 25/11/2015. Disponível em: http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/7432/?Pr%C3%B3-Oliva. Acesso em: 28/07/2016.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). 2012. Azeite e óleo de oliva ganham padrão oficial. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/noticias/2012/02/azeite-e-oleo-de-oliva-ganham-padrao-oficial>. Acesso em 03/08/2016.
PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA OLIVICULTURA (PRÓ-OLIVA). 2015. Disponível em: < http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/7432/?Pr%C3%B3-Oliva>. Acesso em 02/08/2016. SAINT-HILAIRE, A. Viagem ao Rio Grande do Sul. Tradução de Adroaldo Mesquita da Costa. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/1064>. Acesso em: 30/07/2016. SILVA, J. G. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: Unicamp, 1996. ZYLBERSZTAJN, D. Conceitos Gerais, Evolução e Apresentação do Sistema Agroindustrial. In: ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F., (Org.(s)). Economia & Gestão dos Negócios Agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2010. Edição Esgotada. Disponível em http://pensa.org.br/category/livros-publicados/. Acesso em 01/08/2016. p. 1-21. ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do agribusiness: uma aplicação da nova economia das instituições. São Paulo. (Tese). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, USP, 1995.
AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE DO PRONAF NO VALE DO TAQUARI
Taís Rex1
Letícia de Oliveira2
1Graduanda em Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. [email protected] 2Professora da Faculdade de Ciências Econômicas e do PPG-Agronegócios da UFRGS. [email protected]
RESUMO: Este trabalho busca analisar os efeitos das políticas públicas no desenvolvimento da agricultura
familiar, na região do Vale do Taquari de 1995 até 2015, por meio de uma análise do volume de recursos
financeiros destinados aos municípios da região e da quantidade de famílias rurais beneficiadas pelo programa
PRONAF. O estudo é caracterizado como exploratório, pois analisou a atuação do PRONAF por meio de dados
coletados no site do governo federal e da Fundação de Economia e Estatística. Conclui-se que apesar de haver
um valor crescente de volume de recursos enviados pelo Pronaf à Região do Vale do Taquari, o número de
famílias que aderiram ao programa foi decaindo ao longo do tempo, fato que pode ser explicado em parte pela
diminuição do número de habitantes na Zona Rural.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Políticas Públicas; PRONAF
FAMILY AGRICULTURE : AN ANALYSIS OF THE PRONAF IN THE TAQUARI VALLEY
ABSTRACT: This paper aims to analyze the effects of public policies on the development of family farming in
the Taquari Valley region from 1995 to 2015. The amount of financial resources and the number of benefits from
the PRONAF program accessed by family farmers of municipalities in the region were analyzed. Through an
exploratory study, using data collected from Federal Government website and Economics and Statistics
Foundation (FEE), the performance of PRONAF was analyzed. We conclude that although there is an
increasing amount of funds sent by Pronaf to the region of Taquari Valley, the number of family farmers who
has accessed the program has been declining over time, which can be partly explained by the decrease in the
number inhabitants in the Rural area .
Keywords: Family Agriculture , Public Policy ; PRONAF
1. Introdução
A Agricultura Familiar no decorrer dos últimos anos vem sendo objeto de estudo por
muitos acadêmicos do país. A questão social, a qualidade de vida, a sustentabilidade, produtividade e crescimento estão entre os assuntos mais abordados. Além destes, a criação na Constituição de 1988, do Capítulo 3, que trata da Política Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária, dos Artigos 184 à 191, propiciou e promoveu o desenvolvimento da atividade agrícola no país. O Estado e as Instituições por meio de programas promoveram incentivos na forma de crédito para aquisição de novos maquinários/estruturas e custeio, como também ofereceram cursos e palestras profissionalizantes para capacitação dos agricultores, garantindo o desenvolvimento desta atividade de maneira mais produtiva.
Um dos programas que emergiu nesta época e vem crescendo até os dias atuais com uma importância significativa na vida dos agricultores, é o Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF). Em suas ações deve-se incluir a melhorara na qualidade de vida da agricultura familiar, mediante promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua capacidade produtiva e abertura de novas oportunidades de ocupação e renda (Decreto 3508, Art 18, §1).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a evolução do Pronaf na região do Vale do Taquari de 1995 até 2015, por meio de uma análise do volume de recursos
financeiros destinados aos municípios da região e da quantidade de famílias beneficiadas pelo programa.
2. A Agricultura Familiar
Segundo Wanderley (1996) a Agricultura Familiar é aquela “em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo”. O produtor tem um papel social e de transformação na agricultura. O autor acrescenta que “A pluriatividade e o trabalho externo dos membros da família não representam necessariamente a desagregação da agricultura camponesa, mas constituem frequentemente, elementos positivos, com o qual a própria família pode contar para viabilizar suas estratégias de reprodução futuras” (WANDERLEY,1996)
Com uma visão um pouco diferente, Abramovay (2007) identifica a Agricultura Familiar como um modelo de organização centrado na “empresa familiar” que comparado ao modelo patronal, se tornou mais eficiente, econômico e sustentável. Segundo o autor nomear essa camada como “pequena produção” ou como “agricultura camponesa” é impedir que se perceba a especificidade da agricultura familiar, ou seja, “seu dinamismo econômico e sua capacidade de inovação técnica’’, uma vez que enquanto os agricultores familiares são capazes de se adaptar as exigências do mercado, e modificarem-se, os pequenos produtores (camponeses), são incapazes de absorver tais modificações. Abramovay (1998) aborda que “a Agricultura Familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento.”
Já para Chayanov (1974, apud ALTAFIN, 2007) deve se observar as especificidades do sistema de produção camponês, que relaciona propriedade com realização do trabalho. Para ele diferente da empresa capitalista, que está baseada no trabalho assalariado e na maximização do lucro, a empresa familiar se orienta pela satisfação das necessidades e na reprodução familiar. Assim a decisão de aumentar a produção é determinada levando em conta o bem estar da família.
Destinada prioritariamente a satisfação das necessidades familiares internas da propriedade, Schneider (2008) também aponta que o sistema produtivo está centrado no trabalho da terra realizado pela família, em que as atividades por eles realizadas sempre coexistem e se completam com outras atividades não agrícolas, como o artesanato, tornando a propriedade pluriativa. A presença do trabalho familiar em unidades agrícolas torna as relações sociais e econômicas estáveis e duradouras.
A Tabela 1 apresenta um quadro resumo das principais posições e ideias expostas pelos autores citados:
Tabela 1- Sintetização das posições dos autores.
Autor Termo
Utilizado Integralmente
Familiar Propriedade
Pluriativa Função Social
Objetivo da Produção
Capacidade Inovativa
Maria N. B. Wanderley
Agricultura Familiar
Não Sim Sim Satisfação das Necessidades
NE*
Hugues Lamarche
Agricultura Familiar
NE* NE* Sim NE* Sim
Ricardo Abramovay
Empresa Familiar
Sim NE* Sim NE* Sim
Chayanov Empresa Familiar
Não NE* NE* Satisfação das Necessidades
Sim
Sergio Schneider
Agricultura Familiar
Sim Sim Sim Satisfação das Necessidades
NE*1
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
1 NE: Dados não Encontrados.
A maioria dos autores identificaram que o agricultor familiar é uma categoria que consegue incorporar novas tecnologias, adaptar-se a elas e se desenvolver de forma mais eficiente a partir disso. Outros levam em consideração também o papel social do agricultor na sociedade, na medida em que ele transforma o ambiente ao seu redor, proporcionando melhor qualidade de vida a sua família e a população que o cerca.
3. Agricultura Familiar no Brasil
Um dos pontos importantes do trajeto da agricultura familiar foi a renovação da Constituição de 1988. A partir deste momento fortaleceram-se os direitos desta categoria, pois com um maior apoio do Governo Federal, através de políticas públicas, possibilitou-se a criação de bases para o desenvolvimento da Agricultura Familiar no país.
Até os anos de 1990 a referência à agricultura familiar era quase inexistente, uma vez que os termos que a caracterizavam eram de pequeno produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda, no entanto, ações do movimento sindical por crédito, melhores preços, comercialização diferenciada e regularização constitucional da previdência social rural, permitiram abrangência do espaço para a agricultura familiar, tornando própria a identidade de trabalhador rural (SCHNEIDER, 2008).
Segundo o Censo de 1995/96, havia no Brasil cerca de 4.859.864 estabelecimentos rurais em um total de área de 353,6 milhões de hectares. Do total de estabelecimentos, 4.139.369 são estabelecimentos familiares e ocupam uma área de 107,8 milhões de hectares, enquanto que 554.501 são estabelecimentos patronais ocupando uma área de 240 milhões de hectares. Isso mostra que a agricultura patronal apesar de receber a maior quantidade de hectares, não representa a maioria em números, são os agricultores familiares que representam 85,2% do total de estabelecimentos e ocupam 30,5% da área total. (GUANZIROLI, 2000).
Quanto à distribuição da propriedade de terra pode ser observado na Tabela 2 que 39,8% das famílias brasileiras possui menos de 5 hectares. Em contrapartida na região Sul do país, 47,9% das famílias tem entre 5 a 20 hectares, demonstrando uma predominância de minifúndios, dado que em torno de 91% das famílias tem menos de 50 hectares (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Tabela 2- Percentual de Estabelecimentos por intervalo de área.
Fonte: BUAINAIN (2003). Agricultura Familiar e o Novo Mundo Rural
Gehlen (2004) identifica que através da profissionalização e da qualificação de
atividades, poderá haver um aumento da produtividade no trabalho e a melhora na qualidade de vida do trabalhador, superando a desigualdade presente nesta categoria sócio-econômica, recriando um indivíduo competitivo e interativo com o seu meio e sua sociedade. Para isso é necessário que o agricultor renuncie aos seus saberes tradicionais e aproprie-se de outros.
Quanto à importância da evolução desta categoria no Brasil, Picolotto (2014) descreve que a Agricultura Familiar foi relegada pelo Estado e pelos setores dominantes a uma condição de subsidiária da grande exploração agropecuária. Sendo que a exploração agropecuária foi considerada por muitos anos como a única capaz de garantir divisas para o país através da exportação de produtos agrícolas de interesse internacional. Cabendo a produção familiar funções secundárias como: a produção de alimentos para o mercado interno e como reserva de trabalho para o momento em que as grandes explorações necessitassem.
Da mesma maneira, Panzutti e Monteiro (2015) observam a agricultura familiar como um setor marginalizado devido ao seu processo colonial, caracterizado como um setor desigual comparado ao setor de grandes e médios produtores patronais. Apesar disso apresentam uma grande capacidade de gerar empregos e distribuir renda, contribuindo assim para o desenvolvimento da região local.
Segundo a Secretaria da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário a agricultura familiar veio crescendo e ganhando segurança nos últimos anos devido à maior presença de políticas públicas, na Cartilha do Plano Safra 2016/2017 o governo aposta que:
“Com mais políticas públicas chegando ao rural brasileiro, os agricultores e as agricultoras familiares têm conquistado segurança, respeito e autonomia. A agricultura familiar desempenha um papel central na estratégia de superação da fome e na segurança alimentar do País, sendo a principal produtora de comida para o campo e a cidade.” (MDA, 2016)
É notória a percepção da trajetória árdua que a agricultura familiar presenciou; no entanto, após ações de sindicatos e da luta da sociedade agricultora, as condições de vida foram melhorando, e modificaram-se ainda mais após a reforma Constituinte, quando ações do governo na direção da Agricultura foram sendo iniciadas, através de políticas públicas e de planos estratégicos.
4. Políticas Públicas: o Pronaf
Por meio de Políticas Públicas diversas categorias econômicas passaram a ganhar espaço na sociedade. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente as políticas públicas são “conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado” que visam assegurar o direito de cidadania, ou seja, as políticas públicas são “direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas” (SEMA-PR, 2016)
Foi em um cenário de mudanças sociais que surgiu o primeiro programa de fomento a Agricultura Familiar em 1994, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), com o objetivo de “destinar um volume de crédito com taxas de juros mais acessíveis aos agricultores familiares (MATTEI, 2007, p.145)”. No entanto, em 1995 com o novo governo o PROVAP deu lugar ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que vem sendo desde então a principal forma de política pública que o governo federal tem ofertado. Com a implantação do Manual Operacional do PRONAF em 1999, os seus objetivos estabelecidos passaram a ser:
“a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; b) viabilizar a infra-estrutura necessária a melhoria do desempenho produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos (MATTEI, 2007, p.145)”.
Guanziroli (2007) aponta que o lançamento do PRONAF propiciou a melhora na renda monetária e contribuiu na ampliação da capacidade produtiva dos agricultores familiares, aumentando a área de produção e diminuindo a dependência de alimentos vindos de fora da unidade produtiva.
O PRONAF é destinado ao financiamento de projetos individuais e coletivos que gerem efeitos multiplicadores positivos no desenvolvimento rural. Para Oliveira e Filho (2013) dentre as demais políticas públicas oferecidas a agricultura brasileira, o PRONAF se destaca por possuir as mais baixas taxas de juros de financiamentos e pela sua diversidade nas linhas de crédito, entre elas estão: Custeio, Investimento, Agroindústria, Pronaf Microcrédito Rural, Pronaf Mais alimentos entre outros. Quanto aos agentes financeiros que operacionalizam o crédito ao programa estão o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e demais bancos vinculados.
5. Metodologia
A pesquisa é caracterizada como exploratória, uma vez que fundamentou-se na literatura, buscando compreender a trajetória da agricultura familiar no país. Utilizou-se da base de dados disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Fundação de Economia e Estatística e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para obter dados sobre o Pronaf e da caracterização da região do Vale do Taquari. Para a análise dos dados utilizou-se de tabelas e gráficos para expressar a evolução dos dados, assim como de métodos estatísticos simples.
6. Região do Vale Taquari
A Região do Vale Taquari localiza-se na parte central-leste do Estado do Rio Grande do Sul, possui uma população de 327.723 habitantes de etnias alemãs, italianas e açorianas em sua predominância. Seu território é de 4.821,1 km², que se distribui em 36 municípios. Os pequenos municípios estão focados na produção agropecuária, que representa 80% da atividade produtiva da região, enquanto que os municípios maiores estão ligados a atividades da indústria, serviços e comércio. (PORTAL DO VALE DO TAQUARI, 2016)
A Tabela 3 apresenta os municípios do Vale do Taquari e seu percentual populacional sobre o total da população da região:
Tabela 3 - Municípios do Vale do Taquari 1 Anta Gorda 1,9% 2 Arroio do Meio 5,7% 3 Arvorezinha 3,1% 4 Bom Retiro do Sul 3,5% 5 Canudos do Vale 0,6% 6 Capitão 0,8% 7 Colinas 0,7% 8 Coqueiro Baixo 0,5% 9 Cruzeiro do Sul 3,8% 10 Dois Lajeados 1,0% 11 Doutor Ricardo 0,6% 12 Encantado 6,3% 13 Estrela 9,3% 14 Fazenda Vilanova 1,1% 15 Forquetinha 0,8% 16 Ilópolis 1,3% 17 Imigrante 0,6% 18 Lajeado 21,8%
19 Marques de Souza 1,2% 20 Muçum 1,5% 21 Nova Bréscia 1,0% 22 Paverama 2,5% 23 Poço das Antas 0,6% 24 Pouso Novo 0,6% 25 Progresso 1,9% 26 Putinga 1,3% 27 Relvado 0,7% 28 Roca Sales 3,1% 29 Santa Clara do Sul 1,7% 30 Sério 0,7% 31 Tabaí 1,3% 32 Taquari 8,0% 33 Teutônia 8,3% 34 Travesseiro 0,7% 35 Vespasiano Correa 0,6% 36 Westfália 0,9%
Fonte: FEE,2016.
6
Do total de habitantes do Vale do Taquari, 26% da população da região reside na
zona rural, são cerca de 85.731 habitantes em 28.127 propriedades rurais, segundo Censo 2010. (FEE, 2016)
Figura 1 - Mapa do Vale do Taquari
Fonte: FEE, 2016 Quanto à economia da região é possível destacar o agronegócio como propulsor. Em
2013 possuía o segundo maior nível de produtividade rural do Rio Grande do Sul, cerca de R$ 408.507,00 por quilometro quadrado. (FEE, 2016)
7. Evolução do PRONAF no Vale Taquari
Utilizando-se da base de dados do PRONAF disponível no site do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, pode-se observar a evolução do número de beneficiados pelo programa de 1999 à 2015. Conforme Gráfico 1, verificou-se a evolução do número de contratos e do volume de recursos enviados a região no período mencionado.
Gráfico 1 - Evolução número de Contratos
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
O número de contratos de beneficiários do PRONAF mostra-se instável pelo decorrer
do período. Em seu primeiro ano o número de Pronafianos na região era de 16 mil, no entanto
7
já em 2002 este valor cai para próximo 14 mil, voltando próximo ao patamar inicial somente em 2006. Ao fazer a abertura dos dados por cidade da região do Vale é possível notar quedas drásticas do número de contratos, enquanto que em outras cidades o seu aumento. O ano de 2002 apresentou para quase todas as cidades uma queda quando comparada a 2001, que pode ser explicada pela redução da Safra Agrícola em 15% (FEE, 2016).
Outro fator relacionado a queda dos beneficiários do PRONAF pode ser explicado pelo Êxodo Rural, que é a migração da população da Zona Rural para a Zona Urbana. Segundo dados da FEE, em 2000 a população urbana era de 209.300 e a rural de 110.508, já em 2010 as populações eram de 241.992 e 85.731, respectivamente, isto representou uma queda de 22,4% da população residente na zona rural no período de 10 anos.
Gráfico 2 - Evolução quantidade de recursos.
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
A quantidade de recurso enviado a região apresentou um aumento significativo a
partir de 2004, esse fator pode estar ligado à mudança do governo federal, e as novas políticas sociais e econômicas adotadas pelo novo governo. Um dado importante é a representação de quanto os beneficiários representam sobre o número de agricultores familiares. Enquanto que em 2006 eram 23.771 famílias agricultoras e o número de contratos era de 15.529 no mesmo ano, cerca de 34,7% das famílias se beneficiavam do PRONAF. Já no início de 2015 o número de contratos era de 12.335 e o número de agricultores familiares era de 60.787, representando 20%, nota-se uma queda deste valor.
8. Conclusões Finais
O histórico da Agricultura Familiar passou por um grande crescimento desde seu
início, sendo que algumas medidas adotadas pelo governo favoreceram ou/e prejudicaram seu percurso, como, por exemplo, a renovação da constituição e criação de políticas públicas. Dentro deste histórico o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar contribuiu no oferecimento de créditos para Custeio, Investimento, Infraestrutura, Cursos e demais projetos.
Concluindo apesar de haver um valor crescente de volume de recursos enviados pelo PRONAF à Região do Vale do Taquari, o número de famílias que aderiram ao programa foi decaindo ao longo do tempo, fato que pode ser explicado em parte pela diminuição do número de habitantes na Zona Rural. No entanto, existem outros fatores que podem explicar o percurso do PRONAF na Região do Vale do Taquari, como a urbanização das cidades e o aumento da renda dos agricultores.
8
9. Referências
ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2007. 228 p.
________________. Agricultura Familiar e Serviço Público: Novos Desafios para a Extensão Rural. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v.15, n. 1, p. 137-157, jan/abril 1998.
ALTAFIN, Iara. Reflexões sobre o Conceito de Agricultura Familiar. 2007. Disponível em: <http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/extensouniversitaria/contents/photoflow-view/content-view?object_id=1635678>. Acesso em: 16 abr. 2016.
BUAINAIN, Antônio Márcio; ROMEIRO, Ademar R.; GUANZIROLI, Carlos. Agricultura Familiar e o Novo Mundo Rural.Sociologias, Porto Alegre, v. 5, n. 10, p.312-347, jul. 2003.
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (FEE). http://feedados.fee.tche.br/feedados/#!pesquisa=1. Acesso em 18 de julho de 2016.
GEHLEN, Ivaldo. Políticas públicas e desenvolvimento social rural. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 2, p.95-103, abr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392004000200010>. Acesso em: 13 abr. 216.
GUANZIROLI, Carlos Enrique (Org.). Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil Redescoberto. 2000. Disponível em: <https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/novoretratoID-3iTs4E7R59.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016.
___________________ PRONAF dez anos depois: resultados e perspectivas para o desenvolvimento rural. Revista de Economia e Sociologia Rural, Rio de Janeiro, v. 45, n. 02, p.301-328, abr. 2007.
MATTEI, Lauro. Políticas de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil: O caso recente do Pronaf. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 38, n. 1, p.143-158, jan. 2007.
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. http://www.mda.gov.br. Acesso em 08 de julho de 2016.
OLIVEIRA, Francisca Suerda Soares de; FILHO, João Matos. Avaliando o Pronaf a partir da Ótica das Desigualdades Inter-regionais da Distribuição de Recursos: 2005 a 2010. Revista de Economia Regional, Urbana e do Trabalho, Caicó - RN, v. 1, n. 1, p.29-40, jan. 2013. Disponível em: <http://ccsa.ufrn.br/ojs/index.php?journal=rerut&page=index>. Acesso em: 10 maio 2016.
PANZUTTI, Nilce; MONTEIRO, Ana Victoria. Agricultura familiar e políticas públicas. Cadernos Ceru, São Paulo, v. 25, n. 2, p.131-145, mai. 2015.
PICOLOTTO, Everton Lazzaretti. Os Atores da Construção da Categoria Agricultura Familiar no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, São Paulo, v. 52, p.063-084, dez. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000600004>. Acesso em: 25 mar. 2016.
PORTAL VALE DO TAQUARI. http://www.cicvaledotaquari.com.br/portal/. Acesso em 17 de julho de 2016.
SCHNEIDER, Sérgio. Agricultura Familiar e Teoria Social: a Diversidade das formas familiares de produção na agricultura. 2008. Disponível em: <http://simposio.cpac.embrapa.br/simposio/projeto/palestras/capitulo_32.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2016.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PARANA. http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_PoliticasPublicas.pdf. Acesso em 12 de julho de 2016.
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Raízes Históricas do Campesinato Brasileiro. 1996. Disponível em: <http://www.reformaagrariaemdados.org.br/>. Acesso em: 26 maio 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
CARACTERÍSTICAS E ESTRATÉGIAS PRODUTIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA MENSAL ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES
Agricultura Familiar e Ruralidade
Deise de Oliveira Alves¹, Geneci da Silva Ribeiro Rocha² e Adeildo de Quadros Moura³
¹Universidade Federal de Santa Maria- [email protected]
²Universidade Federal de Santa Maria- [email protected]
²Universidade Federal de Santa Maria - [email protected]
RESUMO: Com vista à importância que a agricultura familiar tem na produção de alimentos, o presente trabalho tem
como objetivo analisar os aspectos relacionados à agricultura familiar como uma atividade de
empreendedorismo no município de Boa Vista das Missões- RS. Identificando as variáveis dessa atividade em
termos da geração de renda para as famílias e as principais dificuldades enfrentadas por esses agricultores
para o desenvolvimento de seus trabalhos. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, quantitativa e
exploratória, tratando-se de um estudo descritivo com treze agricultores familiares que fazem da agricultura
familiar sua principal fonte de renda. Com isso percebeu-se que a principal cultura desenvolvida pelos
entrevistados é a produção de leite e seus derivados, vendem seus produtos para estabelecimentos comerciais,
obtendo renda mensal entre dois e três salários mínimos, utilizam créditos do governo para auxiliar na
produção e a principal dificuldade identificada, a desvalorização dos preços de venda se seus produtos.
Palavras- chaves: Agricultura familiar; Produção; Comercialização.
FEATURES AND PRODUCTIVE STRATEGIES MONTHLY INCOME
GENERATION BETWEEN FARMERS FAMILY RESUME: In view of the importance of family farming has on food production , this study aims to analyze aspects related to family farming as an entrepreneurial activity in the municipality of Boa Vista das Missões-RS. Identifying the variables of this activity in terms of generating income for families and the main difficulties faced by these farmers to develop their work. The methodology used was the bibliographical, quantitative and exploratory research, as it is a descriptive study with twelve family farmers that make family farming their main source of income. We realized that the main crop grown by respondents is the production of milk and milk products, sell their products to shops, getting monthly income between two and three minimum wages, use government loans to assist in the production and the main difficulty identified , the devaluation of the selling prices of their products. Key-words: Family agriculture; Production; Marketing.
1 INTRODUÇÃO A agricultura familiar é sempre notada por sua importância na produção de alimentos,
sendo constituída de produtores rurais que utilizam da mão de obra familiar a principal forma de administrar o processo do plantio, colheita, comercialização e consumo, fazendo com que esta atividade contribua na geração de riqueza, não apenas para a economia do setor agropecuário, mas do próprio país.
Dados do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012/2013, confirma que a agricultura familiar é responsável por produzir 70% dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros, e gera 38% da renda agropecuária e ocupa cerca de 75% da mão de obra do campo. Como é um modelo de agricultura que trabalha com a produção de diversos gêneros
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS alimentícios, o destino desta produção é direcionado principalmente para, garantir a segurança alimentar e nutricional das populações urbana e local.
A agricultura familiar constitui-se como uma atividade de baixa produção, baixos investimentos tecnológicos, mas que pode ser à fonte de renda de muitas famílias, sem que seja necessária a saída das famílias do meio rural para a cidade em busca de melhores condições de vida.
Programas governamentais têm sido ampliados para a permanência do agricultor no meio rural, a disponibilização de crédito rural para determinada atividade produtiva tem sido a principal política agrícola para promover o desenvolvimento e a especialização das atividades agropecuárias.
Mas a agricultura familiar enfrenta muitos desafios principalmente para atender a demanda de alimentos, para geração de fonte de renda das famílias. A necessidade de investimentos em infraestrutura produtiva e políticas públicas que favoreçam as famílias rurais na saúde, educação e o transporte públicos sendo fatores importantes para a permanência das famílias no campo.
Com base nessas constatações iniciais, que evidenciam a importância da agricultura familiar para a sustentação da economia. Foi elaborado um estudo descritivo e exploratório com 13 agricultores familiares do município de Boa Vista das Missões-RS, onde a agricultura familiar se constitui como fonte de trabalho e renda.
Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos relacionados à agricultura familiar como uma atividade de empreendedorismo no município de Boa Vista das Missões- RS. Diante disso, esse estudo visa conhecer as variáveis dessa atividade em termos da geração de renda para as famílias, os incentivos por parte do governo para a melhoria e estimulo a produção, e também conhecer as dificuldades enfrentadas pelos produtores em relação às adversidades da permanência no meio rural.
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO
A agricultura familiar é uma atividade de produção agrícola, que contribui para as atividades econômicas agrárias desde o início colonização do Brasil. Um crescente consenso mundial vem se formando sobre a importância dos agricultores familiares, principalmente para a redução da pobreza rural para garantir segurança alimentar para todos (Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação- FAO, 2014).
Com um sistema diversificado na produção de gêneros alimentícios, a agricultura familiar é formada pelo desenvolvimento da fruticultura e o cultivo de plantas alimentares que inclui a produção de alimentos básicos como mandioca, feijão, milho, leite, ovos, suínos, entre tantos outros é direcionada fundamentalmente para o mercado interno, em uma produção bastante diversificada, garantindo assim a produção de diversas culturas em uma mesma propriedade (LASCHEFSKI e SOUZA, 2009).
Segundo dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2006, os agricultores familiares possuem cerca de 84,4% dos estabelecimentos do país, ocupam 24,3% da área cultivada e empregam 74,4% da mão de obra do setor agropecuário. Tendo como os principais produtos cultiváveis pela a agricultura familiar, 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, além de 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos, dentre outros produtos.
Com destaque na produção de alimentos que abastecem a mesa da população de todo o mundo, agricultura familiar brasileira vem passando por constantes mudanças com o processo de mercantilizarão, uso de tecnologias, ferramentas e equipamentos, têm auxiliado
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS na modernização da agricultura, para acompanhar as exigências dos grandes mercados, indústrias, cooperativas etc.
Nos últimos anos, a agricultura familiar tem ganhado incentivos que impulsionam o seu fortalecimento, foram desenvolvidos e implementadas políticas públicas voltadas, para estimular o desenvolvimento deste setor e também para que o agricultor familiar permaneça no campo tendo plenas condições de produzir seus produtos, como é o caso do Programa de Fortalecimento a Agricultura-PRONAF.
Segundo dados do Catalogo de ajuda do Governo Federal aos Municípios (2015), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF – é um sistema de crédito rural de acesso simplificado que visa promover o aumento da renda familiar, concepção de novos postos de trabalho no campo e o estímulo à produção de alimentos. O PRONAF ampara atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores artesanais, aquiculturas, extrativistas, silvicultores, ribeirinhos e indígenas, concedendo créditos de forma individual e/ou coletiva.
Segundo Carneiro (1997), o modelo de desenvolvimento sustentado, pelo governo, através do PRONAF, atribui à agricultura, um papel central no desenvolvimento econômico nacional e na melhoria nas condições de vida da população. Para a agricultura o PRONAF é um programa que sustenta e estimula os agricultores familiares a intensificarem seus sistemas produtivos, estimulando as famílias a buscarem alternativas novas, para o desenvolvimento de suas produções (SCHNEIDER, MATTEI e CAZELLA, 2004).
O acesso às políticas públicas demonstra uma melhoria na estrutura produtiva e na qualidade de vida dos agricultores familiares. Mas, porém a burocracia imposta para permissão dos créditos e a morosidade na condução dos projetos para liberar os recursos dificulta a vida dos pequenos produtores. As dificuldades começam com a lista de documentos, esses documentos por sua vez são de difícil acesso ao agricultor ou precisam ser pagos, o que encarece o crédito e faz com que muitos desistam dos financiamentos.
Segundo Rocha e Santiago (2013), a concessão de créditos é um importante fator para possibilitar o crescimento da agricultura, mas porem os pequenos proprietários pela falta de informações, em como de adquirir o crédito e a natureza do meio rural, onde os riscos envolvidos são maiores dificultam a concessão do crédito a uma parcela considerável de produtores rurais.
Porem outro grande desafio da agricultura familiar é que muitos jovens não pensam em dar continuidade nas atividades produtivas nas propriedades de seus pais no campo, preferindo ir para cidade em busca de outros projetos que viabilizam novos horizontes profissionais e pessoais. Mas, porem esta crescendo o numero de jovens que veem na modernização da agricultura uma oportunidade de desenvolvimento para carreira profissional. Segundo dados do IBGE divulgados pelo g1.com(2015), o aumento da quantidade de jovens que moram longe dos centros urbanos que estão realizando o sonho de entrar em uma universidade, pois em apenas uma década triplicou o número de pessoas que vivem na zona rural.
Para os agricultores familiares, à saída dos filhos do meio rural se dá pela falta de perspectiva dos jovens em permanecer na agricultura, dificultando na obtenção de sucessores para assumir a gestão da propriedade no lugar dos pais e dar continuidade aos estabelecimentos (MATTE, SPANEVELLO e AZEVEDO, 2010).
No entanto Carneiro (1997), afirma que agricultura familiar precisa adotar medidas que reduzam as desigualdades espaciais e sociais; gerar renda de forma desconcentrada; criar ocupações produtivas nos setores situados antes, dentro e depois da porteira; reduzir a migração campo-cidade; gerar divisas; contribuir para uma maior competitividade da economia nacional.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
3 METODOLOGIA
Para um melhor conhecimento do tema foi realizado uma pesquisa bibliográfica de
caráter exploratório, no qual foi explorado em artigos, livros, sites, entre outros. Ainda, o estudo possui caráter descritivo. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa exploratória tem como objetivo a formulação de questões com a finalidade de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente e para a realização de uma pesquisa futura precisas, ou transformar e clarificar conceitos.
O método adotado com base cientifica neste trabalho foi à pesquisa qualitativa. Após foi criado um instrumento de coleta de dados que foi um questionário contendo doze perguntas abertas
O público alvo da pesquisa foram os agricultores familiares do município de Boa Vista das Missões. A população é um conjunto de dados que constitui todas as restrições possíveis de certo fenômeno (FREUD, 2006). Quando ao plano amostral foram entrevistados 13 agricultores familiares.
Dentre as variáveis analisados destacam a agricultura familiar como uma atividade empreendedora em termos de produção, fonte de renda, auxilio de programas governamentais para a realização da atividade e os desafios enfrentados pelo setor.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Inicialmente procurou conhecer o perfil dos agricultores familiares entrevistados,
quanto à faixa etária, podendo ser classificados em duas categorias. Os agricultores mais jovens, com idade entre 20 e 40 anos, que compreende a minoria dos entrevistados e a outra categoria que são os mais experientes que corresponde à faixa etária até os 62 anos.
Quando ao grau de escolaridade grande parte possui ensino fundamental incompleto, somente algumas possuem ensino superior. No campo, há problemas graves como falta de professores nas escolas, na infraestrutura da escola e no transporte dos alunos e também a falta de material didático que reflita na aprendizagem dos estudantes rurais (SCHMIDT, 2015).
E para conhecer melhor a estrutura do empreendimento rural, foi perguntado os agricultores familiares entrevistados o tamanho da propriedade destinada para o plantio, todos possui uma área de cultivo acima de cinco hectares.
Também foi perguntado a quantidade de pessoas que trabalham na propriedade rural, dez agricultores responderam que em suas propriedades trabalham de 3 a 5 pessoas e apenas três agricultores disseram que em suas propriedades trabalham até 2 pessoas, todos os entrevistados trabalham com mão de obra exclusivamente familiar. Segundo Redim (2013), os agricultores familiares, na maioria das vezes, não prezam por conservar funcionários na propriedade, pois, além dos custos da mão de obra para manter o trabalhador, há temporadas em que apenas os membros da família conseguem realizar todas as atividades do processo de produção.
E para conhecer a atividade empreendedora familiar em termos de geração de renda, percebe-se que os agricultores desenvolvem os mais variados tipos de culturas que são destinados para a venda e também para o próprio consumo das famílias. Foi perguntado aos entrevistados quais são as principais culturas que trazem maior retorno financeiro, as respostas ficaram divididas entre o plantio de grãos hortifrútis, hortaliça, produção de leite e
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS derivados e produção de carne e seus derivados, 3 agricultores cultivam mais que uma produção em suas terras.
A diversidade na produção oferece aos agricultores a colheita de alimentos o plantio em diversas épocas do ano, através da substituição de culturas em distintas épocas do ano, favorecendo a geração de novas fontes para obter segurança alimentar e renda (ROCHA, 2013). A diversidade no plantio traz benefícios para o agricultor familiar não apenas para o crescimento de suas vendas, mas também para o próprio consumidor, através da disponibilidade e variedades de alimentos.
Em relação a isso, também foi questionado os entrevistados sobre qual a renda mensal obtida com as vendas dos produtos da agricultura familiar, dois e três salários para 6 respondentes, entre um e dois salários para 5 respondentes e mais de quatro salários para apenas 2 respondentes. Os agricultores familiares com suas pequenas propriedades, produzindo em escalas menores e sendo afetadas pelo baixo valor de do preço de venda de seus produtos dificilmente são capazes de alcançar escala de produção suficiente para realizar negócios comerciais lucrativas.
Essa renda é obtida através da venda de produtos em diversos lugares, diante disso foi perguntado aos entrevistados sobre os principais canais de distribuição utilizados para realizar suas vendas, 8 vendem para os estabelecimentos comercias, 4 vendem em feiras e 3 direcionam seus produtos para indústrias e cooperativas. Os produtores precisam selecionar canais de distribuição que possam atender e cooperar no processo de compra do cliente evidenciando a importância do produto e consolidando o posicionamento deste junto ao seu público-alvo (SEBRAE, 2015).
Em relação ao púbico consumidor dos produtos da agricultura familiar 9 responderam que seus compradores são pessoas que residem na área urbana, 2 responderam que são os estabelecimentos comerciais e outros 2 responderam que é as Indústrias e Cooperativas. Segundo Carmo e Cologinese (2015), a principal característica da agricultura familiar é a produção de alimentos e matéria-prima, pois é uma da atividade fundamental para atender às necessidades humanas.
A identificação do publico consumidor é um fator importante para garantir o sucesso das vendas já que os produtos da agricultura familiar são os principais fornecedores de alimentos para a população, observa-se que para os entrevistados, seus principais clientes é o consumidor final que resine na área urbana.
E para conhecer a forma de subsistência por traz da produção, foi perguntado sobre a utilização de crédito concedida pelo governo para auxiliar a produção, já que é um recurso de tem como objetivo atender as necessidades dos agricultores em prol da produção da agricultura familiar 8 respondentes disseram que usam créditos do governo e apenas três responderam que não. Schneider (2014) acredita que a crescente quantidade de agricultores familiares que são beneficiários dos financiamentos do governo, se dá pelas às condições de financiamento que foram sendo melhorada, hoje, a institucionalização de mecanismos compensatórios, a exemplo dos rebates e das taxas de juros fixas e abaixo das taxas praticadas pelo mercado financeiro.
Por fim, procurou saber as dificuldades que envolvem o empreendedorismo rural. Sobre isso foi perguntado aos entrevistados qual a principal dificuldade enfrentadas para permanecer no campo 7 respondentes disseram que a desvalorização do preço dos produtos, 5 respondentes disseram que há falta de perspectiva no meio rural, e apenas 1 respondeu que o abandono do meio rural no que tange ao acesso a localidade, educação e saúde é a maior dificuldade.
A desvalorização dos preços de venda dos produtos, esta associado diretamente ao alto custo do processo produtivo que envolve desde a compra de insumos, os meios de transporte
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS até mão de obra utilizada. O que corresponde um empreendedorismo com alto custo de produção e baixo retorno financeiro para sustentar todos os membros da família envolvidos na atividade (CARMO E COLOGINESE, 2015).
Outra dificuldade associada ao empreendedorismo rural esta na preocupação do processo sucessório que pode ser definido como a transferência de poder e do patrimônio entre gerações no âmbito da produção agrícola familiar, sendo assim foi perguntado aos agricultores familiares sobre a permanência dos filhos no campo 5 respondentes disseram que alguns filhos permanecem no campo e outros saíram, três respondentes disseram que seus filhos estudam para permanecer no campo, outros três respondentes disseram que seus filhos permanecem no campo e apenas um disse que seus filhos saíram do campo, e o outro respondeu que seus filhos estudam para ter suas atividades fora do campo.
Bieger (2016) afirma que a continuidade do processo sucessório implica fatores que de um lado estão os jovens rurais, que devido suas condições sociais marcadas pela falta de autonomia e de oportunidades de renda se recusa em seguir a profissão dos pais ao migrarem para as cidades, comprometendo com isso a continuidade das atividades do empreendimento familiar. Por outro lado, estão os jovens que veem no empreendedorismo rural, uma atividade promissora e de sucesso, através das inovações e renovadas funções demandadas pela sociedade que entre as quais está a produção de alimentos de qualidade; a preservação dos recursos ambientais e do patrimônio histórico e cultural rural; a agroindustrialização em unidades familiares; o turismo rural, etc – podem se constituir em alicerces para o fortalecimento dos negócios.
5 CONCLUSÃO
De acordo com os objetivos proposto pode se disser que os mesmos foram alcançados, pois foi permitido apontar qual o perfil dos agricultores do Município de Boa Vista das Missões-RS. Por isso pode-se concluir que a maioria mesmo com insuficiência de terras e capital, dificuldade de financiamento pouca disponibilidade de tecnologia e assistência técnica, conseguem contribuir para a riqueza do país não perdendo assim suas forças como produtor familiar.
Além disso, identificou algumas características da agricultura familiar do município, que utilizam somente a mão de obra familiar, investem na diversificação da produção para obter maior retorno financeiro, seus principais clientes são os estabelecimentos comerciais da área urbana e conseguem obter um lucro de dois a três salários mínimos com as vendas dos produtos. Para manter suas atividades utilizam créditos do governo em suas diferentes modalidades, além disso, os agricultores desse município não estão sendo afetados pelo êxodo rural, pois seus filhos tem vontade de dar continuidade às atividades rurais. E por fim a principal dificuldade enfrentada pelos entrevistados está na desvalorização dos preços de venda de seus produtos.
Os resultados deste estudo ajudam a entender a importância da agricultura familiar destacando assim um papel fundamental na produção de alimentos, este setor deve ser encarado como um forte elemento de geração de riqueza, não apenas para o setor agropecuário, mas para a própria economia do país. Pois a agricultura familiar é a principal fonte fornecedora de alimentos básicos no Brasil sendo uma atividade que mais gera emprego e renda no campo. Sugere-se, contudo, que novas pesquisas sejam realizadas com agricultores familiares, a fim de conhecer melhor a agricultura familiar como uma atividade de empreendedorismo.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS REFERÊNCIAS
BIEGER, T. E. Sucessão na agricultura familiar: um estudo do município de Coronel Barros-RS.2013.121P. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Administração), Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS, Ijuí, 2013. Disponível em: <http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1948/TCC%20TAMIRES%20ELISA%20BIEGER.pdf?sequence=1> Acesso em: 17/01/2015.
CARMO, R. M., COLOGINESE, S., Qualificação e Permanência do Agricultor Familiar no Campo: a casa familiar rural do município de CANDÓI – PR. Unbral Fronteiras, Pitanga, n. 1, p. 33-53, o u t./d e z., 2 0 1 0. Disponível em:<http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base/files/original/e10a168defc9994f4eb42f012dc61999.pdf.> Acesso em: 17/01/2015.
CARNEIRO, M. J., Política pública e agricultura familiar: uma leitura do Pronaf. Estudos da Sociedade e Agricultura. Rio de Janeiro.vol.22, n.8, p. 70-82, abr. 1997. Disponível em: <
http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/article/view/106/102.> Acesso em: 17/01/2015.
Catalogo de Programas do Governo Federal destinados aos Municípios. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/brasil_municipios/CPGF_01dez08.pdf. >. Acesso em 01/12/2015.
LASCHEFSKI, K.; SOUZA, N. O. Agricultura Familiar: Caracterização dos agricultores que comercializam seus produtos na feira de sábado a Avenida Santa Rita, Viços- MG. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRARIA, IV. ; 2009, Niterói, Anais eletrônicos... Niterói: UFF, 2009. Disponível em: < http://www.uff.br/vsinga/trabalhos/Trabalhos%20Completos/Nayara%20de%20Oliveira%20Souza.pdf>. >. Acesso em 10/12/2015.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003
MATTE, A., SPANEVELLO, R. S., AZEVEDO, L. S., A reprodução social na agricultura familiar: a saída dos filhos e o encaminhamento do patrimônio entre agricultores sem sucessores. In: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 48. ; 2010. Campo Grande. Anais eletrônicos... Campo Grande: SOBER, 2010. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/15/423.pdf>. Acesso em: 10/01/2015.
MATTEI, L.; Análise da produção acadêmica sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) entre 1996 e 2006. Estudos da Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, vol.1, n.18, p. 56-97, abr. 2010. Disponível em:< http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/article/view/320/316> Acesso em 27/01/2015.
ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO. Disponível em: < http://www.fao.org/family-farming-2014/news/news/details-press-room/pt/c/240699/>. Acesso em 27/01/2015.
PLANO SAFRA 2012/2013. Disponível em:<http://portal.mda.gov.br/plano-safra/arquivos/view/Cartilha_Plano_Safra.pdf. >Acesso em: 27/12/2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS REDIN. E. Muito além da produção e comercialização: dificuldades e limitações da agricultura familiar. Revista Perspectivas em Políticas Públicas, Belo Horizonte, nº. 12, jul/dez, 2013. Disponível em:<http://revistappp.uemg.br/pdf/ppp12/muito_alem_da_producao.pdf>. Acesso em: 27 set. 2015.
Revista Eletrônica G1. Jovens do campo buscam diploma e conquistam salários de até R$ 15 mil. Disponível em: < http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2015/03/jovens-do-campo-buscam-diploma-e-conquistam-salarios-de-ate-r-15-mil.html>. Acesso em: Abril, 2015.
ROCHA, L. D. A diversidade na produção de alimentos da agricultura familiar no interior do município de Três Passos. 2013. 66f. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Tecnologia em Desenvolvimento Rural), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em:< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87352/000907320.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 set. 2015.
ROCHA, L. F., SANTIAGO, T. S. As Dificuldades do Acesso ao Crédito Rural para os Agricultores Familiares ASCOOB-SISAL no município de Serrinha - BA. Convibra. 2013. Disponível em: < http://www.convibra.org/upload/paper/2013/30/2013_30_6751.pdf> Acesso em: 27/01/2015.
ROESLER. D. A., CENSI. D. R; O Acesso do Agricultor Familiar às Políticas Públicas e ao Mercado no Contexto Ambiental: Um Estudo na Região Metropolitana de Curitiba. Encontro Nacional da AMPPAS. Florianópolis, 2010. Disponível em:<http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT7-563-765-20100902162949.pdf>: Acesso em: Abril, 2015.
SCHENEIDER, S. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as questões em debate. Rev. Econ. Pol., São Paulo, n.3, July/Sept. 2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572010000300009. > Aceso em: 21 mai. 2015.
SHENEIDER, S.; MATTEI, L. CAZELLA, A. A.; Histórico, caracterização e dinâmica recente do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 2004. 29f. (Pós-graduação em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal DO Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. Disponível em: < http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/394.pdf. >Acesso em: 27/12/2015.
SCHIMIDT. A. No campo o ensinar é pior. Revista Nova Escola, São Paulo, S.A. Disponível em:<http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/campo-ensino-pior-425395.shtml>. Acesso em: 17 set. 2015.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA NO BRASIL, APÓS AS REFORMAS ECÔNOMICAS E INSTITUCIONAIS
ADOTADAS NA DÉCADA DE 1990
Economia e Gestão no Agronegócio
Adeildo de Quadros Moura 11, Deise de Oliveira Alves 2
¹Universidade Federal de Santa [email protected]
²Universidade Federal de Santa Maria - [email protected]
Resumo O processo de abertura econômica que iniciou na década de 1990, bem como a política de estabilização de
preços, iniciada no ano de 1994 propiciou que o Brasil passasse a produzir mais e por consequência competir
mais ativamente no comércio internacional, no ramo do agronegócio. A suinocultura, por sua vez, passou a
partir de então, a ocupar uma parcela significativa no cenário das exportações, atingindo em 2014, o volume de 505.000 toneladas exportadas. O processo de criação de suínos e de melhorias técnicas para o setor suinocultor,
a partir da década de 1990, resultou na profissionalização do segmento, que conta hoje com moderna
tecnologia, resultando em um maior dinamismo na produção, o que também contribuiu para a indústria
nacional tornar-se mais competitiva no mercado externo. O presente artigo tem como objetivo principal analisar
o desempenho das exportações de carne suína, ocorridas no Brasil, no período de 1995 a 2014 e também
mostrar os índices satisfatórios das exportações alcançados pelo país, que o levaram a um lugar de destaque no
cenário mundial nesse segmento, após as medidas de ajustes na economia brasileira ocorridas com
implementação do plano real e o controle da inflação no inicio dos anos 1990. Para isso foi realizado uma
pesquisa quantitativa, de caráter descritivo e exploratório, com dados retirados da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) configurando uma amostra com dados secundários. Os resultados obtidos com o estudo
concluiu-se que o Brasil vem aumentando sua participação em exportações de carne suína, em termos de quantidade e valor monetário, atualmente o país figura entre os principais exportadores de carnes suínas do
mundo, no final do ano de 2005, atingiu o 4° lugar em volume de exportações no segmento, lugar que ocupa até
os dias atuais. As medidas adotadas pelo governo a partir da década de 1990, com a edição do plano real que
deu fim ao longo ciclo de inflação no Brasil, fomentou o setor de exportações, permitindo que o país
alavancasse no ramo das exportações neste setor.
Palavra-chave: Abertura Econômica; Exportação; Política Cambial; Privatizações; Suinicultura
EVOLUTION OF BEEF EXPORTS SWINE IN BRAZIL AFTER THE ECONOMIC REFORMS AND INSTITUTIONAL ADOPTED IN 1990
DECADE
ABSTRACT The economic liberalization process that began in the 1990, and the price stabilization policy initiated in 1994
led that Brazil spent to produce more and therefore compete more actively in international trade, in the
agribusiness sector The pig farming, in turn , passed from then , to occupy a significant portion in the scenario
of exports , reaching in 2014 the volume of 505,000 tons exported . The process of rearing pigs and technical
improvements to the swine producer sector, from the 1990s, resulted in the segment of professionalization, which
today with modern technology, resulting in greater dynamism in production, which also contributed to the industry national become more competitive in foreign markets. This article aims to analyze the performance of
exports of pork, occurred in Brazil in the period 1995-2014 and also show satisfactory levels of exports made by
the country, which led to a prominent place on the world stage in this segment, after the implementation of the
real plan and the control of inflation in the early 1990. For this was made a quantitative, descriptive and
exploratory, with data from the Brazilian Association of Pork Producers (ABPA) setting a sample secondary data.
The results obtained from the study found that Brazil has been increasing its share in pork exports in terms of
quantity and monetary value, currently the country ranks among the leading exporters of pork in the world, at
the end of 2005 reached the fourth place in export volume in the segment, which takes place until today. The
measures adopted by the government from the 1990s to the actual plan of the edition that ended over inflation
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS cycle in Brasil, promoted the export sector, allowing the country to leverage in the business of exports in this
sector.
Keyword: Economic openness; Export; Exchange Policy; Privatization; Pig farming
1 INTRODUÇÃO
A exemplo de outras cadeias produtivas do agronegócio, a suinocultura brasileira
cresceu satisfatoriamente nas últimas décadas. Tal crescimento é atribuído, entre outros fatores, a modernização no setor produtivo, que passou a contar com apoio técnico especializado, evoluindo a técnica de produção e comercialização do suíno. O crescimento do segmento é percebido ao analisar diversos fatores econômicos, como as exportações que cresceram de modo significativo, atingindo marcas expressivas e de grande relevância para o setor do agronegócio brasileiro.
Atualmente o Brasil vai bem no ramo de exportações de carne suína, consegue competir no mercado internacional, mas nem sempre foi assim, a expansão do comércio voltado a exportação tem início no final da década de 80. Entretanto o grande salto nas exportações de carne suína ocorreram a partir dos anos 1990, mais precisamente a partir da implementação do plano real em 1994, que culminou com o controle da inflação o que permitiu maior competitividade do produto no mercado internacional.
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se as medidas econômicas adotadas no Brasil a partir dos anos 1990, como alteração cambial e outras medidas de cunho econômico, contribuíram para o desempenho das exportações brasileiras de carne suína. Especificamente, pretendeu-se determinar se tais medidas afetaram a demanda de exportação e as quantidades exportadas de carne suína.
Neste contexto, pretendeu-se estudar a evolução das exportações de carne suína no Brasil, a partir da edição do plano real e das medidas de ajustes na economia brasileira, implementadas no Brasil nos anos 1990. A análise será feita em relação ao volume (toneladas). Para uma melhor compreensão a análise será dividida nas últimas duas décadas (1995 à 2014).
Para atingir esse objetivo foi caracterizado o aspecto histórico da suinocultura no Brasil, o sistema de produção após a modernização no setor, as principais medidas de controle adotadas pelo governo que, de certo modo, beneficiaram as exportações.
A escolha do presente tema, análise das exportações de carne suína no Brasil, a partir das reformas econômicas e institucionais adotadas na década de 1990, fundamenta-se que, segundo dados da Câmara de Comércio Exterior 1 , as exportações do agronegócio, entre janeiro e dezembro de 2015 somaram US$ 88,22 Bilhões, sendo que as vendas de carnes para o exterior totalizaram US$ 14,72 Bilhões, ficando em segundo lugar, atrás apenas dos produtos do complexo da soja. Por sua vez, a carne de porco representa um grande potencial econômico no setor de exportações, atualmente a carne de porco é responsável por 50% do consumo mundial de carnes.
O setor vai bem, entretanto o mundo globalizado está sempre evoluindo e em busca de ganhos maiores e o que hoje está bom, pode não estar daqui alguns anos, ou seja, uma situação confortável pode se transformar numa situação de risco, por isso que a necessidade de informação e atualização se torna importante. Apesar do avanço da informação, a suinocultura ainda é bastante desconhecida, ainda mais se tratando da comercialização internacional, nasceu então a formulação do presente tema.
1www.planalto.gov.br/camex/camex
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA SUINOCULTURA NO BRASIL
A atividade suinícola brasileira, nas últimas décadas, passou por profundas
transformações. Até o final da década de 60, a produção de suínos estava voltada para o animal tipo banha, ou seja, o principal produto obtido com o abate do animal era a banha, cujo único mercado consumidor era o interno (FIALHO, 2006). Não havia um controle sanitário adequado e a consequência de pestes se tornava inevitável.
Na década de 70, a produção já se mostra inovadora permitindo a utilização de ração industrializada, importação de material genético e o controle de doenças, ocasionaram o crescimento da produção e consumo, incluindo a oferta de produtos industrializados. A produção, por consequência, já não é mais artesanal (FIALHO, 2006). Na década de 80, houve uma tentativa de colocar a venda no mercado internacional, os produtos da suinocultura brasileira, entretanto esbarrou em barreiras sanitárias, já no mercado interno o consumo cresceu significativamente, principalmente os produtos industrializados de origem suína, passando a expressiva representatividade no mercado interno (CARVALHO; SILVA, 2001).
Já no início do ano de 1990, com a abertura comercial e com a desvalorização cambial, o Brasil conseguiu através do nível tecnológico alcançado, gerar produtividade semelhante à dos principais produtores mundiais e possibilitou a inserção do produto no mercado internacional, passando a configurar, em 2006, como quarto maior produtor e exportador mundial (FIALHO, 2006).
Pinheiro et al. (2016) afirma que a década de 1990 foi marcada por reformas que compreenderam uma série de iniciativas que visavam aumentar a produtividade por meio da minimização da interferência governamental no mercado e da maximização da competitividade na economia. Dentre essas iniciativas, as mais importantes foram à liberalização do comércio, a privatização e a desregulamentação estatal, quando as restrições cambiais começaram a diminuir, o país aos poucos se encaminhou para uma política comercial mais aberta e neutra, o governo reduziu drasticamente a proteção aos produtores nacionais.
A expansão e consolidação da produção suinícola, após os anos 90, deu-se pela avançada tecnologia na produção do suíno (CARVALHO; SILVA, 2001). A tecnologia está presente na genética, na nutrição, na sanidade e em equipamentos que transformaram a suinocultura numa atividade industrial. As importantes transformações nas últimas décadas, resultando numa maior produção total de carne suína. As exigências do mercado externo e interno com a qualidade do alimento consumido e de acordo com os padrões de segurança alimentar são fatores importantes para o aumento da produção inspecionada e por consequência as exportações (FIALHO, 2006).
O Brasil possui vantagens na produção de suínos, em comparação aos demais países produtores, segundo Villwock (2001) uma vantagem é a grande extensão geográfica do país, que possibilita ampliar o rebanho de suínos sem comprometer elementos ambientais, tais como contaminação de solo e lençóis freáticos por dejetos descartados na produção.
A outra vantagem, segundo o mesmo autor, que impulsiona a participação brasileira no mercado internacional de carne suína está na disponibilidade de terras agriculturáveis a serem exploradas e na grande capacidade de produção de grãos. O Brasil tem ampliado a área cultivada e em consequência ampliado significativamente a produtividade dos insumos essenciais para a produção de suínos, principalmente a produção de milho e soja.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 2.1 As Reformas na Economia Brasileira nos anos 1990
As transformações da economia brasileira na década de 1990 que envolveram a
adoção de um novo conjunto de políticas macroeconômicas e a realização de reformas favoráveis ao mercado, foram primordiais para o crescimento da economia, os benefícios produzidos pelo Plano Real (1994) em especial pelo fim das altas taxas de inflação, motivaram a produção e o país passou a competir mais ativamente no mercado internacional.
Diversos são os fatores que propiciaram o crescimento da economia brasileira, que resultou numa trajetória crescente do nível de exportações no país, desde o início da década de 1990, entretanto neste trabalho, será analisado as principais reformas ocorridas na economia brasileira com a implementação do plano real que criou mecanismos de controle da inflação, liberalização do comércio, as privatizações e a mudança na política cambial, motivo pelo qual passaremos a analisar cada uma delas.
O governo brasileiro, realizou várias tentativas para combater a inflação nas décadas de 80 e 90, implementando diversos planos de estabilização macroeconômica (1986-1995), sem sucesso. Primeiramente foi lançado o Plano Cruzado, depois o Plano Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, Plano “Brasil Novo” ou Plano Collor, Plano Collor II e finalmente já no governo de Itamar Franco o plano real (GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999).
Dentre os diversos planos acima citados, o Plano Real foi o programa brasileiro de estabilização econômica mais bem sucedido no controle da inflação, passando de médias de aproximadamente 25% até 1994 a próximo de 0 (zero) %, notadas pós 1994 até 2002, como pode ser visto na Figura 1.
Figura 1 – Inflação no período de 1991 até 2002
FONTE: IPEA (2014)
O controle da inflação foi a mais significativa mudança, após o fracasso dos demais planos econômicos anteriores, além de algumas reformas que haviam se iniciado ainda no final dos anos 1980, após os diversos planos de combate a inflação (GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999). O Plano Real teve três etapas: primeiramente foi feito um ajuste nas contas públicas que começou no final do ano de 1992, após, em fevereiro de 1994 foi implantada a URV. O principal objetivo do Plano Real foi reestabelecer a estabilidade monetária, ou seja, controlar a inflação, para que, desse modo, o país conseguisse a estabilidade econômica, o que efetivamente ocorreu (CARVALHO; SILVA, 2001).
O Plano Real e a subsequente queda nas taxas de inflação foram, sem sombra de dúvida, os mais significativos eventos da economia brasileira nos anos 90 (CARVALHO; SILVA, 2001). Após meados de 1994, com taxas de inflação menores e em tendência de queda, as exportações começaram a crescer, na verdade o país começou a crescer.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
O plano real, por sua vez, veio com algumas ações de governo, consistente em reformas estruturais que permitiram alavancar o país. Essas reformas compreenderam uma série de iniciativas que visavam aumentar a produtividade por meio da minimização da interferência governamental no mercado e da maximização da competitividade na economia (Villwock, 2001).
Outra reforma, foi abertura comercial embora tenha iniciado ainda no fim dos anos 1980, foi no governo Collor e no governo Fernando Henrique Cardoso, que as mudanças significativas na política de comércio exterior começaram a ocorrer. A abertura comercial, segundo Marinho (2007), foi caracterizada pela redução da proteção tarifária, pelo fim das proibições impostas a um conjunto de importações e pela eliminação gradual das restrições não tarifárias.
O mecanismo de processo de abertura comercial, tinha como principais objetivos dar maior transparência e diminuir a estrutura de proteção, através da eliminação das principais barreiras não tarifarias e da redução gradativa no nível de proteção à indústria local (GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999). Anteriormente havia uma estrutura protecionista iniciada na década de 1930, que causava impactos negativos sobre as exportações e até sobre a competividade de muitos setores da economia.
Outro reforma econômica que ocorreu nos anos 90 foi as medidas que resultaram nas privatizações, denominadas crises fiscais e a notória ineficiência das empresas estatais. O principal argumento de quem defendia as privatizações consiste que a empresa pública passando para a privada, estaria associada a alterações nos incentivos dos seus proprietários quanto ao nível e intensidade de monitoramento dos responsáveis pela administração das atividades das empresas, pois no setor privado há um interesse direto dos proprietários nos lucros do negócio.
Dentre as reformas que estavam previstas para serem implementadas na década de 1990, as privatizações foram as que mais avançaram. Segundo (VILWOCK 2001) entre 1991 e 1998 foram vendidas 63 empresas controladas pelo governo federal, chegando a atingir uma receita em torno de US$ 57,5 bilhões.
E por fim na década de 1990, foi marcado por diversas medidas liberalizantes e, nesta tendência de liberação do comércio internacional o Brasil adotou medidas que permitiram um maior fluxo de capital estrangeiro através da mudança na política cambial. Como se percebe houve certa liberdade cambial, mas com o controle do Estado, que se necessário interviria, colocando, portanto uma limitação, inclusive disciplinado penalidades em caso de operações de câmbio com taxas destoantes das praticadas pelo mercado (MARINHO, 2007).
O mesmo autor relata que nos anos seguintes a liberação foi crescente e a partir do plano real o governo implanta uma fase de mudança parcial no regime cambial brasileiro, consistente na minidesvalorização visando produzir saldos positivos nas transações internacionais, adotando um parâmetro cambial, denominado âncora cambial.
Mas foi em 1999, devido a uma forte crise de fuga de capitais, motivado por uma crise internacional que envolveu países asiáticos e a Russia, o Brasil foi forçado a acabar com o sistema de bandas cambiais e a adotar o cambio flutuante. Essa mudança representa uma das mais importantes para o comércio internacional, pois é o momento onde o Brasil modifica sua relação monetária perante a economia internacional (CARVALHO; SILVA, 2001).
Obviamente que a mudança, não se deu como esperado, tendo em vista que o impulso nas exportações e o superávit da balança comercial somente ocorreram no início de 2001 e durante o ano de 2002, ano que ocorreu a maior desvalorização do real.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de alcançar o objetivo do estudo de analisar o desempenho das exportações de
carne suína, ocorridas no Brasil, no período de 1995 a 2014 e também mostrar os índices satisfatórios das exportações alcançados pelo país, a partir dos ajustes na economia na década de 1990, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, com a finalidade de mostrar as abordagens teóricas disponíveis.
Os dados coletados se deram de foram secundárias. Dados secundários são dados que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, com outras finalidades (MARCONI; LAKATOS, 2007).
Os dados coletados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) por meio da Pesquisa anual das exportações de carne suína. Da pesquisa anual foi extraído os dados do volume exportado em toneladas. 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O crescimento econômico é vital para as economias em desenvolvimento, sendo este processo determinante para que convirjam com as fronteiras tecnológicas e de bem-estar das economias avançadas. Certamente, o comércio exterior do Brasil teve impacto favorável sobre o crescimento registrado entre 1994 e 2015, conforme mostra Figura 2.
Figura 2: Volume de exportação da carne suína de 1995-2014
Fonte: ABPA (2015)
No gráfico elaborado a partir de dados colhidos da ABPA, é possível observar constante crescimento nas exportações de carnes suínas desde 1995, quando as medidas econômicas de abertura do comércio, privatizações e alteração cambial, foram adotadas.
Ao analisar a Figura 2, pode-se perceber o comportamento das exportações de carne suína no Brasil. No período de análise, a economia brasileira passou por regimes monetários diferentes, resultado da implementação dos Planos Econômicos nas décadas de 80 e 90 e isso influenciou significativamente no desempenho das exportações.
No período pré Plano Real, a média das exportações foi baixa, seguida por maior estabilidade na segunda metade da década de 1990 até 2004. O gráfico indica, ainda, que após alteração do regime cambial, ocorrida em janeiros de 1999, e a consequente desvalorização cambial que somente ocorreu dois anos após, ou seja, no final de 2001, é decisiva para o aumento nas exportações de carne suína.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
A exportação brasileira de carne suína, apesar de um início tímido a partir da implementação do plano real em 1995, ultrapassou no ano de 2000 a cifra de 100 mil toneladas exportadas. A partir daí teve um intenso crescimento até 2003, quando alcançou 491 mil toneladas exportadas, impulsionada sobre tudo pelo acesso ao mercado russo.
Percebe-se que nos anos de 2003 e 2004, devido aos focos da doença aftosa que voltaram a ser registrados no Brasil, provocou embargos às exportações brasileiras de carne suína e por consequência a baixa nas exportações. A partir de 2004, o volume de carne suína exportado pelo Brasil oscilou entre 500 e 600 mil toneladas, sofrendo um pequeno impacto devido ao fechamento de mercados em decorrência dos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná em outubro de 2005 (ABPA; 2015).
Em 2004, a Rússia fechou seu mercado para as carnes brasileiras, impondo restrições às importações de animais vivos, carne suína, carne bovina e produtos e subprodutos de carne crua de suínos e bovinos procedentes de oito estados brasileiros (MT, MS, GO, SP, MG, PR, SC e RS) (ABCS; 2016).
No ano de 2005 é o ponto alto das exportações chegando a exportar 605 toneladas. Apesar desse resultado, o surgimento de novos focos da doença no MS (municípios de Japorã e Eldorado), em fins de 2005, fez com que 30 países suspendessem as importações de carne suína do Brasil, com impacto mais significativo nas exportações de 2006, principalmente nos meses de março e abril (ABCS; 2016).
A partir do ano 2007 as exportações voltaram a subir, mantendo estabilidades até o período de 2014 onde o país exportou 505 toneladas de carne suína, os resultados alcançados fizeram o Brasil ser responsável por 7%, das exportações mundiais, figurando como o 4° maior exportador no seguimento ( ABPA,2015).
Os principais destinos dessas exportações foi para a Rússia 53%, Hong Kong 16%, Ucrânia 9% e Cingapura 4 %. E os estados brasileiros que se destacam em volume de exportação é Santa Catarina com 35%, seguido do Rio Grande do Sul com 33%, Paraná com 12% e por fim Goiás com 7% (ABPA, 2015).
5 CONCLUSÃO
Após análise detalhada do presente trabalho, pode-se concluir que a carne suína teve um retrospecto muito bom e atualmente é uma dos produtos mais importantes do agronegócio. Conclui-se também que ao Brasil se mostra competitivo na produção e exportação do produto. Fica evidente, da mesma forma, a evolução das exportações nas últimas das décadas.
Como demonstrado, as mudanças institucionais realizadas ao longo da década de 1990 tiveram forte impacto sobre o comportamento da economia e por consequência um aporte significativo nas exportações, sendo que grande parte destes efeitos pode ser atribuído ao ajustamento do setor privado feito através da adoção de novas estruturas organizacionais e novos métodos de gestão, modernização na estrutura de produção, o que permitiu uma melhor concorrência no mercado internacional.
Os resultados das medidas de ajustes implementados, ficam evidente ao analisar o gráfico das exportações de carne suína, figura 2, que demonstra a evolução e crescimento das exportações do seguimento, após as medidas implementadas.
É certo que o mercado internacional, evidencia-se como um tema de grande complexidade, não sendo apenas esses fatores que definem ou não o crescimento das vendas ao mercado internacional, entretanto o que se pretendeu aqui foi elencar o debate em torno das medidas de ajustes na economia que, sem sombra de dúvidas contribuíram para o crescimento das exportações nas últimas duas décadas.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Existem muito a ser feito para que as exportações de carne suína continuem tendo sucesso e possam evoluir ainda mais. Para isso foi necessário e sempre será a intervenção do Estado quer seja em decisões governamentais de cunho econômico ou político, sendo também de fundamental importância o trabalho de órgãos do governo, mas o mais importante é ter uma visão global de mercado.
A contribuição do presente trabalho está no fato de compreender que as relações dos fatores estruturais do sistema econômico, tem diferentes impactos em diferentes momentos do tempo, dando um caráter dinâmico à análise. Sugere-se, contudo, que novas pesquisas sejam realizadas com outros setores para saber o feito das políticas econômicas do plano real.
REFERÊNCIAS
ABCS - Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Disponível em: <http://www.abcs.com.br>. Acesso em 30/05/ 2016.
ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Relatório Anual, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015. Disponível em:< http://abpa-br.com.br/files/RelatorioAnual_UBABEF_2015_DIGITAL.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2016.
BRASIL. Palácio do Planalto. Disponível em: www.planalto.gov.br/camex/camex/hpt>. Acesso em: 17 mai. 2016.
CARVALHO, M. A.; SILVA, C. R. L. Economia Internacional. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
FIALHO, R. Competitividade das exportações brasileiras de carne suina, no período de 1990 a 2004. 2006, 110f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada)- Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006, Disponível em:<http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/95/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 mai. 2016.
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Base de dados estatísticos. Disponível em: < http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ ipeadata?477509078> Acesso em: 15 mai. 2016.
MARINHO, H. Economia Monetária. Teorias e experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Ciência Moderna LTDA, 2007.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
PINHEIRO, A. C. ; GIAMBIAGI, F. ; MOREIRA, M. M. O Brasil na década de 90:uma transição bem-sucedida?.Banco Nacional do Desenvolvimento. Disponível em:<http://tharcisio.com.br/arquivos/textos/td-91.pdf> Acesso em: 15 mai. 2016.
VILLWOCK, L. H. M. Consórcios agroexportadores: estratégia para o desenvolvimento competitivo da cadeia de produção de suínos no Rio Grande do Sul. 2001, 369 f. Dissertação ( Doutorado em Administração)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. Disponível em:<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2789/000326270.pdf?sequence=1>. Ace esso em: 15 mai. 2016.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
TRAJETÓRIA DE UMA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR INSERIDA NA ROTA DAS SALAMARIAS – MARAU- RS Rodrigo Ferneda1, Daiane Thaise de Oliveira Faoro2, Ana Claudia Machado Padilha3
1Unisinos, [email protected] 2 Universidade de Passo Fundo, [email protected] 3 Universidade de Passo Fundo, [email protected]
Resumo: O objetivo do presente estudo é analisar a trajetória de uma propriedade rural inserida na Rota das
Salamarias-Marau-RS. Sob a ótica, por meio de um contexto histórico político, necessita-se investigar e
aprofundar o processo de transformação da agricultura familiar pelo fato de observar a trajetória percorrida ao
longo de sua existência e que merecem oportunidades de investigação a fins de relatar as estratégias que
buscam desenvolver para a manutenção do empreendimento e do núcleo familiar, sendo esta a justificativa de
maior pertinência. Por meio de uma pesquisa exploratória, qualitativa e um estudo de caso, foi aplicada uma
entrevista com o proprietário da unidade de produção por meio das categorias de análise determinadas e realizado observações diretas. A entrevista ocorreu em maio de 2016, sendo esta gravada e posteriormente
transcrita conforme orientação de Trivinos (2012). Esse conjunto de fonte de dados possibilitou adaptar a
análise das trajetórias, tornando relevante através da inserção de elementos internos e elementos externos que
impulsionaram a transição das atividades em diferentes períodos produtivos, constituindo os sistemas de
produção conforme as orientações de Fritz Filho (2009). Como resultados, pode-se constatar que na medida em
que o conhecimento do gestor se amplia e a novos elementos externos surgem para amparar e fortalecer o setor,
o período de vida útil de um sistema reduz o que torna as atividades mais dinâmicas, inovadoras e sustentáveis.
Ainda merece destaque, a transformação da propriedade ao longo de sua existência, migrando de um sistema
totalmente dependente da indústria de transformação para um sistema misto de turismo rural, produção
artesanal e atrativos naturais como apresentado no sistema atual. Palavras-chave: Trajetória. Unidade de Produção Agrícola. Agricultura Familiar.
Path dependent of a rural property entered in familiar Route Salamarias - marau- RS
Abstract: The aim of this study is to analyze the trajectory of a farm inserted in the Route of Salamarias-Marau-
RS. From the perspective through a political historical context, it needs to investigate and deepen the process of
transformation of family farming because observe the trajectory throughout its existence and deserve research
opportunities the purposes of reporting the strategies They seek to develop for the maintenance of the enterprise
and the family unit, which is the justification of greater relevance. Through an exploratory qualitative research
and a case study, an interview with the owner of the production unit through the analysis of certain categories
and conducted direct observations was applied. The interview took place in May 2016, which is recorded and
later transcribed as guidance Triviños (2012). This set of data source possible to adapt the analysis of the
trajectories, making relevant by inserting internal elements and external elements that drove the transition of activities in different production periods, making the production systems as the Fritz Son of guidelines (2009). As
a result, it can be seen that in so far as the knowledge manager expands and new external elements emerge to
support and strengthen the sector, the working life of a system reduces what makes the most dynamic activities,
innovative and sustainable. Also worth mentioning, the transformation of the property throughout its existence,
migrating from a totally dependent system of processing industry for a mixed system of rural tourism, handicraft
production and natural attractions as shown in the current system.
Keywords: Trajectory. Agricultural Production Unit. Family farming.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Introdução
O desenvolvimento da agricultura familiar tem sido uma importante estratégia para a comercialização de produtos que abastecem o mercado consumidor. No planeta, essa categoria, representa 80% dos alimentos consumidos e preserva 75% dos recursos agrícolas. No Brasil, a agricultura familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do País e concentra pelo menos cinco milhões de famílias (MDA, 2015).
Ao longo da história, o termo agricultura familiar sofreu interferências de ordem política, econômica e social. Isso oportunizou os primeiros movimentos que transformou a agricultura de subsistência, para a geração de externalidades e posteriormente renda, impactando diretamente nas atividades das Unidades de Produção Agrícola (UPA). Apoiada por entidades de classes públicas e privadas surgiram rupturas nos sistemas de produção, o que impactou em diversificação da produção, modificações na natureza das atividades, infraestrutura e patrimônio, geração e difusão de conhecimento, que contribuíram para a formação de um novo cenário rural e permanência do homem no campo.
Para justificar essa transição entre sistemas produtivos na UPA, participam do processo os fatores internos os quais motivam os agricultores a buscarem recursos qualitativos e quantitativos para fomentar estratégias de diversificação e agregação de valor a propriedade. Em complemento, convém destacar a participação de elementos externos, considerados como agentes capazes de estruturar, organizar, determinar a organização do sistema como forma de estímulos a mão de obra, compra de insumos, armazenamento, escoamento da produção e comercialização, legislação, linhas de crédito, instituições de ensino e pesquisa, entre outros, com a finalidade de promover o desenvolvimento rural.
Esses conjuntos de informações atribuem no contexto social, novos moldes e características que compreendem a miscigenação do rural com urbano através de fatores tecnológicos, intelectual e prático, que priorizam a geração de novas experiências em ambientes da agricultura familiar. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo, é analisar a trajetória de uma propriedade rural inserida na Rota das Salamarias – Marau-RS. Para alcançar esse objetivo utilizou-se a conceituação de path dependence, termo esse que representa a trajetória ao longo do tempo e compreende a multidisciplinariedade do tema em diversas áreas devido suas características de transição.
A partir conceituação adotada, optou-se por determinar o presente objeto de estudo devido os fatores externos impactarem de forma direta no ambiente de negócios e provocarem rupturas internas, fazendo com que a trajetória da UPA integralize e/ou exclua as atividades desenvolvidas. Sob essa ótica, por meio de um contexto histórico político, necessita-se investigar e aprofundar o processo de transformação da agricultura familiar pelo fato de observar a trajetória percorrida ao longo de sua existência e que merecem oportunidades de investigação a fins de relatar as estratégias que buscam desenvolver para a manutenção do empreendimento e do núcleo familiar.
Revisão da literatura
A teoria evolucionária tem incorporação elementos dinâmicos para explicações mais
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
efetiva relacionado ao sistema econômico e as transformações da sociedade. Nelson e Winter (1982) afirmam que o modelo torna-se útil para fenômenos e modificações na economia em processos de longo prazo. Arthur (1990) menciona que as dinâmicas das organizações ou firmas são conduzidas de acordo com os eventos históricos que vem ao encontro do conhecimento prévio de circunstâncias que possam afetar suas escolhas tecnológicas, políticas, econômicas, de mercado entre outras. North (1990) aborda uma conecção com o passado e o presente, voltados para ações do futuro, sendo uma história de sequencia das atividades ao longo da história.
O foco principal é explicar o movimento de algo ao longo do tempo, ou explicar por que determinado fato é o que é, em determinado momento, destacando o percurso que o levou até sua oficialização (DOSIN e NELSON, 1994). As escolhas técnicas ocorrem por meio de uma ligação econômica que influencia as dimensões futuras do conhecimento e da tecnologia (RUTTAN, 1997). David (1998) conceitua o path-dependence como à propriedade de um processo dinâmico contingente e não reversível o que inclui um amplo conjunto de processos sociais e biológicos que podem ser corretamente descritos como evolucionários. Goldstone (1998) complementa que o path-dependence é um resultado particular obtido em um dado “momento” do funcionamento do sistema que envolve as escolhas de eventos intermediários ocorridos entre a condição inicial e o resultado.
Na mesma linha de pensamento, Mahoney (2000), afirma que a velocidade das informações e a interferência nos negócios modificam constantemente o funcionamento organizacional, de forma heterogênea e complexa. Greneer (2004) atribui o path dependence como processo que começa com um evento contingente que possibilita o surgimento de um novo caminho através de tecnologias que materializa o conhecimento em práticas.
Garud, Kumaraswamy e Karnoe (2010), acreditam que a análise do passado, não é para repetir ou evitar o que aconteceu, mas, para gerar novas opções e novas iniciativas para o futuro que então pode levá-los a mobilizar o passado no suporte. Na evolução do estudo sobre o tema, Hoff (2011) transita por distintos modelos e propõe uma estrutura analítica para o estudo de processos path dependents. Nesse sentido, construção da trajetória histórica leva ao fato observado, buscando identificar as condições antecedentes, leis gerais e outros elementos da situação existente no ambiente de inserção do fato, que possam contribuir para o surgimento de momentos críticos para a formação do path dependence, através de escolhas que fazem emergir a trajetória dependente. A partir dessas escolhas, torna-se importante a observação de elementos institucionais e estruturais que contribuam para o condicionamento de seqüencias autorreforçantes, dificultando o retorno para as condições iniciais que permitam outras escolhas entre as alternativas disponíveis.
Método
O delineamento do estudo ocorreu por meio de uma pesquisa exploratória, qualitativa e um estudo de caso, seguindo os conceitos de Dihel e Tatim (2004), Roesch (2005), Hair Jr. Et. Al (2005) e Yin (2010). A técnica de coleta de dados utilizada foi: a) entrevista com o proprietário da unidade de produção; b) observações diretas. A entrevista ocorreu em maio de 2016, sendo esta gravada e posteriormente transcrita conforme orientação de Trivinos (2012).
A Unidade de Produção Agrícola (UPA) em estudo, possui 8 hectares, sendo 4 hectares destinados a produção de culturas permanentes e 4 hectares como reserva e residência, a qual pertence a Rota das Salamarias, localizada no Município de Marau-RS. A diversificação foi responsável pela permanência da família no meio rural, através do empenho e aprendizagem
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
de novas atividades que corresponde aos limites e potencialidades instaladas na UPA, herdada pelo proprietário há 25 anos.
As categorias de análise investigadas foram: a) identificação e inserção da propriedade rural, onde pesquisou-se ocupação da mão de obra; formação e composição da renda; gestão e administração financeira; b) assistência técnica ( ferramenta de divulgação da diversificação no meio rural, pontos positivos e negativos da permanência no meio rural); c) estratégia de diversificação de sustento rural (fatores que levaram a diversificação, pontos facilitadores, pontos que dificultaram); d) acesso ao uso de capitais (naturais, característica da terra, qualidade, recursos renováveis e renováveis, maquinários, infraestrutura, recursos humanos, financeiros, social); e) elementos que modificam o acesso a capitais (relações sociais, instituições, organizações, tendências, choques).
Esse conjunto de fonte de dados possibilitou adaptar a análise das trajetórias, tornando relevante através da inserção de elementos internos e elementos externos que impulsionaram a transição das atividades em diferentes períodos produtivos, constituindo os sistemas de produção conforme as orientações de Fritz Filho (2009), conforme a Figura 1.
Figura 1: Modelo de análise de trajetória de Unidades de Produção.
Sistema 2 Sistema 3 SISTEMA “n”
Fatores endógenos à trajetória dos sistemas produtivos
Fatores externos à trajetória dos sistemas produtivos
Sistema 1
Fonte: Fritz Filho (2009)
Nesse sentido, foram identificados os sistemas de produção e seus respectivos movimentos internos e externos em determinados períodos conforme o modelo utilizado acima. Resultados
A transição das atividades exercidas na UPA investigada representa modificações ao longo do tempo de aquisição do empreendimento. Num contexto geral, nota-se uma migração de atividades totalmente distintas em termos de processos, aprendizagens e que também modificam a performance dos negócios no meio rural. A exploração de novos nichos de mercado proporcionou ao pequeno produtor buscar parceiras, associações, rede de relacionamentos, melhoria em infraestrutura, recursos humanos, financeiros e social. A atribuição de novas potencialidades na agricultura familiar, envolve aspectos essenciais no que representa a inserção do produtor como gestor e a UPA como empresa rural, adaptados
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
nos moldes da nova economia. É com base nessas características que a Figura 2 apresenta os elementos internos e externos que proporcionaram a modificação nos sistemas produtivos.
Figura 2: Trajetória da Unidade de Produção em Estudo
Fonte: dados do estudo (2016).
No Sistema de Produção 1, que representa os anos de 1991 até 2001, foram desenvolvidas a integração avícola, por meio de incentivos dos órgãos públicos e entidades de classe, devido a abertura comercial brasileira, aumento da população, manutenção da população no campo, e o crescimento da indústria de transformação de alimentos da região foram os principais impulsionadores para o exercício das atividades, características semelhantes atribuídas a atividade da pecuária leiteira. Em períodos sazonais, ocorria o desenvolvimento de atividades como carpinteiro objetivando maiores ganhos financeiros para manter a propriedade e seus dependentes. Foi um período em que a economia instável, troca de moedas, crise política, ajuste fiscal, acesso restrito ao crédito foram os principais desafios para que o pequeno agricultor gerasse renda para sua subsistência, e com o intuito limitado na prospecção de bens e patrimônios. Como elemento interno, a realidade da propriedade em estudo era semelhante as demais propriedades da região.
No Sistema de Produção 2, que representa entre 2001 até 2007, foram desenvolvidas as atividades de integração avícola sendo esta a renda mais elevada da propriedade e a produção de cachaça, visto que a propriedade mantinha a infraestrutura através dos recursos naturais inseridos em seu interior e possibilitou uma nova fonte de renda por ser artesanal e adotados os padrões necessários de fabricação por meio da orientação técnica da Emater. Em
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
virtude da nova produção cultivou-se o plantio da cana de açúcar. Esta possui características de ser resistentes a pragas e a estiagem, e também seus resíduos são utilizados para adubação da terra, o que de certa forma eliminou-se a atividade leiteira, sendo esta apenas o consumo de subsistência, assim como demais frutas e hortigranjeiros. O trabalho era intenso em períodos de produção da cachaça e, contudo, o trabalho de carpinteiro foi abdicado. Nesse período, o desenvolvimento de novas políticas e a consolidação de políticas públicas já existentes proporcionaram meios de maior renda na agricultura com menos atividades. Porém, como o relevo era impróprio, continuar com a avicultura era impossível, pois as exigências burocráticas foram tornando-se maiores, e permitiu que o pequeno agricultor repensasse seus negócios visto que a atividade de maior renda estava em descontinuidade devido a elementos internos.
No Sistema de Produção 3, que representa o período de 2007 até 2015, as características produtivas ganharam novo escopo, através da produção diferenciada obtendo assim vantagem competitiva. Através de um grupo de moradores próximo ao perímetro urbano, surgiu o convite para a UPA em estudo ser incluída na rota turística, pelas características diferenciadas que a mesma possuía. No aceite do desafio, iniciaram os planos, de conhecer outras rotas turísticas do Estado para certificação das reais condições para implementação da atividade. Nesse sentido, amparado pelo Poder Público Municipal, e com apoio do Poder Legislativo, Associação Comercial, e Emater, a rota foi oficializada e a UPA em estudo foi integrada por apresentar características como, o alambique, gastronomia e produtos coloniais. A busca de recursos como o Pronaf Mulher, foi para a construção do casarão, espaço esse para acomodação das atividades e recepção dos turistas. Nesse sentido, o aumento da renda per capita, a busca por atrativos rurais e a posição geográfica em estudo permitiram uma nova dinâmica na propriedade investigada. A busca de parcerias fortaleceu o proprietário, bem como sua família e a aprendizagem foi um desafio, que aprimorou e fez gerar renda e promoção do desenvolvimento local e regional. A participação no Festival Nacional do Salame, realizado anualmente, no município de Marau-RS, possibilitou a arrecadação de recursos para novos investimentos, bem como apresentar a propriedade e seus produtos, tornando-a conhecida em nível regional, estadual e nacional.
A estratégia de modificação e inovação também incide de forma constante no turismo rural, responsabilizando o produtor a buscar recursos e diversificar e tornar mais atrativo sua propriedade, ocorrendo uma transição do Sistema 3 para o Sistema 4, caracterizado como Sistema Atual. Nesse novo sistema, o casarão tornou-se espaço para a gastronomia, sendo oferecido café colonial no restaurante rural, e no térreo apresenta-se a loja de produtos coloniais e no subsolo é instalado o alambique. A manutenção da produção da cana de açúcar, fez o produtor pensar em alternativas de renda, devido a produção de cachaça ser sazonal, buscando parcerias e sociedade, através da implantação de uma agroindústria produzindo derivados de suínos que abastece o mercado do sul e sudeste do País. Com o intuito de manter a família direcionada no empreendimento rural, instala-se no decorrer de 2016, a atividade de trilha ecológica e a visitação de cachoeiras, instaladas na propriedade. Nessa atividade rural, as culturas de subsistências foram produzidas em escala superior, gerando externalidades e que são ofertados aos turistas. Nessa nova fase de transição, a busca por entidades como o SEBRAE, para orientação nos negócios. Convém destacar que, como no Sistema de Produção 1, a propriedade enfrenta novamente uma nova recessão econômica, política e que interferem de forma direta nos recursos de financiamentos e verbas para o desenvolvimento da agricultura familiar, bem como a procura por turismo rural. Convém destacar que o conhecimento adquirido pelo proprietário e o apoio de entidades públicas e privadas, fazem com que a vocação para permanecer no campo, a persistência do espírito empreendedor está
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
aliada com a potencialidade econômica da propriedade em estudo, e também com mais forças e oportunidades de desenvolver os negócios sob a incidência de novas ameaças geradas pela economia, política, ética, entre outras.
Considerações finais
Com o objetivo de identificar a trajetória de uma propriedade rural familiar inserida na Rota das Salamarias – Marau-RS, foi possível perceber que num espaço limitado pode-se agregar e diversificar a produtividade, tornando-o um cenário importante para o desenvolvimento local, regional e para o fortalecimento do agronegócio. Agregar, diversificar, escopo são sinônimos que o produtor mesmo sem ter o conhecimento científico, desenvolveu na prática com cooperação, parceiras, rede de relacionamentos e estratégias, os quais são fundamentais para qualquer empreendimento.
No que se refere ao Sistema 1 até o Sistema de Produção Atual, nota-se que as políticas públicas, bem como o Poder Público, participam de forma direta no processo de desenvolvimento de atividades e formação da renda no meio rural. Na medida em que avança a tecnologia, as dinâmicas de produção avançam também o papel do proprietário e da propriedade, transformando em gestor e empresa rural respectivamente. De fato, pode-se mencionar que o olhar estratégico de entidades de classe, órgãos públicos, assistência técnica, e consultorias privadas, tem um papel fundamental e desafiador, ao conhecer a trajetória dos empreendimentos rurais que envolvem os aspectos produtivos, econômicos, financeiros, sociais em termos sistêmicos.
Outro ponto que merece destaque é a solidez de uma propriedade em que na sua existência enfrenta problemas semelhantes na condução de elementos externos tanto no Sistema 1, como no Sistema 4, cenário atual e que preocupa todos os setores da economia, bem como o agronegócio. Os Sistemas 2 e 3, são oriundos de ajustes e implementações de políticas e práticas possibilitaram uma abertura de um novo pensar por parte do proprietário na tentativa de fazer rentável as atividades desenvolvidas no ambiente interno da UPA. Esse cenário mostra a representatividade do agronegócio diante da vocação empreendedora e das inúmeras opções de atividades decorrentes da nova economia e nos novos moldes que o mercado competitivo impõe.
Em relação aos elementos internos nota-se a busca pelo conhecimento como forma importante para o trabalho, bem como a distribuição das atividades entre os membros da família, ajuda entre vizinhos, trocas de força de trabalho, características importantes e permanentes no meio rural. Vale destacar que na medida em que o conhecimento do gestor se amplia e a novos elementos externos surgem para amparar e fortalecer o setor, o período de vida útil de um sistema reduz o que torna as atividades mais dinâmicas, inovadoras e sustentáveis. Ainda merece destaque, a transformação da propriedade ao longo de sua existência, migrando de um sistema totalmente dependente da indústria de transformação para um sistema misto de turismo rural, produção artesanal e atrativos naturais como apresentado no sistema atual.
Sendo assim, sugere-se que novos estudos sejam contemplados na empresa rural em estudo, visto que trata-se de um empreendimento com infinitas possibilidades de investigações e com importantes melhorias em termos de gestão holística. Sugere-se a presença e o acompanhamento de órgãos públicos e privados, entidades de classe, como forma de buscar e fornecer incentivos que visa à melhoria e o desenvolvimento das atividades como medida de fomentar o agronegócio, em especial a agricultura familiar.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Referências Bibliográficas
ARTHUR, B. Positive feedbacks in the Economy. Scientific American, v.262, n.2, p.92-99, 1990
DAVID, P. A. Path dependence, its critics and the quest for historical economics. Oxford: Stanford Univ., 1998. (Stanford Economics Working Paper).
DIEHL, A.A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. Pearson Brasil, 2004.
DOSI, G.; NELSON, R. R. An introduction to evolutionary theories in economics. Evolucionary Economics, n. 4, p. 153-172, 1994.
FRITZ FILHO, L. F.; Análise das Trajetórias das Unidades de Produção Agrícolas do Município de Passo Fundo/RS. Porto Alegre, 2009. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas – PGDR, 2009.
GARUD, R.; KUMARASWAMY, A.; KARNOE, P. Path dependence or path creation?. Journal of Management Studies, v. 47, n. 4, p. 760-774, 2010.
GOLDSTONE, J. A. Initial conditions, general laws, path dependence, and explanation in historical sociology. American Journal of Sociology, v. 104, n. 3, p. 829, 1998. GREENER, I. The potential of path dependence in political studies. Politics. v. 25, n. 1, p. 62-72, 2005
HAIR JR, J. F. et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. 2005.
HOFF D. N. A história importa: proposta de estrutura analítica para o estudo de Path-dependence. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 7-30, jun. 2011;
MAHONEY, J. Path dependence in historical sociology. Theory and Society. n. 29, p. 507-548, 2000.
NELSON, R, R.; WINTER, S, G. The Schumpeterian tradeoff revisited. The American Economic Review, v. 72, n. 1, p. 114-132, 1982.
NORTH, D. C. A transaction cost theory of politics. Journal of Theoretical Politics, v. 2, Oct., p. 355-367, 1990b.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Dados da agricultura familiar no Brasil. 2015.
PIERSON, P. Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American Political Science Review, v.94, n.2, p.251-267, 2000.
ROSCH, E. Principles of categorization. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, n. 17, p. 11-35, 2005.
RUTTAN, V. W. Induced innovation and path dependence: a reassessment with respect to agricultural development and the environment. Technological Forecasting and Social Change, n. 53, p. 41-59, 1996.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 1. ed. 21. reimpr. São Paulo: Atlas, 2012.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2010.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Verticalização da Produção como Alternativa Viável ao Micro e Pequeno
Produtor de Cacau
Claudete Rejane Weiss1 Letícia de Oliveira2 Ângela Rozane Leal de Souza3 RESUMO: Produzir produtos altamente diferenciados no mercado de chocolates trouxe um novo conceito chamado “da Amêndoa a Barra”. A demanda por chocolates com alto teor de cacau, rico em nutrientes/flavonóides,
certificados de origem e que estejam dentro padrões ecologicamente corretos, ganham destaque no mercado
mundial. Essas tendências reestruturaram o sistema produtivo do cacau. A partir da observação in loco e
análise de trabalhos científicos, o artigo propõe uma reflexão sobre o processo chamado verticalização da
produção como alternativa viável, para as micros e pequenas agroindústrias da Região Sul da Bahia. Esse
movimento mostra que a verticalização de produção na Região Sul foi possível com a difusão de tecnologias por
um custo menor. Entretanto, essa estratégia é extremamente eficaz para agregação de valor ao cacau, num
cenário globalizado.
Palavras- chave: cadeia de valor; pequenas agroindústrias; Festival Internacional do Chocolate.
ABSTRACT:
Verticalization of production as a Viable Alternative to Micro and Small Farmer of Cocoa roduce highly
differentiated products in the chocolate market has brought a new concept called " Bean to bar ." Demand for
chocolates with high cocoa content , nutrient-rich / flavonoids , certificates of origin and are in environmentally
friendly standards , gain prominence in the world market . These trends have reshaped the production of cocoa
system. From the on-site observation and analysis of scientific papers , the article proposes a reflection on the
process called vertical integration of production as a viable alternative to the micro and small agribusinesses in
the South of Bahia Region . This movement shows that the vertical integration of production in the South was
possible with the diffusion of technologies at a lower cost . However, this strategy is extremely effective for the
cocoa value added in a globalized scenario.
Key words : value chain; small agro-industries ; International Chocolate Festival
1.Introdução
O aumento da renda per capita vem provocando mudanças nos hábitos alimentares,
que está associada a uma conseqüente preocupação com a saúde. Esses fatores intensificaram
a busca por alimentos prontos, saudáveis, light, dietéticos, orgânicos e ambientalmente
sustentáveis. Dessa forma, os gostos e preferências do consumidor alteraram o estilo de vida e
produziram novas demandas para indústria de alimentos.
1 Doutoranda em Agronegócios no Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professora Assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC). E-mail: [email protected]. 2 Doutorado em Agronegócios; Mestrado em Administração. Professora Adjunta da Faculdade de Ciências
Econômicas - FCE/DERI/UFRGS e do Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios – CEPAN, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. E-
mails: [email protected] e [email protected]. 3 Doutorado em Agronegócios; Mestrado em Ciências Contábeis. Professora Adjunta da Faculdade de Ciências
Econômicas - FCE/DCCA/UFRGS e do Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios – CEPAN, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. E-mails: [email protected] e [email protected].
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Nesse contexto, o mercado dos chocolates vem sofrendo modificações nos últimos
anos. Identificou-se que os consumidores de vários países preferem cacau com alto teor de
cacau, por causa dos fundamentos nos benefícios para a saúde. No mercado internacional,
normalmente, este tipo de chocolate aparece com denominações de Chocolate de “terroir” chocolate “grand cru”, chocolate “premium”. Cabe ressaltar, que na França, por exemplo, o
consumo desse tipo de chocolate aumentou de 2% para 49% (SANTOS et al., 2016).
A preocupação com a saúde, associada à conservação da biodiversidade, trouxe um
novo conceito na Europa e Estados Unidos, chamado “Bean to Bar” que significa "da
amêndoa a barra". Segundo Vreeland (2015), o renascimento do movimento “Bean to bar”, é
parte de um movimento geral na indústria alimentícia dos consumidores, que querem saber
mais sobre a origem do produto e de produtores. Enfim, a busca por ingredientes menos
processados ou seja, mais artesanal.
O diferencial do negócio “da amêndoa a barra” está na apresentação do produto, no
qual a embalagem indica a origem do cacau (país ou região), e muitas vezes também indicam
a fazenda e variedades genéticas, no intuito de oferecer a identidade e uma verdadeira jornada
de sabores e prazeres.
A nova tendência do mercado de chocolate teve como consequência uma
reestruturação produtiva ou quebra do paradigma da produção de cacau. Esse contexto,
vislumbra na verticalização da produção a alternativa viável para o pequeno produtor no
mercado interno no atual cenário globalizado.
A partir da análise textos científicos e observação in loco objetivou-se uma reflexão
sobre o processo chamado verticalização da produção como alternativa viável, para as micros
e pequenos negócios chamados da “Amêndoa a Barra”, da Região Sul da Bahia.
2. Discussões e Perspectivas
A Região Sul da Bahia é considerada a maior produtora de cacau no Brasil,
destacando-se pela produção de cacau cabruca que mantém a biodiversidade, preservando as
árvores da mata nativa. Mas, a partir de 1989, a doença conhecida como vassoura de bruxa,
que foi infestada pelo fungo Crinipellis perniciosa provocou uma queda acentuada da
produção. Essa doença trouxe prejuízos econômicos incalculáveis aos produtores, tendo
como principal consequência a baixa produtividade e o endividamento.
A maior riqueza para a Região é o cacau, o que levou a organização do primeiro
Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia em 2009, sendo considerado o maior
evento do setor. Esse evento tem tido crescimento anual graças ao novo conceito de negócios
chamado “da amêndoa a barra”, já conhecido nos Estados Unidos como “Bean to Bar”. Segundo produtores e organizadores o Festival é um instrumento pra fomentar os
negócios locais do chocolate gourmet e das tecnologias disponíveis no mercado. Também é
uma ocasião para as autoridades governamentais, universidades e pesquisadores debater as
tendências do mercado de chocolate fino.
O primeiro Festival em 2009, era muito tímido contando com a participação de
apenas 03 marcas, conforme a tabela 01. Mas, ao longo dos anos o número de marcas saltou
para 26 em 2016. Esse crescimento está associado ao crescimento desse novo conceito.
Segundo levantamento do Sebrae, atualmente 40 marcas de chocolates finos, surgiram desde
2009. Esse número extremamente positivo, pois, a mesma não tinha nenhuma vocação na
produção de chocolates finos.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Os estudos sobre o impacto desses negócios na economia local ainda são incipientes,
mas ao direcionarmos o olhar no mercado do Estados Unidos como precursor desse
movimento, percebe-se a dimensão do negócios “Bean to Bar” que segundo Vreeland (2015)
movimenta em torno de 75 a 100 milhões de dólares anuais, sendo que apenas 100 empresas
se dedicam de forma integral.
Tabela 1- Número de Marcas (80% da Bahia) que Participaram do Festival do Chocolate
Ano Número de Marcas
2009 03
2010 05
2011 10
2012 15
2013 19
2014 21
2015 25
2016 26
Fonte: Relatório Festival do Chocolate
Marcas conceituadas no mercado internacional vem marcando presença no Festival
Internacional, dentre as quais podemos destacar a AMMA que em 2010 recebeu da jornalista
britânica Sarah Jane Evans em seu livro Chocolate Unwrapped – taste and anjoy the world´s
finest chocolate na lista dos melhores chocolates premium do mundo. (Revista PIB, 2012).
O desenvolvimento de novas tecnologias é o eixo da mudança de paradigmas ou
reestruturação produtiva. Essa mudança iniciou-se com as instituições como CEPLAC e a
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) que tiveram que trazer uma nova forma pensar,
ou seja, sair da monocultura e criar novas alternativas econômicas. Pois, uma economia
baseada na monocultura é extremamente frágil pela ausência de opções em momentos de
crises.
A CEPLAC na década de 1980, teve a primeira iniciativa de importar maquinário e,
implantar uma pequena indústria como plano piloto, devido o alto custo que inviabilizava
economicamente a implantação de novas unidades no país. Essa iniciativa propiciou o
desenvolvimento de máquinas e equipamentos compactos para processamento de amêndoa de
cacau por duas empresas: Meller e JAFF Inox.
O acesso as novas tecnologias por um preço menor é o divisor da água para a região,
que estava adormecida economicamente. A crise provocou abandono, mas trouxe
oportunidades para produtores que decidiram permanecer, inovando na maneira de produzir e
comercializar o cacau.
A nova geração de cacauicultores vem participando de debates construtivos e
apoiados, em direção a agregação de valor. A verticalização da produção é uma alternativa
viável, inclusive apontada pelo governo (FONTES, 2013). A redução dos elos da cadeia
produtiva permite a relação próxima entre o produtor e consumidor final.
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Figura 01 – Eixos responsáveis pela Verticalização do Cacau
Fonte: Elaborado pela autora
O principal eixo na formação de novos atores na Região ocorreu inicialmente por
meio da difusão de tecnologias mais simples que permitiu a verticalização da produção como
alternativa econômica viável. Cabe ressaltar que a redução dos elos na cadeia produtiva,
trouxe retornos maiores ao próprio produtor em comparação da venda apenas da amêndoa cru.
O cacau é o maior patrimônio cultural da Região, a história do local ou a fazenda está
sendo expressada na produção dentro da porteira de cada fazenda e, vendidas ao consumidor
como algo único.
3. Considerações Finais:
A verticalização da produção é a alternativa mais viável economicamente, processo
vem quebrando paradigmas antigos, que apenas visualizavam a venda do cacau as grandes
multinacionais instaladas na Região.
A tendência de um crescimento das marcas de chocolate fino na Região devido o
aumento da demanda por alimentos funcionais. Para os próximos anos a perspectiva é unir
esforços das instituições governamentais, privadas e não-governamentais, para que seja
reconhecida internacionalmente como a região com maior concentração de marcas de
chocolates finos de alta qualidade, respeitando a legislação ambiental a mão-de-obra.
O grande desafio “da amêndoa a barra” é o posicionamento desses produtos no
mercado. Tendo como gargalo a logística e marketing que são caros para o tamanho dos
negócios. Considerando-se que a maior parte dos consumidores não é da região, é necessário
buscar consumidores de outros locais.
Decadência
•Repensar o sistema de produção do cacau, preservando a Mata Atlântica ;
• Inovação Máquinas e Equipamentos do Processamento de Cacau
Verticalização da
Produção
•Surge novo ator nesse processo chamado "da amêndoa a barra"
•40 Empresas instaladas na Região Sul da Bahia
Agregação de
Valor
•Produtos altamente diferenciados
4° SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO
6 e 7 de Outubro, 2016 – Porto Alegre, RS
Referências:
CAMARGO, S. O renascimento do cacau baiano. Revista PIB, 2012. Disponível em:
http://www.revistapib.com.br/noticias_visualizar.php?id=844 . Acesso em: 05 de agosto de
2016.
FONTES, M. J.V. Do Cacau ao Chocolate: Trajetória, Inovações e Perspectivas das Micro e
pequenas Agroindústrias de CACAU/CHOCOLATE. Tese de Doutorado, 216 p. 2015
Disponvel em: http://r1.ufrrj.br/cpda/wp-content/uploads/2013/05/TESE-DE-
DOUTORADO.pdf. Acesso em: 20 de junho.
SANTOS, A.M. et al. A estratégia de diferenciação como perspectiva de mercado para o
cacau fino. In: Cacau, riqueza de pobres. COSTA, F.M. e SOARES, S. N. Ilhéus, Editus,
2016, pg. 219-237.
VREELAND,C. Bean-to-bar chocolates rises in US: can Multinationalts join in?.
Disponivel em: ttp://www.confectionerynews.com/Markets/Bean-to-bar-chocolate-rises-in-
US-Can-multinationals-join-in. Acesso em: 06 de agosto de 2016.